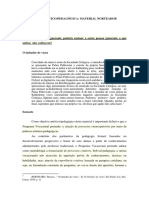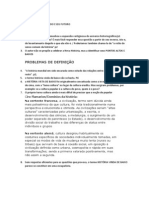Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
C Sy Religion Malu F
C Sy Religion Malu F
Enviado por
soniawmalufTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
C Sy Religion Malu F
C Sy Religion Malu F
Enviado por
soniawmalufDireitos autorais:
Formatos disponíveis
OS FILHOS DE AQURIO...
153
OS FILHOS DE AQURIO NO PAS DOS TERREIROS: NOVAS VIVNCIAS ESPIRITUAIS NO SUL DO BRASIL1
Snia Weidner Maluf Universidade Federal de Santa Catarina Brasil
Resumo. Este artigo trata da emergncia de um campo de interseo entre diferentes formas de espiritualidade, prticas teraputicas alternativas e experincias espirituais e religiosas eclticas por segmentos de classes mdias urbanas no Sul do Brasil. Diferentes denominaes tm sido utilizadas para definir essas experincias: novas espiritualidades ou novas religiosidades, terapias paralelas, alternativas ou holistas, terapias psicomsticas, terapias ps-psicanalticas, nebulosa mstico-esotrica, nebulosa de heterodoxias, terapias neo-religiosas, nova conscincia religiosa, etc. Diversas publicaes, porm, j convencionam tratar esse fenmeno sob a denominao geral de religiosidades da Nova Era. Apesar de se tratar de um fenmeno do mundo contemporneo, constata-se uma especificidade brasileira dada por uma confluncia entre o teraputico e o religioso, por uma tradio de ecletismo e circularidade religiosa e pela informalidade das prticas teraputicas. Neste estudo, busca-se compreender essas novas configuraes da vivncia espiritual menos a partir de uma anlise das doutrinas ou de um campo religioso particular e mais do ponto de vista de experincias e de itinerrios pessoais. Entendemos que so esses itinerrios de vida singulares que ajudam a tecer e dar um sentido a esses cruzamentos de diferentes tradies e cosmologias religiosas e espirituais, configurando o que se poderia chamar de uma religiosidade alm do templo e do texto.
Abstract. This is a study about a camp of intersection between different forms of spirituality, alternatives therapeutic practices and eclectic experiences lived by urban middle classes in the South of Brazil. Several authors call this phenomenon New Age cultures, among other designations. In spite of beeing a contemporary world phenomenon, we can see some particular charateristics in Brazil: a confluence between the therapeutic and the religious; a tradition of religious circularity and informal therapeutic practices. In this study we try to understand this new configurations of spiritual experience approaching personal itineraries and personal experiences rather than an approach of a religious camp or religious rituals or doctrines. In these personal itineraries we can find some meanings of the crossing of different religious and spiritual traditions and cosmologies, which I call a spirituality beyond the text and the temple.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
154
SNIA WEIDNER MALUF
Nos ltimos anos, um novo fenmeno cultural pde ser observado nas maiores cidades brasileiras: a emergncia de um campo de interseo entre novas formas de espiritualidade (e de religiosidade), prticas teraputicas alternativas e a vivncia de experincias eclticas pelas classes mdias urbanas. A extenso dessas prticas e de um campo semntico a elas ligado nos permite defini-las como uma nova cultura teraputica e espiritual. Esse mesmo fenmeno parece se apresentar, com caractersticas diferentes, em outras grandes cidades do mundo contemporneo, sendo que diversos autores se consagraram sua descrio e compreenso.1 Trata-se de um fenmeno do mundo contemporneo deste final e incio de um novo milnio. Nessa pesquisa eu procuro discutir a existncia de uma especificidade dessa cultura neo-espiritual no Brasil, provocada pela presena de certos elementos especficos da realidade social e cultural brasileira: uma confluncia entre o teraputico e o religioso; uma tradio de ecletismo da vivncia religiosa e uma interpenetrao entre os diferentes universos religiosos; a informalidade das prticas teraputicas e da manipulao da esfera doena/cura e a existncia de um pluralismo teraputico.2 A esses fatores se renem outras caractersticas prprias s classes mdias brasileiras. Eu realizei a pesquisa de campo centralmente em Porto Alegre, mas no deixei de fazer algumas incurses, a ttulo comparativo, em outras cidades, como Florianpolis e Paris. Porto Alegre um caso interessante porque ela tem uma histria antiga de instalao de grupos e ordens mstico-esotricas. A teosofia, que at hoje est organizada, com atividades, cursos de formao e um nmero importante de adeptos, foi instalada na cidade em 1909. Nos anos 40, foi criado o Centro Vivekananda, que reuna prticas de diversas tradies, tinha um restaurante macrobitico. Os praticantes mais antigos em Porto Alegre passaram por esses dois centros. Mas foi nos ltimos 25 anos que se formou uma extensa rede de novas espiritualidades e terapias alternativas, que percorre diferentes bairros da cidade, mas se concentra naqueles bairros em torno do centro e mais tipicamente de classe mdia. importante frisar que essa rede no nica. Existe, por exemplo, hoje em Porto Alegre uma quantidade enorme de terreiros e centros religiosos afrobrasileiros, centros espritas, templos pentecostais, e outros.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
155
No caso do circuito alternativo, ele forma e se forma a partir de um campo de interseo com outras campos: as prticas religiosas e espirituais propriamente ditas, as terapias alternativas, os movimentos ecologistas, movimentos de contracultura, o feminismo e uma esquerda bastante permevel ideologia libertria do maio de 68. Essa interseo bem visvel nas trajetrias de vida de terapeutas e lderes espirituais. A grande maioria (e esse um dado que me apareceu durante a pesquisa de campo, eu no havia privilegiado previamente esse recorte) teve uma experincia de militncia poltica entre o final dos anos 70 e o incio dos anos 80. Ou seja, o perodo final da ditadura militar, marcado pelo ressurgimento do movimento estudantil (a maioria veio do movimento estudantil), pelos movimentos pela anistia, pelo feminismo e pelos movimentos ecologistas, pelo movimento sindical. Nessa rede porto-alegrense que eu percorri durante a pesquisa de campo, percebi a combinao de uma grande variedade de prticas e representaes tanto teraputicas quanto religiosas, e nos mais diferentes espaos (de consultrios mdicos e psicolgicos a centros de meditao, restaurantes vegetarianos, feiras de produtos ecolgicos, livrarias e lojas esotricas). As prticas renem desde a adaptao de cartas tcnicas vindas de diferentes medicinas, ginsticas e disciplinas corporais (massagem aiurvdica, shiatsu e do-in, ioga, tai chi chuan, etc.), as medicinas doces ocidentais (a homeopatia, a fitoterapia, os florais de todo tipo, a naturopatia, etc.); a criao ou adaptao de tcnicas teraputicas e psicoteraputicas (diferentes tcnicas regressivas, as psicoterapias junguianas, a bioenergtica e as terapias reichianas, as terapias primais, o processo Fischer-Hoffman e o anti-Fischer, etc. inclusive interessante o fato de que uma grande parte dos atuais terapeutas de FischerHoffman de Porto Alegre fizeram sua formao no Rio de Janeiro, durante os anos 80); diferentes formas de meditao (zen, dinmica, kundalini); a adaptao de formas divinatrias ou oraculares como instrumentos de autoconhecimento (astrologia, I-Ching, tar, runas, numerologia, e todo tipo de tcnica de interpretao de sinais); o crescimento e reorganizao de grupos e de rituais inspirados em diferentes tradies esotricas (eu falei da teosofia, mas h outras ordens mstico-esotricas como a Golden Dawn, alguns covens ligados a diferentes tradies, etc.) o crescimento de certos movimentos religiosos e espirituais, sobretudo na rede que eu percorri, o movimento neo-snias
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
156
SNIA WEIDNER MALUF
(dos discpulos do Osho-Rajneesh) e o Santo Daime (que passou de um ponto em 1991 a nove pontos em 1993). Uma primeira questo que me apareceu foi a de como definir essas prticas e seu universo simblico, ou seja, que nome dar a esse conjunto de espaos, prticas, experincias e iderios por onde um grande nmero de pessoas circulava e ainda circula. Revisando a literatura das cincias sociais sobre o tema, eu percebi que diferentes categorias so utilizadas para descrever e totalizar esse fenmeno: novas espiritualidades ou novas religiosidades, terapias paralelas, alternativas ou holistas, terapias psicomsticas, ritual healing (McGuire, 1988), terapias ps-psicanalticas, nebulosa mstico-esotrica (Champion, 1990), nebulosa de heterodoxias (Matre, 1987), medicinas doces, terapias neo-religiosas, nova conscincia religiosa, reencantamento do mundo, etc. Os diferentes significados dados ao fenmeno utilizam expresses onde, muito freqentemente, os termos nativos (micos) se confundem com as designaes advindas das cincias sociais. Em sua maior parte, essas designaes tentam mostrar a convergncia entre os aspectos religioso-espiritual e teraputico, e utilizam expresses (como novas, alternativas) que as colocam fora ou em oposio s terapias oficiais e s religies chamadas tradicionais.3 Mas isso no significa que na prtica elas se contraponham. Pelo contrrio, muitas vezes a iniciao espiritual efetuada dentro do campo alternativo serve como via de acesso s formas de religiosidade, sobretudo suas manifestaes afro-brasileiras, como o batuque e a umbanda, mas tambm o espiritismo kardecista, qur acabam entrando na rede. Eu entrevistei diversas pessoas para quem a participao no circuito alternativo serviu como porta de entrada para outras prticas religiosas. Isso relativiza um pouco a idia de que as novas formas de religiosidade substituem ou concorrem com as antigas. Na verdade elas podem servir para atrair para o campo religioso tradicional indivduos de grupos sociais menos permeveis, sobretudo aqueles vindos de uma formao racionalista ou mesmo atia (como o caso dos ex-militantes). Poderamos dizer, assim, que as novas experincias religiosas, longe de competir, encontram as religies ditas tradicionais atravs de experincias eclticas de indivduos que experimentaram essas novas formas. Religies como o candombl, a umbanda ou o espiritismo se inscrevem assim no repertrio espiritual que est disposio daqueles que so tentados por esse tipo de vivncia ecltica ou plural.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
157
O contexto brasileiro das espiritualidades da Nova Era: velhos e novos sentidos em velhas prticas
Minha tentativa inicial de contextualizar essas prticas no caso brasileiro partiu de duas premissas. A primeira que, conforme j coloquei anteriormente, no h dvida de que se trata de um fenmeno do mundo contemporneo, ou seja um fenmeno mundializado. Tanto para os praticantes das novas religiosidades, para quem a Era de Aqurio diz respeito humanidade e ao planeta; como para os antroplogos e socilogos que estudam a questo, que observam esse mesmo fenmeno no Brasil, nos Estados Unidos, na Frana e em outros pases ocidentais. A segunda premissa seria (em contraponto a essa expresso mundializada da cultura neo-religiosa) a da existncia uma especificidade brasileira dessa cultura. Essa dinmica cultural chamada mundializao deve ser compreendida, assim, no como um movimento de mo nica, mas como o resultado de um processo complexo de cruzamento e interpenetrao cultural. A especificidade ou singularidade brasileira dada basicamente por trs dimenses especficas da configurao do religioso e do teraputico no Brasil: a pluralidade religiosa; a interpenetrao entre o religioso e o teraputico e a pluralidade teraputica. Particularmente nos interessa aqui desenvolver a discusso sobre a primeira dessas dimenses. A pluralidade religiosa brasileira refere-se existncia de uma tradio de ecletismo da vivncia religiosa e intensa circularidade religiosa no Brasil. Os estudos de religio no Brasil tm tentado, de um lado, relativizar a idia do Brasil como pas catlico4 e, de outro, tm mostrado a diversidade da experincia religiosa no pas. Essa diversidade aparece no somente na co-habitao entre diferentes formas de religiosidade, mas tambm em sua interpenetrao, na incorporao de prticas e origens diferentes5 e no ecletismo da vivncia religiosa de diferentes segmentos da populao. Os estudos sobre esse ecletismo religioso tm, me parece, duas caractersticas distintas: existe um conjunto de estudos que busca contextualizar a pluralidade religiosa brasileira a partir das estruturas religiosas, da instituio ou campo religioso. Um outro grupo de estudos vai tentar situar a pluralidade religiosa mais na prtica dos sujeitos, no vivido da experincia, do que na anlise do sistema religioso.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
158
SNIA WEIDNER MALUF
Para descrever o dualismo da sociedade brasileira entre uma civilizao branca e tradies e costumes prprios a uma cultura negra, o conceito de sincretismo foi largamente utilizado pelos pesquisadores do final do sculo XIX at os anos 30/40 do sculo XX.6 Queiroz (1979) mostra como esses dois conceitos (o dualismo da sociedade e o sincretismo) foram inicialmente utilizados por Roger Bastide para analisar aquilo que parecia o antagonismo de duas civilizaes e o dualismo vivido pelo negro brasileiro. Bastide (1970), em sua anlise do candombl, tenta mostrar os mecanismos que permitem a co-habitao de duas civilizaes e a descrio dos fundamentos do que ele denominou a religio autntica.7 No aprofundamento de suas pesquisas sobre o candombl, Bastide redefiniu o conceito de sincretismo para chegar finalmente noo de interpenetrao de civilizaes. Para ele, o sincretismo no uma mistura incoerente de traos isolados e no se limita a descrever uma prtica ou uma cosmologia religiosa, mas exprime o encontro de civilizaes diferentes, fazendo nascer uma nova civilizao.8 Falar de sincretismo seria, assim, falar da prpria sociedade brasileira. Apesar de uma grande parte dos estudos sobre religio hoje colocarem em questo o conceito de sincretismo e tentarem redefinir seu significado, Bastide influenciou vrias geraes de pesquisas sobre o religioso, e sobretudo sobre as religies afro-brasileiras, no Brasil. Ortiz utiliza a teoria de Bastide sobre o sincretismo como bricolagem que visa preencher os vazios da memria de uma dada tradio cultural e religiosa e para descrever a emergncia de uma nova religio original no caso analisado por Ortiz (1980, 1991), esta seria a umbanda. Ele distingue o conceito de sincretismo9 do conceito de sntese: este ltimo serviria para descrever o nascimento de uma nova religio, a partir de uma ruptura epistemolgica que separa o novo sistema da antiga tradio dominante (Ortiz, 1980, p. 106). A umbanda no seria assim mais uma forma de religio afro-brasileira, produzida por um sincretismo espontneo, mas uma verdadeira religio a religio nacional do Brasil 10 hiptese que ir desenvolver de maneira aprofundada em outro trabalho.11 Essa busca pelo autntico na religio parece estar presente em outros estudos sobre o religioso no Brasil. Para Bastide (1970), o candombl representava a africanidade fundamental, a religio autntica; para Ortiz, a umbanda seria a religio nacional do Brasil.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
159
Mais recentemente, podemos perceber uma perspectiva prxima na defesa de Brando da religio popular como aquela que melhor exprime a cultura popular e dos oprimidos (Brando, 1986); ou nas pesquisas de Prandi sobre os candombls em So Paulo, para quem o candombl instalado na metrpole seria a religio a-tica prpria a uma sociedade ps-tica (Prandi, 1991, p. 153). Sobre o sincretismo, Ortiz no foi o nico a buscar um conceito mais apropriado para descrever o objeto de seu estudo (o nascimento de uma nova religio, a umbanda). Outras crticas, no entanto, foram mais contundentes, como a de Velho, Y. (1975) que, em seu estudo sobre um terreiro de umbanda no Rio de Janeiro, critica o evolucionismo dos estudos do sincretismo brasileiro do incio do sculo e os estudos que tentaram definir os traos originais das religies afro-brasileiras como alguns estudos de Bastide. Esse questionamento, para no dizer abandono, do conceito de sincretismo pode ser observado tambm em estudos mais recentes. A questo qual esses diferentes autores tentam responder parece ser a de como descrever a abertura dos diferentes sistemas religiosos e sua flexibilidade na aceitao da circulao dos adeptos flexibilidade que no exclusividade das religies afro-brasileiras. Maus, estudando mais de trs sculos de implantao do catolicismo no Par, mostrou a capacidade do catolicismo de englobar prticas e posturas, rituais e ideologias, sem perder sua identidade (Maus, 1990, p. 9). Ele analisou sobretudo as relaes entre a pajelana cabocla e o catolicismo praticado pelas populaes rurais ou de origem rural, identificando, ainda, campos de interseo com a umbanda e o espiritismo kardecista. Esse um exemplo em que o sincretismo no se restringe s religies afro-brasileiras, tanto no plano do sistema como no dos comportamentos dos indivduos e das verbalizaes (Maus, 1990, p. 5) de suas crenas. Os neoprotestantismos das igrejas evanglicas12 aparentemente seriam uns dos nicos sistemas religiosos a no se deixar impregnar por essa circulao espiritual. Seus agentes religiosos exigem a exclusividade dos adeptos e utilizam toda uma estratgia de acusao e de combate s outras religies, principalmente as afro-brasileiras13 justamente talvez tentando escapar a essa mobilidade existente nas prticas religiosas populares no Brasil. O confronto se d sobretudo durante os cultos, atravs do exorcismo (de pessoas tomadas pelas entidades do panteo afro-brasileiro, vistas como representantes do mal e os responsveis pelos infortnios14 ). preciso, no entanto, relativizar essa pureza ou esse
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
160
SNIA WEIDNER MALUF
carter no sincrtico dessas igrejas, na medida em que elas reconhecem, em suas prticas rituais ao menos, a existncia dos orixs ou outras entidades do imaginrio religioso afro-brasileiro e as invocam nos rituais do exorcismo, para que sejam incorporadas uma ltima vez pelos praticantes de religies afro-brasileiras antes de serem exorcizados definitivamente. Soares d uma interpretao interessante a esse fenmeno: o exorcismo praticado pelos evanglicos atualiza uma integrao orgnica com seu antagonista (Soares, 1993, p. 204). No lugar de um sincretismo de mediao, a presena atual das igrejas pentecostais e sua atitude introduz, segundo Soares, um elemento igualitrio e moderno na cultura popular no Brasil,15 que no poderia mais ser definida, segundo ele, como hierrquica. Outros autores tentaram encontrar conceitos alternativos ao de sincretismo, buscando incorporar outra dimenso do fenmeno religioso: aquela da vivncia religiosa, da experincia dos sujeitos.16 Esses diferentes estudos vo tentar analisar a diversidade das experincias religiosas no Brasil levando em conta os grupos populares (sobretudo urbanos), mas tambm diferentes camadas das classes mdias urbanas. Assim, Brando (1986), em seu estudo sobre o catolicismo popular brasileiro, utiliza o conceito de ecumenismo popular para definir o sentimento de solidariedade horizontal que rene os adeptos de diferentes religies no Brasil. Oro (1993) fala da dupla identidade religiosa dos segmentos populares no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, entre catolicismo e religies afro-brasileiras. Duarte (1983, p. 64) fala da flutuao interconfessional, no caso da religio em grupos populares urbanos no Brasil. Alberto Groisman (1991, p. 23), em seu estudo do Santo Daime, comenta que preciso permanecer prudente quanto utilizao do sincretismo para definir o Daime: seria negar a existncia de uma linha mestra na doutrina daimista. Ele vai utilizar o prprio qualificativo nativo de ecltico para definir o Daime. Anjos (1993) prope o conceito de cruzamento de linhas e de encruzilhada para definir os cultos de linha cruzada que ele estudou em Porto Alegre.17 Todos esses estudos apontam para um certo ecletismo e uma pluralidade das prticas e vivncias religiosas no Brasil, sendo que alguns deles reconhecem uma tradio de circulao atravs dos diferentes sistemas religiosos. Esse ecletismo da vivncia espiritual se realiza no apenas na interseo de diversas prticas religiosas, mas se encontra tambm imbricado a outros domnios da experincia vivida, com os da cura e da esfera da subjetividade.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
161
Diversos autores j sublinharam que no Brasil a industrializao no levou a uma secularizao da vida mas, ao contrrio, ao reforo da religio sob novas formas, adaptadas ao meio e vida urbana. Esse reforo da vida religiosa teria tomado formas diferentes na atualidade: o aumento do nmero de terreiros e da freqncia a estes; o crescimento do pentecostalismo e do nmero de adeptos; a multiplicao das formas de espiritismo (em suas verses tambm autctones) e do culto aos espritos em geral; a expanso e difuso de certas prticas religiosas anteriormente limitadas a certas zonas geogrficas (como o Santo Daime e os outros cultos no indgenas da ayahuasca); a reapario ou o crescimento de movimentos ligados tradio esotrica; o crescimento de movimentos religiosos e espirituais de origem oriental ou neo-orientais (o zen, o budismo e os neobudismos, as novas igrejas japonesas); etc. A paisagem religiosa brasileira, descrita a partir dos pesquisadores da religio, permite uma relativizao de certas categorias sociolgicas utilizadas largamente no estudo dessa esfera do social, tais como o conceito de campo religioso18 ou de mercado simblico religioso,19 bastante utilizado nos estudos sobre a religio em meios urbanos brasileiros. Esses conceitos no servem, no entanto, para explicar a complexidade e a riqueza do fenmeno religioso contemporneo no Brasil.20 Para alguns autores, uma das caractersticas dessa pluralidade religiosa brasileira atual o pragmatismo da vivncia religiosa e a diluio dos princpios e dos valores espirituais. Para Prandi (1991, p. 185), por exemplo, o sucesso do candombl entre as classes mdias da grande metrpole deve-se ausncia de uma tica e oferta de solues a problemas concretos. Segundo o autor, o jogo de bzios racionalizado pela recepo privada, a necessidade de se marcar com antecedncia, o pagamento monetrio, etc. A religio adaptada metrpole, onde o indivduo no mais que um bricoleur de prticas religiosas. Para ele, ns assistimos ao movimento inverso daquele descrito por Keith Thomas (1991): a religio em direo magia. Essa ltima constatao de Prandi nos remete ao carter dos novos movimentos espirituais que emergiram no final do milnio: seria possvel identificar nesses movimentos uma cosmologia mais abrangente e a analogia de uma tradio religiosa ou, ao contrrio, esses movimentos estariam limitados a uma valorizao da experincia espiritual individual e a um pragmatismo do vivido em detrimento da doutrina e da tradio? Voltarei a essa questo no prximo item.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
162
SNIA WEIDNER MALUF
Alm dessa tradio de circularidade da experincia religiosa e interpenetrao entre as diversas tradies e prticas religiosas no Brasil, outro fator que marca uma influncia especfica no crescimento atual das religiosidades da Nova Era no Brasil est ligado justamente s relaes entre o religioso e o teraputico e a uma tradio de pluralidade teraputica. O fato de que alguns estudos sobre religio apontam a doena e a busca de cura como fatores de converso religiosamostra que estas so um aspecto importante da aproximao entre o teraputico e o religioso. Por outro lado, as diferentes cosmologias religiosas e prticas rituais mostram uma dimenso teraputica: a definio das causas das doenas e do sofrimento e formas de combat-los ou de os suportar. A pluralidade teraputica caracterizada pelas prticas informais em relao aos processos de doena e cura. Essa prticas aparecem no apenas na utilizao de tcnicas e frmulas caseiras, tradicionais ou naturais de cura, mas tambm nas prticas disseminadas de auto-medicao, da circulao de um conhecimento teraputico popular que incorporou o discurso mdico e cientfico e, sobretudo, de uma larga difuso de um jargo ou dialeto mdico, teraputico e psicoteraputico. Esses trs fatores contriburam para a formao dialtica de uma cultura teraputica neo-religiosa nas grandes cidades brasileiras, com especificidades dificilmente perceptveis em outros pases.
Uma cosmologia neo-religiosa para alm do templo e do texto
Um dos aspectos que a pesquisa de campo evidenciou como prximos tradio religiosa brasileira foi a diversidade das prticas e a vivncia ecltica e polimorfa das pessoas que circulam pela rede teraputica e espiritual alternativa. Uma intensa mobilidade e circulao das pessoas entre diferentes experincias teraputicas e rituais caracterizam a experincia neo-religiosa no Brasil, mesmo entre aqueles que se consideram adeptos ou filiados a um grupo ou corrente espiritual particular. Eu conheci, por exemplo, saniases que freqentavam o Santo Daime, iam a sesses de espiritismo kardecista, em terreiros de batuque. Essa uma diferena importante em relao Frana, onde ocorre uma larga difuso de grupos organizados na estrutura de seita que exigem fidelidade e exclusividade de filiao por parte dos adeptos. Ou seja, os prprios
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
163
grupos criam mecanismos internos para impedir a circulao de seus integrantes. Um exemplo da dimenso dessa converso radical foi a criao, h alguns anos, de uma Associao Nacional de Defesa contra as Seitas organizada principalmente por pais de jovens convertidos e de vtimas das seitas ex-adeptos que se consideram lesados psquica ou financeiramente. No caso do Brasil, foi a constatao dessa intensa circulao que me fez priorizar uma abordagem das experincias e os itinerrios pessoais em detrimento da anlise de campos religiosos particulares. Ou seja: uma escolha por compreender os fenmenos religiosos prioritariamente a partir dos sujeitos implicados do que a partir do ou dos sistemas religiosos. De outro modo, seria muito difcil compreender o que faz com que uma mesma pessoa passe por vivncias to diversas e consiga dar a essas vivncias um sentido comum. Na rede de buscadores espirituais, terapeutas e pacientes que foi percorrida em Porto Alegre e parte em Florianpolis, a experincia tanto religiosa quanto teraputica aparece como totalmente associada e imbricada com outros campos da experincia do indivduo (familiar, participao poltica, projeto profissional, projeto amoroso, etc.). Um exemplo o sentido dado ao ritual. Existe uma espcie de mundanizao da experincia ritual, que remete por sua vez a uma ritualizao do cotidiano. A experincia religiosa no s interfere na experincia da vida cotidiana, mas ela deve necessariamente se confundir com ela. H uma frase do Osho (mestre espiritual do movimento neosnias), bastante citada pelas pessoas que eu entrevistei, e que define um pouco a perspectiva nativa: fcil meditar nas cavernas, difcil mesmo meditar no mercado. Mercado, aqui, usado como metfora do mundo e da vida cotidiana no mundo. De qualquer modo, por trs da aparente fragmentao da experincia, dada pelo fato de que a experincia social desses sujeitos no contida na idia da instituio religiosa ou de um sistema religioso, tradio e doutrina coerente, foi possvel perceber uma cosmologia coerente e original. Essa coerncia pode ser encontrada basicamente, de um lado, nas experincias individuais e coletivas e como a essas experincias dado um sentido comum (ligado centralmente noo de trabalho teraputico e espiritual). E, de outro, no sentido dado aos itinerrios e s trajetrias de vida, ligado idia de transformao e de metamorfose,
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
164
SNIA WEIDNER MALUF
idia de tornar-se outro. As experincias aparentemente fragmentadas e as trajetrias individuais aparentemente errticas se renem no projeto comum de fabricar uma nova pessoa. Em relao experincia teraputico-espiritual, a noo de trabalho (teraputico e espiritual) uma categoria central no universo neoreligioso (apesar de tambm ser utilizada em outras formas de religiosidade, como a umbanda e o espiritismo). Ela representa todo o esforo voluntrio despendido na produo de si, na autoconstruo, no processo de mudana, transformao pessoal, metamorfose. Toda experincia neo-religiosa est, diretamente ou indiretamente, relacionada com as noes de trabalho e de transformao. Para McGuire, que estudou as curas rituais nos EUA, esse tipo de prtica nos grupos de classe mdia suburbanas nos EUA tem trs traos especficos: a participao do indivduo em sua prpria cura (carter endgeno da cura), o papel do terapeuta como s ocasionalmente especializado e o carter individualista ou idiossincrtico do simbolismo utilizado. Esses trs fatores induzem ao que seria o sentido desse tipo de terapia: reordenar uma situao de caos e reinvestir o indivduo de poder. Toda narrativa sobre um itinerrio espiritual para esses sujeitos se e a vivncia de uma revelao, de uma experincia inicitica que representa a passagem para o caminho de busca espiritual. A crise seguidamente identificada como a possibilidade dessa revelao. (encontro casual com um mestre espiritual, uma viso durante uma terapia, etc.). A crise descrita como uma epifania em dois sentidos (no sentido religioso, de manifestao do divino, e no sentido psicolgico, de manifestao de uma essncia pessoal prpria a cada indivduo). O segundo momento do itinerrio espiritual que aparece nas narrativas o que descreve o processo de transformao pessoal. De como de um que ele era, o indivduo se torna outro. Nesse processo, o projeto inicial de resolver uma crise pontual se dissolve num outro projeto, representado pela adoo do trabalho teraputico e do desenvolvimento espiritual como projetos e como estilos de vida. Se antes o sofrimento era o centro da experincia, num segundo momento, passa a ser o trabalho espiritual permanente. O desfecho comum de muitas dessas trajetrias a pessoa se tornar ela prpria terapeuta. Apesar da maior parte dos estudos recentes reconhecerem uma descontinuidade nas novas religiosidades e uma dimenso de ruptura em relao s instituies e s ideologias hegemnicas no Ocidente moderno
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
165
urbano, a maior parte desses estudos limitam esses movimentos a uma resposta a certos aspectos do mundo contemporneo. A constatao de certos aspectos comuns, como a fragmentao das prticas, a distncia entre as tcnicas (teraputicas e rituais) em relao s doutrinas espirituais ou enfim a individualizao da experincia, leva alguns autores questo do estilhaamento da linguagem e da prpria tradio religiosa. Assim, Hervieu-Lger considera que a renovao emocional que caracteriza esses movimentos est marcada por uma desintelectualizao da experincia (Hervieu-Lger, 1990, p. 243), por uma perda de linguagem religiosa que possa ser entendida socialmente e mesmo por sua adaptaosob uma forma desutopizadaaos dados culturais da modernidade (Hervieu-Lger, 1990, p. 27). Sublinhando mais fortemente a questo da fragmentao, Carvalho retoma uma expresso de Walter Benjamin22 para falar da barbrie religiosa: uma perda da tradio, do narrador e da experincia de profundidade (Carvalho, 1991, p. 26). Ele se refere a duas formas do religioso: aquela da tradio (Erfahrung) e aquela da simples vivncia (Erlebnis), onde predominam a tcnica ritual e as crenas, das quais se desconhece suas implicaes simblicas, suas articulaes cosmolgicas, seus mitos, seu sentido interno mais transcendente, etc. (Carvalho, 1991, p. 27). Essa ltima forma , segundo o autor, aquela que predomina nas religiosidades contemporneas, onde o crescimento da demanda e a utilizao de tcnicas fora de seu contexto original no so acompanhadas de um processo de formao de novos mestres espirituais (Carvalho, 1991, p. 26). O pragmatismo dos novos movimentos religiosos levaria, assim, necessariamente a uma perda da tradio. As questes levantadas por Carvalho (quanto utilizao de tcnicas fora do contexto, a lentido da formao de novos mestres e mesmo sobre a falta de crdito da maior parte dos mestres contemporneos) so totalmente pertinentes. No entanto, ele no coloca a questo sobre o fato que esses aspectos podem j fazer parte no somente de uma nova cosmologia, mas sobretudo de uma nova forma de conceber o religioso e o espiritual. Soares utiliza a noo de bricolagem como o modo mesmo de realizao da cultura alternativa (Soares, 1994, p. 207). Mas ele percebe, no que denomina misticismo ecologista, a dupla referncia a, de um lado, uma cosmologia estruturada e, de outro, uma errncia, um arranjo
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
166
SNIA WEIDNER MALUF
singular dos paradigmas cosmolgicos (Soares, 1994). A cosmologiafonte a matriz que serve sempre de referncia a essa errncia. As compreenses especficas do contexto etnogrfico em que eu trabalhei me fizeram convergir em direo a esta ltima interpretao: a da existncia de um movimento complementar entre uma individualizao da experincia neo-espiritual e a articulao dessa experincia em uma cosmologia mais abrangente no necessariamente fiel a uma tradio ou tradio, mas que d um sentido experincia. Os caminhos neo-espirituais no Brasil percorrem mltiplos lugares: dos consultrios psicomsticos na cidade aos templos construdos no meio da floresta, passando pelas comunidades rurais, os ashram longnquos, os restaurantes vegetarianos, as lojas esotricas, e igualmente os terreiros e centros da tradio afro-brasileira, juntamente com todo tipo de culto aos espritos. Esses lugares formam um itinerrio na cidade (e alm) e mostram a diversidade dessa experincia, caracterizada pela cohabitao de diferentes formas de religiosidade, pela sua interpenetrao, cruzamento de diferentes universos religiosos e espirituais e um ecletismo do vivido. Sua diversidade mostra tambm a pluralidade das influncias que compem o universo das culturas teraputicas e espirituais alternativas: da contracultura ao ocultismo europeu, do ecologismo e do feminismo s religies afro-brasileiras, enfim, das espiritualidades orientais aos ecletismos de todo tipo. Vimos que a emergncia dessa nova cultura encontra um solo j fertilizado por uma pluralidade religiosa e um modo informal de manipular os processos de doena e cura. Uma paisagem que d uma especificidade s novas culturas espirituais no Brasil. Para compreender essas novas formas da vivncia religiosa na contemporaneidade brasileira, foram analisados itinerrios pessoais e narrativas de experincias espirituais e teraputicas, buscando entender os sentidos dessa experincia, que uma viso restrita s instituies ou s doutrinas religiosas no teria alcanado. Atravs dos itinerrios singulares, pode-se compreender que a experincia se faz sobretudo fora do templo (uma espiritualidade intramundana, incorporada na vida cotidiana e no estar no mundo) e fora do texto (ou seja, do texto de uma tradio definida). A extenso do tempo sagrado aos tempos profanos da vida , assim, uma das dimenses fundadoras das novas vivncias espirituais.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
167
Cada itinerrio singular vai cruzar tcnicas sadas de tradies diferentes. No entanto, mais que um pragmatismo imediatista, percebese que a escolha por cada uma dessas vivncias, a adoo de uma prtica espiritualizada como estilo de vida e da via espiritual como projeto de vida, mostram que esses itinerrios no so simples errncia. Eles no se limitam soma das experincia, mas se constroem na direo de um sentido e de uma busca de sentido.23 Uma das dimenses das cosmologias neo-espirituais, que d um sentido aos itinerrios individuais e partilhada como uma identidade comum, a sua dimenso utpica. Ela aparece na concepo do sujeito espiritualizado como um ser em transformao e em crescimento permanente (transformao de si como condio principal de uma transformao dos outros e do mundo).
Notas
No caso da Frana, ver, entre outros os estudos de Champion e Hervieu-Lger (1990), Champion (1990), Matre (1987), Boy e Michelat (1993), o nmero 81 dos Archives des Sciences Sociales des Religions. Para os Estados Unidos, ver a interessante sntese de McGuire (1987, 1988), o estudo Barker (1982), Robbins, Anthony e Richardson (1978). No Brasil e na Amrica Latina, esse tema tem sido objeto de fruns de pesquisa em encontros de cientistas sociais, notadamente nas Jornadas de Alternativas Religiosas da Amrica Latina. Uma importante publicao recente (e posterir pesquisa apresentada neste artigo) a coletnea organizada por Carozzi (1999), que rene os trabalhos apresentados na 8a edio das Jornadas. 2 Segundo expresso de Camargo (1985, p.IX). 3 A definio nativa do que sejam religies tradicionais bastante flexvel. Mais freqentemente o catolicismo oficial (representado pela Igreja e sua estrutura e hierarquia), o protestantismo histrico e o neopentecostalismo so classificados como tradicionais. As religiosidades afro-brasileiras e o espiritismo, apesar de serem identificados tradio religiosa brasileira, so vistos com mais flexibilidade e muitas vezes integrados ao circuito das espiritualidades alternativas. 4 Os dados do IBGE revelavam, em 1980, que os catlicos eram 89% da populao. Em 1991, segundo uma pesquisa dos Panoramas e Estatsticas do Fenmeno Religioso no Brasil, promovida pela PUC/RJ, esse ndice baixou para 85%, enquanto que a CNBB reconhecia, nesse mesmo ano, um ndice ainda menor de catlicos, em torno de 75%. Os pentecostais, que, segundo o IBGE, eram 3,2% da populao em 1980, chegaram, em 1991, a 10%, ou seja, em torno de 16 milhes de fiis. A prpria Igreja Catlica reconhece uma perda anual de 600 mil fiis, ou seja, 1% a cada dois anos. Em relao s religies afro-brasileiras, Oro (1993, p. 99) fala de 60 milhes de praticantes brasileiros. O mesmo autor cita a cifra de 45 mil lugares de culto afro-brasileiros, contra 40 mil igrejas catlicas em 1989 (Oro, 1989, p.133). preciso, no entanto, ter prudncia em
1
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
168
SNIA WEIDNER MALUF
relao aos dados oficiais (obtidos atravs de recenseamentos) e distncia entre a confisso e a prtica religiosas. A percentagem daqueles que se declaram catlicos superior dos praticantes. preciso tambm levar em conta o grau de flutuao da freqncia religiosa e a dualidade, para no dizer a multiplicidade, das opes entre certos segmentos da populao. Fonseca (1991, p.130), em uma pesquisa sobre a vida cotidiana em um bairro popular de Porto Alegre, constatou que quando se pede s pessoas de especificar sua religio, eles dizem facilmente catlico, porque a denominao menos carregada de conotaes negativas em relao aos cultos afro-brasileiros e evanglicos. 5 Capacidade que no , diga-se de passagem, exclusividade das religies afro-brasileiras. 6 Segundo Queiroz (1979, p. 147): Le syncrtisme devient le centre de leurs proccupations. Ils le voyaient comme un mlange disparate dlments dorigine diverse runis de faon incohrente, et reconnaissaient en lui un des principaux obstacles au dveloppement socio-conomique du pays. Une civilisation htroclite et irrationnelle, donc, caractristique du Brsil, et qui contrastait avec la civilisation homogne, rationnelle, harmonieuse, de lEurope. 7 Conceito que est na base, por exemplo, de sua qualificao do candombl como religio (autntica) e da umbanda como ideologia religiosa (cf. Bastide, 1970). Para uma crtica dessa concepo, ver Monteiro (1978). 8 Ver Bastide (1970). Sua viso do sincretismo analisada por Queiroz (1979) e Cuche (1994). 9 O sincretismo se realiza pois quando duas tradies so colocadas em contato, no qual a tradio dominante fornece o sistema de significao, escolhe e ordena os elementos da tradio subdominante. (Ortiz, 1980, p.103). 10 Bastide havia definido, em um de seus ltimos trabalhos (1974), a umbanda como uma religio nacional do Brasil; Ortiz (1980, p. 107) fala da religio nacional, reafirmando seu carter de sntese e de brasilidade. 11 Ver Ortiz (1991, verso de sua tese de doutorado defendida em Paris em 1975). 12 Uma parte importante dessas igrejas faz parte de um pentecostalismo autctone (Gutwirth, 1992, p.103). Apesar do importante papel que missionrios estadunidenses tiveram na implantao do pentecostalismo no Brasil, sobretudo a partir de 1910/1920 (atravs da Assemblia de Deus), um pentecostalismo autctone se desenvolveu rapidamente no pas (algumas de suas expresses so, por exemplo, as igrejas Deus amor, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Pentecostal Crist, entre outras). O artigo de Gutwirth discute o desenvolvimento desse pentecostalismo autctone no Brasil e o proselitismo colocado em ao por algumas dessas igrejas atravs do rdio e da televiso, dos templos disseminados por todo o pas e dos encontros macios para realizar curas e exorcismos coletivos. 13 Mas no s, como demonstra o famoso caso, ocorrido em 1995, do pastor que deu pontaps em uma estatueta de Nossa Senhora de Aparecida, evento transmitido ao vivo pela TV Record, que pertence Igreja Universal do Reino de Deus. 14 O ritual de exorcismo acontece, em geral, com uma grande intensidade teatral e a acusao da umbanda e do candombl atravs dos orixs e de outras entidades. 15 A linguagem diferenciadora do pentecostalismo, mesmo sendo agressiva, trata seus inimigos como iguais e representa o oposto do sincretismo, expresso da luta pela sobrevivncia das tradies africanas em um contexto de violenta dominao europia escravista (cf. Soares, 1993, p. 208).
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
169
Fonseca (1991, p. 135) descreve essas pesquisas como aquelas que estudam a dinmica de interao das diversas religies, voltando as costas aux connotations pjoratives des thories de syncrtisme, en mme temps quils renient les interprtations qui voudraient voir dans les manifestations populaires de simples vestiges dun pass traditionnel rvolu. 17 Que cruzam o culto dos orixs, nao e exus. 18 Para Bourdieu (1971, p. 304), construir o fato religioso como propriamente sociolgico seria conceb-lo enquanto expresso que confirma posies sociais o campo religioso como a confirmao do monoplio por um corpo de especialistas religiosos [] e a despossesso de outros [] do capital religioso. No entanto, em minha opinio essa reduo do social em institucional esconde a realidade subjacente dos indivduos e das relaes entre eles. A esse propsito, concordo com a crtica de Otvio Velho, para quem a religiosidade deve ser compreendida no como um campo (no sentido descrito acima), mas enquanto uma perspectiva atravs da qual ns temos algo a dizer sobre o conjunto da experincia humana (Velho, O., 1986, p. 50). 19 Duarte (1983, p. 56), apesar de considerar justa a designao da segmentao e da multiplicao do espao religioso com um mercado, critica a radicalidade da concepo de Bourdieu a esse propsito. De acordo com seu estudo sobre as classes trabalhadoras urbanas no Brasil, a converso religiosa se apresenta sob a forma mais de uma adeso que de uma opo ou escolha (Duarte, 1983, p. 60-61). 20 Parece-me bastante restritivo tomar a emergncia das novas religiosidades com um aumento das ofertas no mercado religioso, esquecendo o sentido dessas novas experincias e seu lugar em um quadro de questionamento e crise de paradigmas. 21 Que lembra um pouco as narrativas de doena descritas por Arthur Frank (1993). 22 A barbrie artstica. 23 Onde a existncia de um mercado de bens e servios espirituais deve ser vista como um subproduto de um fenmeno cultural bem mais vasto, e no a sua expresso mais importante.
16
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
170
SNIA WEIDNER MALUF
Referncias
ANJOS, Jos C. Gomes dos. O territrio da Linha Cruzada: rua Mirim versus av. Nilo Peanha Porto Alegre (1992-1993). Dissertao (Mestrado em Antropologia Social)PPGAS/Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993. ARCHIVES des Sciences Sociales des Religions, n. 81, janv./mars 1993. BARKER, Eilen (Ed.). New religions mouvements: a perspective for understanding society. New York: Edwin Mellen Press, 1982. (Studies in Religion and Society, v. 3). BASTIDE, Roger. Les religions africaines du Brsil, Paris: PUF, 1970. BASTIDE, Roger. Ultima Scripta. Archives des Sciences Sociales des Religions, 38, p. 3-47, 1974. BOURDIEU, Pierre. Gense et structure du champ religieux. Revue Franaise de Sociologie, 12, p. 295-334, 1971. BOY, Daniel; MICHELAT, Guy. Premiers rsultats de lenqute sur les croyances aux parasciences. In: La pense scientifique et les parasciences, Paris: Albin Michel, p. 209-223, 1993. BRANDO, Carlos Rodrigues. Os deuses do povo: um estudo sobre a religio popular. So Paulo: Brasiliense, 1986 CAMARGO, Cndido Procpio F. de. Apresentao. In: MONTERO, P. (Org.). Da doena desordem: a magia na umbanda, Rio de Janeiro: Graal, 1985. p. IX-XII. CAROZZI, Mara Julia (Org.). A Nova Era no Mercosul. Petrpolis: Vozes, 1999. CARVALHO, Jos Jorge de. 1991. Caractersticas do fenmeno religioso na sociedade contempornea. Srie Antropologia. Braslia: UnB, 1991. (n. 114) CHAMPION, Franoise. La nbuleuse mystique-sotrique In: CHAMPION, F.; CUCHE, D. Le concept de principe de coupure et son volution dans la pense de Roger Bastide. In: LABURTHE-TOLRA, Philippe (Dir.). Roger Bastide ou le rjouissement de labme. Paris: LHarmattan, 1994. p. 69-83. DUARTE, Luiz Fernando Dias. 1983. Trs ensaios sobre pessoa e modernidade. Boletim do Museu Nacional. Rio de Janeiro: Museu Nacional/UFRJ, 1983. (Srie Antropologia, n. 41). FONSECA, Claudia. La religion dans la vie quotidienne dun groupe populaire brsilien. Archives des Sciences Sociales des Religions, 73, p. 125-139, 1991. FRANK, Arthur. The rhetoric of self-change: illness experience as narrative. The Sociological Quarterly, 34, n. 1, p. 39-52, 1993. GROISMAN, Alberto. Eu venho da Floresta: ecletismo e praxis xamnica daimista no Cu do Mapi. Dissertao (Mestrado em Antropologia Social)Universidade Federal de Santa Catarina, 1991. GUTWIRTH, Jacques. Igreja Eletrnica e pentecostalismo autctone. In: TEIXEIRA, S. A.; ORO, A. P. (Org.). Brasil & Frana: ensaios de antropologia social, Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1992. p. 103-117. HERVIEU-LEGER, Danile. Renouveaux motionnels contemporains. In: HERVIEU-LEGER, Danile; Champion, F. (Dir.). De lmotion en religion. Paris: Ed. du Centurion, 1990. p. 219-248.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
OS FILHOS DE AQURIO...
171
MAITRE, Jacques. Rgulations idologiques officielles et nbuleuses dhtrodoxies. A propos des rapports entre religion et sant. Social Compass, 24, n. 4, p. 353-364, 1987. MAUS, Raymundo Heraldo. Catolicismo, cultos medinicos e sincretismo. 17a Reunio da ABA, Florianpolis, 1990. Mimeografado. McGUIRE, Meredith B. Ritual, symbolism and healing. Social Compass, XXXIV/ 4, p. 365-379, 1987. McGUIRE, Meredith B. Ritual healing in suburban America. New Brunswick: Rutgers University Press, 1988. MONTEIRO, Douglas T. Roger Bastide: religio e ideologia. Religio e sociedade, 3, p. 11-24, 1978. ORO, Ari Pedro. Immigrants europens et religions afro-brsiliennes dans le sud du Brsil. Archives des Sciences Sociales des Religions, 68, n. 1, p. 125-140, 1989. ORO, Ari Pedro. Religies afro-brasileiras: religies multitnicas. In: FONSECA, C. (Org.). Fronteiras da cultura: horizontes e territrios da antropologia na Amrica Latina, Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1993. p. 78-91. ORTIZ, Renato. Do sincretismo sntese. In: ORTIZ, Renato. A conscincia fragmentada: ensaios de cultura popular e religio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. p. 91-108. ORTIZ, Renato. 1991 A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e sociedade brasileira. 2. ed. So Paulo: Brasiliense, 1991. PRANDI, Reginaldo. Os candombls de So Paulo. So Paulo: Hucitec:Edusp, 1991. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. 1979. Roger Bastide. Archives des Sciences Sociales des religions, Paris, 47, n. 1, p. 147-159, 1979. ROBINS, T.; ANTHONY, D.; RICHARDSON, J. Theory and research on todays new religions. Sociological Analysis, 39, n. 2, p. 95-122, 1978. SOARES, Luis Eduardo. Dimenses democrticas do conflito religioso no Brasil. In: SOARES, Luis Eduardo. Os dois corpos do presidente. Rio de Janeiro: ISER: Relume-Dumar, 1993. p. 203-216. SOARES, Luis Eduardo. Religioso por natureza: cultura alternativa e misticismo ecolgico no Brasil. In: SOARES, Luis Eduardo. O rigor da indisciplina: ensaios de antropologia interpretativa. Rio de Janeiro: ISER: Relume-Dumar,1994. p. 189212. THOMAS, Keith. Religio e o declnio da magia. So Paulo: Cia. das Letras, 1991. VELHO, Otvio. Religiosidade e antropologia. Religio e sociedade, 13, n. 1, p. 4670, 1986. VELHO, Yvonne Maggie. Guerra de orix: um estudo de ritual e conflito. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
Ciencias Sociales y Religin/Cincias Sociais e Religio, Porto Alegre, ano 5, n. 5, p.153-171, out 2003
Você também pode gostar
- BFPDocumento12 páginasBFPMarcosXimenes80% (10)
- Resumo Exercício Introdução Ao ServiçoDocumento13 páginasResumo Exercício Introdução Ao ServiçoServiço Social100% (1)
- DIINAMARCO, Candido. A Instrumentalidade Do ProcessoDocumento393 páginasDIINAMARCO, Candido. A Instrumentalidade Do ProcessoThais Faro100% (2)
- Direito Hitita - PesquisaDocumento8 páginasDireito Hitita - PesquisaAnonymous 1CH7B6YAinda não há avaliações
- Samba de Gafieira A Malandragem Da GingaDocumento12 páginasSamba de Gafieira A Malandragem Da Gingazemarcelo8100% (1)
- Afrânio Garcia - A Sociologia Rural No BrasilDocumento18 páginasAfrânio Garcia - A Sociologia Rural No BrasilDiego AmoedoAinda não há avaliações
- Traços Urbanos Da Amazônia: o Que o Design Vernacular Tem A Dizer Sobre A Cultura Local?Documento125 páginasTraços Urbanos Da Amazônia: o Que o Design Vernacular Tem A Dizer Sobre A Cultura Local?Natália Pereira100% (1)
- Material Norteador Do Programa VocacionalDocumento29 páginasMaterial Norteador Do Programa VocacionalBrunaSpoladoreAinda não há avaliações
- Resumo para Discussão Nova História, Seu Passado e Seu FuturoDocumento3 páginasResumo para Discussão Nova História, Seu Passado e Seu Futuroluxamazonia50% (2)
- ORLANDI - Discurso, Imaginário Social e Conhecimento (1994)Documento14 páginasORLANDI - Discurso, Imaginário Social e Conhecimento (1994)milton_mauadcAinda não há avaliações
- Charge ExerciciosDocumento4 páginasCharge ExerciciosErica Viqueti Gamez0% (1)
- Estética X Cosmética Da FomeDocumento4 páginasEstética X Cosmética Da FomeAnonymous 0Y3E2O5mAAinda não há avaliações
- O Ano 1000Documento16 páginasO Ano 1000JayrabarrosAinda não há avaliações
- Na Senzala Uma FlorDocumento5 páginasNa Senzala Uma FlorAltina FariasAinda não há avaliações
- Slides Filosofia Do Direito - Modulo 02bDocumento16 páginasSlides Filosofia Do Direito - Modulo 02bGleydson B. RamosAinda não há avaliações
- A Noção de Estado de Edith SteinDocumento11 páginasA Noção de Estado de Edith SteinRone SantosAinda não há avaliações
- TEMA DE REDAÇÃO-relações Sociais PDFDocumento2 páginasTEMA DE REDAÇÃO-relações Sociais PDFRogério AmorimAinda não há avaliações
- Sofia Aboim - Conjugalidade, Afectos e Formas de AutonomiaDocumento25 páginasSofia Aboim - Conjugalidade, Afectos e Formas de AutonomiaCarlos CarretoAinda não há avaliações
- A Linha de Baianos Na UmbandaDocumento3 páginasA Linha de Baianos Na UmbandaJorge Graciano100% (2)
- Agier, Michel. Antropologia Da Cidade (RESENHA)Documento9 páginasAgier, Michel. Antropologia Da Cidade (RESENHA)palomarjAinda não há avaliações
- Bezerra, Ulysses Gomes - Princípio Da ConsunçãoDocumento17 páginasBezerra, Ulysses Gomes - Princípio Da ConsunçãoLetícia PiresAinda não há avaliações
- Resposta Plataforma DeltaDocumento8 páginasResposta Plataforma DeltaRaphaell AlmeidaAinda não há avaliações
- O Documento Audiovisual Ou A Proximidade Entre As 3 MariasDocumento3 páginasO Documento Audiovisual Ou A Proximidade Entre As 3 MariasRafael SemidAinda não há avaliações
- A 42 V 663 BDocumento1 páginaA 42 V 663 Bagostinoburla4446Ainda não há avaliações
- Hutcheon - Teoria e Política Da IroniaDocumento8 páginasHutcheon - Teoria e Política Da IroniaLuhren100% (1)
- A Construção Da Justiça Restaurativa No Brasil PDFDocumento19 páginasA Construção Da Justiça Restaurativa No Brasil PDFSandro Henique Calheiros LôboAinda não há avaliações
- Programa Da Disciplina - Crítica de MídiaDocumento2 páginasPrograma Da Disciplina - Crítica de MídiaMarcelo TräselAinda não há avaliações
- A Sociedade Medieval ExercíciosDocumento9 páginasA Sociedade Medieval ExercíciosMirtes Waleska SulpinoAinda não há avaliações
- Contação de Histórias No Abrigo Dos IdososDocumento8 páginasContação de Histórias No Abrigo Dos IdososNilcilene SouzaAinda não há avaliações
- A Importância de Desenvolver A Habilidade de Saber NegociarDocumento20 páginasA Importância de Desenvolver A Habilidade de Saber NegociarRodrigoRochaAinda não há avaliações