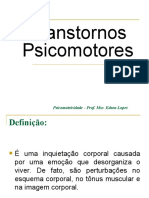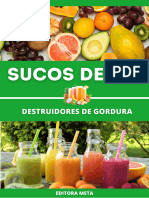Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Penna 2010 Bioseguranamodi
Penna 2010 Bioseguranamodi
Enviado por
José FilhoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Penna 2010 Bioseguranamodi
Penna 2010 Bioseguranamodi
Enviado por
José FilhoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Biossegurana: reviso.
ARTIGO DEuma REVISO
555
BIOSSEGURANA: UMA REVISO
P.M.M. Penna1*, C.F. Aquino2, D.D. Castanheira2, I.V. Brandi3, A.S.R. Cangussu2, E. Macedo Sobrinho2, R.S. Sari2, M.P. da Silva4**, .S.M. Miguel5 Universidade Estadual de Montes Claros, CP 126, CEP 39401-089, Montes Claros, MG, Brasil. E-mail: pmmpenna@gmail.com
1
RESUMO A biossegurana o conjunto de aes voltadas para a preveno, minimizao ou eliminao de riscos que possam comprometer a sade do homem e dos animais e o meio ambiente. Os primeiros debates sobre a biossegurana tiveram incio na dcada de 1970, devido a preocupaes com a segurana nos espaos laboratoriais e com as consequncias que os constantes avanos tecnolgicos na rea de engenharia gentica poderiam significar para o homem, bem como para os sistemas ecolgicos. No Brasil, a regulamentao para atividades relacionadas a essas reas teve incio em 1995, com a criao da Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana. Suas funes so fiscalizar a manipulao de organismos geneticamente modificados (OGM) e certificar a segurana dos espaos laboratoriais. Este trabalho tem como finalidade disseminar os conceitos de biossegurana e proporcionar informaes que auxiliaro na segurana do homem e do meio ambiente em aspectos relacionados s atividades de pesquisa, produo, ensino, desenvolvimento tecnolgico e prestao de servios. PALAVRAS-CHAVE: Riscos, meio ambiente, OGMs. ABSTRACT BIOSAFETY: A REVIEW. Biosafety is a set of actions directed to the prevention, minimization or elimination of risks that could jeopardize the humans and animals health and of the environment. The first debates about biosafety were held in the early 1970s due to the outbreak of transmissible diseases and to the concern to the safety in laboratory arenas. In Brazil, the regulations to activities related to these areas began in 1995 with the formation of the National Technical Biosafety whose functions are the inspection of the manipulated Genetically Modified Organisms (GMO) and of the laboratory arena safety. This review describes the biosafety concepts and their applicability known in order to improve the human safety as well as the environment in related issues to the research activities, production, teaching, technological development and given service. KEY WORDS: Risks, environment, Genetically Modified Organisms.
INTRODUO Biossegurana o conjunto de aes voltadas para a preveno, minimizao ou eliminao dos riscos inerentes s atividades de pesquisa, produo, ensino, desenvolvimento tecnolgico e prestao de servios. Estes riscos podem comprometer a sade do homem e animais, o meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos (Teixeira; Valle, 1996). H ainda outros conceitos para a biossegurana, como
2 3
o que est relacionado preveno de acidentes em ambientes ocupacionais, incluindo o conjunto de medidas tcnicas, administrativas, educacionais, mdicas e psicolgicas (Costa, 1996). O tema abrange ainda a segurana no uso de tcnicas de engenharia gentica e as possibilidades de controles capazes de definir segurana e risco para o ambiente e para a sade humana, associados liberao no ambiente dos organismos geneticamente modificados (OGMs) (Albuquerque, 2001).
Valle S.A. Montes Claros, MG, Brasil. Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Cincias Agrrias, Montes Claros, MG, Brasil. 4 Universidade Federal de Viosa, Programa de Ps-Graduao em Microbiologia Agrcola, Viosa, Brasil. 5 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Cincias da Sade, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. *Programa de Ps-Graduao em Cincias Biolgicas, Universidade Estadual de Montes. **Programa de Ps-Graduao em Microbiologia Agrcola, Universidade Federal de Viosa.
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
556
P.M.M. Penna et al.
A biossegurana envolve a anlise dos riscos a que os profissionais de sade e de laboratrios esto constantemente expostos em suas atividades e ambientes de trabalho. A avaliao de tais riscos engloba vrios aspectos, sejam relacionados aos procedimentos adotados, as chamadas boas prticas em laboratrio (BPLs), aos agentes biolgicos manipulados, infraestrutura dos laboratrios ou informacionais, como a qualificao das equipes (Brasil, 2006b). O corrente interesse em biossegurana manifestado no crescente nmero de regulamentaes nacionais e internacionais para controle dos procedimentos de biotecnologia. A biossegurana tem vrias normas que preconizam a diminuio da exposio de trabalhadores a riscos e a preveno de contaminao ambiental ( H ambleton et al. , 1992). As novas tecnologias de biossegurana e guias associados tm melhorado significativamente a segurana em ambientes laboratoriais, principalmente no que diz respeito ao manuseio de materiais microbiolgicos. Os guias de biossegurana so uma combinao de controle de engenharia, polticas de gerenciamento, prticas e procedimentos de trabalho, tanto quanto intervenes mdicas ( Coico; L unn, 2005). Cabe salientar que os princpios, guias e recomendaes so basicamente os mesmos para patgenos naturais e geneticamente modificados ( K imman et al., 2008). Segundo Santana (1996), a experincia internacional e certos princpios de regulamentao aceitos em outros pases so uma referncia para a definio de regras no Brasil, propiciando a adoo de novos procedimentos de avaliao e gerenciamento de riscos ligados s biotecnologias avanadas. As concluses dos primeiros trabalhos internacionais merecem ateno, principalmente por j reconhecerem a viso de que o risco da aplicao das novas tecnologias est relacionado s caractersticas dos produtos em questo e no ao uso da modificao gentica por si s. Apesar das medidas de conteno e guias, infeces de laboratrio usualmente envolvendo organismos no geneticamente modificados ocorrem comumente, sugerindo que as regras de biossegurana nem sempre so eficientes ou aplicadas corretamente. H necessidade, portanto, de um maior nmero de trabalhos informativos acerca do tema ( Kimman et al., 2008). Este trabalho tem como finalidade disseminar os conceitos de biossegurana, suas regras e sua aplicabilidade, de forma clara e objetiva, de modo a contribuir para o aumento das prticas preventivas relacionadas aos riscos inerentes s atividades de pesquisa, produo, ensino, desenvolvimento tecnolgico e prestao de servios.
REVISO DA LITERATURA Histrico O conceito de biossegurana comeou a ser mais fortemente construdo no incio da dcada de 1970, aps o surgimento da engenharia gentica. O procedimento pioneiro utilizando tcnicas de engenharia gentica foi a transferncia e expresso do gene da insulina para a bactria Escherichia coli. Essa primeira experincia, em 1973, provocou forte reao da comunidade mundial de cincia, culminando com a Conferncia de Asilomar, na Califrnia em 1974. Nesta conferncia foram tratadas questes acerca dos riscos das tcnicas de engenharia gentica e sobre a segurana dos espaos laboratoriais (Albuquerque, 2001; Borm , 2001). Foi sugerido tambm que a conteno deveria ser uma considerao essencial no programa experimental e que a eficincia da conteno deveria estar ligada ao risco estimado ( Kimman et al., 2008). Do ponto de vista prtico, foi a partir da Conferncia de Asilomar que se originaram as normas de biossegurana do National Institute of Health (NIH), dos EUA. Seu mrito, portanto, foi o de alertar a comunidade cientfica, principalmente quanto s questes de biossegurana inerentes tecnologia de DNA recombinante. A partir de ento, a maioria dos pases centrais viu-se diante da necessidade de estabelecer legislaes e regulamentaes para as atividades que envolvessem a engenharia gentica (Almeida; Valle, 1999). Na dcada de 1980 a Organizao Mundial de Sade conceituou a biossegurana como prticas de preveno para o trabalho em laboratrio com agentes patognicos, e, alm disto, classificou os riscos como biolgicos, qumicos, fsicos, radioativos e ergonmicos. Na dcada seguinte, observou-se a incluso de temas como tica em pesquisa, meio ambiente, animais e processos envolvendo tecnologia de DNA recombinante em programas de biossegurana (Costa; Costa, 2002). No Brasil, desde a instituio das escolas mdicas e da cincia experimental, no sculo XIX, vm sendo elaboradas noes sobre os benefcios e riscos inerentes realizao do trabalho cientfico, em especial nos ambientes laboratoriais (Almeida; Albuquerque , 2000). No entanto, a biossegurana no pas s se estruturou, como rea especfica, nas dcadas de 1970 e 1980, em decorrncia do grande nmero de relatos de graves infeces ocorridas em laboratrios, e tambm de uma maior preocupao em relao s consequncias que a manipulao experimental de animais, plantas e micro-organismos poderia trazer ao homem e ao meio ambiente (Shatzmayr, 2001). Com os constantes avanos tecnolgicos na rea de engenharia gentica e OGMs houve a necessidade de uma regulamentao para atividades relaciona-
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
Biossegurana: uma reviso.
557
das a essas reas. Em 1995 foi criada a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio) para estabelecer normas s atividades que envolvam construo, cultivo, manipulao, uso, transporte, armazenamento, comercializao, consumo, liberao e descarte relacionados a OGMs em todo o territrio brasileiro (Scholze, 1999). Tais normas, alm de tratarem da minimizao dos riscos em relao aos OGMs (Brasil, 1995), envolvem os organismos no geneticamente modificados e suas relaes com a promoo de sade no ambiente de trabalho, no meio ambiente e na comunidade (Garcia; Zanetti-Ramos, 2004). Operacionalmente vinculada ao Ministrio da Cincia e Tecnologia, a CTNBio composta por membros titulares e suplentes, das reas humana, animal, vegetal e ambiental (Scholze, 1999). Para educar e promover a conscincia em biossegurana, membros selecionados da CTNBio visitam instituies pblicas e privadas uma ou duas vezes ao ano. Durante essas visitas, os membros apresentam seminrios e discutem, com a equipe tcnica das instituies, artigos atuais em biossegurana, problemas relacionados aplicao de guias e outros assuntos relevantes (Fontes, 2003). Em 19 de fevereiro de 2002 foi criada a Comisso de Biossegurana em Sade (CBS) no mbito do Ministrio da Sade. A CBS trabalha com o objetivo de definir estratgias de atuao, avaliao e acompanhamento das aes de biossegurana, procurando sempre o melhor entendimento entre o Ministrio da Sade e as instituies que lidam com o tema (Brasil , 2006b). Manipulao de agentes biolgicos A partir dos anos 1980 o nmero de guias e regulaes que afeta a segurana para operao em laboratrios clnicos, de pesquisa e industriais, nos quais agentes infecciosos so manipulados, aumentou dramaticamente. Esses guias e regulaes afetam todos os aspectos da operao do laboratrio, como a licena para se trabalhar com diversos agentes infectantes, descarte do lixo contaminado e tambm a preveno contra a exposio dos manipuladores aos patgenos. A preveno contra infeces em laboratrios e unidades de sade deve ser feita de modo a garantir que os riscos ocupacionais e as consequncias de uma infeco sejam compreendidos por todos os envolvidos (Sewell, 1995). Segundo Waissman; Castro (1996), os agentes biolgicos apresentam um risco real ou potencial para o homem e para o meio ambiente, por esta razo, fundamental montar uma estrutura laboratorial que se adapte preveno de tais riscos. As manipulaes de agentes microbianos muitas vezes patognicos pelos trabalhadores de laboratrio fazem da natureza do seu trabalho um perigo ocupacional. Uma melhor compreenso dos riscos as-
sociados a manipulaes desses agentes que podem ser transmitidos por diversas rotas tem facilitado a aplicao de prticas de biossegurana apropriadas (Coico; Lunn , 2005). As infeces mais comumente adquiridas pelos profissionais em laboratrio so provenientes de agentes bacterianos, no entanto, agentes patognicos pertencentes a todas as categorias de micro-organismos tambm podem causar infeces (Coico; Lunn, 2005). Para minimizar os riscos inerentes manipulao dos agentes microbiolgicos importante conhecer as suas caractersticas peculiares, dentre as quais se destacam o grau de patogenicidade, o poder de invaso, a resistncia a processos de esterilizao, a virulncia e a capacidade mutagnica (Teixeira; Valle, 1996). Os agentes biolgicos que afetam o homem, os animais e as plantas foram classificados pelo Ministrio da Sade por meio da Comisso de Biossegurana em Sade (CBS). Os critrios de classificao tm como base diversos aspectos, tais como: virulncia, modo de transmisso, estabilidade do agente, concentrao e volume, origem do material potencialmente infeccioso, disponibilidade de medidas profilticas eficazes, disponibilidade de tratamento eficaz, dose infectante, tipo de ensaio e fatores referentes ao trabalhador. Os agentes biolgicos foram classificados em classes de 1 a 4, incluindo tambm a classe de risco especial (Brasil, 2006a). Classe de risco 1 Agentes biolgicos que oferecem baixo risco individual e para a coletividade, descritos na literatura como no patognicos para as pessoas ou animais adultos sadios. Exemplos: Lactobacillus sp., Bacillus (Brasil, 2006a). Classe de risco 2 Agentes biolgicos que oferecem moderado risco individual e limitado risco para a comunidade, que provocam infeces no homem ou nos animais, cujo potencial de propagao na comunidade e de disseminao no meio ambiente seja limitado, e para os quais existem medidas teraputicas e profilticas eficazes (Brasil , 2006a. Alguns exemplos esto descritos na Tabela 1. Classe de risco 3 Agentes biolgicos que oferecem alto risco individual e moderado risco para a comunidade, que possuem capacidade de transmisso por via respiratria e que causam patologias humanas ou animais, potencialmente letais, para as quais existem usualmente medidas de tratamento e/ou de preveno. Representam risco se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa (Brasil , 2006a). Alguns exemplos esto descritos na Tabela 1.
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
558
Tabela 1 Micro-organismos e suas respectivas classes de risco. Parasitas Aspergillus flavus; A. fumigatus; Blastomyces dermatitidis; Candida albicans; C. tropicalis; Penicillium marneffei; Aphanoascus fulvescens; Cladosporium cladosporioides. Fungos Vrus
Classe de risco 1
Bactrias Lactobacillus sp., Bacillus sp. Actinomadura madurae; Bartonella bacilliformis; B. henselae; B. quintana; B. vinsonii; Campylobacter sp.; Chlamydia pneumoniae; C. trachomatis; Enterobacter aerogenes; E. cloacae; Helicobacter pylori; Leptospira; Mycobacterium sp.; Mycoplasma caviae; M. hominis; M. pneumoniae; Salmonella sp.; Shigella sp.; Staphylococcus aureus; Streptococcus sp. Acanthamoeba castellani; Ancylostoma (humano e animal); A. duodenale; Ascaris sp.; A. suum; Cryptosporidium sp.; Echinococcus sp.; Enterobius sp.; Giardia sp.; Leishmania sp.; Shistosoma sp.; Strongyloides sp.; Taenia saginata e solium; Toxoplasma sp.; Trichuris trichiura; Trypanosoma sp.; Wuchereria bancrofti. Coccidioides immitis, culturas esporuladas; Histoplasma capsulatum, todos os tipos, inclusive a variedade duboisii e variedade capsulatum.
Adenovirus humanos, caninos e de aves; Dengue tipos 1, 2, 3 e 4; Febre Amarela vacinal; Hantavirus; Hepacivirus; Herpesvirus; Papilloma-virus; Parvovirus; Adenovirus 1 avirio; Adenovirus 7; Simian virus 40; Polyoma vrus; Vrus do Sarcoma Murino e Felino.
P.M.M. Penna et al.
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
Bacillus anthracis; Bartonella, exceto os listados na classe de risco 2; Brucella sp.; Chlamydia psittaci (cepas avirias); Clostridium botulinum; Escherichia coli, cepas verotoxignicas como 0157:H7 ou O103; Francisella tularensis (tipo A); Mycobacterium bovis, exceto a cepa BCG; M. tuberculosis; Pasteurella multocida tipo B, amostra buffalo e outras cepas virulentas; Rickettsia akari; R. rickettsii. Cowdria ruminatium Theileria annulata; T. bovis; T. hirci; T. parva e agentes relacionados
Febre Amarela no vacinal; prons incluindo agentes de encefalopatias espongiformes transmis-sveis: encefalopatia espongiforme bovina (BSE), Retrovirus, incluindo os vrus da imunodeficincia humana (HIV-1 e HIV-2), vrus linfotrpico da clula T humana (HTLV-1 e HTLV-2) e vrus da imunodeficincia de smios (SIV); Lyssavirus.
Fonte: Brasil (2006b).
Arenavirus agentes de febres hemorrgicas (Guanarito, Junin, Machupo e Sabi); encefalites transmitidas por carrapatos; Filovirus (vrus Marburg, Ebola e outros relacionados); Herpesvirus do macaco (vrus B); vrus da febre catarral maligna de bovinos e cervos; vrus da doena hemorrgica de coelhos.
Biossegurana: uma reviso.
559
Classe de risco 4 Agentes biolgicos que oferecem alto risco individual e para a comunidade, com grande poder de transmissibilidade por via respiratria ou de transmisso desconhecida. Nem sempre est disponvel um tratamento eficaz ou medidas de preveno contra esses agentes. Causam doenas humanas e animais de alta gravidade, com alta capacidade de disseminao na comunidade e no meio ambiente. Esta classe inclui principalmente os vrus (Brasil , 2006a). Alguns exemplos esto descritos na Tabela 1. Classe de risco especial Agentes biolgicos que oferecem alto risco de causar doena animal grave e de disseminao no meio ambiente de doena animal no existente no pas e que, embora no sejam obrigatoriamente patgenos de importncia para o homem, podem gerar graves perdas econmicas e/ou na produo de alimentos. Alguns exemplos: Vrus da clera suna, Vrus da doena de Borna, Vrus da doena de New Castle (amostras asiticas), Vrus da doena de Teschen, Vrus da doena de Wesselbron, Vrus da influenza A aviria (amostras de epizootias), Vrus da peste aviria, Vrus da peste bovina (Brasil , 2006a). Medidas de conteno e nveis de biossegurana dos laboratrios necessrio que todo laboratrio fornea barreiras de conteno e um programa de segurana cujo objetivo seja a proteo dos profissionais de laboratrio e outros que atuem na rea, bem como a
proteo do meio ambiente, eficincia das operaes laboratoriais e garantia do controle de qualidade do trabalho executado (Silva, 1996). Alm das tcnicas microbiolgicas de segurana, as barreiras primrias (equipamentos de segurana e equipamentos de proteo individual e coletiva) e barreiras secundrias (facilidades de salvaguardas) so agora consideradas como elementos vitais de medidas de conteno ( Kimman et al., 2008). Os equipamentos de proteo individual, conhecidos como EPIs (Tabela 2), so utilizados para minimizar a exposio aos riscos ocupacionais e evitar possveis acidentes no laboratrio. Os equipamentos de proteo coletiva (EPCs) so utilizados com a finalidade de minimizar a exposio dos trabalhadores aos riscos e, em casos de acidentes, reduzir suas consequncias. Exemplos: lava-olhos, chuveiro, extintor e cabines de proteo biolgica (Teixeira; Valle , 1996). As barreiras secundrias dizem respeito construo do laboratrio, localizao e instalaes fsicas. As instalaes fsicas so importantes para proporcionar uma barreira de proteo para pessoas dentro e principalmente fora do laboratrio, bem como para o meio ambiente. Os tipos de barreiras secundrias dependero do risco de transmisso dos agentes especficos manipulados no laboratrio. So alguns exemplos de barreiras secundrias: a localizao distante do acesso pblico, a presena de sistemas de ventilao especializados em assegurar o fluxo de ar unidirecionado, sistemas de tratamento de ar para a descontaminao ou remoo do ar liberado e cmaras pressurizadas como entradas de laboratrio (Brasil , 2006c).
Tabela 2 - Equipamentos de proteo individual, risco evitado e caractersticas de proteo. Equipamento Jalecos e aventais de pano Aventais plsticos Calado culos de proteo culos de segurana Viseira de proteo facial Risco evitado Contaminao do vesturio Contaminao do vesturio Impactos e salpicos Impactos e salpicos Impactos Impactos e salpicos Caractersticas de proteo - Cobrem o vesturio pessoal - Impermeveis - Fechados frente - Lentes resistentes a impactos. - Protees laterais - Lentes resistentes a impactos - Protees laterais - Proteo total da face - Fcil de tirar em caso de acidente - H diversos modelos: descartvel, completa ou meia mscara purificadora de ar, de capuz com ar filtrado presso e com abastecimento de ar - Em ltex, vinilo ou nitrilo microbiologicamente aprovados, descartveis - Malha de ao
Aparelhos e mscaras de respirao
Inalao de aerossis
Luvas
Contato direto com micro-organismos e cortes
Fonte: World Health Organization (2004).
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
560
P.M.M. Penna et al.
Estudos sobre infeces adquiridas em laboratrio concluram que a rota primria de transmisso dos agentes causadores foi por aerossol ( Kimman et al., 2008). Aerossis so partculas ultrapequenas de lquido ou solues dispersas em gs que podem conter agentes infectantes, apresentando riscos se inaladas, ingeridas e/ou entrarem em contato com pele e mucosas. Numerosos procedimentos de laboratrio podem gerar os aerossis, como a pipetagem realizada com rapidez, a abertura brusca de culturas liofilizadas, a centrifugao de tubos mal vedados, a variao abrupta de presso ou temperatura de uma soluo, dentre outros (Universidade Federal da Bahia, 2001). Com a finalidade de minimizar os riscos relacionados aos aerossis, foi desenvolvido o aparelho de fluxo laminar (Kimman et al., 2008). O fluxo laminar, ou cabine de segurana biolgica (CSB), o dispositivo principal utilizado para proporcionar a conteno de borrifos e aerossis infecciosos provocados por inmeros procedimentos microbiolgicos (Brasil , 2006c). Os equipamentos utilizados em laboratrio podem oferecer diversos tipos de proteo aos usurios e ao meio ambiente (Teixeira; Valle , 1996), conforme a Tabela 3. Os laboratrios so divididos respeitando os nveis de biossegurana (NB) em que se enquadram, denominados NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4. Tais nveis esto relacionados aos requisitos crescentes de segurana para o manuseio dos agentes biolgicos, terminando no maior grau de conteno e de complexidade do nvel de proteo. O NB exigido para um ensaio ser determinado pelo agente biolgico de maior classe de risco envolvido no ensaio.
As classificaes so as seguintes ( B rasil , 2006a) Nvel de Biossegurana 1 (NB-1) o nvel necessrio ao trabalho que envolva agentes biolgicos da classe de risco 1. Representa um nvel bsico de conteno, que se fundamenta na aplicao das BPLs, na utilizao de equipamentos de proteo e na adequao das instalaes. O trabalho conduzido, em geral, em bancada. Nvel de Biossegurana 2 (NB-2) o nvel exigido para o trabalho com agentes biolgicos da classe de risco 2. O acesso ao laboratrio deve ser restrito a profissionais da rea, mediante autorizao do profissional responsvel. Nvel de Biossegurana 3 (NB-3) Este nvel aplicvel aos locais onde forem desenvolvidos trabalhos com agentes biolgicos da classe de risco 3. Nvel de Biossegurana 4 (NB-4) Este nvel necessrio a trabalhos que envolvam agentes biolgicos da classe de risco 4 e agentes biolgicos especiais. Nesse tipo de laboratrio o acesso dos profissionais deve ser controlado por sistema de segurana rigoroso. Na Tabela 4 observa-se um resumo dos requisitos bsicos exigidos em cada nvel de biossegurana laboratorial, incluindo estrutura, equipamentos e prticas.
Tabela 3 - Tipos de equipamentos de conteno e suas aplicaes. Tipo Caixas de animais Autoclaves Cabine de proteo biolgica - classe I - classe II - classe III Misturadores Centrfuga Exaustor de gs Filtros HEPA Microincinerador Containers Aparelhos de pipetagem Proteo para o operador e o ambiente. No h proteo para o experimento. Proteo do operador, do meio ambiente e do experimento ou produto. Mxima proteo ao pessoal, meio ambiente e produto. Alguns tipos do proteo contra aerossis Recipientes selados do conteno de aerossis Proteo pessoal e meio ambiental 99,975 de remoo das partculas de no mnimo 0,3 m Eltrico ou a gs com brao lateral para conter respingos dos circuitos Autoclavveis, com tampas de encaixe que podem transportar materiais infectantes para a autoclave Eliminam a necessidade de pipetar com a boca Aplicao Conteno de aerossol parcial ou total, providencia proteo de contaminao cruzada e do meio ambiente Esterilizao por calor mido
Indicadores de esterilidade Usados para determinar a eficcia da esterilizao por calor Fonte: Laboratory Biosafety Guidelines (1996); Brasil, 2004.
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
Biossegurana: uma reviso.
561
Tabela 4 - Requisitos para os diversos nveis de segurana biolgica. Atributo 1 N N 4 Isolamento do laboratrio S Sala selada para descontaminao S Ventilao: - Aduo do ar N D S S - Sistema de ventilao controlada N D S S - Exaustor com filtro HEPA N N S S Entrada com porta dupla N N S S Sistema de portas com tranca N S S S Cmara de vcuo N N S S Cmara de vcuo com ducha N N N S Antecmara N N S Antecmara com ducha N N S N Tratamento dos efluentes N N S S Autoclave: - in loco N D S S - numa sala do laboratrio N N D S - de duas portas N N D S Cmaras de segurana biolgica - classe I D D N N - classe II N D S S - classe III N N D S Circuito interno de imagem N N D S Registro em autoridades sanitrias nacionais N N S S Roupas de proteo com presso positiva e ventilao N N N S Uso EPIs S S S S Realizao das BPLs S S S S Incinerao dos resduos aps esterilizao N N N S N- Absteno de necessidade; S- Uso obrigatrio; D- Uso desejvel. Fonte: World Health Organization (2004). Nveis de segurana biolgica 2 3 N S N S
Boas prticas de laboratrio O maior problema relacionado aos riscos em laboratrio no est nas tecnologias disponveis para eliminar ou minimizar tais riscos e sim no comportamento dos profissionais. indispensvel relacionar o risco de acidentes s boas prticas cotidianas dentro de um laboratrio. No basta haver sistemas modernos de esterilizao do ar ou cmaras de desinfeco das roupas de segurana, por exemplo, se o profissional no lavar suas mos com a frequncia adequada ou o lixo for descartado de maneira errada (Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria, 2005). As Boas Prticas de Laboratrio (BPLs) tratam da organizao, do processo e das condies sob as quais estudos de laboratrio so planejados, executados, monitorados, registrados e relatados. As BPLs tm como finalidade avaliar o potencial de riscos e toxicidade de produtos objetivando a proteo da sade humana, animal e do meio ambiente. Outro objetivo das BPLs promover a qualidade e validao dos resultados de pesquisa atravs de um sistema de qualidade aplicado a laboratrios que desenvolvem estudos e pesquisas que necessitam
da concesso de registros para comercializao de seus produtos e monitoramento do meio ambiente e da sade humana (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria, 2008). Fazem parte de algumas das BPLs as seguintes consideraes, de acordo com Salgado-Santos (2001) (Tabela 5). Com relao s matrias-primas, padres, reagentes e demais insumos, estes devem ser devidamente armazenados, avaliando-se o grau de risco, compatibilidades, incompatibilidades (Tabela 6), bem como as condies ideais de luz, umidade e temperatura de armazenamento (Salgado-Santos, 2001). Biossegurana e OGMs Os OGMs foram desenvolvidos a partir do avano da engenharia gentica, atravs da tcnica de DNA recombinante. Esta tcnica possibilita o isolamento de um gene de um dado organismo e sua transferncia para outro organismo, transpondo barreiras de cruzamento entre as diversas espcies de organismos. O resultado um indivduo semelhante ao utilizado para receber a molcula de DNA recombinante,
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
562
P.M.M. Penna et al.
porm acrescido de uma nova caracterstica gentica, proveniente de outro, que no da mesma espcie. Esse indivduo chamado transgnico (Azevedo et al., 2000). A criao de OGMs deu origem a discusses cientficas, ticas, econmicas e polticas (Nodari; Guerra, 2003).
A tcnica de transgenia pode contribuir de forma significativa para o melhoramento gentico de plantas, visando produo de alimentos, frmacos e outros produtos industriais. No entanto, o cultivo de plantas transgnicas e seu consumo requerem anlises de risco (Nodari; Guerra , 2003).
Tabela 5 - Boas Prticas de Laboratrio relacionadas aos equipamentos, profissionais envolvidos, material e ambiente. Equipamentos - Geladeiras do laboratrio devem ser usadas apenas para armazenar amostras, solues e reagentes, nunca para alimentos; Uso de EPIs como luvas, jaleco, calado fechado, culos, mscara, touca, entre outros, adequados a cada procedimento; Equipamentos devem ser configurados regularmente e estar em locais apropriados. - - - - Profissionais envolvidos proibido o preparo e o consumo de alimentos no ambiente laboratorial; Profissionais no devem usar maquiagem; Pipetar com a boca imperiosamente proibido; Profissionais devem ter ateno especial lavagem das mos, cuidados com unhas, cabelos, barba e roupas, a fim de evitar contaminaes cruzadas; Devem ser utilizadas roupas adequadas s substncias manuseadas no laboratrio; Mos enluvadas no devem tocar reas limpas, tais como teclados, telefones e maanetas; Acidentes ocorridos devem ser documentados e avaliados para correes e prevenes; Os trabalhadores devem ser devidamente treinados e informados. Ambiente - - - Visitas ao ambiente laboratorial devem ser reduzidas e desaconselhvel a presena de crianas; No recomendado que haja plantas no interior do laboratrio; Os procedimentos de limpezas dos laboratrios devem ser os mais rigorosos possveis, sendo realizadas tcnicas de desinfeco; O descarte de resduos deve ser feito de maneira que no comprometa a sade dos profissionais e do meio ambiente; O ambiente deve ser devidamente sinalizado de forma clara e objetiva; A bancada de trabalho deve ser descontaminada ao final de cada turno de trabalho e sempre que ocorrer derramamento de agente biolgico; Deve ser mantida uma rotina de controle de artrpodes e roedores.
- - - -
Material - - Os frascos devem conter rtulos com as informaes principais do seu contedo; O descarte do material perfurocortante deve ser realizado em recipiente de paredes rgidas, com tampa e devidamente identificado; No descarte, as agulhas usadas no devem ser dobradas, quebradas, reutilizadas, recapeadas, removidas das seringas ou manipuladas antes de desprezadas. Seu descarte deve ser feito em recipiente adequado a material perfurocortante.
- -
- Fonte: Salgado-Santos (2001). Tabela 6 - Regras gerais sobre incompatibilidades qumicas. Categoria Metais alcalinos como sdio, potssio, csio e ltio Halogneos cido actico, sulfito de hidrognio, anilina, hidrocarbonetos, cido sulfrico Fonte: World Health Organization (2004).
Incompatibilidade Dixido de carbono, hidrocarbonetos clorados, gua Amonaco, acetileno, hidrocarbonetos Agentes oxidantes como cido crmico, cido ntrico, perxido, permanganatos
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
Biossegurana: uma reviso.
563
O principal aspecto considerado na avaliao dos riscos dos transgnicos so os possveis efeitos, sobre outros organismos, da caracterstica introduzida no OGM, principalmente quando a caracterstica est relacionada com a produo de uma nova protena como, por exemplo, a protena Bt em algumas espcies. Esta protena j usada no controle biolgico por ser nociva s pragas de lavouras e tem sido induzida a sua produo em cultivares de milho, o chamado milho Bt. A preocupao em relao produo desta protena por espcies transgnicas em relao ao prejuzo aos insetos no-alvos, quando em contato com estas variedades por tempo prolongado. Os principais benefcios obtidos com o uso de transgnicos na agricultura so o aumento da produtividade e da qualidade nutricional, alm da reduo dos custos de produo. Os riscos so relacionados ao aumento da capacidade invasora das plantas daninhas, aos efeitos nocivos sobre insetos no-alvo e segurana alimentar. Acredita-se, no entanto, que no balano risco-benefcio os riscos sejam controlveis e os benefcios sejam maiores (Borm, 2001). Um exemplo importante de ameaa relacionada aos OGMs decorre de sua liberao no meio ambiente e a possvel transferncia do novo gene inserido, chamado transgene, e sua expresso em outras espcies. A adio de um novo gentipo numa comunidade de plantas pode proporcionar vrios efeitos indesejveis, como o deslocamento ou eliminao de espcies no domesticadas, a exposio de espcies a novos patgenos ou agentes txicos, a eroso da diversidade gentica e a interrupo da reciclagem de nutrientes e energia (Nodari; Guerra , 1999). A ameaa espcie humana est relacionada ao consumo de alimentos oriundos de plantas transgnicas. As consequncias podem ir desde manifestaes de hipersensibilidade alrgica a reaes metablicas anormais. Um exemplo especfico de risco o fato de a maioria das plantas transgnicas de primeira gerao conter genes de resistncia a antibiticos. Pode ocorrer de tais genes serem transferidos para bactrias humanas, que podero adquirir a caracterstica de resistncia ao antibitico (Nodari; Guerra , 1999). No Brasil, OGM considerado por lei o organismo cujo material gentico tenha sido modificado por qualquer tcnica de engenharia gentica. Esta ltima definida como atividade de manipulao de molculas de RNA e DNA recombinantes. Segundo o anexo I da Lei 8.974 (Brasil , 1995), os OGMs so classificados em Grupo I e Grupo II, sendo determinadas as seguintes caractersticas para cada grupo: Grupo I - Receptor ou parental: no patognico, no apresenta agentes adventcios, histrico de utilizao segura, sobrevivncia e multiplicao limitadas, sem efeitos negativos para o meio ambiente.
- Vetor/inserto: deve ser caracterizado quanto a todos os aspectos, sendo principais os aspectos que representem riscos ao homem e ao meio ambiente. Deve ser desprovido de sequncias genticas nocivas, ter tamanho limitado, no deve incrementar a estabilidade do organismo modificado no meio ambiente, deve ser pouco mobilizvel, no deve transmitir nenhum marcador de resistncia a organismos. - Micro-organismo Geneticamente Modificado: no deve ser patognico, deve oferecer a mesma segurana que o organismo receptor ou parental, pode ser composto por sequncias genticas de diferentes espcies que troquem tais sequncias mediante processos fisiolgicos conhecidos. Grupo II Fazem parte deste grupo os OGMs resultantes de organismo receptor ou parental classificado como patognico para o homem e animais, como agentes includos nas classes de risco 2, 3, 4 ou classe de risco especial. De acordo com a Instruo Normativa n 1 da CTNBio, toda entidade que utilizar tcnicas e mtodos de engenharia gentica dever criar uma Comisso Interna de Biossegurana (CIBio), com as atribuies de promoo de programas de educao, criao de programas de preveno e inspees, registro e notificao de projetos, investigao de acidentes e tudo o que se diz respeito ao cumprimento da regulamentao de biossegurana (Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana, 2006). Atualmente, no Brasil, 292 instituies ligadas s reas de pesquisa humana e animal possuem o certificado de qualidade em biossegurana (CQB), sendo credenciadas a trabalhar com produtos transgnicos; isto representa uma rede de competncias consolidada na rea de Biotecnologia de OGMs. Os produtos ou espcies agrcolas objetos de pesquisa transgnica no pas so: milho, soja, algodo, fumo, batata, feijo, eucalipto, mamo, estilosante, braquiria, cana-de-acar, alface, cenoura, trevo, jurubeba roxa, milheto, pimento, citros, maracuj, crisntemo, tomate, berinjela, alfavaca, alho, abboras, entre outros (Comisso Tcnica Nacional de BiosseguranaComisso , 2002; 2009). Para que haja a liberao no ambiente de um OGM necessrio que se cumpram as exigncias preconizadas pela CTNBio. O questionrio tcnico a ser respondido composto por questes acerca do tipo de OGM a ser liberado. Entre as questes pode-se citar: a origem do DNA inserido e habitat e ecologia do organismo. So exigidas tambm informaes sobre o mapa gentico da construo, caracterizao da modificao gentica, dados sobre estabilidade do organismo e mecanismos de fluxo gnico (Monquero, 2005). A CTNBio exige ainda informaes sobre plantas, micro-organismos que vivem associados a
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
564
P.M.M. Penna et al.
este OGM, micro-organismos utilizados como vacina de uso veterinrio, micro-organismos que modificam propriedades do solo, entre outras. Somente aps a analise dessas informaes e dados tcnicos pela CTNBio que o OGM poder ou no ser liberado no ambiente (Brasil , 2000). CONCLUSO A biotecnologia e seus avanos, alm de suas colaboraes nas diversas reas como a medicina, a agricultura e a economia, inclui a presena de riscos. A existncia de tais riscos indica a necessidade de haver normas de segurana destinadas anlise e desenvolvimento de estratgias para minimiz-los, principal funo da biossegurana. A biossegurana se faz importante tanto no controle dos riscos ocupacionais quanto no controle dos riscos de prejuzo ambiental provenientes das novas tecnologias cientficas. Para que as aes de biossegurana sejam efetivas necessrio que todos os envolvidos em atividades de risco estejam devidamente informados acerca das diretrizes atuais, bem como aptos a coloc-las em prtica de maneira correta. No entanto, preciso ressaltar que o fato de haver manuais e normas de biossegurana no implica no afastamento total dos riscos. Segundo Almeida; Valle (1999), um acidente envolvendo tcnicas de engenharia gentica, por exemplo, poder ocorrer e, como em toda anlise previsionista prudente, no se pode prever quando nem em que intensidade. Com o objetivo de tornar acessvel a toda a sociedade as informaes relativas ao desenvolvimento cientfico e suas implicaes, importante que sejam discutidos aspectos no s relativos biossegurana, mas tambm relacionados tica, sociedade, poltica e religio, que poderiam ser debatidos por diferentes representantes da sociedade. AGRADECIMENTOS Valle S.A., pelo apoio fundamental realizao deste trabalho.
REFERNCIAS AGNCIA NACIONAL DE VIGILNCIA SANITRIA (Brasil). Segurana e controle de qualidade no laboratrio de microbiologia clnica (Mdulo II). Braslia: ANVISA, 2004. AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (Brasil). Biossegurana. Revista de Sade Pblica, v.39, n.6, 2005.
ALBUQUERQUE, M.B.M. Biossegurana, uma viso da histria da cincia. Biotecnologia, Cincia & Desenvolvimento, v.3, n.18, p. 42-45, 2001. ALMEIDA, A.B.S.; ALBUQUERQUE, M.B.M. Biossegurana: um enfoque histrico atravs da histria oral. Histria, Cincias, Sade-Manguinhos, v.7, n.1, p.171183, 2000. ALMEIDA, J.L.T.; VALLE, S. Biossegurana no ano 2010: o futuro em nossas mos? Biotica, v.7, n.2, p.199203, 1999. AZEVEDO, J.L.; FUNGARO, M.H.P.; VIEIRA, M.L.C. Transgnicos e evoluo dirigida. Histria, Cincias, Sade-Manguinhos, v.7, n.2, p.451-464, 2000. BORM, A. Escape genico & transgenicos. Rio Branco: Suprema, 2001. BRASIL. Lei no 8974, de 5 de janeiro de 1995. Regulamenta os incisos II e V do pargrafo 1o do art. 225 da Constituio Federal, estabelece normas para o uso das tcnicas de engenharia gentica e liberao no meio ambiente de Organismos Geneticamente Modificados, autoriza o Poder Executivo a criar, no mbito da Presidncia da Repblica, a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana, e d outras providncias. Dirio Oficial [da] Republica Federativa do Brasil, Braslia, DF, 6 jan. 1995. BRASIL. Ministrio da Cincia e Tecnologia. Biossegurana CTNBio, Transgnicos. 2000. Disponvel em: <http://www.mct.org.br>. Acesso em: 1 dez. 2008. BRASIL. Ministrio da Sade. Classificao de risco dos Agentes Biolgicos. Braslia: Editora MS, 2006a. BRASIL. Ministrio da Sade. Diretrizes gerais para o trabalho em conteno com Agentes Biolgicos. Braslia: Editora MS, 2006b. BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Departamento de Vigilncia Epidemiolgica. Biossegurana em laboratrios biomdicos e de microbiologia. 3.ed. Braslia, 2006c. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Laboratory biosafety guidelines. 2.. ed. Ottawa: CDC, 1996. 66p. COICO, R.; LUNN, G. Biosafety: guidelines for working with pathogenic and infectious microorganisms. Current Protocols in Immunology, cap.1A, unid.1A, 2005. COMISSO TCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANA (Brasil). CIBio. 2006 Disponvel em: <http://
www.ctnbio.gov.br/index.php/content/ view/143.html>. Acesso em: 21 abr. 2010.
COMISSO TCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANA (Brasil). Relatrio Anual da CTNBio 2002. Dis-
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
Biossegurana: uma reviso.
565
ponvel em:<http://www.ctnbio.gov.br/index.php/ content/view/1146.html>. Acesso em: 1 dez. 2008. COMISSO TCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANA (Brasil). Relatrio Anual da CTNBio 2009. Disponvel em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/ content/view/14606.html>. Acesso em: 21 abr. 2010 COSTA, M.A.F. Biossegurana: segurana qumica bsica para ambientes biotecnolgicos e hospitalares. So Paulo: Ed. Santos, 1996. COSTA, M.A.F.; COSTA, M.F.B. Biossegurana: elo estratgico de SST. Revista CIPA, v.21, n.253, 2002. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECURIA. Boas prticas de laboratrio. Disponvel em: <http:// www.ctaa.embrapa.br/projetos/bplapresentacao.php>. Acesso em: 25 set. 2008 FONTES; E.M.G. Legal and regulatory concerns about transgenic plants in Brazil. Journal of Invertebrate Pathology, v.83, n.2, p.100-103, 2003. GARCIA, L.P.; ZANETTI-RAMOS, B.G. Health services waste management: a biosafety issue. Cadernos de Sade Pblica, v.20, n.3, p.744-752, 2004. HAMBLETON, P.; BENNETT, A.M.; LEAVER, G. Biosafety monitoring devices for biotechnology processes. Tibtech, v.10, p.192-199, 1992. KIMMAN, T.G.; SMIT, E.; KLEIN, M.R. Evidence-Based Biosafety: a Review of the Principles and Effectiveness of Microbiological Containment Measures. Clinical Microbiology Reviews, v.21, n.3, p.403-425, 2008. MONQUERO, P.A. Plantas transgnicas resistentes aos herbicidas: situao e perspectivas. Bragantia, v.64, n.4, p.517-531, 2005. NODARI, R. O.; GUERRA, M.P. Plantas Transgnicas: avaliao e biossegurana. In: SEMINRIO ESTADUAL DE BIOTECNOLOGIA E PRODUTOS TRANSGNICOS, 1999, Santa Maria, RS. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 1999. v. nico, p.1-10. NODARI, R.O.; GUERRA, M.P. Plantas transgnicas e seus produtos: impactos, riscos e segurana alimentar
(biossegurana de plantas transgnicas). Revista de Nutrio, v.16, n.1, p.105-116, 2003. SALGADO-SANTOS, I.M.N.R. Boas Prticas de Laboratrio (Parte 1). Frmacos & Medicamentos, v.2, 2001. SANTANA, A. Biossegurana no Brasil: A necessidade de uma poltica consistente. In: TEIXEIRA, P.; VALLE, S. (Ed.). Biossegurana: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. p.27-40. SCHOLZE, S.H. Biossegurana e alimentos transgnicos. Revista Biotecnologia, Cincia e Desenvolvimento, v.2, n.9, p.32-34, 1999. SEWELL, D.L. Laboratory-associated infections and biosafety. Clinical Microbiology Review, v.8, n.3, p.389405, 1995. SHATZMAYR, H.G. Biossegurana nas infeces de origem viral. Revista Biotecnologia, Cincia e Desenvolvimento, v.3, n.18, p.12-15, 2001. SILVA, F.H.A.L. Equipamentos de conteno. In: TEIXEIRA, P.; VALLE, S. (Ed.). Biossegurana: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. p.163-189. TEIXEIRA, P.; VALLE, S. Biossegurana: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Instituto de Cincias da Sade. Manual de biossegurana. Salvador, 2001. cap.17. WAISSMAN W.; CASTRO, J.A.P. A evoluo das abordagens em sade e trabalho no capitalismo industrial. In: TEIXEIRA, P.; VALLE, S. (Ed.). Biossegurana: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. p.15-25. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Laboratory biosafety manual. 3.ed. Geneva: WHO, 2004.
Recebido em 19/2/09 Aceito em 21/4/10
Arq. Inst. Biol., So Paulo, v.77, n.3, p.555-465, jul./set., 2010
Você também pode gostar
- Prova MetrologiaDocumento9 páginasProva MetrologiaUmberto Reis100% (1)
- Biossegurança em Quimioterapia AntineoplásicaDocumento29 páginasBiossegurança em Quimioterapia AntineoplásicaUmberto ReisAinda não há avaliações
- TRABALHODocumento353 páginasTRABALHONayane22Ainda não há avaliações
- TRABALHO - Apresentação Fábrica Convento e Disciplina - Pag.261 A 283Documento9 páginasTRABALHO - Apresentação Fábrica Convento e Disciplina - Pag.261 A 283Umberto ReisAinda não há avaliações
- Questões Da CognitivaDocumento16 páginasQuestões Da CognitivaMateus FeltrinAinda não há avaliações
- Apresentação Bermad - Válvulas VRP para Sistemas de APODocumento12 páginasApresentação Bermad - Válvulas VRP para Sistemas de APOHugo José Abreu de SouzaAinda não há avaliações
- (Botanica) Extração e Beneficiamento de Sementes Florestais Nativas 1ed. (A. C. Nogueira)Documento7 páginas(Botanica) Extração e Beneficiamento de Sementes Florestais Nativas 1ed. (A. C. Nogueira)Joseane de Souza CardosoAinda não há avaliações
- Introducao Ao Controle de Cupins em Areas UrbanasDocumento22 páginasIntroducao Ao Controle de Cupins em Areas UrbanassalmeidaspAinda não há avaliações
- Plano Hematologia 2018Documento4 páginasPlano Hematologia 2018Ranieri CoelhoAinda não há avaliações
- Pobreza - Causas, Consequências e SoluçõesDocumento13 páginasPobreza - Causas, Consequências e SoluçõesMarly RibeiroAinda não há avaliações
- Células-Tronco em OdontologiaDocumento42 páginasCélulas-Tronco em OdontologiaThiago BragaAinda não há avaliações
- Quantificação de Leveduras em Fermento para Fabricação de Cerveja Artesanal - Fabio SmaniaDocumento67 páginasQuantificação de Leveduras em Fermento para Fabricação de Cerveja Artesanal - Fabio SmaniaEverton Luis FettiAinda não há avaliações
- 6 - Enzimas e VetoresDocumento6 páginas6 - Enzimas e VetoresMicael MontemezzoAinda não há avaliações
- O Relatório FlexnerDocumento8 páginasO Relatório Flexnerwinston1968Ainda não há avaliações
- Transtornos Psicomotores 2017Documento19 páginasTranstornos Psicomotores 2017Leandro RosaAinda não há avaliações
- Protocolo Instalacao PiezometroDocumento7 páginasProtocolo Instalacao Piezometrocarrillodel-1Ainda não há avaliações
- Lista de Exercicios de Fisica Associacao ResistoresDocumento5 páginasLista de Exercicios de Fisica Associacao ResistoresluizaAinda não há avaliações
- PDF 20230427 100410 0000Documento9 páginasPDF 20230427 100410 0000Bruna Rici100% (1)
- Menu - Casa Da PicanhaDocumento15 páginasMenu - Casa Da PicanhaRafael ArrudaAinda não há avaliações
- QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA Profa Ma Valtiane GamaDocumento41 páginasQUÍMICA ORGÂNICA APLICADA Profa Ma Valtiane GamaValtiane GamaAinda não há avaliações
- Ìwòrì ÒsáDocumento12 páginasÌwòrì ÒsáOrungbewa Aworeni Odusola88% (8)
- Destilados AlcoólicosDocumento2 páginasDestilados AlcoólicosAkumaaAinda não há avaliações
- Avaliações Criminologia Aplicada A Segurança Pública - CaspDocumento13 páginasAvaliações Criminologia Aplicada A Segurança Pública - CaspMario BorgesAinda não há avaliações
- Transdutores Do JovinoDocumento12 páginasTransdutores Do JovinoCarlos Eduardo VieiraAinda não há avaliações
- SENAR-NA Minicurso Implantacao Do Creep-FeedingDocumento15 páginasSENAR-NA Minicurso Implantacao Do Creep-FeedingjaircamargoAinda não há avaliações
- Cinetica Do Crescimento MicrobianoDocumento29 páginasCinetica Do Crescimento MicrobianoMARIA NAZARE SILVESTRE DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Caroline Pinheiro e Michelle Brito GomesDocumento15 páginasCaroline Pinheiro e Michelle Brito GomesMariana XavierAinda não há avaliações
- Sucos-Detox - EmagrecerDocumento55 páginasSucos-Detox - Emagrecers_coutoAinda não há avaliações
- Ebook ResumodemicrobiologiaDocumento82 páginasEbook ResumodemicrobiologiaLilian Yuki KanemotoAinda não há avaliações
- Check NR-10Documento2.573 páginasCheck NR-10Calebe Costa100% (1)
- Teorias DemográficasDocumento2 páginasTeorias DemográficasBaroneso CassaluAinda não há avaliações
- Exercicios Geometria Molecular Gabarito ResolucaoDocumento9 páginasExercicios Geometria Molecular Gabarito ResolucaoMila Raposo RaposoAinda não há avaliações
- DIETA DOS PONTOS - CardápiosDocumento5 páginasDIETA DOS PONTOS - Cardápiosapi-26926779Ainda não há avaliações
- Aula 06 - Separacao de MisturasDocumento23 páginasAula 06 - Separacao de Misturassuper omegaAinda não há avaliações