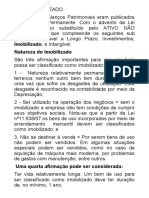Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
As Ferramentas Planejamento Obras Civis
As Ferramentas Planejamento Obras Civis
Enviado por
Margareth PeretDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
As Ferramentas Planejamento Obras Civis
As Ferramentas Planejamento Obras Civis
Enviado por
Margareth PeretDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
UNIVERSIDADE DA AMAZNIA - UNAMA
Andr Ricardo Bueno
Anselmo Sergio Souza de Moraes
AS FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO EM OBRAS CIVIS COMO
MECANISMO DE REDUO DE CUSTOS E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
BELM PAR
DEZEMBRO 2010
2
Andr Ricardo Bueno
Anselmo Sergio Souza de Moraes
AS FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO EM OBRAS CIVIS COMO
MECANISMO DE REDUO DE CUSTOS E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Projeto do Trabalho de Concluso de
Curso apresentado Universidade da
Amaznia para obteno do grau de
Bacharel em Engenharia Civil.
Orientador: Prof. M.Sc. Alexandre
Ferreira
BELM PA
DEZEMBRO 2010
3
Andr Ricardo Bueno
Anselmo Sergio Souza de Moraes
AS FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO EM OBRAS CIVIS COMO
MECANISMO DE REDUO DE CUSTOS E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Trabalho de Concluso de Curso
apresentado ao curso de Engenharia Civil
do Centro de Cincias Exatas da
Universidade da Amaznia como requisito
para obteno do ttulo de Engenheiro Civil.
Banca Examinadora:
______________________________________
Professor Alexandre de Moraes Ferreira, M.Sc.
(Orientador)
______________________________________
Professor Selnio Feio da Silva, D.Sc.
(Examinador Interno)
______________________________________
Prof. Wandemyr da Mata Filho, M.Sc.
(Examinador Interno)
Apresentado em: ______ / ______ / _______
Conceito: ____________________________
BELM PA
DEZEMBRO 2010
4
AGRADECIMENTOS
A Deus pela vida e porque Dele, com Ele e para Ele so todas as coisas.
Ao Dr. Bueno que sempre me conduziu, me mostrou a dignidade do
trabalho e por ser meu anjo da guarda aqui na Terra. Creio que por isto Deus o
confiou um de seus prprios nomes: Pai. A minha me Carme, que desde
pequeno me protege, cuida e olha por mim. Contigo aprendi coisas que no d para
descrever em simples palavras, mas creio que j sinta e saiba o que estou tentando
escrever pois corao de me conhece todos os sentimentos e atitudes dos filhos.
Aos irmos Mariane, T-ta - como te chamava quando eu ainda era beb - e
Fernando. Ter crescido com vocs dois, irmos ntegros, honestos e amados foi um
privilgio de poucos, alis, privilgio maior poder pertenter a esta famlia.
Ana Carolina, minha mulher e meu amor. Voc um presente do Cu.
Sou grato todos os dias Deus e sua famlia de me confiarem um tesouro to
precioso e raro. Obrigado por estar comigo, pela pacincia, amor e dedicao.
Aos companheiros de curso, em especial, Rosildo e Nilson (antigos
integrantes de grupo), Alexandre Soares, Anselmo Sergio e Mariana
Paumgarten (Equipe Mambiras), pela dedicao, pelas horas de trabalho e noites
em claro, pela pacincia, companherismo e ajuda prestada durante toda a vida
acadmica. Foi uma honrra cursar Engenharia Civil com vocs e honrra maior ser
te-los como parceiros de trabalho.
Aos meus amigos da Embrapa em especial Valmi Borges, que me acolheu
nesta cidade, sempre me aconselhou e deu apoio nos momentos bons e difceis.
No d pra esquecer uma amizade sincera! Aos Srs. Aldecy, Michell e Cludio
Carvalho por acreditarem e confiarem no meu trabalho. Ao Paulo Leles meu brao
direito (as vezes o esquerdo tambm), por seu profissionalismo e dedicao.
Tambm minha equipe de trabalho pela dedicao e apoio incondicionais.
5
Aos professores que nos deram a oportunidade de seus ensinamentos, em
especial, ao Msc. Alexandre Ferreira por nos engrandecer com seus
conhecimentos e nos agraciar com sua orientao.
A todas as pessoas que fazem parte da minha jornada e que contribuiram
para este trabalho. Creio que a todos cabe uma antiga frase: Fica sempre um
pouco de perfume nas mos que nos oferecem rosas.
A vocs notveis, toda gratido e admirao!
Andr Ricardo Bueno
6
A Deus pelo Dom da vida e muito obrigado por todas as pessoas colocadas
em meu caminho que certamente foram degraus na caminhada da minha vitoria.
minha famlia, que no pouparam esforos para eu concluir esse objetivo.
Em especial minha me Celestina por todas as oraes feitas em prol das minhas
realizaes, meu pai Paulo por todos os conselhos, a minha esposa Cristina pela
perseverana e companheirismo em sempre acreditar que eu poderia ir mais longe,
ao meu filho Raphael que chegou em um momento to especial que uma luz em
minha vida, e a minha v Celeste, que sempre torceu e onde estiver sei que
continua torcendo pelas minhas vitorias.
Aos meus amigos da Universidade Andr Bueno, Alexandre Andrade,
Murilo Andr e Mariana Domingues que foram muito mais do que horas e horas
de estudo. Sempre lembrarei desse grupo.
Em especial,aos muitos anjos que sempre que eu precisei de ajuda ao longo
da minha caminhada no mediram esforos nas palavras de conforto e incentivo,
meu padrinho e cumpadre Rodrigo Pimentel pela alegria e companheirismo que
sempre encontrei; minhas personais psicologas Dra. Vania Gemaque e Dra. Laura
Caroline por todas as vezes que me escutaram em relao as minhas
preocupaes, aos amigos Alex Reis e Gilson Hugo pela sinceridade em cada
sorriso e conselho.
Aos Engenheiros que sempre acreditaram em meu potencial e sempre foram
os meus espelhos de profissionais, Eng. Renato Lima, Eng. Ruy Klautau, Eng.
Lourival Alcantara que nunca mediram esforos ao me repassar seus
conhecimentos.
E a todos aqueles que direta ou indiretamente contriburam para este trabalho
A vocs o meu muito obrigado.
Anselmo Moraes
7
Planeje com antecedncia: No estava
chovendo quando Ne construiu a arca
Richard C. Cushing
8
RESUMO
AS FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO EM OBRAS CIVIS COMO
MECANISMO DE REDUO DE CUSTOS E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Autor: Andr Ricardo Bueno, Anselmo Sergio Souza de Moraes.
Orientador: Alexandre de Moraes Ferreira.
Trabalho de Concluso de Curso Engenharia Civil
Belm PA, Dezembro de 2010.
O presente estudo aborda a aplicao de ferramentas do planejamento em
obras civis como mecanismo de reduo de custos e aumento da produtividade. A
construo civil um ramo que est em constante desenvolvimento e necessita de
adequao de seus processos aos anseios do mercado cada vez mais exigente em
rapidez e qualidade. Neste contexto, o planejamento apresenta-se como uma soluo
empresarial para proporcionar mecanismos necessrios para reduo de custos,
aumento da produtividade. Consequentemente o produto final ser uma obra
executada de forma mais precisa, com maior qualidade e com valores agregados. Ante
as ferramentas de planejamento expostas neste trabalho conclui-se portanto que o tipo
de ferramenta a ser adotada depender de deciso da alta gerncia em conjuto com a
equipe de planejamento, estando a complexidade do processo diretamente ligada ao
tipo e tamanho do empresa, sendo adotada metodologia de acordo com cada caso.
Embora parea complicada a utilizao as ferramentas de planejamento, estas nada
mais so que os elementos comumente encontrados nas obras de engenharia como os
projetos de Arquitetura, projetos de Engenharia e seus memoriais, s que elaborados e
utilizados de forma mais estratgica e efetiva. Alm disso h necessidade que a equipe
de planejamento seja composta por pessoas treinadas e capacitadas, coordenadas por
engenheiros civis experientes que tenham perfil de gerentes de projetos. Assim as
ferramentas de planejamentos apresentam-se como um poderoso instrumento gerencial
para as empresas da construo civil e seu sucesso est diretamente ligado forma
que o mesmo ser concebido e executado, devendo ser um processo contnuo, cclico,
divulgado, com acompanhamento e retroalimentao.
Palavras-Chave: Planejamento, obras civis, produtividade, custos.
9
ABSTRACT
TOOLS OF PLANNING IN CIVIL WORKS AS A MECHANISM FOR LOWERING
COSTS AND INCREASE PRODUCTIVITY
Author: Andr Ricardo Bueno, Anselmo Sergio Souza de Moraes.
Supervisor: Alexandre de Moraes Ferreira.
End of Course Work Civil Engeneering.
Belm PA, December de 2010.
The study examines the application of planning tools in civil engineering works
as a mechanism for reducing costs and increasing productivity. The construction
industry is one sector that is constantly evolving and need to adapt their processes to
the expectations of increasingly demanding market in speed and quality. In this context,
planning is presented as an enterprise solution to provide necessary mechanisms for
reducing costs, increasing productivity. Consequently, the final product will be a work
executed with greater precision, higher quality and added values. Before the planning
tools presented in this work it is therefore concluded that the type of tool to be adopted
will depend on the decision of top management in conjuto with the planning team, with
the complexity of the process directly linked to the type and size of company, being
adopted methodology according to each case. Although it looks complicated to use
planning tools, these are nothing more than the elements commonly found in works of
engineering projects such as architecture, engineering projects and their memorials,
only developed and used more strategically and effectively. In addition there is need for
the planning team is comprised of trained and skilled staff, coordinated by civil engineers
who have experienced project managers profile. So the planning tools are presented as
a powerful management tool for firms in the construction industry and its success is
directly linked to the way that it will be designed and implemented, should be an
ongoing, cyclical, released with monitoring and feedback.
Keywords: planning, construction, productivity, costs.
10
LISTA DE FIGURAS
Figura 1.1: Runas de MohenjoDaro Vale do Indo ............................................. 19
Figura 1.2: Carcassonne........................................................................................ 20
Figura 1.3: Catedral de So Pedro Vaticano....................................................... 21
Figura 1.4: Revoluo Industrial............................................................................. 22
Figura 1.5: Croqui do Plano Piloto de Braslia........................................................ 26
Figura 2.1: Planejamento como Processo Segundo Limmer (1997)................... 29
Figura 2.2: Planejamento como Processo Segundo Nocra (2000)................... 30
Figura 2.3: Planejamento como Funo de Apoio Coordenao Segundo
Cardoso e Erdmann (2001)....................................................................................
31
Figura 2.4: Planejamento como Ferramenta de Agrupar Recursos Segundo
Cimino (1987).........................................................................................................
32
Figura 2.5: Planejamento como Processo (Ciclo PDCA)....................................... 34
Figura 2.6: Perdas Segundo o Tipo de Recurso Consumido................................. 38
Figura 2.7: Perdas Segundo Momento de Incidncia na Produo...................... 39
Figura 2.8: Como Reduzir Desperdcios................................................................ 42
Figura 2.9: Diferentes abrangncias do estudo da Produtividade........................ 45
Figura 3.1: Benefcios do Planejamento................................................................. 50
Figura 3.2: Deficincias no Planejamento.............................................................. 56
Figura 3.3: Site do CUB (Custo Unitrio Bsico).................................................... 62
Figura 3.4: Site do SINAPI..................................................................................... 63
Figura 3.5: Site do IBRE......................................................................................... 64
Figura 3.6: Site da Revista Construo e Mercado ............................................... 65
11
SUMARIO
INTRODUO....................................................................................................... 13
1.1 Origem do Planejamento............................................................................... 13
1.2 Trajetria da Pesquisa.................................................................................. 15
1.3 Objetivos....................................................................................................... 16
1.4 Metodologia.................................................................................................. 17
CAPTULO I HISTRICO DO PLANEJAMENTO.............................................. 18
1.1 Antiguidade.................................................................................................... 18
1.2 Idade Mdia................................................................................................... 19
1.3 Renascimento............................................................................................... 21
1.4 Revoluo Industrial...................................................................................... 22
1.5 Sculo XX Tempos Atuais.......................................................................... 23
CAPTULO II PLANEJAMENTO NA COSTRUO CIVIL................................. 27
2.1 Conceito de Planejamento............................................................................ 27
2.2 Conceito de Desperdcio............................................................................... 35
2.3 Conceitos sobre Produtividade...................................................................... 43
CAPTULO III IMPORTNCIA, BENEFCIOS E DEFICINCIAS DO
PLANEJAMENTO................................................................................................
46
3.1 Importncia do Planejamento........................................................................ 46
3.2 Benefcios do Planejamento.......................................................................... 49
3.3 Perfil do Engenheiro Planejador.................................................................... 53
3.4 Deficincias das Empresas em Relao ao Planejamento........................... 54
CAPTULO V FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO..................................... 58
5.1 Principais Ferramentas Utilizados para Elaborao do
Planejamento........................................................................................................
58
5.1.1 Projeto........................................................................................................ 58
12
5.1.2 Oramento.................................................................................................. 60
5.1.2.1 Oramento paramtrico........................................................................... 61
5.1.2.2 Oramento discriminado.......................................................................... 67
5.1.3 Discriminao oramentria (DO).............................................................. 68
5.1.4 Especificaes tcnicas (ET).................................................................... 69
5.1.5 Caderno de encargos (CE)........................................................................ 70
5.1.6 Memorial descritivo.................................................................................... 70
5.1.7 Cronograma................................................................................................ 70
5.1.7.1- Cronograma de rede das atividades.........................................................
5.1.7.2. Cronograma de barras ou Gantt.............................................................
5.1.7.3- Cronograma de mo de obra....................................................................
5.1.7.4 Cronograma de equipamentos................................................................
5.1.7.5 Cronograma fsico Financeiro.................................................................
5.1.8 Tecnologia da Informao na Construo Civil..........................................
5.1.8.1 Softwares de projetos..............................................................................
5.8.2 Softwares de gerenciamento......................................................................
5.1.9 Indicadores de Desempenho......................................................................
71
72
72
73
73
74
74
75
76
CONCLUSES E SUGESTES PARA TRABALHOS FUTUROS......................
78
REFERNCIAS...................................................................................................... 82
ANEXOS................................................................................................................. 87
ANEXO I Estudo Preliminar................................................................................. 88
ANEXO II Oramento Paramtrico...................................................................... 91
ANEXO III Oramento Discriminado.................................................................... 93
ANEXO IV Memorial Descritivo........................................................................... 100
ANEXO V Projeto Arquitetnico.......................................................................... 127
ANEXO VI Projetos de Engenharia..................................................................... 130
ANEXO VII Cronogramas.................................................................................... 135
13
INTRODUO
1.1. Origem do Planejamento
O processo de planejamento est presente cotidianamente em nossas
vidas. Planeja-se o que fazer no dia que se inicia uma viagem de frias ou como
aplicar o dinheiro que se tem disponvel. Pode-se, portanto, definir o planejamento
como um processo consciente e metdico de construo do futuro. Constitui-se
numa interveno na realidade de forma a se obter uma situao desejada num
perodo de tempo determinado.
Verifica-se, entretanto, a existncia de fortes resistncias ao processo de
planejamento dentro das organizaes. A ruptura com o conhecido, com a rotina,
traz insegurana, o que compreensvel, pois mudanas, em geral, geram riscos. A
introduo de medidas inovadoras tem um impacto, em graduaes diferenciadas,
na vida das pessoas, das organizaes e da sociedade. H ainda a idia de que se
perde tempo com o planejamento quando h tanto o que se fazer, o que
demonstra a dificuldade de se lidar com as tenses naturais entre as demandas do
cotidiano e as necessidades de longo prazo. Complemente-se a isso o fato de que o
planejamento funciona tambm como um instrumento de controle. A partir da
definio de objetivos a serem alcanados e as atividades a serem desenvolvidas e
seus responsveis, h a possibilidade de se avaliar o desempenho da organizao
como um todo e de seus integrantes.
Alega-se, tambm, que o planejamento envolve custos, o que verdadeiro.
No entanto, nosso cotidiano reafirma que j est amplamente comprovado que
pequenos investimentos resultam em melhores planos que representam importantes
ganhos. O que se despendeu com o planejamento amplamente recompensado
pela efetividade da ao empreendida, uma vez que ele disponibiliza um acervo de
informaes que subsidiam as tomadas de deciso, possibilita que se proceda
14
monitoria e avaliao da interveno e ainda facilita a continuidade da ao, caso
haja mudanas na composio da equipe responsvel pela sua execuo.
Nesta perspectiva da importncia do ato de planejar, vislumbra-se a
necessidade das empresas, pertencentes rea da construo civil, entenderem-se
como um sistema organizacional, buscando sincronizar sua produo com a
realidade e anseios do macro-sistema que as envolvem; permitindo-se, desta forma,
definir suas estratgias para manter e/ou conquistar mercado.
Assim, apartir de 1990 o pas e o setor da construo civil tm passado por
transformaes aceleradas no que se refere ao cenrio produtivo e econmico.
Foram fatores decisivos para estas transformaes a abertura do mercado nacional,
a criao do MERCOSUL
1
, a privatizao de empresas estatais, dentre outros.
Sendo assim, uma nova realidade coloca desafios importantes para as empresas de
construo civil, entre eles o da sobrevivncia em um mercado cada vez mais
exigente e competitivo.
A organizao e a gesto na produo, antes deixadas a segundo plano,
passaram a ter uma importncia fundamental no controle dos custos, dos
desperdcios e do retrabalho dentro das empresas. As empresas iniciaram uma
nova formulao em que os custos diretos e indiretos ocorridos na gerao do
produto e a lucratividade tornaram-se decorrncia da capacidade da empresa em
racionalizar seus processos de produo, reduzir custos e aumentar a
produtividades para satisfazer um consumidor cada vez mais exigente.
Com a entrada em vigor do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade PBQP
2
, que tem como objetivo apoiar a qualidade e produtividade
em vista de aumentar a competitividade de bens e servios produzidos no pas, a
1
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) um processo de integrao econmica entre Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai constitudo em 26 de maro de 1991, com a assinatura do Tratado de
Assuno.
2
O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) comeou em 1990, para apoiar a
modernizao das empresas brasileiras que precisavam se ajustar abertura econmica e forte
concorrncia estrangeira
15
realidade interna das empresas e de seus canteiros de obras ganham uma forte
influncia para evitar os desperdcios na construo civil originados de uma serie de
falhas que ocorrem ao longo das vrias etapas do processo de construo. Assim,
comeou uma forte influncia para a introduo de programas de qualidade visando
a melhoria de produtos e processos.
Neste Trabalho de Concluso de Curso, demonstrado algumas
ferramentas que combatem esses desperdcios e aumentam a produtividade e,
conseqentemente, levam as empresas de construo civil a uma forte presso
competitiva no qual as ferramentas de planejamento se apresentam como
instrumentos gerenciais que permitem as empresas focar a sua ateno nos
clientes, fazendo com que cada vez mais empreendimentos sejam entregues no
prazo, com qualidade e reduo de custos.
1.2. Trajetria da Pesquisa
Um dos principais problemas observados no setor da construo civil a
falta de adequao dos processos de planejamento existentes s condies
presentes na maioria das empresas do mercado de construo de edificaes. O
setor ainda carece de propostas que consiga lidar com questes de incerteza,
comprometimento, transparncia e formalizao do processo de planejamento- em
muitos casos, o planejamento das aes seria a soluo.
Porter (1986) ao tratar sobre estas questes nas organizaes como fator
crucial ao sucesso empresarial confere que as estratgias de liderana no custo
total de uma obra, por exemplo, tem merecido a devida ateno em perodos de
crise econmica. No caso brasileiro, a indstria da construo civil tem procurado
seguir este raciocnio.
Assim, to importante quanto planejar uma obra, ser flexvel para
readaptar os planos de produo realidade do canteiro de obras. O que se
16
constata- por meio de uma simples visita em um canteiro de obras- que hoje
vrias obras civis padecem principalmente pela falta de um correto planejamento.
Atrasos, baixa qualidade de execuo, utilizao de mo-de-obra no especializada
ocasionam grandes transtornos e queda de produtividade. Para Bernardes (2001), o
planejamento e controle da produo (PCP) uma ferramenta capaz de
proporcionar a introduo de melhorias nos aspectos organizacionais e temporais,
reduzindo atividades que no agregam valor e aumentando a confiabilidade da
produo.
Numa poca em que se fala em qualidade e, por conseqncia, em
produtividade, preciso que o gerenciamento de um projeto seja feito como um
todo: Recursos humanos, materiais, equipamentos como forma de se obter o
produto desejado a obra construda dentro dos parmetros de prazo, custo,
qualidade e riscos previamente calculados.
1.3. Objetivos
O objetivo geral, demonstrar como a sistemtica do planejamento pode ser
uma ferramenta poderosa para reduo de custos e aumento da produtividade em
obras civis.
Deste modo elenca-se como objetivos especficos:
Demonstrar como a sistemtica do planejamento pode contribuir para a
reduo de custos e aumento de produtividade;
Evidenciar o planejamento de obras como uma ferramenta de melhoria da
qualidade dos servios prestados em obras civis;
Utilizar valores agregados ao planejamento para melhorar a imagem
empresarial e valorizar a marca da empresa objeto de estudo;
Mensurar a melhoria da organizao do trabalho, da eficincia e eficcia
empresariais geradas atravs da aplicao da sistemtica de planejamento.
17
1.4. Metodologia
A estratgia de pesquisa utilizada no trabalho composta por duas etapas.
A primeira etapa refere-se reviso bibliogrfica dos temas abordados. A segunda
etapa compe-se de um estudo exploratrio dos temas estudados para a anlise e
elaborao do diagnstico, atravs do tratamento das informaes coletadas na
literatura especfica sobre o tema.
Encontra-se no escopo da pesquisa qualitativa a opo terico-
metodolgica que possibilitou o desvelamento da compreenso do significado do
Planejamento no campo da construo civil. Atravs de revises de literatura
tcnica e cientfica relacionada ao planejamento de obras civis, estudando as
sistemticas apropriadas para o objeto de estudo e conceitos importantes para o
tema proposto.
A pesquisa bibliogrfica proporciona suporte terico ao longo de todo o
processo da pesquisa e auxiliar as discusses centrais (conceitos, concepes,
fundamentos), correlacionando-as com as fontes documentais oficiais que tratam
sobre o tema.
Posteriormente foi realizada a comparao dos dados pesquisados na
literatura tcnico-cientfica com as ferramentas aplicadas na prtica pelas empresas,
a fim de descobrir possveis pontos positivos, efetividade quanto sua utilizao e
oportunidades de melhoria no processo de construo civil; identificando valores
agregados de relevncia para valorizao das empresas (melhoria da qualidade dos
servios) e verificando indicadores de melhoria do desempenho e a necessidade de
utilizao dessas ferramentas no que se refere a reduo de custos e aumento da
produtividade em obras civis.
18
CAPTULO I
HISTRICO DO PLANEJAMENTO
Embora a viso e conceituao de planejamento, no tenham sido
consideradas com maior ateno e rigor cientfico na antigidade, o mesmo j
existia em termos prticos. Isso pode ser visualizado a partir das grandes
construes e inventos da poca. Nos ltimos tempos, principalmente no perodo
ps-guerra at nossos dias, o assunto tem tido grande nfase e, em volta dele,
vrios conceitos foram surgindo. Tudo isso devido complexidade do mundo atual
que exige novas e dinmicas abordagens com a finalidade de acompanhar a
velocidade das transformaes que vm ocorrendo.
A seguir descreve-se a histria do planejamento onde descrito a evoluo
do planejamento urbano desde a antiguidade at os tempos atuais.
1.1. Antiguidade
A Civilizao do Vale do Indo reconhecida como a primeira civilizao a
desenvolver o senso de planejamento urbano, por volta de 2600 a.C. onde algumas
pequenas vilas cresceram em grandes cidades contendo milhares de pessoas, que
no trabalhavam primariamente na agricultura, criando uma cultura unificada. O
repentino aparecimento dessas grandes cidades, bem como o crescimento e a
formao organizada destas cidades, parece ser o resultado de um esforo
planejado e deliberado.
Habitantes de cidades da antiguidade criaram certas reas destinadas para
encontros, recreao, comrcio e culto religioso. Muitas destas cidades possuam
muralhas em volta, cujo objetivo era impedir (ou, ao menos, de dificultar) o acesso
de possveis inimigos cidade. A construo de prdios pblicos e monumentos
19
so outros exemplos de planejamento urbano nos tempos antigos, das quais, as
cidades mais famosas so Roma e Atenas.
A figura 1.1 mostra parte das runas de MohenjoDaro no Vale do Indo, uma
das primeiras civilizaes a adotar senso de planejamento urbano. Vivendo da
agricultura e do comrcio, surgiu uma cidade cujas moradias atestavam a
sofisticao alcanada por aquele povo. As casas ofereciam todo o conforto
domstico: um poo interno com gua fresca, sala de banhos, ptio com
balaustrada e claraboia mantendo o ar fresco, cozinha, dependncias de servio,
quarto para dormir no andar superior para os donos da casa e no andar inferior para
seus servos.
Figura 1.1: Runas de MohenjoDaro Vale do Indo
Fonte: Wikibooks (2010)
1.2. Idade Mdia
Muitas cidades e feudos medievais
3
eram protegidos por muros. Com o
crescimento populacional, muitas destas cidades tornaram-se super
3
Feudo medieval: Na Europa, durante a Idade Mdia (sculo V ao XV) o feudo era um terreno ou propriedade
(bem material) que o senhor feudal (nobre) concedia a outro nobre (vassalo). Um feudo medieval (territrio),
20
populacionadas. Para solucionar este problema, algumas cidades derrubavam seus
muros (e muitas vezes construindo outra, protegendo uma rea maior), e outras
simplesmente deixavam seus muros antigos de p, construindo novas cidades e
vilas ao redor da antiga cidade.
A religio fazia parte integral da vida poltica, cultural e social da Europa da
Idade Mdia, e isto se reflete nas cidades da poca, onde na maioria das vezes, a
principal igreja estava localizada no centro da cidade, e era a maior, a mais alta e a
mais cara estrutura.
Figura 1.2: Carcassonne
Fonte: Site da UNC School of Information and Library Science
A figura 1.2 exemplifica bem a estrutura de uma tpica cidade da idade
mdia. Trata-se de Carcassonne que durante a Idade Mdia foi defendida por um
imponente conjunto de fortificaes, ficando circundada por uma dupla linha de
muralhas, que ainda hoje pode ser vista, e representa o pice da engenharia militar
do sculo XIII. O traado irregular de suas ruas estreitas contrasta com a
geralmente, era constitudo pelas seguintes instalaes: castelo fortificado (residncia do nobre e sua famlia),
vila camponesa (residncia dos servos), rea de plantio, igreja ou capela, moinho, estbulo, celeiro, etc.
21
magnificncia das muralhas e do castelo guarnecido por 59 torres e barbacs,
poternas e portas. Pode-se verificar que as edificaes da igreja e do palcio se
destacam das demais existentes por seu tamanho e formatos.
1.3. Renascimento
Durante o Renascimento, um perodo de grande desenvolvimento artstico,
planejadores urbanos desenhavam partes de uma cidade em grande escala, criando
grandes reas para solucionar a super lotao de tempos antigos. Exemplos a
Catedral de So Pedro, em Veneza, e a Baslica de So Pedro, no Vaticano (Figura
1.3 vista abaixo). J um exemplo de uma rea que foi inicialmente planejada, antes
de ter sido construda, o Palcio de Versailles, na Frana, uma mini-cidade por si
mesma.
Figura 1.3: Catedral de So Pedro - Vaticano
Fonte: Vatican: the Holy See
Alguns artistas conhecidos, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, por
exemplo, desenharam e ajudaram a embelezar algumas cidades italianas, no sculo
XV e XVI, enquanto Georges Eugene Haussmann planejou grandes avenidas e
22
praas, em Paris, no sculo XVIII, que ajudaram a cidade francesa em se tornar
reconhecida mundialmente como uma das cidades mais belas do mundo.
Algumas cidades dos Estados Unidos, na Amrica colonial foram planejadas
de antemo, antes de terem sido construdas. Exemplos incluem Charleston,
Filadlfia e Savannah. O exemplo mais famoso, porm, o da atual cidade de
Washington, DC, a atual capital do pas. George Washington contratou Pierre
Charles L'Enfant, um arquiteto francs, para planejar a cidade.
1.4. Revoluo Industrial
Com a Revoluo Industrial, nos sculos XVIII e XIX, e a criao de
fbricas em cidades, a populao de muitas cidades europias e americanas
comearam a aumentar rapidamente, recebendo milhares de pessoas vindas dos
campos, abandonando trabalhos nas reas rurais, para trabalhar na indstria. Isto
fez com que cidades da poca ficassem superlotadas, sujas, barulhentas. Muitas
pessoas viviam em bairros que possuam pssimas condies sanitrias, na qual
famlias inteiras viviam espremidas em casas de um ou dois cmodos, perto das
fbricas.
Figura 1.4: Revoluo Industrial
Fonte: Enciclopdia Virtual (2010)
23
Reformistas sociais comearam a pedir ao governo que melhorassem tais
condies precria de vida, sugerindo planos como novo zoneamento, com casas,
jardins e reas verdes. Tambm sugeriu a separao de zonas industriais e
residenciais, cada uma em zonas separadas da cidade. Vrias municipalidades e
governos tomaram medidas para melhorar a qualidade de vida nas cidades, mas
medida que estas continuavam a crescer rapidamente, as poucas medidas tomadas
foram insuficientes para surtir algum efeito.
Planejadores urbanos tentaram mostrar a imagem de uma cidade ideal, na
Feira Mundial de Chicago, em 1893. Largas e grandes avenidas, com grandes
estruturas pblicas, eram dois dos muitos aspectos numa cidade ideal. A exposio
marcou o incio do movimento City Beautiful (Bela Cidade, em ingls), nos Estados
Unidos.
1.5. Sculo XX - Tempos atuais
At o final do sculo XIX, o planejamento urbano na maioria dos pases
industrializados era de responsabilidade de arquitetos, que eram contratados por
empresas particulares ou, raramente, pelo governo. Mas o crescimento dos
problemas urbanos durante o final do sculo 19 forou governos de muitos pases,
em especial, o dos Estados Unidos, a participar mais ativamente no processo de
planejamento urbano.
O Movimento moderno na Arquitetura e no Urbanismo pregava que a
atividade de planejar as cidades era matria de ordem eminentemente tcnica, e
que, portanto, possua a neutralidade poltica inerente ao trabalho cientfico. Tal
pensamento se formalizou especialmente com o trabalho dos CIAM (Congressos
internacionais da Arquitetura moderna) e, especialmente, com a Carta de Atenas.
Reflexos deste pensamento urbanstico podem ser observados em projetos de
novas reas de expanso urbana totalmente desvinculados das necessidades
24
efetivas das comunidades que a morariam. O plano-piloto da cidade de Braslia
considerado o exemplo mais perfeito deste tipo de urbanismo modernista.
Entre 1900 e 1930, muitas cidades nos Estados Unidos introduziram
comisses de planejamento urbano e leis de zoneamento. Um dos mais famosos
planos de revitalizao urbana desse perodo foi o Plano Burhan, que revitalizou
uma grande parte da cidade de Chicago.
A exploso populacional da dcada de 1950 e da dcada de 1960 criou
problemas como congestionamentos, poluio, aparecimento ou crescimento de
favelas, e falta de moradia. Para vencer os novos desafios destas cidades em
crescimento, agncias de planejamento urbano precisaram expandir seus
programas, incluindo novas residncias, reas recreacionais e melhores distritos
comerciais e industriais. Atualmente, o planejamento urbano de uma cidade
geralmente feito por acordos entre agncias governamentais e empresas privadas,
especialmente nos pases desenvolvidos. Nos pases subdesenvolvidos, porm, o
Planejamento Urbano passa por um momento de redefinio.
Se, por um lado, tais pases atravessaram longos perodos de planejamento
centralizador e autoritrio (no raro resultando em periferias urbanas espraiadas,
estruturadas por projetos residenciais movidos mais pelo carter quantitativo que
pelo qualitativo), nas ltimas duas dcadas, o Planejamento Urbano no Brasil, por
exemplo, tem procurado colocar-se como possvel mediador no conflito social pelo
solo urbano. Surge da a ideia de planejamento urbano participativo (trabalhada,
por exemplo, por tericos como Ermnia Maricato
4
, ex-Secretria Executiva do
Ministrio das Cidades) no qual as decises so tomadas atravs de um processo
4
Ermnia Maricato: Graduao (1971), mestrado (1977) e doutorado (1984) e Livre Docncia (1996),
professora titular (1997) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de So Paulo. Professora visitante da
University of British Columbia/Center of Human Settlements, Canad (2002) e da University of Witswaterhand
of Johannesburg, frica do Sul (2006). Secretaria de Habitao e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de So
Paulo (1989/1992), Coordenadora do Programa de Ps Graduao da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da USP (1998/2002) e Ministra Adjunta das Cidades (2003/2005). Foi consultora ad-doc da FINEP, CAPES,
CNPQ, FAPESP, e tambm de inmeras prefeituras no Brasil e no exterior. Criou o LABHAB - Laboratrio de
Habitao e Assentamentos Humanos da FAUUSP (1997) e formulou a proposta de criao do Ministrio das
Cidades.
25
democrtico no qual o profissional no assume mais o papel de "autor do plano",
mas de "condutor do processo".
Contrariamente a esta tendncia, tericos internacionais, como Manuel
Castells
5
, propem o que se convencionou chamar de Planejamento urbano
estratgico, que procura tratar as cidades sob a lgica da guerra fiscal e de sua
localizao na suposta nova rede de cidades globais.
Um plano diretor, plano compreensivo ou plano mestre, um plano criado
por um grupo de planejadores urbanos
6
que tem impacto vlido para toda a
comunidade da cidade, por certo perodo de tempo. Mostra a cidade como ela
atualmente e como ela deveria ser no futuro, demonstrando como o terreno da
cidade deve ser utilizado e se a infra-estrutura pblica de uma cidade como
educao (escolas e bibliotecas), vias pblicas (ruas e vias expressas), policiamento
e de cobertura contra incndio, bem como saneamento de gua e esgoto, e
transporte pblico, deve ser expandida, melhorada ou criada. Limites impostos pelo
plano diretor incluem a altura mxima de estruturas em algumas ou em todas as
regies da cidade, por exemplo.
No Brasil um exemplo de cidade planejada sua capital: Braslia. O Plano
Piloto de Braslia, no Distrito Federal, foi projetado por Lucio Costa, vencedor do
concurso, em 1957, para o projeto urbanstico da Nova Capital, demonstrado na
figura 1.5, teve sua forma inspirada pelo sinal da Cruz. O formato da rea
popularmente comparado ao de um avio. Lucio Costa, entretanto, defendeu a tese
de que a capital federal pudesse ser comparada a uma borboleta, rejeitando a
comparao anterior.
5
Manuel Castells: catedrtico de sociologia e de planejamento urbano e regional da Universidade da Califrnia
desde 1979, j foi professor em universidades de Paris, Madri e tambm da Amrica Latina. Publicou vrios
livros editados em 11 idiomas e, h 20 anos investiga os efeitos da informao sobre economia, cultura e a
sociedade em geral.
6
Planejadores urbanos: profissionais que lidam com processo de planejamento, organizao e o desenho de
assentamentos humanos, aconselham municpios, sugerindo possveis medidas que podem ser tomadas com
o objetivo de melhorar uma dada comunidade urbana, ou trabalham para o governo ou empresas privadas
que esto interessadas no planejamento e construo de uma nova cidade ou comunidade, fora de uma rea
urbana j existente.
26
Segundo o decreto 10.829/87, os limites do Plano Piloto so definidos pelo
lago Parano, a leste; pelo crrego Vicente Pires, ao sul; pela Estrada Parque
Indstria e Abastecimento (EPIA), ao oeste; e pelo crrego Bananal, ao norte.
Figura 1.5: Croqui apresentado por Lcio Costa para escolha do "Plano Piloto" de Braslia
Fonte: http://doc.brazilia.jor.br
O projeto consistiu basicamente no Eixo Rodovirio (ou "Eixo") no sentido
norte-sul, e Eixo Monumental no sentido leste-oeste. A criao arquitetnica dos
monumentos centrais foi designada a Oscar Niemeyer. O Eixo Rodovirio formado
pelas asas Sul e Norte e pela parte central, onde as asas se encontram sob a
Rodoviria do Plano Piloto. As asas so reas compostas basicamente pelas
superquadras residenciais, quadras comerciais e entrequadras de lazer e diverso
(onde h tambm escolas e igrejas). O Eixo Monumental composto pela
Esplanada dos Ministrios e pela Praa dos Trs Poderes, a leste; a rodoviria, os
setores de autarquias, setores comerciais, setores de diverso e setores hoteleiros
em posio cntrica; a torre de televiso, o Setor Esportivo e a Praa do Buriti, a
oeste. A sede do governo do Distrito Federal, originalmente localizada na Praa do
Buriti, dever ter suas funes administrativas transferidas do Palcio do Buriti para
a Regio Administrativa de Taguatinga at 2010.
27
CAPITULO II
PLANEJAMENTO NA CONSTRUO CIVIL
Este captulo apresenta uma descrio geral do processo de planejamento e
sua contribuio para o controle da produo na construo civil. Na tentativa de
conhecer o percurso histrico do planejamento, pretende-se buscar nos
pressupostos tericos a justificativa para os principais problemas encontrados no
processo de planejamento e controle da produo das empresas do setor. Assim,
apresenta-se alguns conceitos bsicos relacionados ao planejamento e controle.
2.1. CONCEITO DE PLANEJAMENTO
De acordo com o conceito de planejamento defendido por Peter Drucker,
existem dois critrios que so indispensveis para o bom funcionamento das
organizaes: "eficcia e eficincia". A eficcia, na opinio de Drucker, o critrio
mais importante, j que nenhum nvel de eficincia, por mais alto que seja, ir
compensar a m escolha dos objetivos, isto , a eficincia no desempenho das
atividades operacionais jamais ir compensar o erro na definio dos objetivos
amplos da organizao. Stoner e Freeman (1985) embora, usando uma terminologia
diferente a de Drucker (1985) para definir Planejamento, apresenta um conceito
bastante similar ao deles, no que se refere ao estabelecimento de objetivos, isto ,
direo e linhas de ao adequadas para alcan-los.
O processo de planejamento e controle da produo passa a cumprir um
papel fundamental nas empresas, medida que o mesmo tem um forte impacto no
desempenho da funo produo. Inmeros estudos realizados no Brasil e no
exterior comprovam este fato, indicando que deficincias no planejamento e controle
esto entre as principais causas da baixa produtividade do setor, das suas elevadas
perdas e da baixa qualidade dos seus produtos. Em que pese o custo relativamente
baixo do processo de planejamento e controle da produo e o fato de que muitos
28
profissionais tm conscincia da sua importncia, poucas so as empresas nas
quais este processo bem estruturado.
Slack et al. (1997) definem planejamento e controle da produo como
sendo a atividade de se decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produo,
assegurando assim, a execuo do que foi. O mesmo autor tambm define
planejamento como atividade que garante que a produo ocorra eficazmente e
produza produtos e servios como devido.
Planejamento, no sentido mais amplo, conceituado por Acroff (1981),
como um processo de avaliao e tomada de decises inter-relacionadas antes que
haja alguma ao, em uma situao na qual se acredite que ao menos que alguma
coisa seja feita, um estado desejado no futuro provalvelmente no ocorrer; e se a
ao adequada for tomada, a probabilidade de um resultado favorvel pode ser
aumentada.
Segundo Cleland (1994) planejamento uma viso do futuro e o
estabelecimento de aes para atingir este estado futuro. Envolve uma interao
entre considerar alternativas no futuro e estruturar aes no presente para atingir o
futuro desejado.
Laufer (1992) conceitua planejamento como um conjunto de componentes,
sendo: processos de tomada de deciso; processos de integrao; processos de
hierarquizao; processos de coletas de dados, anlise e desenvolvimento de
alternativas; desenvolvimento de procedimentos em forma de planos; e
implementao.
Ainda segundo Cleland (1994), o planejamento um processo de tornar
explicito os objetivos, metas e estrategias necessrias para conduzir o
empreendimento com sucesso dentro do seu ciclo de vida, at que o produto ou
servios entregue ocupe o seu lugar na execuo das estrategias do proprietario do
empreendimento.
29
Segundo Limmer (1997) planejamento um processo por meio do qual se
estabelecem objetivos, discutem-se expectativas de ocorrncias de situaes
previstas, veiculam-se informaes e comunicam-se resultados pretendidos entre
pessoas, entre unidades de trabalho, entre departamentos de uma empresa e,
mesmo, entre empresas.
Complementa Limer (1997) citando Acroff que, planejamento algo que
fazemos antes de agir, isto , a tomada antecipada de decises, sendo necessrio
quando a consecuo do estado de futuro que deseja-se envolvem um conjunto de
decises interdependentes, isto , um sistema de decises.
A figura 2.1 demonstra o conceito de Limer descrito graficamente como um
processo numa linha de produo, com fases sucessivas:
Planejamento como Processo Segundo Limmer (1997)
Figura 2.1: Planejamento como processo segundo Limmer (1997)
Fonte: Elaborado pelos Autores
Sendo assim, a aplicabilidade do planejamento em obras civis de extrema
relevncia segundo as afirmaes de Limmer e Acroff. Em sua grande maioria, as
obras civis envolvem diversas pessoas para tomada de decises interdependentes,
com objetivo comum de executar aquilo que se proposto dentro de um prazo
limitado de tempo, formando um sistema de decises.
Para Nocra (2000), o planejamento o processo que visa estabelecer,
com antecedncia, as aes a serem executadas com o intuito de alcanar um
Discutir
situaes
previstas
Tomadar
deciso
antecipada
Veicular
informaes
Ao
Comunicar
resutados
30
objetivo definido, visando estabelecer no s as aes, mas tambm os recursos a
serem usados, os mtodos e os meios necessrios para se alcanar os objetivos.
A figura 2.2 apresenta graficamente o conceito de planejamento de Nocra
numa linha de produo com fases sucessivas:
Planejamento como Processo Segundo Nocra (2000)
Figura 2.2: Planejamento como processo segundo Nocra (2000)
Fonte: Elaborado pelos Autores
Comparando a definio de Nocra com a definio de Limmer e Acroff,
nota-se uma similaridade, uma vez que ambos tratam o conceito de planejamento
como um processo. A diferena est que Limmer e Acroff destacam a importncia
da informao e divulgao de dados do planejamento. J Nocra acrescenta ainda
um elemento importante em sua definio quando descreve:
... visando estabelecer no s as aes, mas tambm
os recursos a serem usados, os mtodos e os meios
necessrios para se alcanar os objetivos.
Laufer e Tucker (1987) citam que planejamento pode ser definido como
processo de tomada de deciso realizado para antecipar uma desejada ao futura,
utilizando meios eficazes para concretiz-la. O planejamento tem a finalidade de
reduzir o custo e a durao dos projetos e as incertezas relacionadas aos objetivos
do projeto.
Cardoso e Erdmann (2001) definem o planejamento como uma funo de
apoio coordenao das vrias atividades de acordo com os planos de execues,
de modo que os programas preestabelecidos possam ser atendidos com economia
Estabelecer
aes a
serem
executadas
Definir
objetivo
Estabelecer
aes e
recursos
necessrios
Estabelecer
mtodos e
meios
necessrios
Alcanar os
objetivos
31
e eficincia, com a determinao do momento em que cada atividade deve ser
concluda e o desenvolvimento de um plano de produo que mostre as atividades
conforme necessidade e ordem de execuo.
Para Cardoso e Erdmann (2001), o planejamento responsvel em
demonstrar o tipo de atividade a ser executada, quando executar, os sistemas
construtivos e os recursos utilizados.
Na figura 2.3 apresenta-se a concepo de planejamento de Cardoso e
Erdmann, onde o planejamento o resultado da soma de um plano de execuo
com um plano de produo, com suas atividades especficas agregadas. Assim a
soma destes dois planos resulta no planejamento que ir determinar o que executar,
quando executar, quais sistemas construtivos sero necessrios e quais recursos
financeiros, tecnolgicos e de pessoas deve-se adotar:
Planejamento como Funo de Apoio Coordenao Segundo
Cardoso e Erdmann (2001)
Figura 2.3: Planejamento como funo de apoio coordenao segundo Cardoso e Erdmann
Fonte: Elaborado pelos Autores
Conforme Cimino (1987), o planejamento tem por critrio agrupar todos os
recursos, objetivando concretizar o tratamento de um determinado empreendimento,
P
l
a
n
o
d
e
E
x
e
c
u
o
Programas pr-
estabelecidos
Atividades com
prazos
determinados
Gerao de
economia e
eficincia
P
l
a
n
o
d
e
P
r
o
d
u
o
Atividades
planejadas
Ordem de
execuo das
atividades
P
l
a
n
e
j
a
m
e
n
t
o
O que
executar
Quando
executar
Sistemas
construtivos
Recursos
utilizados
+
=
32
evitando disperso prejudicial e preparando as solues dos problemas
construtivos. O isolamento de qualquer uma das atividades pode dificultar a
execuo da obra. O planejamento deve ser ajustado da melhor maneira possvel
s diversas funes; necessrio que o coordenador tenha capacidade de definir
as etapas fundamentais do planejamento.
Planejamento como Ferramenta de Agrupar Recursos Segundo Cimino (1987)
Figura 2.4: Planejamento como ferramenta de agrupar recursos segundo Cimino (1987)
Fonte: Elaborado pelos Autores
Todas os conceitos apresentados definem bem o que planejamento e
convergem para um nico fim: alcanar um objetivo de forma eficiente e econmica.
Nas definies tem-se o planejamento como um processo que tem seu incio,
processamento e fim bem claros.
Levando em considerao que toda construo realizada por uma
empresa, h de se pensar que esta uma entidade que necessita de continuidade e
melhoria constante em seus processos visando a sobrevivncia e garantindo
destaque no mercado atravs de seus diferenciais competitivos.
Soluo de Problemas
Construtivos
Tcnicas
Construtivas
Pessoas
Recursos
33
O planejamento e controle nas obras civis, por ser um processo, necessita
de tratamento como tal, seguindo um ciclo lgico que garanta a sua melhoria
contnua.
Para Fonseca, et al (1996), um dos procedimentos mais bem conhecidos na
gesto da qualidade total (TQM), o uso do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action).
No ciclo PDCA melhorar um processo significa estabelecer uma nova meta
para permanecer nela. De acordo com Campos (1992), as fases que compem esse
ciclo so:
Fase P (Plan ou Planejamento): consiste nas etapas de identificao do
problema, observao (reconhecimento das caractersticas do problema),
anlise do processo (descoberta das causas principais que impedem o
atingimento das metas) e plano de ao (contramedidas sobre as causas
principais);
Fase D (Do ou Execuo) : a de ao, ou atuao de acordo com o plano
de ao para bloquear as causas fundamentais de insucesso. Nesta fase so
trabalhados alm dos planos de ao a comunicao e disseminao do
planejamento por todos os nves hierrquicos da empresa, garantindo que
todos estejam treinados, conscientes e informados sobre o que e como fazer;
Fase C (Check ou Checar): feita a verificao, ou seja, a confirmao da
efetividade do plano de ao para ver se o bloqueio foi efetivo. Esta etapa
de fundamental importncia pois ela que ir definir os indicadores de
desempenho que iro medir a eficcia de planejamento bem como a
definio dos mecanismos para o controle do empreendimento.
Fase A (Action ou Agir Corretivamente): nesta faze existem duas etapas, a de
padronizao e a de concluso. Na etapa de padronizao, caso o bloqueio
tenha sido efetivo, feita a eliminao definitiva das causas para que o
problema no reaparea. Na etapa de concluso ocorre a reviso das
34
atividades e planejamento para trabalhos futuros. Caso na fase C (check), o
bloqueio no tenha sido efetivo, deve-se voltar na etapa observao da fase
P (plan).
Considerando o planejamento como um processo, tendo em vista os
conceitos apresentados e adaptando o mesmo ao ciclo PDCA, tem-se uma
definio bastante ampla e continuada de tal processo, conforme apresentado na
figura 2.5 a seguir.
Planejamento como Processo (Ciclo PDCA)
Figura 2.5: Planejamento como processo seguindo metodologia do ciclo PDCA
Fonte: Elaborado pelos Autores
Elaborar planos de
execuo e
produo;
Veicular
informaes;
Realizar
treinamentos.
Checar materiais,
equipamentos e
pessoas
necessrias;
Checar mtodos e
meios necessrios;
Definir indicadores
de desempenho.
Discutir e prever
situaes
Estabelecimento de
aes: mtodos e meios
necessrios
Tomada de decises
antecipadas
Definir objetivos
Acompanhamento
da execuo x
planejamento;
Aplicao de
indicadores de
desempenho;
Padronizao de
aes e atividades ;
Relatrios
conclusivos.
Action
Agir e
Corrigir
Plan
Planejar
Do
Executar
Check
Checar
35
Reunindo os conceitos dos autores citados anteriormente, pode-se definir
portanto, um conceito de planejamento bastante amplo:
Planejamento um processo de tomada antecipada de um conjunto
de decises, baseadas em estudos de ocorrncia de situaes previstas, para
estabelecimento de aes, recursos e mtodos, com a utilizao de meios
eficazes e econmicos visando alcanar um objetivo.
Dentre outras variveis para o sucesso deste processo, est a necessidade
de um sistema de informaes capaz de dissociar o planejamento por toda fora de
trabalho, sensibilizando todos sobre a importncia de cada etapa e a integrao de
pessoas e aes. O acompanhamento, checagem e divulgao de resultados
obtidos essencial para garantir a continuidade do processo.
2.2. CONCEITO DE DESPERDCIO
Segundo o Dicionrio Aurlio (2010), desperdcio definido como ato de
desperdiar, gasto ou despesa intil, esbanjamento, perda, desapropriamento.
A perda de material ocorre toda vez que se utiliza uma quantidade, do
mesmo maior que a necessria conforme definido::
Perda como toda quantidade de material
consumida, alm da quantidade teoricamente
necessria, que aquela indicada no projeto e
seus memoriais, ou demais prescries do
executor, para o produto sendo executado.
(SOUZA, 2005)
Segundo Messeguer (1991), o desperdcio advm, ou se origina, de todas
as etapas do processo de construo covil, que so: planejamento, projeto,
fabricao de materiais e componentes, execuo e uso e manuteno.
36
Desta forma, ao contrrio do que a maioria dos leigos acredita, os
desperdcios da Construo Civil no ocorrem apenas no momento da execuo de
uma obra. So decorrncia de um processo formado de vrias etapas e composto
de diferentes empresas e pessoas.
Segundo Pinto (1995) identifica que os acrscimos nos custos da
construo, advindos do desperdcio, so de 6% e os acrscimos na massa de
materiais atingem os 20%.
O mesmo autor afirma que na Blgica, o acrscimo nos custos advindos do
desperdcio de 17%; na Frana de 12%; e, no Brasil, de cerca de 30% (dado que
comprova, em parte, a afirmao anterior de que com o desperdcio de trs obras,
constri-se outra).
Para Souza (2005), a quantidade de materiais teoricamente necessrias
pode ser descrita atravs da expresso:
(2.1)
Onde:
QMT = quantidade de material teoricamente necessria,
QS = quantidade de sadas (ou servios) executada,
QM = quantidade de material (nico ou composto) demandada,
QMS = quantidade de material simples demandada
Segundo Souza (2005), a perda de um material pode ser expressa tambm
de forma percentual, relacionando a quantidade de material necessria
quantidade de material teoricamente necessria atravs da seguinte frmula:
(2.2)
37
Onde:
IP(%) = indicador de perdas expresso percentualmente,
QRM = quantidade de material realmente necessria,
QMT = quantidade de material teoricamente necessria.
O percentual de perdas aceitvel diretamente ligado ao percentual de
lucro de determinado empreendimento. Desta forma deve-se avaliar a lucratividade
do empreendimento para se definir qual ser o ndice de perdas (IP%) aceitvel.
Existem diversas formas de classificao das perdas. Souza (2005)
classifica as perdas segundo:
o tipo de recurso consumido;
a unidade para sua medio;
a fase do empreendimento em que ocorrem;
o momento de incidncia na produo;
sua natureza;
a forma de manifestao;
sua causa;
sua origem;
seu controle.
2.2.1. Perdas segundo o tipo de recurso consumido
Est relacionado aos recursos fsicos, podendo-se estudar os materiais, a
mo-de-obra e os equipamentos; e financeiros, podendo ser ou no decorrentes da
ocorrncia de perdas fsicas, conforme mostrado na figura 2.6:
38
Figura 2.6: Perdas segundo o tipo de recurso consumido
Fonte: Souza (2005)
2.2.2. Perdas segundo a unidade para sua medio
As perdas podem ser medidas em diferentes unidades, sendo as principais:
em massa, em volume e em unidades monetrias. importante salientar que o
valor das perdas pode mudar bastante ao se adotar uma ou outra unidade. Podem
ser expressas em valores absolutos ou relativos/percentuais como por exemplo ter-
se perdido 2 metros cbicos de concreto ou ter perdido um volume de 5% de
concreto.
2.2.3. Perdas segundo a fase do empreendimento em que ocorrem
Na medida em que as perdas acontecem toda vez que se estabelece um
consumo de materiais superior ao teoricamente necessrio, tal ocorrncia pode se
dar em diferentes momentos do empreendimento: na concepo, na produo da
obra e na sua utilizao.
2.2.4. Perdas segundo o momento de incidncia na produo
Perdas
Financeiras
Estritamente
financeiras
Decorrentes
das perdas de
recusos fsicos
Fsicas
Mo-de-obra Equipamentos Materiais
39
Acontecimentos na produo podem ser responsveis por grandes
consumos excessivos de materiais. As perdas podem se manifestar em vrias
etapas da produo desde o recebimento de materiais at etapa final da obra,
demonstrado na figura 2.7:
Figura 2.7: Exemplo de perdas segundo momento de incidncia na produo - transporte
Fonte: Souza (2005)
No caso da figura 2.7 pode-se verificar que todas as etapas esto
diretamente ligadas ao transporte do insumo ou produto a ser processado. Se existir
alguma perda ocasioada em funo do transporte, esta poder se repetir por todo o
processo de produo, gerando reduo de lucros ou aumento excessivo do valor
do produto final.
2.2.5. Perdas segundo sua natureza:
As perdas fsicas de materiais podem ocorrer sobre trs diferentes
naturezas: furto ou extravio; entulho; e incorporao.
Furto ou extravio costuma ser um pouco significativo no caso das obras de
um certo porte. Embora mais significativo em obras pequenas, onde se usa uma
quantidade reduzida de materiais.
O entulho representa a natureza das perdas mais comumente presente na
mente das pessoas, quando se fala em perdas materiais, mesmo no sendo, para o
caso de vrios servios, a mais relevante quantitativamente falando. o entulho que
Recebimento Estocagem
Processamento
intermedirio
Processamento
Final
Transporte
40
representa a maior fonte de resduos da construo, gerando sensao de sujeira
num canteiro de obras e sendo fonte para ocorrncia de acidentes.
Perda incorporada, embora muitas vezes imperceptvel visualmente
representada pelas incorporaes de materiais superiores teoricamente prescrita,
como exemplos, ao se fazer uma laje um pouco mais espessa que o indicado no
projeto de formas; toda vez que um revestimento interno de paredes com
argamassa, previsto para ter 1 centmetro, alcanar 2 centmetros de espessura
mdia, tem-se perda incorporada.
2.2.6. Perdas segundo a forma de manifestao
So aquelas no oriundas de furto, entulho ou incorporao ocasionadas de
diferentes formas de manifestao. Entre elas pode-se citar:
sacos de cimento, cal, gesso ou argamassas com peso real inferior ao
nominal;
ao desbitolado;
areia carreada do estoque pelas chuvas;
pontas de ao no aproveitveis,
etc.
2.2.7. Perdas segundo sua causa
Mais que identificar a forma de manifestao das perdas, o entendimento do
porqu de elas ocorrerem pode ajudar bastante na futura tarefa de tentar evitar que
tais perdas aconteam.
Portanto a causa de uma perda seria a razo imediata para que ela tenha
acontecido. Assim que, para as vrias manifestaes possveis, podem-se elencar
as provveis causas (que necessariamente so nicas, isto , a perda, ocorrida sob
uma determinada forma de manifestao, pode ter sido fruto de diferentes causas).
41
2.2.8. Perdas segundo sua origem
Se as causas das perdas se relacionam s razes imediatas para sua
ocorrncia, mais importante, tambm dentro do objetivo de diminuir o desperdcio,
entenderem-se as razes mais distantes que fomentaram manifestaes
detectadas, que representariam as origens das perdas.
2.2.9. Perdas segundo seu controle
A ocorrncia de perdas, enquanto sinnimo de ineficincia de um certo
processo de produo, pode ser associada a quaisquer processos; em outras
palavras, as perdas esto presentes em todas as atividades. Portanto comum
conviver com perdas na construo, o que se deve evitar que tais perdas
alcancem nveis preocupantes ou que ocorram predominantemente por negligncia
na coordenao dos processos.
2.3. Como reduzir os desperdcios
Vieira Netto (1993), aponta algumas aes para reduzir os desperdcios,
sendo esta uma tarefa que demanda ateno para diversas reas envolvendo:
pessoas, desburocratizao, elaborao de programa de metas, implantao de
programas de qualidade, utilizao adequada do fator tempo com estabelecimento
de prioridades. Na figura 2.8 apresenta-se algumas aes propostas por Vieira Neto
para reduzir os desperdcios:
42
Figura 2.8: Aes para reduzir desperdcios
Fonte: Modificado de Vieira Netto (1993)
Valorizao de talentos;
Seleo com competncia e critrios definidos;
Formao na produo;
Conhecimento da fora de trabalho e tcnicas dos
concorrentes;
Educao, treinamento e capacitao continuada.
Pessoas
Promoo de resultados;
Ouvir os stakeholders;
Encurtar caminhos de comunicao;
Realizar reunies produtivas.
Desburocratizar
Gerar agilidade e acrescimo de desempenho com
reconhecimento e premiaes;
Terceirizao de servios;
Gerenciar a produo ao invs de somente executar;
Conceito de excelncia;
Estabelecer metas e prioridades;
Motivao e atendimento de necessidades.
Programa de metas
Qualidade total;
Padronizao por normas;
Aplicao de tcnicas de qualidade.
Programa de
qualidade
Etabelecer prioridades;
Controlar tempo das atividades dirias
Cumprir prazos e horrios
Gerenciar o tempo
43
2.4. Conceitos sobre produtividade
A nfase na produtividade foi mais intensificada, a partir do acirramento da
concorrncia, instalada pela globalizao dos mercados. Na percepo de Macedo
(2002), no panorama competitivo vivenciado pelas organizaoes, sem
produtividade ou sem a eficincia do processo produtivo, dificilmente uma empresa
vai ser bem-sucedida ou at mesmo sobreviver no mercado.
Para Smith (1993), diversas so as maneiras de ver e definir produtividade.
Dependendo da percepo, do conhecimento e da experincia das pessoas, melhor
ser a compreenso sobre o termo, como tambm sobre sua medida, sobre como
melhor-la para atingir a competitividade a partir de sua medio.
Nas definies de produtivadade em sua maioria, aborda-se termos como
lucratividade, eficincia, efetividade, valor, qualidade, inovao e qualidade de vida
no trabalho, como tambm se pode combinar variveis especficas de efetividade
humana e organizacional.
Para realizar avaliaes descritivas e medies numricas de produtividade,
usa-se padres e taxas, onde os padres servem de base para as taxas e muitas
delas so usadas para definir e medir produtividade do tipo output / input.
Moreira (1996), argumenta que a produtividade esta ligada eficcia de um
sistema produtivo, sendo a eficcia relativa a melhor ou pior utilizao dos recursos.
Uma viso mais clssica sobre produtividade analisada por Severiano
Filho (1999) ao tomar como referncia trs definies:
a) Produtividade de Fator simples: quando relaciona alguma
medida de produo a, apenas, um dos insumos usados no
processo produtivo, tais como: capital, mquina, energia,homem,
44
sendo este ltimo o mais referenciado nas medidas de
produtividade parcial.
b) Produtividade de Valor Agregado: baseado no conceito de
agregao de valor, cujo desempenho produtivo medido pela
relao entre o valor agregado e os diversos recursos de
produo utilizados. Como utiliza em seus clculos somente
valor monetrio, elimina a possibilidade de determinar a
produtividade tcnica dos fatores, da, seus indicadores serem
utilizados no mbito de produtividade econmica.
c) Produtividade de Fator Total: quando so considerados
simultaneamente mais de um insumo (geralmente mo-de-obra e
capital) combinados.
Segundo Sink (1985), o conceito de produtividade para um sistema fsico de
produo, definido como a relao entre o que obtido na sada e o que
consumido na entrada desse sistema.
Este conceito tambm defendido por Souza (1998), que considera que a
produtividade seja a eficincia em se transformar entradas e sada num processo
produtivo. Assim, a produtividade a eficincia em se transformar entradas em
sadas num processo produtivo.
Desta maneira, conforme demonstrado na Figura 2.9, o estudo da
produtividade no processo de produo da construo civil, pode ser feito em
diversas abordagens. Dependendo do tipo de entrada a ser transformada, pode-se
ter o estudo da produtividade com variados pontos de vista (fsico no caso de se
estar estudando a produtividade no uso dos materiais, equipamentos ou mo-de-
obra; financeiros quando a anlise recai sobre a quantidade de dinheiro
demandada; ou social quando o esforo da sociedade como um todo
considerada como recurso inicial do processo).
45
Figura 2.9: Diferentes abrangncias do estudo da produtividade
Fonte: Souza (1998)
A quantificao da abrancncia do estudo da produtivida apresentados na
figura 2.9 ir gerar os ndices (ou indicadores) fsicos, financeiros e de produtividade
do processo produtivo.
46
CAPTULO III
IMPORTNCIA, BENEFICIOS E DEFICINCIAS DO PLANEJAMENTO
3.1. Importncia do Planejamento
Na atualidade a construo civil vem delineando as formas de um processo
produtivo mais adequado e profissional. O aumento da concorrncia e a evoluo
tecnolgica pressionam as empresas para que reavaliem seus mtodos e sistemas
de produo em busca de produtividade e competitividade. Muitas so as
perspectivas e idias que se surgem no setor para adaptar a produo aos novos
tempos.
Seguindo as novas tendncias de construo, suas aes so direcionadas
para minimizar o desperdcio de recursos. A proposta reduzir custos sem
necessidade de investimentos, somente atravs de uma melhor organizao do
processo, eliminando reservas de mo-de-obra ociosa e otimizando cada recurso
disponvel.
Assim, para Assumpo e Fugazza (1998), a programao de obras,
atravs de modelos mais eficientes, vem deixando de ser uma proposta acadmica
para transformar-se em necessidade para as empresas, como forma de contribuir
para melhorar a qualidade de seus produtos e sua competitividade frente ao
mercado em que atua.
Neste cenrio, ganha importncia o Planejamento. O planejamento
essencial, porm, ele nem sempre feito de maneira coerente e realista,
considerando custo, tempo, flexibilidade e qualidade, privilegiando o trabalho em
equipe, realizado de forma coordenada.
47
Assim, com um planejamento executvel e dinmico, possvel equilibrar e
manejar o cotidiano do plano, ajustando os recursos para assegurar o fluxo da obra
e cuidando para que o ambiente seja favorvel ao cumprimento das metas,
ganhando velocidade e qualidade para obter resultados e, conseqentemente, o
trmino da obra dentro das projees de prazo e custo.
Indiscutivelmente planejamento demanda quantidade significativa de tempo
e recursos. Talvez por esta afirmativa que algumas empresas da construo civil
deixam de disponibilizar tempo, pessoas e recursos financeiros para este fim e
centralizam esforos na execuo de atividades operacionais.
Se por determinaes legais tem-se os elementos que detalham a obra
como projetos arquitetnicos, projetos de engenharia (estruturais, hidrossanitarios,
eletricos, SPDA, terraplanagem, drenagem, fundaes, etc.), memorial descritivo e
planilhas de oramento, qual seria a necessidade de se gastar mais tempo e
recursos para elaborar e executar um planejamento de determinada obra, j que
existem os elementos que caracterizam e permitem a execuo com bom nvel de
preciso?
Segundo Mattos (2010), a indstria da construo tem sido um dos ramos
produtivos que mais vem sofrendo alteraes substanciais nos ltimos anos. Com a
intensificao da competitividade, a globalizao dos mercados, a demanda por
bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento
do grau de exigncia dos clientes sejam eles os usurios finais ou no e a
reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realizao de
empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gesto e
controle de processos inevitvel, pois sem essa sistemtica gerencial os
empreendimentos perdem de vista seus principais indicadores: o prazo, o custo, o
lucro, o retorno sobre o investimento e o fluxo de caixa. Informao rpida um
insumo que vale ouro.
48
Mattos demonstra, portanto, que apesar de se ter elementos que
caracterizam a obra com nvel de preciso adequada, esses elementos podem
sofrer influncia de uma srie de fatores externos que iro alterar a dinmica da
realizao de atividades operacionais podendo gerar atrasos na execuo, aumento
de custo e conseqentemente reduo do lucro.
O processo de planejamento e controle passa a cumprir um papel
fundamental nas empresas, na medida em que tem forte impacto no desempenho
da produo. Aponta ainda que estudos realizados no Brasil e no exterior
comprovam esse fato, indicando que deficincias no planejamento e no controle
esto entre as principais causas da baixa produtividade do setor, de suas elevadas
perdas e da baixa qualidade dos seus produtos.
Tem-se, portanto que um bom planejamento, controle e acompanhamento
no ser apenas um desprendimento de tempo, recursos e pessoas para um fim
desnecessrio, uma vez que este ir impactar de forma positiva a produo.
Alm do impacto positivo na produo, h outros ganhos em termos
gerenciais para as empresas que utilizam as tcnicas de planejamento e controle.
Para Mattos (2010), atualmente, mais do que nunca, planejar garantir de certa
maneira a perpetuidade da empresa pela capacidade que os gerentes ganham de
dar respostas rpidas e certeiras por meio do monitoramento da evoluo do
empreendimento e do eventual redirecionamento estratgico.
Segundo Goldman (1997), o planejamento constitui hoje em um dos
principais fatores para o sucesso de qualquer empreendimento. Na construo civil,
afirma que necessrio um sistema que possa canalizar informaes e
conhecimentos dos mais diversos setores e, posteriormente, direcion-los de tal
forma que todas essas informaes e conhecimentos sejam utilizados a favor da
construo.
49
Para Goldman (1997), nas empresas do setor da construo civil o setor de
planejamento tcnico deve ser interligado com quase todos os outros setores da
empresa. Esta estratgia ttica de informao permite visualizar todo o
funcionamento da empresa e traz benefcios aos planejadores e gerncia da
empresa. Assim deve-se articular o setor de planejamento tcnico com outras reas
da empresa, como setor de arquitetura, setor financeiro, setor contbil, setor de
processamento de dados, tesouraria, setor jurdico, setor de compras, entre outros,
a fim de se formar uma rede de informaes.
Confrontando as afirmaes de Mattos e Goldman, o planejamento pode ser
uma ferramenta poderosa para garantir a execuo de uma obra de forma mais
precisa possvel e servir como um diferencial ttico, estratgico e competitivo,
atravs da criao de sistemas de informao, como subsdios para tomada de
decises antecipadas e futuras por parte da alta gerncia.
3.2. Benefcios do Planejamento
O planejamento de fundamental importncia, pois executar um projeto
implica em realizar algo que nunca foi feito antes. O planejamento bem elaborado
de um projeto a atividade fundamental para o sucesso de qualquer
empreendimento tanto na etapa da concorrncia quanto no incio e durante todo o
perodo da obra, pois assegura, com base nas premissas assumidas, uma
probabilidade favorvel com relao aos resultados esperados.
Alm disso, o planejamento de grande relevncia para captao de
possveis recursos financeiros, reduzindo as dificuldades na hora de buscar
financiamento e facilitando a obteno de crdito, garantindo a segurana para
possveis investimentos.
50
Fbio Lacerda, gerente de acesso a servios fincaneiros do Sebrae em So
Paulo, em entrevista no site Telecentros de Informaes e Negcios do Ministrio
do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, afirma:
importante que, antes do empreendedor pedir o
emprstimo, ele tenha um conhecimento profundo
sobre o seu negcio. Ao solicitar o crdito, ele ter
que justificar como vai fazer uso do dinheiro.
fundamental fazer o planejamento...
Existe uma srie de benefcios que o planejamento poder trazer s
empresas que utilizam esta poderosa tcnica. Na Figura 3.1, apresentam-se alguns
dos benefcios do planejamento:
Figura 3.1: Benefcios do Planejamento
Fonte: Mattos (2010) adaptado pelos autores
Benefcios do
Planejamento
Agilidade
de
decises
Deteco de
situaes
desfavorveis
Conhecimento
pleno da Obra
Relao com
oramento
Otimizao
de alocao
de recursos
Referncia
para
acompanha-
mento
Padronizao
Referncia
para metas
Documentao
e
rastreabilidade
Criao de
dados
histricos
Profissiona-
lismo
51
Conhecimento pleno da obra
A elaborao do planejamento impe ao profissional o estudo dos projetos,
a anlise do mtodo construtivo, a identificao das produtividades consideradas no
oramento, a determinao do perodo trabalhvel em cada frente ou tipo de servio
(rea interna, externa, concreto, terraplenagem etc.)
Deteco de situaes desfavorveis
A previso oportuna de situaes desfavorveis e de indcios de
desconformidade permite ao gerente da obra tomar providencias a tempo, adotar
medidas preventivas e corretivas, e tentar minimizar os impactos no custo e no
prazo.
Quanto mais cedo o gestor puder intervir, melhor. A figura ilustra o que se
costuma chamar de oportunidade construtiva, que a poca em que se pode alterar
o rumo de um servio ou do prprio planejamento a um custo relativamente baixo.
Com o passar do tempo, essa interveno passa a ser menos eficaz e sua
implantao mais cara.
Agilidade de decises
O planejamento e o controle permitem uma viso real da obra, servindo de
base confivel para decises gerenciais, como: mobilizao e desmobilizao de
equipamentos, redirecionamento de equipes, acelerao de servios, introduo do
turno da noite, aumento da equipe, alterao de mtodos construtivos, terceirizao
dos servios, substituio de equipes pouco produtivas.
Relao com o oramento
Ao usar as premissas de ndices, produtividades e dimensionamento de
equipes empregadas no oramento, o engenheiro casa oramento com
planejamento, tornando possvel avaliar inadequaes e identificar oportunidades de
melhoria.
52
Otimizao da alocao de recursos
Por meio da anlise do planejamento, o gerente da obra pode jogar com
as folgas das atividades e tomar decises importantes como nivelar recursos,
protelar a alocao de determinados equipamentos etc.
Referncia para acompanhamento
O cronograma desenvolvido no planejamento uma ferramenta importante
para o acompanhamento da obra, pois permite comparar o previsto com o realizado.
Padronizao.
O planejamento disciplina e unifica o entendimento da equipe, tornando
consensual o plano de ataque da obra e melhorando a comunicao.
Referncia para metas
Programas de metas e bnus por cumprimento de prazos podem ser
facilmente institudos porque h um planejamento referenciais bem construdo,
sobre o qual as metas podem ser definidas.
Documentao e rastreabilidade
Por gerar registros escritos e peridicos, o planejamento e o controle
propiciam a criao de uma historia da obra, til para resoluo de pendncias,
resgate de informaes, elaborao de pleitos de outras partes, mediao de
conflitos e arbitragem.
Criao de dados histricos
O planejamento de uma obra pode servir de base para o desenvolvimento
de cronogramas e planos de ataques para obras similares. A empresa passa a ter
memria.
53
Profissionalismo
O planejamento da ares de seriedade e comprometimento a obra e a
empresa. Ele causa boa impresso, inspira confiana nos clientes e ajuda a fechar
negcios.
3.3. Perfil do Engenheiro Planejador
Este profissional deve atuar de forma mais aprofundada e estratgica que o
chamado tocador de obra, devendo aplicar os conhecimentos inerentes
Engenharia Civil e atuando como um gerente de projeto
7
. Cleland e Ireland (2002)
lembram que os gerentes de projeto e outros profissionais que atuam nesta rea
dependem de quatro competncias a saber:
Conhecimento: que a compreenso da teoria, dos conhecimentos e
prticas da gerncia de projetos;
Destreza: que a capacidade de usar as tcnicas e os recursos da profisso
para obter resultados adequados;
Habilidade: que a capacidade de integrar e usar de modo eficaz o
conhecimento e as aptidoes;
Motivao: que a capacidade de desenvolver e manter valores, atitudes e
aspiraes adequadas, ajudando os stakeholders a trabalharem em conjunto
para o aperfeioamento do projeto.
Segundo Scholtes (1999), esse tipo de profissional deve compreender e
liderar relacionamentos, equipes de trabalho e a comunidade, bem como interaes.
Assim, ao engenheiro civil, enquanto gerente de projetos, tambm de
recursos humanos, mquinas e materiais, alm dos conhecimentos tcnicos e
7
Gerente de projeto: profissional que tem o papel de gerenciar determinado projeto, alocando recursos,
ajustando as prioridades, coordenando interaes com clientes e usurios e geralmente mantm a equipe do
projeto concentrada na meta certa. O gerente de projeto tambm estabelece um conjunto de prticas que
garantem a integridade e a qualidade dos artefatos do projeto.
54
tcitos, so requeridas atitudes (motivao e envolvimento com o projeto, assuno
de riscos, comportatamento e delegao equipe) e habilidades (gerenciais, de
relaes humanas e polticas) ( VALERIANO, 1998).
Surge da a necessidade de um profissional experiente com perfil
compatvel s exigncias gerenciais inerentes ao planejamento e acompanhamento
de obras.
3.4. Deficincia das Empresas em Relao ao Planejamento
Segundo Mattos (2010), algo que pode ser tristemente constatado no
mundo da construo civil a ausncia ou a inadequao do planejamento das
obras. Esse fenmeno sentido muito mais nas obras de pequeno e mdio portes,
em sua maioria efetuadas por empresas pequenas, por profissionais autnomos, ou
mesmo pelos seus proprietrio.
Percebe-se, portanto que o planejamento no indispensvel apenas para
empresas de grande porte, com obras de grande complexidade e envergadura, mas
que altamente aplicvel e fundamental tambm para melhorar o desempenho,
garantir competitividade e a subsistncia de pequenas e mdias empresas.
Ferreira (2001), apresenta as necessidades, os problemas e as falhas
apresentadas na aplicao do planejamento na construo civil:
Informao incompleta sobre o projeto;
Oramento executivo operacional no detalhado;
Desconhecimento dos critrios de aplicao das tcnicas construtivas;
Falta de comunicao e integrao da equipe de trabalho;
Saber como e quando aplicar as tcnicas de planejamento;
Desconhecimento de uso de tcnicas modernas (computadorizadas);
Ausncia de planos formais;
55
Abandono prematuro do estudo previamente elaborado;
Viso de curto prazo;
Desconhecimento das tcnicas de planejamento e/ou mal uso dessas
tcnicas;
Elaborar um planejamento desprovido da funo de controle e planejamento.
Para Mattos (2010), a deficincia dos construtores se manifesta em graus
variados. H empresas que planejam, mas o fazem mal; outras que planejam bem,
mas no controlam; e aquelas que funcionam na base da total improvisao.
Enquanto algumas construtoras se esforam por gerar cronogramas detalhados e
aplicar programaes semanais de servio, outras crem que a experincia de seus
profissionais o bastante para garantir o cumprimento do prazo e do oramento.
A deficincia do planejamento pode trazer conseqncias desastrosas para
uma obra e, por extenso, para a empresa que a executa. No so poucos os casos
conhecidos de frustraes de prazo, estouros de oramento, atrasos injustificados,
indisposio do construtor com seu cliente (contratante) e at mesmo litgios
judiciais para recuperao de perdas e danos (MATTOS, 2010).
Como soluo eficaz, Mattos (2010), discorre que a melhor maneira de
minimizar esses impactos produzir um planejamento lgico e racional, pois assim
se dispe de um instrumento que se baseia em critrios tcnicos, fcil de manusear
e interpretar.
4.1. Causas das Deficincias das Empresas
Mattos (2010) aponta que as causas da deficincia em planejamento e
controle podem ser agrupadas em funo dos seguintes aspectos arraigados de
longa data.
56
Figura 3.2: Deficincias do Planejamento
Fonte: Mattos (2010) adaptado pelos autores
Planejamento e controle como atividades de um nico setor
Em vez de serem vistos como um processo gerencial que deve permear
toda a estrutura da empresa, o planejamento e o controle muitas vezes so
confundidos com o trabalho isolado de um setor da empresa ou com a simples
aplicao de tcnicas para a gerao de planos.
Outro problema como a equipe fazer o planejamento inicial, mas no
atualiz-lo periodicamente. Sendo a obra um sistema mutvel e dinmico.
Planejamento sem controle no existe. Se um dos objetivos do planejamento e
minimizar as incertezas da obra, onde preciso um mecanismo de apropriao de
dados de campo que permita ao gerente avaliar se seu planejamento est sendo
frutfero ou se melhor replanejar a obra.
Descrdito por falta de certeza nos parmetros
A incerteza inerente ao processo de construo em funo da
variabilidade do produto e das condies locais, da natureza dos seus processos.
As incertezas, medida que o tempo passa vo sendo incorporadas ao
planejamento por meio de alteraes e adaptaes dos planos com utilizao das
corretas produtividades dos servios nas diversas situaes.
Deficincias
no
Planejamento
Planejamento e Controle como
atividades de um nico setor
Descrdito por falta de
certeza nos parmetros
Planejamento excessivamente
informal
Mito do tocador de obras
57
Planejamento excessivamente informal.
A falta de um planejamento global formal determina a inadequao dos
planos de mdio de curto prazo, acarretando a utilizao ineficiente de recursos
humanos e materiais da obra. Procedendo-se assim, perde-se o conceito sistmico
de planejamento, com a viso de longo prazo sendo obstruda pelo imediatismos
das atividades de curto prazo. De maneira geral, excessivas informalidade dificulta
a comunicao entre os vrios setores da empresa.
Mito do tocador de obras.
comum encontrar nas empresas uma supervalorizao do tocador de
obras, engenheiro que tradicionalmente tem postura de tomar decises e
apresentar solues rpidas atuando de forma a apagar incndios. Este tipo de
profissional trabalha como um distribuidor de tarefas sem parar e sem planejamento,
como se houvesse duas engenharias distintas: a de campo e a de escritrio.
Este tipo de atuao profissional caracterizada pela tomada de decises
rpidas, sem um envolvimento com o planejamento das atividades e com
crescimento contnuo da empresa e de seus profissionais (KOSKELA,2000). A
existncia de profissionais tocadores de obra tem sido identificada como uma das
barreiras para desenvolvimento do processo de planejamento e controle da
produo nas empresas da construo civil, visto que, como o planejamento no
considerado uma tarefa prioritria, necessria a existncia do gerente tocador de
obras (ISATTO et al., 2000).
58
CAPTULO V
FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO
5.1. Principais Elementos Utilizados para Elaborao do Planejamento
A correta organizao e utilizao dos documentos em obras fundamental
para o sucesso na construo civil. Existe uma quantidade muito grande de
informaes a serem registradas, e no possvel atingir a qualidade do produto
sem que haja rgido controle destas informaes. Ademais, os interessados em
cada documento so profissionais distintos (Arquitetos e Engenheiros, mestres de
obras, rgos fiscalizadores, fornecedores de materiais, empreiteiros e contratantes,
entre outros). (GONZALES, 2008)
Apresenta-se a seguir os elementos fundamentais para realizao de um
planejamento eficaz:
5.1.1. Projeto
O resultado do projeto de edificaes um conjunto de documentos, em
desenhos e texto, que descreve a obra, permitindo a contratao e a execuo. Em
um sentido amplo, o projeto inclui todos os documentos necessrios para
comunicar a idia e desenvolver o produto. Por conta da complexidade e da
quantidade de informao envolvida, e tambm pela tradicional fragmentao
(existem diversos profissionais envolvidos), em geral o projeto dividido em
especialidades e em documentos grficos (tais como plantas arquitetnicas,
estruturais, hidro-sanitrias, eltricas, lgicas e outras) e documentos escritos
(oramento, memoriais, especificaes tcnicas, cronograma, contratos e outros).
Em alguns casos, so desenvolvidas vrias verses do mesmo documento
para atender a diferentes pblicos, como o caso do memorial descritivo, adaptado
para registro da incorporao, propaganda para venda, financiamento, aprovao
59
perante rgos pblicos, construo e fiscalizao, etc. Em um sentido amplo, o
projeto inclui todos os documentos indicados a seguir.
O projeto a etapa inicial e uma das mais importantes fases no ciclo de vida
de um empreendimento. O projeto de edificaes uma tarefa complexa. Por sua
natureza, o projeto pode ser visto como um processo no qual problemas e solues
emergem simultaneamente. Ele requer a identificao e ponderao de diferentes
necessidades, requisitos e desejos dos usurios, os quais devem ser
adequadamente traduzidos para a linguagem da construo e confrontados com as
solues viveis (em termos de materiais e tcnicas disponveis, prazos e custos
suportveis). Duas estapas constituem o projeto:
Planejamento e concepo: a etapa que rene as informaes necessrias
concepo da edificao inclui o levantamento de dados iniciais, a
definio do programa de necessidades e a anlise de viabilidade; o
programa de necessidades (briefing) consiste na definio/captura dos
requisitos do cliente/usurio e em geral desenvolvido em contatos diretos
do arquiteto com o cliente;
Estudo Preliminar: a configurao inicial da soluo arquitetnica proposta
(partido), considerando os elementos principais do programa de
necessidades;
5.1.1.1. Desenvolvimento do projeto
Para desenvolvimento de um projeto, deve-se seguir as seguintes etapas:
Estudo prvio: Documento elaborado pelo projetista, depois da aprovao do
programa base tendo em vista o desenvolvimento da soluo programada,
dando mais importncia concepo geral da obra. Contm uma memria
descritiva e justificativa, elementos grficos, dimensionamento aproximado,
definio geral dos processos de construo, etc.
60
O anteprojeto: a configurao final da soluo proposta, considerando
todos os elementos do programa, mas com pouco detalhamento, em escala
reduzida;
Projeto Bsico - rene os elementos necessrios contratao. Tem algum
detalhamento, suficiente para o entendimento da obra. J envolve os projetos
de arquitetura e engenharia (eltricos, hidrulicos, estruturais, detalhes de
esquadrias, paisagismo, etc.)
Projeto Executivo, o conjunto dos elementos necessrios e suficientes
execuo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT
(Associao Brasileira de Normas Tcnicas). Documentos destinados a
constituir juntamente com o caderno de encargos, os elementos necessrios
boa realizao dos trabalhos, contendo o caderno de encargos, memria
descritiva e justificativa, clculos e justificaes das solues adaptadas, etc.
5.1.2. Oramento
Para Limmer (1996) um Oramento pode ser definido como determinao
dos gastos necessrios para a realizao de um projeto, de acordo com um plano
de execuo previamente estabelecido, gastos esse traduzidos em termos
quantitativos.
Um oramento de um projeto deve satisfazer aos seguintes objetivos:
Definir o custo de execuo de cada atividade ou servio.
Construir-se em documentocontratual, servindo de base como faturamento
da empresa executora do projeto, empreendimento ou obra;
Servir como referencia na analise dos rendimentos obtidos dos recursos
empregados na execuo do projeto;
61
Fornecer como instrumento de controle da execuo do projeto, informaes
para o desenvolvimento de coeficientes tcnicos confiaveis, visando ao
aperfeioamento da capacidade tcnica e da competitividade da empresa
executora do projeto no mercado.
Existem vrios tipos de oramento, e o padro escolhido depende da
finalidade da estimativa e da disponibilidade de dados. Se h interesse em obter
uma estimativa rpida ou baseada apenas na concepo inicial da obra ou em um
anteprojeto, o tipo mais indicado o paramtrico. Para as incorporaes em
condomnio, a lei exige o registro de informaes, em cartrio, seguindo um
procedimento padronizado, de acordo com a norma NBR 12721 (ABNT, 1999).
O oramento discriminado mais preciso, mas exige uma quantidade bem
maior de informaes. s vezes, durante o desenvolvimento do projeto,
interessante realizar a estimativa de forma cuidadosa ao menos nas partes que j
foram definidas. Para as demais, podem-se aplicar estimativas baseadas em
percentuais mdios de obras anteriores.
Por exemplo, se existe o projeto arquitetnico, com as definies de
dimenses e acabamentos, mas ainda no esto disponveis os projetos eltricos,
hidrulicos ou estruturais, os valores correspondentes podem ser estimados
utilizando os percentuais que estas parcelas geralmente atingem para obras do
mesmo tipo. Por fim, tendo em vista a construo sustentvel, adquire importncia a
anlise dos custos no ciclo de vida.
5.1.2.1. Oramento paramtrico
um oramento aproximado, adequado s verificaes iniciais, como
estudos de viabilidade ou consultas rpidas de clientes. Se os projetos no esto
disponveis, o custo da obra pode ser determinado por rea ou volume construdo.
62
Os valores unitrios so obtidos de obras anteriores ou de organismos que calculam
indicadores.
Estes indicadores so facilmente obtidos atravs de base de dados
disponibilizada na internet, alguns padronizados de acordo com normas especficas
e regulamentadas por lei.
Como exemplos de oramentos paramtricos tem-se entre outros:
O CUB (Custo Unitrio Bsico)
8
, definido pela NBR 12721 e calculado pelo
Sindicato da Indstria da Construo Civil de cada estado um indicador do
custo unitrio de construo (ABNT, 2006);
Figura 3.3: Site do CUB Custo Unitrio Bsico
Fonte: http://www.cub.org.br
8
O Custo Unitrio Bsico (CUB/m) teve origem atravs da Lei Federal 4.591 de 16 de dezembro de 1964.
Trata-se do custo por metro quadrado de construo do projeto-padro considerado, calculado de acordo com
a metodologia estabelecida em lei pelos sindicatos da indstria da construo civil servindo de base para
avaliao de parte dos custos de construo das edificaes. O CUB/m representa o custo parcial da obra.
63
O objetivo bsico do CUB/m disciplinar o mercado de incorporao
imobiliria, servindo como parmetro na determinao dos custos dos imveis. Em
funo da credibilidade do referido indicador, alcanada ao longo dos seus mais de
40 anos de existncia, a evoluo relativa do CUB/m tambm tem sido utilizada
como indicador macroeconmico dos custos do setor da construo civil. Publicada
mensalmente, a evoluo do CUB/m demonstra a evoluo dos custos das
edificaes de uma forma geral.
O SINAPI
9
da Caixa Econmica Federal;
Figura 3.4: Site do SINAPI ndices da Construo Civil
Fonte: http:// www.sipci.caixa.gov.br
O Sistema SINAPI estabelece a mdia de custos e ndices da
construo civil, a partir coleta de pesquisa mensal de preos de materiais e
9
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civi. um sistema de pesquisa
mensal que informa os custos e ndices da construo civil e tem a CAIXA e o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica - IBGE como responsveis pela divulgao oficial dos resultados, manuteno, atualizao e
aperfeioamento do cadastro de referncias tcnicas, mtodos de clculo e do controle de qualidade dos
dados disponibilizados pelo SINAPI.
64
equipamentos de construo, assim como os salrios das categorias
profissionais. Implementado em 1969, inicialmente para o setor de habitao, o
sistema foi ampliado em 1997, quando passou a incorporar dados de
saneamento e infra-estrutura. Os resultados/informaes do SINAPI resultam
de trabalhos tcnicos conjuntos da Caixa Econmica Federal - CAIXA e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE.
Desde a edio da LEI de Diretrizes Oramentrias de 2003, o SINAPI
passou a ser o parmetro para determinar se as obras executadas com recursos
da Unio esto recebendo recursos adequados a suas caractersticas.
O ndice Nacional da Construo Civil - INCC
10
da Fundao Getlio Vargas;
Figura 3.5: Site do IBRE
Fonte:http://portalibre.fgv.br/
10
INCC: ndice Nacional da Construo Civil criado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundao
Getulio Vargas. O IBRE dedica-se produo e divulgao de estatsticas macroeconmicas e pesquisas
econmicas aplicadas. Pioneiro no clculo do PIB brasileiro, criou ainda o IGP, ndice Geral de Preos, que
durante muitos anos foi o ndice oficial da inflao.
65
Concebido com a finalidade de aferir a evoluo dos custos de construes
habitacionais, configurou-se como o primeiro ndice oficial de custo da construo
civil no pas. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua srie histrica
retroage a janeiro de 1944. De inicio, o ndice cobria apenas a cidade do Rio de
Janeiro, ento capital federal e sua sigla era ICC. Nas dcadas seguintes, a
atividade econmica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da
construo em outras localidades. Alm disso, em vista das inovaes introduzidas
nos estilos, gabaritos e tcnicas de construo, o ICC teve que incorporar novos
produtos e especialidades de mo-de-obra.
Em fevereiro de 1985, para efeito de clculo do IGP, o ICC deu lugar ao
INCC, ndice formado a partir de preos levantados em oito capitais estaduais. No
processo de ampliao de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preos em 20
capitais. Atualmente a coleta feita em 7 capitais (So Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Braslia). O ndice divulgado nas
verses 10, M e DI.
Os custos mdios publicados pela editora Pini, na revista Construo e
Mercado.
66
Figura 3.6: Site da Revista Construo e Mercado
Fonte: http://www.construcaomercado.com.br/IC/
A revista Construo Mercado e Guia da Construo apresentam
informaes e anlises para aumento da competitividade e da conscientizao
empresarial na indstria da construo civil brasileira. So produzidas pela editora
PINI para quem precisa de subsdios nas tarefas e questes do planejamento e da
execuo de obras, na prospeco de um contratante, em oramentos e propostas,
em pesquisas de preos e de sistemas construtivos mais adequados.
O oramento paramtrico serve como estimativa do custo total. Este valor
estimativo, e indicado para a anlise inicial de viabilidade, ou seja, permite ao
proprietrio ou interessado a verificao da ordem de grandeza, adequao ao seu
oramento, enfim, se deve ou no prosseguir na anlise, j que provavelmente as
etapas seguintes necessitaro de dispndios financeiros (confeco de anteprojeto,
taxas, novos oramentos, etc.).
67
5.1.2.2 Oramento discriminado
O oramento discriminado (ou detalhado) aquele composto por uma
relao extensiva dos servios ou atividades a serem executados na obra. Os
preos unitrios de cada um destes servios so obtidos por composies de
custos, as quais so, basicamente, "frmulas" empricas de preos, relacionando as
quantidades e custos unitrios dos materiais, dos equipamentos e da mo-de-obra
necessrios para executar uma unidade do servio considerado. As quantidades de
servios a serem executados so medidas nos projetos.
Em geral os oramentos discriminados so subdividos em servios, ou
grupos de servios, facilitando a determinao dos custos parciais. De acordo com a
finalidade a que se destina, o oramento ser mais ou menos detalhado. A preciso
varia, mas no se pode falar em oramento exato, ou correto: existem muitas
variveis, detalhes e problemas que provocam erros, e nenhum oramento est livre
de incertezas, embora os erros possam ser reduzidos, atravs do trabalho
cuidadoso e da considerao de detalhes (Faillace, 1988; Parga, 1995). Contudo,
sabe-se que a construo civil um setor sujeito a um elevado grau de
variabilidade, o qual recomenda a adoo de tcnicas de gerenciamento e controle
eficazes.
Os oramentos so executados, muitas vezes, com base em composies
de custos genricas, obtidas em tabelas ou livros (ou cadastradas no software
adquirido). Mesmo que sejam embasadas na observao da realidade em dado
local e momento, no sero perfeitamente ajustadas a uma empresa, em particular.
O ajuste necessrio deve ser realizado atravs da apropriao de custos, que a
verificao in loco dos custos efetivos de execuo dos servios, com a medio
dos materiais e equipamentos empregados e dos tempos dedicados pelos operrios
a cada tarefa.
Por fim, a diviso de servios nos oramentos discriminados deve seguir um
padro claro e objetivo, facilitando a execuo e conferncia dos resultados. Para
68
isto, deve ser adotada, pela empresa ou profissional, uma nica discriminao
oramentria, que uma relao padronizada de todos os servios que podem
ocorrer em uma obra.
Segundo Gonzales (2008), os oramentos mais precisos exigem que o
conjunto de dados do projeto esteja desenvolvido (projetos arquitetnicos,
hidrulicos, eltricos, estruturais, especificaes tcnicas, etc.). Com estes
elementos, os profissionais preparam listas das quantidades de servios a serem
executados, medidos das plantas de acordo com critrios especficos (relacionados
diretamente com a composio que calcula o custo unitrio). Existem vrias
abordagens, como se percebe nos trabalhos de Botelho (1984), Faillace (1988),
Hirschfeld (1977) e Parga (1995). Os oramentos discriminados tambm sero
discutidos a parte, adiante.
5.1.3. Discriminao oramentria (DO)
A discriminao oramentria de uma obra consiste na relao dos servios
ou atividades a serem executados. As discriminaes oramentrias padronizadas
so listagens que relacionam todos os servios a serem executados em uma obra.
Em geral, so extensas e prevem todos os elementos normais. As DO
padronizadas servem como check-lists, evitando o esquecimento de algum item. Em
cada oramento, contudo, o oramentista deve analisar quais os servios que
devem participar da lista final, verificando as especificidades da obra em anlise,
com eventuais servios extraordinrios, que ainda no participavam de sua DO.
As Discriminaes Oramentrias devem ser organizadas da mesma forma
que as Especificaes Tcnicas. Os servios listados devem ser codificados e
agrupados de acordo com critrios lgicos (de acordo com o tipo de servio, a
seqncia de execuo, os materiais empregados, etc.). As listagens preparadas
por Faillace (1988, p.29-50), por Parga (1995, p.16-26) e aquela constante da NBR
69
12721 (ABNT, 1999, Anexo D, p.43-46) so bons exemplos de discriminaes
oramentrias, com variados graus de detalhamento.
De qualquer forma, no se recomenda a adoo de uma DO qualquer, mas
sim a montagem de uma relao prpria, com anlise e seleo criteriosas dos
servios que a devem compor, adequados para o tipo de obra correntemente
orado. Uma discriminao extensa demais ("completa") cansativa para o uso
dirio. Uma alternativa relacionar em uma lista principal os servios usados
cotidianamente, separando os demais em uma listagem auxiliar.
Alm disto, outros servios, de detalhamento maior, exigem relaes
especiais, como o caso das instalaes hidrulicas, eltricas e telefnicas. Podem
ser adotadas relaes padronizadas de servios ou de materiais dos fabricantes,
eliminando grande parte do trabalho repetitivo de enumerar itens. um tipo especial
de discriminao oramentria.
5.1.4. Especificaes Tcnicas (ET)
As especificaes tcnicas descrevem, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execuo a serem adotados na
construo. Por exemplo, a forma de execuo da cermica de piso: tipo de
cermica marca, tamanho, cor, forma de assentamento, trao da argamassa e junta.
Tm como finalidade complementar a parte grfica do projeto. So muito
importantes, pois a quantidade de informaes a serem gerenciadas ao longo de
uma obra facilmente provoca confuso, esquecimento ou modificao de critrios,
ainda mais se existem vrios profissionais envolvidos. A definio clara da
qualidade, tipo e marca dos materiais fundamental, assim como a forma de
execuo dos servios. As partes que compem as ET so: generalidades (objetivo,
identificao da obra, regime de execuo da obra, fiscalizao, recebimento da
obra, modificaes de projeto e classificao dos servios), materiais de construo
(insumos utilizados) e discriminao dos servios (baseado em Faillace, 1988):
70
Noes de Oramento e Planejamento de Obras Dr. Marco Aurlio Stumpf
Gonzlez 200812/49 Tipos - existem variaes nas ET, conforme a finalidade. O
texto pode ser mais ou menos detalhado, conforme seja destinado a obras de
empreitada, por administrao ou executadas pelo prprio dono.
5.1.5. Caderno de encargos (CE)
O Caderno de Encargos o conjunto de especificaes tcnicas, critrios,
condies e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratao,
execuo, fiscalizao e controle dos servios e obras. O texto semelhante ao das
Especificaes Tcnicas, mas normalmente o CE mais geral, servindo para todas
as obras, enquanto que as ET so particulares. Estando associado ao software de
oramentos, permite a emisso de relatrio apenas das composies em uso para
determinada obra, agilizando a comunicao tcnica com a obra (ou com eventuais
fiscais).
5.1.6. Memorial descritivo
O memorial descritivo outro tipo de resumo das especificaes tcnicas.
H memoriais descritivos para finalidades especficas, tais como venda propaganda,
registro de imveis ou aprovao de projetos na municipalidade. Deve ser ajustado
ao oramento, seguindo a mesma ordem deste (ordenamento e nome dos servios
ou atividades). Um exemplo de memorial descritivo, do tipo que geralmente
acompanha os contratos.
5.1.7. Cronograma
Segundo Limmer (1996), os cronogramas so ferramentas de planejamento
que permitem acompanhar o desenvolvimento fsico dos servios e efetuar
previses de quantitativos de mo de obra, materiais e equipamentos, alm de
71
permitir que se determine o faturamento a ser feito ao longo da execuo da obra,
constituindo-se no chamado cronograma fisico financeiro.
Para que um cronograma seja bem elaborado faz necessrio que as
atividades que ele espelha tenham seu desenvolvimento cuidadosamente estudado
e ordenados se forma logica.
Quando o desempenho da mo de obra no for aquele esperado, torna-se
em grande parte responsavel por acrescimos nos custos da obra. Os quantitativos
de servios a executarno apresentam grandes variaes, ou seja, reas de formas,
quantitativos de aos, volumes de concreto, sero os mesmos no importa qual seja
a etapa de execuo.
Portanto elaborao de cronogramas est intimamente ligada ao correto
dimensionamento e planejamento do efetivo, procurando mante-lo proximo do que
se admite como compativel para a execuo do servio.
Os cronogramas geralmente elaborados so seguintes:
Cronograma de rede das atividades;
Cronogramas de barras ou Gantt;
Cronograma de mo de obra;
Cronograma de equipamentos;
Cronograma fisico financeiro.
5.1.7.1. Cronograma de rede das atividades:
Cronograma utilizado para a programao das atividades, elacionadas no
tempo de acordo com o prazo estabelecido para a execuo de cada uma delas. As
72
atividades planejadas devem constar de um quadro de lavantamentros de servios,
anteriormente elaborado, que tambm servir , futuramente para a elaborao do
oramento da obra.
5.1.7.2. Cronograma de barras ou Gantt.
Henry Gantt
11
em 1915 desenvolveu a forma de apresentao mais usual
conhecida como cronograma de barras, cuja desvantagem no apresentar as inter
relaes das atividades.
O cronograma de barras a representao dos servios programados numa
escala cronologica de periodos expressos em dias corridos, semanas ou meses
mostrando o que deve ser feito em cada periodo.
Correspondentemente a cada atividade, desenham-se retangulos dispostos
horizontalmente e relativo aos periodos de execuo do servio, sero preenchidos
em corres, evidenciando os atrasos ou adiantamentos da obra e a necessidade ou
no de reprogramao das atividades. Sendo o comprimento de cada barra o prazo
de execuo de cada atividade
.
5.1.7.3. Cronograma de mo de obra.
Cronograma de mo de obra montado a partir do cronograma de barras,
alocando-se a cada barra o efetivo previsto para a sua realizao e designando-se
as equipes pelas categorias correspondentes ao QCEMO.
12
Inicialmente relacionam-se dentro de cada periodo mensal estimado para a
execuo da obra, os efetivos por categoria necessrios a realizao das atividades
11
Henry Gantt (1861-1919), estudou detalhadamente a ordem de operaes no trabalho. Seus estudos de
gerenciamento focaram na construo de um navio durante a II Guerra Mundial. Gantt construiu diagramas
com barras de tarefas e marcos, que esboam a seqencia e durao de todas as tarefas em um processo.
12
QCEMO: Quadro de Calculo Efetivo de Mo de Obra, ferramenta bsica para a elaborao do cronograma
fisico de uma obra.
73
previstas no diagrama de barras. Como o consumo de mo de obra um fator que
pesa cerca de 40% no custo de uma obra de edificao habitacional, o seu bom
dimensionamento, bem como a sua utilizao racional devem ser a meta do gerente
de obra. O cronograma de mo de obra permite estudar a melhor distribuio de
pessoal e reprogram-la pelo processo da alocao e nivelamento de recursos.
O cronograma fisico elaborado com as equipes constantes do QCEMO,
passa-se ao levantamento dos etefivos por periodo mensal. Neste exemplo, no
primeiro ms, previsto um certo efetivo para a instalo do canteiro, alm da
equipe administrativa.
5.1.7.4 Cronograma de equipamentos.
A elaborao desse cronograma fundamenta-se no cronograma fsico, no
qual j tenham sido considerados os tipos de equiapamentos e o pessoal
necessrio para a execuo da obra.
O primeiro passo ser relacionar todas as atividades que necessitam
mobilizar equipamentos. Em seguida, verificar no cronograma fsico o tempo
durante o qual , para aquela atividsade o equipamento ser utilizado. Finalmente
desenhar o cronograma de equipamentos que pode ser em barras, mostrando
visualmente a necessidade de equipamentos no decorrer da obra.
5.1.7.5 Cronograma fisico Financeiro
O cronograma fsico representa a programao temporal da execuo da
obra, nos aspectos fsicos e financeiros.
Em conjunto, geralmente preparado um cronograma financeiro, definindo
a previso mensal (ou semanal) de dispndios. O conjunto da programao fsica
74
com a organizao econmica conhecido como cronograma fsico-financeiro. As
informaes de prazo de entrega e contribuio mensal so de importncia vital na
construo, seja nos contratos de empreitada, seja-nos de administrao.
5.1.8 Tecnologia da Informao na Construo Civil
A tecnologia da informao na construo civil agrega agilidade e facilitam a
composio dos preos e servios e possibilitam uma dimenso global do que se
tem planejado e do que vai ser executado. Alm disso, mantm armazenadas
informaes importantes para futuras pesquisas e novos oramentos. Devem-se
tambm tomar alguns cuidados quanto ao uso das ferramentas, pois so
aglomeradas muitas informaes, sendo possvel cometer um erro ou um vcio sem
ao menos perceber.
Abaixo apresenta-se uma breve apresentao de algumas ferramentas
computacionais para diversos fins relacionados ao oramento e ao planejamento.
5.1.8.1 Softwares de projetos
Segundo Pinto et al. (2006), a variedade de softwares de projetos imensa.
Eles facilitam os clculos, agilizam e melhoram o trabalho de desenho e informao.
Eles so utilizados com o objetivo de diminuir os riscos inerentes de erros, acelerar
o perodo de desenvolvimento e melhorar a qualidade das apresentaes. So
aplicados em diversas reas da construo civil, como topografia, arquitetura,
estrutura, instalaes, entre outras.
No caso do projeto arquitetnico, os softwares podem trazer diversas
vantagens ao projetista, como facilidade de modificaes, detalhamento com
medidas exatas e facilidade de reproduo e qualidade na impresso (PINTO et al.,
2006).
75
Os softwares de representao grfica revolucionaram os projetos
arquitetnicos, estruturais e de instalaes. Trouxeram agilidade no fluxo de
informaes (PINTO et al., 2006). Alguns softwares possibilitam a compatibilizao
de projetos, o que facilita a anlise e a elaborao dos mesmos.
Uma subrea da computao grfica o CAD (Computes Aided Design), que
o Projeto Auxiliado pelo Computador (PINTO et al., 2006). Um dos softwares de
CAD o AutoCad, a ferramenta CAD mais utilizada no mundo. Outros softwares
comerciais utilizados pra criao de projetos so: Arqui3D, Active3D, DataCAD
(PINTO et al., 2006). Esses sistemas foram desenvolvidos para criao e
manipulao de desenhos e projetos tcnicos, permitindo a facilidade de criao e
manipulao (PINTO et al., 2006).
Outros exemplos de softwares para realizao de outros tipos de projetos
so: AltoQi Eberick (estruturas de concreto armado), Sapes (estruturas metlicas),
AltoQi Hydros (instalaes hidrossanitrias).
5.8.2 Softwares de gerenciamento
Segundo Pinto et al., as ferramentas computacionais de gerenciamento de
projetos tm sido usadas a partir da dcada de 50, com o surgimento das redes
PERT/CPM. Elas vm possibilitar uma melhor comunicao entre os membros da
equipe, facilitar nas alteraes decorrentes do processo e para melhor apresentar o
andamento do planejamento (PINTO et al., 2006). Dentre os softwares mais
populares est o MS Project.
Na atualidade existem diversos softwares disponvels para gerenciamento de
projetos. Alm do MS Project que um software particular com cdigo fonte
fechado, ou seja, que no permite alteraes por parte do usurio da sua estrutura
fsica, sendo estas alteraes somente possveis pela empresa que o fornece; tem-
76
se a opo da utilizao de softwares livres, gratuitos e com cdigo fonte aberto,
permitindo a qualquer programador a opo de alterao da sua estrutura,
proporcionando liberdade de criao e uso. Dentre os softwares livres mais
utilizados, destacam-se o Gantproject e o Openproj. Ambos podem ser facilmente
baixados na internet.
O GanttProject um programa livre licenciado como GPL, baseado em
linguagem Java, compatvel com sistemas operacionais Windows (Microsoft), Linux
e Mac OSX. Emite relatrios no formato MS Project, HTML, PDF e planilhas. As
principais caractersticas incluem a hierarquia de tarefas e dependncias, grfico de
Gantt, grfico carga de recursos, relatrios diversos e exportao de projetos. O
Openproj tambm uma excelente alternativa gratuita para gerenciamento de
projetos. Este software foi desenvolvido pela Projity em 2007, sendo executado na
plataforma Java, compatvel com Windows, Linux e Mac OSX. Em 2008 foi
adquirido pela Serena Software.
Segundo PINTO et al (2006), da mesma forma que os softwares esto em
evoluo, os mtodos e tcnicas gerenciais tambm esto. Para tanto existem
Institutos e Associaes especfica de gerenciamento que visam estabelecer e
divulgar as melhores tcnicas, mtodos e ferramentas.
5.1.9 Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho so essenciais para mensurar de forma
quantitativa qualquer tipo de processo produtivo. Para Nigro (2005) a evoluo dos
conceitos de gesto e indicadores de desempenho tem permitido uma melhor
compreenso, por parte de organizaes privadas, do ambiente que as cerca.
Os indicadores de desempenho e/ou produtividade servem para medir ou
avaliar o comportamento dos aspectos principais do processo, podendo ser
utilizados para avaliar, controlar e melhorar produtos e servios.
77
Como exemplos de indicadores pode ser citados os seguintes:
Indicador fsico:
(5.1)
Atravs deste indicador fsico pode-se, entre outras variveis, verificar a eficcia das
manutenes preventivas em determinada empresa. Comparado com outros indicadores e a
variveis como forma de uso, possvel avaliar ainda se a quebras podem ser atribudas por
exemplo mal uso ou verificao de possveis solues para o problema.
Indicador financeiro:
(5.2)
Atravs deste indicador financeiro pode-se, entre outras variveis, verificar o nvel de
preciso da equipe de oramentos de determinada empresa, servindo para tomada de diferentes
tipos de deciso.
Indicador de produtividade:
(5.3)
Atravs deste indicador de produtividade pode-se, entre outras variveis, verificar a
produtividades na execuo de alvenaria de determinada empresa para estudo de maior eficcia
produtiva.
No entanto, quando se discute a produtividade paira sempre uma grande
dvida sobre como foram calculados os indicadores que esto sendo utilizados.
Para reduzir esta dvida necessrio que se defina bem os parmetros para este
fim, a padronizao e forma de utilizao correta.
Os indicadores de produtividade servem ainda como base para elaborao
de oramentos de obras. Sendo assim quanto mais precisos forem estes, maior
ser o poder de competitividade da empresa.
78
CONCLUSO E SUGESTO PARA FUTUROS TRABALHOS
Com o presente estudo verifica-se que planejamento vem sendo utilizado
no ramo da construo desde a antiguidade. Pode ser definido como um processo
de tomada antecipada de um conjunto de decises, baseadas em estudos de
ocorrncia de situaes previstas, para estabelecimento de aes, recursos e
mtodos, com a utilizao de meios eficazes e econmicos visando alcanar um
objetivo.
Na atualidade da construo civil, onde h um aumento da concorrncia e a
evoluo de tecnologias que pressionam as empresas para que reavaliem seus
mtodos e sistemas de produo em busca de produtividade e competitividade, as
tcnicas de planejamento so indispensveis no s para empresas de grande
porte, mas tambm visando melhoria de desempenho, competitividade e
subsistncia de pequenas e mdias empresas.
A correta aplicao das ferramentas de planejamento em obras civis
contribui para reduo de custos empresariais, uma vez que que assegura, com
base em premissas assumidas, uma probabilidade favorvel com relao aos
resultados esperados. Assim um planejamento bem executado permite aos
gestores, projetistas, engenheiros e demais envolvidos o conhecimento pleno da
obra, deteco de situaes desfavorveis, otimizao de recursos, excelncia no
acompanhamento e rastreabilidade, evitando desperdcios, entre outras vantagens.
Em termos de aumento da produtividade o planejamento apresenta-se como
ferramenta para maximizar resutados, reduzir tempo e evitar retrabalho pois
proporciona melhoria na qualidade da mo-de-obra, otimiza recursos, agiliza
decises e padroniza processos. Permite ainda criao de dados histricos que
ajudam a estudar possveis melhorias na produo e alterao nos ndices de
produtividade.
79
Como valores agregados o planejamento possibilita a empresa melhorar
sua imagem empresarial perante seus consumidores e concorrentes atravs de
certificao pela padronizao de processos. Por outro lado tem-se como benefcios
complementares a motivao da equipe de trabalho, organizao e ordem do
canteiro de obras.
Dentre as inmeras ferramentas de planejamento aplicveis ao ramo da
construo civil, existem algumas que se utilizadas de forma racionais podem ser
poderosos instrumentos de reduo de custos e aumento da produtividade como os
projetos de concepo, anteprojetos, projetos bsicos, oramentos paramtricos e
discriminados, discriminaes oramentrias, especificaes tcnicas, caderno de
encargos, memorial descritivo, cronogramas, linhas de balano, redes pert-cpm,
entre outros.
Cada ferramenta de planejamento tem sua importncia, aplicabilidade,
eficincia e especificidade, na maioria das vezes uma ferramenta complementa a
outra. Para mensurar a eficincia ou eficcia destas ferramentas e do processo de
planejamento de extrema importncia que se tenha mecansmos para se
quantificar a eficincia e/ou eficcia do mtodo empregado. Para isto utilizam-se os
indicadores de desempenho.
A deciso de quais ferramentas devem ser utilizadas depender de uma
deciso conjunta da alta gerncia e da equipe de planejadores, levando em
considerao a natureza do trabalho e o tipo/porte da empresa executora.
Assim, verifica-se que nem sempre sistemas complexos so as melhores
alternativas para se desenvolver um planejamento eficaz. Com os elementos
grficos e escritos comumente encontrados numa obra pode-se conseguir um nvel
de preciso adequado para se planejar e executar determinada obra no prazo e com
alta qualidade. Logo as principais ferramentas de planejamento so os projetos de
Arquitetura, os projetos de Engenharia, seus memoriais e relatrios; s precisam ser
elaborados com maior critrio e utilizados de forma estratgia, tcnica e gerencial.
80
O mesmo verifica-se na utilizao de softwares de planejamento, existindo
disponibilidade no mercado dos mais variados tipos, desde os softwares livres
(gratuitos) aos particulares (pagos).
Para se atingir este nvel de qualidade e o cumprimento de prazo descritos,
necessrio que se tenha profissionais experientes e/ou capacitados para
operacionalizar o processo de planejamento. O perfil destes profissionais difere-se
do famoso tocador de obras que se restringe apenas execuo e apresentar
solues imediatistas sem base em estudos e decises pr-estabelecidas. Os
engenheiros planejadores devem possuir conhecimento, destreza, habilidades
especficas e motivao suficiente para liderar relacionamentos, atuando de forma
tcnica com os conhecimentos da rea e, ainda, como gerente de projetos.
Alm do mito do tocador de obras, algumas deficincias podem dificultar a
utilizao de tcnicas de planejamento nas empresas da construo civil como a
centralizao do planejamento em um nico setor, sem que haja uma integrao
com os demais segmentos da Empresa. Isto faz com que o planejamento fique
incompleto e acabe gerando descrdito por falta de certeza de parmetros da sua
concepo. A informalidade acentuada e falta de treinamento, disseminao e
comunicao do planejamento junto ao corpo de colaboradores tambm contribui
para o insucesso deste processo.
Cabe aos engenherios da atualidade o papel fundamental da quebra de
paradigmas em relao a utilizao das tcnicas e ferramentas de planejamento.
Estes paradigmas so fatores preponderantes que dificultam o crescimento do setor
da construo civil no pas. Esta quebra e consequente evoluo fundamental
para que as empresas brasileiras apresentem-se como instituies fortes,
sustentveis e competitivas a nvel mundial.
Para isto, estes profissionais que historicamente so reconhecidos pela
contribuio no desenvolvimento da sociedade, os engenheiros civis, devem cada
vez mais buscar novas tecnologias e mtodos construtivos eficazes e sustentveis,
81
valorizando o ser humano, seu capital intelectual e a relao deste com o meio
ambiente. Como auxlio gerencial desta evoluo, as ferramentas de planejamento
so poderosos instrumentos e so imprescindveis para planejar, executar e
controlar qualquer tipo de atividade construtiva.
Conclui-se, portanto, que o sucesso do planejamento est diretamente
ligado forma que o mesmo ser concebido e executado. Sendo assim, como
considerado um processo, deve ser desenvolvido de forma a garantir sua
continuidade, sendo constantemente avaliado, mensurado e servir de informao
para tomada de decises presentes e futuras. Outro fator fundamental para o
sucesso a disseminao, informao e comunicao do planejamento por todos
os nveis hierrquicos da empresa.
Apesar da grande contribuio e forte base terica do presente estudo, em
virtude do tema abordado ser bastante extenso, importante, relevante e de grande
interesse na Engenharia Civil, deixa-se aqui algumas sugesto para trabalhos
futuros:
a utilizao das ferramentas informatizadas de planejamento, com foco
principal no uso de softwares livres, pois esta uma forte tendncia de uso
em empresas pblicas e privadas, devido ao baixo custo e a liberdade de
adaptao por possuirem cdigo fonte aberto;
estudo de caso comparativo das ferramentas de planejamento com a
execuo da obra, aplicando os princpios da metodologia de projetos com
nfase no ciclo PDCA;
pesquisa da aplicabilidade das ferramentas de planejamento nas empresas
de construo civil da regio metropolitana de Belm, tendo em vista a
necessidade da modernizao de processos produtivos e capacitao de
mo de obra local;
mtodos de avaliao da produtividade adaptados realidade da regio norte
do pas, uma vez que se comparar as produtividades existentes s bases dos
principais softwares de oramento e/ou planejamento h grandes
divergncias.
82
REFERNCIAS
ACKOFF, R.L. Planejamento empresarial. Rio de Janeiro: LTC, 1976.
ALLISON, Elise. Carcassonne. Site da UNC School of Information and Library
Science. Disponvel em http://ils.unc.edu/dpr/archives/sofrance/carcassonne.html>.
Acessado em 10 de Out. 2010.
ASSUMPO, J.F.P.; FUGAZZA, A.E.C. Uso de redes de precedncia para
planejamento da produo de edifcios. In: VII Encontro Nacional de Tecnologia
do Ambiente Construdo, 1998, Florianpolis. Anais... Florianpolis: Universidade
Federal de Santa Catarina, V.2, p. 359-368. 1998.
BERNARDES, M. M. S. Desenvolvimento de um Modelo de Planejamento e
Controle da Produo para Micro e Pequenas Empresas da Construo. Tese
(Doutorado em Engenharia) - Curso de Ps-Graduao em Engenharia Civil.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2001.
Cmara Brasileira da Indstria da Construo. Custo Unitrio Bsico Indicador
dos Custos do Setor da Construo Civil. Disponvel em: <
https://www.cub.org.br/>. Acessado em 20 de Set. 2010.
Caixa Econmica Federal. Sistema de Preos, Custos e ndices - SINAPI.
Disponvel em: <https://www.sipci.caixa.gov.br/SIPCI/servlet/TopController>.
Acessado em 20 de Set. 2010.
CARDOSO, J.G; ERDMANN, R.H. Planejamento e controle da produo na
gesto de servios: O Caso do Hospital Universitrio de Florianpolis. In: XXI
Encontro Nacional de Engenharia de Produo. Salvador, 2001. Anais em CD-
ROM.
83
CIMINO, Remo. Planejar para Construir. So Paulo: Editora Pini, 1997.
CLELAND, David I. et al. Gerncia de projetos. Rio de Janeiro, Reichmann e
Affonso editores, 2002, 324p.
COHAB. Planejamento e Gerenciamento de Obras. Disponvel em:
<http://www.usp.com>, acesso em: 27 de Set. 2010.
DRUCKER, Peter. O novo papel da administrao. So Paulo: Nova Cultural,
1986 (Coleo Harvard de Administrao).
Enciclopdia Virtural. Revoluo Industrial. Disponvel em:
<http://www.enciclopedia.com.pt/images/industrial_revolution.jpg>. Acessado em 20
de Set. 2010.
FERREIRA, Fernanda Maria Pinto Freitas Ramos. Benfcios da Aplicao da
Ferramenta CPM no Planejamento Operacional e no Controle Fsico da
Produo na Indstria da Construo Civil Subsetor de Edificaes. So Paulo:
150p. Tese (Mestrado) Escola Politcnica, Universidade de So Paulo, 2001.
FISCHMANN, A. A., ALMEIDA, M. I. R. Planejamento estratgico na prtica. So
Paulo : Atlas, 1991.
Fundao Getlio Vargas. ndice Naciona da Construo Civil INCC. Disponvel
em <http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92B76
84C11DF> . Acessado em 20 de Set. 2010.
GONZALES, Marco Aurlio Stumpf. Noes de Oramento e Planejamento de
Obras. Disponvel em: <http://www.exatec.unisinos.br/~gonzalez/opo/OPO-
ntaula.pdf>. Acessado em 10 de Out. 2010.
ISATTO, E. et al. Lean construction: diretrizes e ferramentas para o controle de
perdas na construo civil. Porto Alegre: SEBRA-RS, 2000.
84
KOSKELA, Lauri.; An exploration towards a production theory and its
application to construction. 2000. Tese (Doutorado em Engenharia Civil)
Helsinki University of Thechnology, Espoo. Disponvel em:
<http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.6.7
319%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&ei=mbn3TPHAG8T48Aal64n-Bg&usg=AFQjC
NFsvB8A2oXyHxj43gED8c1PGlX4vQ>. Acessado em 15 de Out. 2010.
LAUFER, A.; TUCKER. R. L. Is Construction Planning Realy Doing its Job? A
Critical Examination of Focus, Role and Process. Construction Management
and Economies. Londres, v. 5, n. 3, p. 243-266, 1987.
LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, oramento e controle de projeto e obras.
Rio de Janeiro: Livros Tecnicos e Cientificos Editora, 1996..
MACEDO, Mariano de Matos. Gesto da produtividade nas empresas. Revista fae
business, n.3, set. p. 18 a 23, 2002.
MARQUES JUNIOR, Luiz Jos. Uma contribuio para a melhoria do
planejamento de empreendimentos e construo em organizaes pblicas.
So Paulo, 125p. , 2000.
MATTOS, Aldo Drea. Planejamento e Controle de Obras. So Paulo: Pini, 2010.
MESSEGUER, lvaro. Controle e garantia da qualidade na construo. So
Paulo: SINDUSCON, 1991.
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. Pequenas empresas
crescem e inovam com crdito especial. Disponvel em:
<http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/destaques/destaque.php?sq_c
onteudo=213>. Acessado em 10 de Out. 2010.
85
MOREIRA, D. A. Dimenses do desempenho em manufatura e servios. So
Paulo: Pioneira, 1996.
NIGRO, Sidnei Cobianchi. Refletindo sobre produtividade. So Paulo: XII
SIMPEP-Bauru, 2005.
NOCERA, Rosaldo de Jesus. Planejamento e Controle de Obras com MS
Project. So Paulo: 2007.
PINTO, Tarcsio. De volta questo do desperdcio. Construo. So Paulo,
n.271, p.34-35, dez. 1995.
PORTER, M. E. Estratgia competitiva: tcnicas para anlise da indstria e da
concorrncia. 7 edio. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
PRADO, Darci. Gerenciamento de Projetos nas Organizaes. Belo Horizonte:
EDG, 2003.
SEVERIANO FILHO, C. Produtividade & manufatura avanada. Joo Pessoa.
Editora Universitria. 1999.
SMITH, E. A. Manual da produtividade: mtodos e atividades para envolver os
funcionrios na melhoria da produtividade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1993.
SCHOLLES P. R. O manual do lder: um guia prtico para inspirar sua equipe e
gerenciar o fluxo de trabalho no dia-a-dia. Trad. Bazn Consultoria e Lingstica,
Rio de Janeiro, Qualitymark: Rio de Janeiro, 1999.
SLACK, Nigel et al. Administrao da produo. Traduo A. B. Brando et al.
So Paulo: Atlas, 1997.
SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Como Reduzir Perdas nos Canteiros -
Manual de Gesto da Construo Civil. So Paulo: Pini, 2005.
86
SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes. Como Medir a Produtividade da Mo-de-obra
na Construo Civil. Disponvel em: < http://www.gerenciamento.ufba.br/
Disciplinas_arquivosM%C3%B3dulo%20VI%20Produtividade/como%20medir%20pr
odutividade%20-20geral%20-%20Entac.pdf>. Acessado em 10 de Out. 2010.
STONER, James A. F. e FREEMAN, R. Edward. Planejamento Estratgico como
Instrumento de Mudana Organizacional. Braslia: Editora Universidade de
Braslia, 1996.
Vatican: the Holy See. Disponvel em: < http://www.vatican.va/phome_po.htm>.
Acessado em 10 de Out. 2010.
VIEIRA NETTO, Antnio. Construo Civil & Produtividade: ganhe pontos
contra o desperdcio. So Paulo: Pini, 1993.
Wikibooks. Civilizaes da Antiguidade/Civilizao do Vale do Indo. Disponvel
em: < http://pt.wikibooks.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%B5es_da_Antiguidade/Civil
iza%C3 %A7%C3%A3o_do_Vale_do_Indo>. Acessado em 10 de Out. 2010.
87
ANEXOS
ESTUDO DE CASO
Para demonstrar a aplicabilidade das ferramentas de planejamento em
obras civis de forma simplificada, foi utilizado como estudo de caso um edifcio tipo
trreo com rea total 380m, projetado para ser construdo na regio metropolitana
de Belm Par. Por questes de sigilo e tica no ser possvel mencionar a
localizao exata e a responsvel pela obra. Assim, para fins acadmicos, ser
caracterizada a obra como Construo do Escritrio e Centro de Treinamento
em Belm.
Como o projeto est em fase de concepo e planejamento no ser
possvel a realizao de comparativo do que est sendo planejado com o
executado, restringindo-se o presente estudo apenas fase de concepo da obra.
Assim as ferramentas de planejamento foram comparadas umas com as outras e
apresentadas as principais caractersticas de cada uma, evidenciando suas
vantagens, limitaes, aplicabilidades e integrao.
88
ANEXO I
ESTUDO PRELIMINAR
Na pgina seguinte apresenta-se um modelo simplificado de Estudo
Preliminar. Este documento serve como configurao inicial da soluo
arquitetnica proposta (partido arquitetnico), considera os elementos principais de
um programa de necessidades. Este estudo ir apresentar de forma simplificada as
necessidades bsicas apresentadas pelo cliente para incio do processo de
planejamento.
PRINCIPAIS VANTAGENS PRINCIPAIS LIMITAES
Registro das primeiras necessidades do
cliente e definio da delimitao do
projeto, ou seja, at onde se pretende
chegar com o referido projeto.
Poucos detalhes construtivos, grande
empirismo de informaes.
ALGUMAS APLICABILIDADES AO PLANEJAMENTO
Incio do processo de planejamento input inicial ou start do processo.
INTEGRAO COM OUTRAS FERRAMENTAS
Por ser o start do processo todas as demais ferramentas so baseadas nesta.
89
ESTUDO PRELIMINAR
1. Informaes
a) Definies preliminares:
Objetivos do cliente e da obra: Construo de um edifcio para escritrio Empresa
Pblica
Prazos: at 150 dias a partir de 03/11/2011
Recursos disponveis: R$ 400.000,00
Padro de construo e acabamentos pretendidos: Construo alto nvel com
acabamento superior
b) Programa de necessidades/dimensionamento da obra:
Caractersticas funcionais: O edifcio a ser projetado deve ser compatvel atividade
a ser desenvolvida e possuir caractersticas que garantam acessibilidade a
portadores de necessidades especiais.
Atividade que ir abrigar: Escritrio servios burocrticos e administrativos.
Compartimentao e dimensionamentos:
- A edificao dever possuir rea total: 380m, com os seguintes compartimentos:
- 01 auditrio p/ 15 pessoas climatizado;
- 01 sala de reunies p/ 10 pessoas climatizado;
- 01 secretaria/atendimento p/ 01 pessoa;
- 01 sala de servios burocrticos p/ 10 estaes de trabalho;
- 01 sala para superviso p/ 02 supervisores;
- 01 copa/cozinha com local para refeies;
- 02 depsitos;
- 03 banheiros sendo: 01 masculino, 01 feminino e 01 PNE compatvel com nmero
de usurios da edificao;
- 01 jardim (mini praa) ao centro da edificao.
c) Informaes sobre o terreno:
Aps realizao de laudos de sondagem conclui-se que o terreno apresenta boas
caractersticas construtivas, sendo verificado atravs de Sondagem SPT, que as
camadas superficiais j apresentam resistncia para suportar fundaes no muito
profundas, com solo apresentando caractersticas arenosas bem compactas. O terreno
apresenta dimenses apropriadas para rea a ser projetada, de acordo com escrituras e
plantas disponibilizadas, sendo plano, com vegetao rasteira.
Os levantamentos arquitetnicos detalhados, em escala adequada, de construes foram
apresentados e as sondagens de reconhecimento do solo, apresentadas de acordo com
as Normas Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo as diretrizes para sondagens da
Associao Brasileira de Mecnica dos Solos.
Sobre os dados sobre drenagem, visando subsidiar a concepo estrutural e o projeto de
fundaes da obra e dados geoclimticos apresentam caractersticas apropriadas para
construo.
90
d) informaes sobre o entorno:
O terreno encontra-se em zona rural no existindo padres arquitetnicos e
urbansticos definido no local. A logstica e infra-estrutura disponvel garante bom
andamento da obra sem grandes problemas de mobilizao. O local prximo
centros urbanos no dificultando compra de materiais de obra.
PROGRAMA DE NECESSIDADES SIMPLIFICADO
O cliente deseja a elaborao de Planejamento de Obra para verificar a viabilidade
tcnica de contratao e execuo, solicitando a elaborao dos seguintes elementos:
Estudo Preliminar:
(X) Memorial descritivo
(X) Planta baixa e de cobertura
Anteprojeto:
( ) Planta de situao
( ) Planta de cada pavimento
( ) Planta detalhada da cobertura
( ) Cortes esquemticos
( ) Fachadas
( ) Perspectivas, maquete, modelo reduzido
( ) Pr-oramento estimativo (paramtrico)
Projeto bsico:
(X) Memorial e especificaes tcnicas
(X) Planilha Oramentria
Projeto Executivo:
(X) Projetos estruturais e fundaes
(X) Projetos eltrico e de rede lgica
( ) Sistema de Proteo de Descargas Atmosfricas (SPDA)
( ) Sistema de Proteo e combate a incndios
( ) Sistema de Proteo de Descargas Atmosfricas (SPDA)
( ) Sistema de Proteo de Descargas Atmosfricas (SPDA)
Belm PA, ____ de _______ de 2010.
___________________________
Contratada
___________________________
Contratante
91
ANEXO II
ORAMENTO PARAMTRICO
Na pgina seguinte apresenta-se um modelo de Oramento Paramtrico.
Este documento serve para definir o valor de parmetro da obra, ou seja, qual o
valor global (custo) que a empresa ter para poder realizar determinado
empreendimento.
PRINCIPAIS VANTAGENS PRINCIPAIS LIMITAES
Rpida execuo. No h detalhamento de servios
unitrios.
ndices padronizados a nvel estadual e
federal.
Atualizao dos dados geralmente no
acompanham a velocidade do mercado.
Definio de ndices estabelecidos por
normatizao especfica.
Algumas divergncias com oramentos
com base em preos locais (variao de
preos cidade para cidade).
ALGUMAS APLICABILIDADES AO PLANEJAMENTO
Prestar informaes para tomada antecipada de decises referentes parte
financeira/oramentria.
Parmetro de comparao com oramento discriminado e base de preos para
categoria.
INTEGRAO COM OUTRAS FERRAMENTAS
Base comparativa para o Oramento Discriminado.
92
ORAMENTO PARAMTRICO
O presente oramento serve para fins de verificaes iniciais e estudo de
viabilidade da Construo do Escritrio e Centro de Treinamento em Belm. Como
base de parmetro foi utilizado o Custo Unitrio Bsico (CUB) estadual, base
Sinduscon-Par calculados de acordo com a Lei Fed. n. 4.591, de 16/12/64 e com
a Norma Tcnica NBR 12.721:2006 da Associao Brasileira de Normas Tcnicas
(ABNT) e so correspondentes ao ms de Outubro/2010.
Custos Unitrios Bsicos de Construo
(NBR 12.721:2006 - CUB 2006) - Outubro/2010
PROJETOS - PADRO COMERCIAIS CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas):
Valores em R$/m
PADRO NORMAL PADRO ALTO
CAL-8 940,86 CAL-8 1.007,96
CSL-8 814,38 CSL-8 886,39
CSL-16 1.087,58 CSL-16 1.182,57
Tendo em vista os estudos preliminares, por o edifcio se tratar de padro
alto com acabamento superior, tem-se:
rea total da edificao: 380m;
CAL-8: R$ 1.007,96 por m;
Valor de Parmetro: 380m x 1.007,96 = R$ 383.024,80
Concluso:
O valor de parmetro do CUB/m para construo do Escritrio e Centro de
Treinamento em Belm de R$ 383.024,80 (trezentos e oitenta e trs mil, vinte
quatro reais e oitenta centavos).
Belm PA, ___ de ______ de 2010.
___________________________
Contratada
___________________________
Contratante
93
ANEXO III
ORAMENTO DISCRIMINADO
Nas pginas seguintes apresenta-se um modelo de Oramento
Discriminado. Este documento serve para definir o valor unitrio de cada servio que
ser necessrio para a execuo da obra, suas unidades, quantitativos e preos.
Junto ao oramento discriminado foi realizada uma comparao com o oramento
paramtrico para avaliar sua consistncia.
PRINCIPAIS VANTAGENS PRINCIPAIS LIMITAES
Maior detalhamento oramentrio. Demora para definio de custos
unitrios caso no seja utilizado software
especfico para este fim.
Nvel de preciso adequado se bem
elaborado.
Problemas de execuo
financeira/oramentria se mal
elaborado.
Acompanha o preo de mercado. Falta de padronizao em alguns casos.
ALGUMAS APLICABILIDADES AO PLANEJAMENTO
Prestar informaes detalhadas de servios para tomada antecipada de decises
referentes parte financeira/oramentria.
Base para elaborao de cronogramas diversos.
INTEGRAO COM OUTRAS FERRAMENTAS
Base comparativa com Oramento Paramtrico
Sua base de dados so as composies unitrias e discriminao oramentria.
Integra-se com cronogramas diversos.
detalhado pelo memorial descritivo e especificaes tcnicas.
94
ORAMENTO DISCRIMINADO
O presente oramento foi desenvolvido utilizando a base de dados do TCPO 13 da Editora Pini, verso eletrnica,
adaptado ao preo de mercado praticado na regio de Belm:
ORAMENTO BSICO DE CUSTOS
Construo do Escritrio e Centro de Treinamentos em Belm
Leis Sociais=120% BDI=25% DATA: ___/___/2010
ITENS DESCRIO UNID. QUANT.
PREO UNIT.
MATERIAL
PREO UNIT.
MO DE OBRA
PREO
MATERIAL +
MO DE OBRA PREO TOTAL
1 SERVIOS PRELIMINARES 30.501,05
01.01 Placa da Obra M2 6,00 32,45 97,36 129,81 778,86
01.02 Limpeza do terreno (60x50) M2 300,00 0,00 1,44 1,44 432,00
01.03 Locao da obra a aparelho (teodolito ou estao total (25x25) M2 625,00 0,44 1,76 2,20 1.375,00
01.04 Licenas e taxas UNI 1,00 2.284,00 0,00 2.284,00 2.284,00
01.05 Tapume c/ Chapa de Compensado OSB (h=2,00m) M2 200,00 26,46 17,70 44,16 8.832,00
01.06 Mobilizao da obra UNI 1,00 3.365,00 0,00 3.365,00 3.365,00
01.07 Barraco de madeira M2 60,00 32,73 49,00 81,73 4.903,80
01.08 Ligao provisria luz UNI 1,00 720,00 480,00 1.200,00 1.200,00
01.09 Ligao provisria - gua/esgoto UNI 1,00 517,31 300,00 817,31 817,31
01.10 Administrao da Obra MS 4,00 0,00 1.628,27 1.628,27 6.513,08
2 MOVIMENTO DE TERRA 6.335,71
02.01 Escavao manual at 1,50m de profundidade / Sapatas M3 36,00 0,00 19,99 19,99 719,64
02.02 Corte do terreno (Plat h=0,60cm) c/ mquina UNI 1,00 1.600,00 1.044,00 2.644,00 2.644,00
02.03 Reaterro compactado / Cavas de sapatas M3 24,80 0,00 19,39 19,39 480,87
95
ORAMENTO BSICO DE CUSTOS
Construo do Escritrio e Centro de Treinamentos em Belm
Leis Sociais=120% BDI=25% DATA: ___/___/2010
ITENS DESCRIO UNID. QUANT.
PREO UNIT.
MATERIAL
PREO UNIT.
MO DE OBRA
PREO
MATERIAL +
MO DE OBRA PREO TOTAL
02.04 Aterro com material da obra inclusive apiloamento / Nivelamento M3 240,00 0,00 10,38 10,38 2.491,20
3 INFRA-ESTRUTURA / SAPATAS 8.557,78
03.01 Lastro de concreto magro com seixo M3 1,92 215,00 116,62 331,62 636,71
03.02 Forma com madeira branca M2 68,40 26,72 18,00 44,72 3.058,85
03.03 Armao para concreto KG 67,50 7,03 1,00 8,03 542,03
03.04 Concreto virado em obra com seixo Fck=25 Mpa M3 9,60 319,15 116,62 435,77 4.183,39
03.05 Desforma M2 68,40 0,00 2,00 2,00 136,80
4 SUPERESTRUTURA 67.236,62
04.01 Forma com madeira branca (Cintamento/Pilares/Vigas) M2 435,50 26,72 18,00 44,72 19.475,56
04.02 Laje pr-moldada mista (isopor) M2 240,00 51,30 21,30 72,60 17.424,00
04.03 Armao para concreto KG 2.150,00 7,03 1,00 8,03 17.264,50
04.04 Concreto virado em obra com seixo Fck=25 Mpa M3 28,00 319,15 116,62 435,77 12.201,56
04.05 Desforma M2 435,50 0,00 2,00 2,00 871,00
5 PAREDES 11.510,28
05.01 Alvenaria de tijolo de barro a 1/2 vez M2 372,00 12,54 15,30 27,84 10.356,48
05.02 Verga pr-moldada de concreto ML 10,00 13,26 25,20 38,46 384,60
05.03 Contra verga pr-moldada de concreto / janelas / balancins ML 20,00 13,26 25,20 38,46 769,20
6 COBERTURA 32.273,84
06.01 Estrutura em madeira de Lei M2 313,00 18,70 17,09 35,79 11.202,27
06.02 Cobertura em telha ondulada 6mm com acessrios de fixao. M2 313,00 31,40 29,00 60,40 18.905,20
06.03 Rinco em chapa galvanizada L=1,00m ML 20,00 11,25 30,00 41,25 825,00
96
ORAMENTO BSICO DE CUSTOS
Construo do Escritrio e Centro de Treinamentos em Belm
Leis Sociais=120% BDI=25% DATA: ___/___/2010
ITENS DESCRIO UNID. QUANT.
PREO UNIT.
MATERIAL
PREO UNIT.
MO DE OBRA
PREO
MATERIAL +
MO DE OBRA PREO TOTAL
06.04 Calha beiral PVC 150mm c/ condutores e acessrios ML 31,00 8,57 34,70 43,27 1.341,37
7 IMPERMEABILIZAES 5.557,26
07.01 Impermeabilizaes para baldrame (Igol2 + Sika1) M2 141,00 13,76 18,20 31,96 4.506,36
07.02 Impermeabilizaes rinco em chapa galvanizada (Igolflex + Sika1) M2 31,00 15,56 18,34 33,90 1.050,90
8 ESQUADRIAS 18.683,85
08.01 Porta de madeira c/ caixilho e alizar M2 15,33 57,38 300,00 357,38 5.478,64
08.02 Esquadria em vidro temperado 8mm de correr - completa M2 18,48 0,00 468,75 468,75 8.662,50
08.03 Esquadria em vidro temperado 8mm tipo max.ar - completa M2 3,60 0,00 468,75 468,75 1.687,50
08.04 Porta em blindex c/ ferragens (instalada) s/ mola M2 1,89 0,00 468,75 468,75 885,94
08.05 Ferragens para porta interna 1 folha CJ 9,00 0,00 123,08 123,08 1.107,72
08.06 Ferragens para porta banheiro CJ 7,00 0,00 123,08 123,08 861,56
9 REVESTIMENTO (INTERNO - EXTERNO) 37.677,28
09.01 Chapisco em tetos e paredes M2 984,60 1,71 2,20 3,91 3.849,79
09.02 Reboco paulista em tetos e paredes (int./ext.) M2 984,60 12,15 12,00 24,15 23.778,09
09.03 Azulejo a prumo - 30x20cm de 1 qualidade M2 180,00 23,50 32,33 55,83 10.049,40
10 RODAPS, SOLEIRAS E PEITORIS 7.654,80
10.01 Peitoril em granito c/ rebaixo e=3cm M2 16,00 362,00 20,00 382,00 6.112,00
10.02 Rodap em porcelanato natural h=7cm ML 123,00 8,04 3,00 11,04 1.357,92
10.03 Soleiras em granito e=2cm M2 0,81 208,25 20,00 228,25 184,88
11 PISOS 29.349,42
11.01 Camada impermeabilizadora com Sika1 M2 240,00 7,57 27,50 35,07 8.416,80
97
ORAMENTO BSICO DE CUSTOS
Construo do Escritrio e Centro de Treinamentos em Belm
Leis Sociais=120% BDI=25% DATA: ___/___/2010
ITENS DESCRIO UNID. QUANT.
PREO UNIT.
MATERIAL
PREO UNIT.
MO DE OBRA
PREO
MATERIAL +
MO DE OBRA PREO TOTAL
11.02 Camada regularizadora (c/piso) M2 240,00 7,03 10,00 17,03 4.087,20
11.03 Lajota PEI-5 30x20 de 1 qualidade M2 240,00 23,50 32,33 55,83 13.399,20
11.04
Calada de proteo L=1,00m (inc. baldrame, concreto com junta
plstica) e=10cm - interna/externa M2 57,00 23,15 37,31 60,46 3.446,22
12 INSTALAES COMPLEMENTARES 87.404,77
12.01 Instalao Eltrica
12.01.01 Ramal de entrada CJ 1,00 14.103,88 2.074,38 16.178,26 16.178,26
12.01.02 Eltrica (tomadas/iluminao interna e externa) CJ 1,00 18.633,38 6.050,63 24.684,01 24.684,01
12.01.03 Eltrica estabilizada CJ 1,00 4.490,63 2.351,88 6.842,51 6.842,51
12.01.04 Rede lgica estruturada CJ 1,00 10.921,25 3.623,13 14.544,38 14.544,38
12.01.05 Ramal de entrada (telefone) CJ 1,00 564,25 347,38 911,63 911,63
12.01.06 Refrigerao CJ 1,00 7.185,88 4.746,25 11.932,13 11.932,13
12.02 Instalao Hidrosanitria
12.02.01 gua fria / Ptos de gua (tubo/conexes) PTO 16,00 118,15 92,81 210,96 3.375,36
12.02.02 Esgoto / Ptos - tubos / conexes, cxs e ralos PTO 8,00 118,15 114,39 232,54 1.860,32
12.02.03 Reservatrio de gua em fibra 1000 lts UNI 1,00 122,30 524,70 647,00 647,00
12.02.04 Fossa sptica c.A p/ 30 pessoas CJ 1,00 1.864,00 800,67 2.664,67 2.664,67
12.02.05 Filtro anaerbico CJ 1,00 1.025,00 599,30 1.624,30 1.624,30
12.02.06 Sumidouro CJ 1,00 1.050,00 390,20 1.440,20 1.440,20
12.02.07 Caixa em alvenaria c/ tampa concreto - 40x40x50 CJ 7,00 75,00 25,00 100,00 700,00
98
ORAMENTO BSICO DE CUSTOS
Construo do Escritrio e Centro de Treinamentos em Belm
Leis Sociais=120% BDI=25% DATA: ___/___/2010
ITENS DESCRIO UNID. QUANT.
PREO UNIT.
MATERIAL
PREO UNIT.
MO DE OBRA
PREO
MATERIAL +
MO DE OBRA PREO TOTAL
13 APARELHOS, LOUAS, METAIS E ACESSRIOS 5.379,24
13.01 Bacia c/ cx acoplada Deca Ibzy c/ assento CJ 5,00 336,00 10,00 346,00 1.730,00
13.02 Lavatrio de loua c/ coluna (torn/vlvula sifo) CJ 5,00 248,00 10,00 258,00 1.290,00
13.03 Lavatrio de loua c/ coluna PPNE completo CJ 1,00 389,00 10,00 399,00 399,00
13.04 Bancada de pia em inox - 1,50x0,60 (torn/vlvula sifo) CJ 1,00 389,42 10,00 399,42 399,42
13.05 Ducha higinica cromada CJ 3,00 148,65 10,00 158,65 475,95
13.06 Kit acessrios p/ banheiro cromado CJ 3,00 110,19 10,00 120,19 360,57
13.07 Barras de inox PPNE CJ 1,00 326,54 10,00 336,54 336,54
13.08 Mictrio em loua c/ acessrios CJ 1,00 377,76 10,00 387,76 387,76
14 INST.PROTEO / COMBATE INCNDIO 3.510,00
14.01 Extintor fosfato de monoamnico de 6kg CJ 6,00 420,00 5,00 425,00 2.550,00
14.02 Luminrias de emergncia CJ 8,00 108,00 12,00 120,00 960,00
15 PINTURA 17.836,27
15.01 Acrlica fosca int./ext. c/ massa e selador M2 984,60 6,69 10,00 16,69 16.432,97
15.02 Verniz poliuretanico sobre madeira (esq.madeira) M2 47,52 5,25 6,00 11,25 534,60
15.03 Esmalte sobre tinta anti-ferrugens (gradil) M2 36,50 7,25 16,55 23,80 868,70
16 DIVERSOS 8.831,70
16.01 Grade em 1/2" em janelas/balancins M2 26,50 127,80 30,00 157,80 4.181,70
16.02 Torre para caixa d'gua h=40m (alvenaria) CJ 1,00 518,00 918,00 1.436,00 1.436,00
16.03 Corrimo em alumnio - rampa PPNE ML 8,30 143,65 15,00 158,65 1.316,80
16.04 Portes de entrada (pessoa/veculos) M2 10,20 166,00 20,00 186,00 1.897,20
99
ORAMENTO BSICO DE CUSTOS
Construo do Escritrio e Centro de Treinamentos em Belm
Leis Sociais=120% BDI=25% DATA: ___/___/2010
ITENS DESCRIO UNID. QUANT.
PREO UNIT.
MATERIAL
PREO UNIT.
MO DE OBRA
PREO
MATERIAL +
MO DE OBRA PREO TOTAL
17 LIMPEZA FINAL 6.518,58
17.01 Limpeza geral p/ entrega da obra M2 313,00 2,36 2,30 4,66 1.458,58
17.02 Remoo de canteiro VB 1,00 2.380,00 0,00 2.380,00 2.380,00
17.03 Urbanizao (jardisn/bancos e etc) VB 1,00 2.000,00 680,00 2.680,00 2.680,00
TOTAL GERAL 384.818,45
Ao se comparar o oramento paramtrico com o oramento discriminado, percebe-se uma diferena de R$ 1.793,65 (um
mil, setecentos e noventa e trs reais e sessenta e cinco centavos) que corresponde a um aumento de 0,46% em relao
ao oramento de parmetro. Pode-se verificar que h consistncia no oramento discriminado, sendo um valor
compatvel com o preo praticado na regio informado pelo sindicato da categoria.
100
ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO
Nas pginas seguintes apresenta-se um modelo de Memorial Descritivo.
Este documento serve para detalhar projetos e demais elementos que compe o
projeto, como oramentos, despesas diversas, servios, etc.
PRINCIPAIS VANTAGENS PRINCIPAIS LIMITAES
Liberdade para detalhar o mximo
possvel os elementos do projeto.
Demanda tempo considerado para
elaborao.
D consistncia e permite registro de
informaes importantes do projeto.
Se mal elaborado pode gerar dvidas e
divergncia entre elementos do projeto.
Impe condies contratuais e padroniza
mtodos construtivos, contm
especificaes tcnicas.
essencialmente textual, deve ser
complementado com projetos de
engenharia e arquitetnicos
ALGUMAS APLICABILIDADES AO PLANEJAMENTO
Traz informaes relevantes sobre tcnicas e procedimentos construtivos bem
como detalha o Oramento Discriminado de forma tcnica evitando erros na
aquisio de materiais, definindo procedimentos e mtodos de trabalho.
D consistncia aos contratos e demais ferramentas de planejamento, servindo
como complementao de informaes.
INTEGRAO COM OUTRAS FERRAMENTAS
Integra-se com oramento discriminado e todas demais ferramentas.
101
MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVOS
O presente documento tem por objetivo especificar os materiais,
equipamentos e servios para as aes de construo, do Escritrio e Centro de
Treinamentos de Belm. Visa complementar informaes de plantas e projetos,
disciplinar rotinas e procedimentos para execuo dos servios de forma a
assegurar o cumprimento do Cronograma Fsico-Financeiro, com qualidade,
racionalidade, economia, segurana, alm de subsidiar as aes da Fiscalizao.
CONDIES PRELIMINARES
Qualquer alterao, caso necessrio, no projeto arquitetnico ou nas
especificaes tcnicas, dever ser submetida, previamente, apreciao dos
profissionais autores e/ou revisores do projeto. Os servios a serem executados
devero obedecer s presentes Especificaes Tcnicas e quaisquer alteraes
nas mesmas, se necessrias, somente podero ser feitas mediante prvia
autorizao, por escrito, da fiscalizao.
A execuo de qualquer servio dever obedecer s prescries contidas
na ABNT, relativas execuo dos servios especficos para cada instalao e s
recomendaes e prescries do fabricante para os diversos materiais.
Todos os materiais a serem empregados nos servios devero ser de
primeira qualidade, sendo recusados pela fiscalizao materiais no especificados.
Os servios imperfeitos devero ser prontamente refeitos a expensas da
Contratada.
Todos e quaisquer danos causados ao prdio, provenientes dos servios a
serem executados (circulao de homens e materiais, manuseio de materiais e
equipamentos, etc.) devero ser reparados pela contratada, s expensas da
mesma.
A Contratada se obrigar a apresentar uma relao nominal dos operrios
que executaro os servios objeto das presentes especificaes, devendo esses
funcionrios fazer uso dos crachs de identificao durante os servios. Todos os
102
operrios devero usar equipamentos de proteo, assim como os tcnicos e
engenheiros que atuarem nas obras. Todas as normas de segurana devero ser
rigorosamente respeitadas.
Todos os equipamentos ou materiais que porventura demandem maior
tempo para instalao, fornecimento ou adoo, devero ser providenciados pela
Contratada em tempo hbil, visando no acarretar descontinuidade evoluo da
obra, em qualquer de suas etapas.
Quando houver razes ponderveis ou relevantes para a substituio de
determinado material anteriormente especificado por outro, a Contratada dever
apresentar, por escrito, com antecedncia de 10 (dez) dias, a respectiva proposta
de substituio, instruindo-a com os motivos determinantes da substituio.
A substituio somente ser efetivada se aprovada pela fiscalizao, se no
implicar em nus adicionais e se a mesma resultar em melhoria tcnica ou
equivalncia comprovada, a critrio da FISCALIZAO.
Nos casos onde couber a aceitao pelos rgos pblicos competentes e
concessionrios de servios executados, de exclusiva responsabilidade da
executante as correes das imperfeies e no conformidades que obstruam a
obteno da referida aceitao.
Ser procedida a peridica remoo de entulho e detritos que venham a se
acumular no decorrer da obra. O transporte do entulho correr s expensas da
Contratada.
As Empresas, em suas propostas, devero apresentar planilha com as
discriminaes dos servios, quantitativos e custos unitrios. Na proposta dever
ser discriminado o percentual incidente sobre o valor total da obra, correspondente
ao BDI (Bonificao e Despesas Indiretas), bem como a composio do respectivo
BDI.
103
2.1) Procedncia dos Dados:
- Em casos de divergncia entre cotas do Projeto Bsico e suas dimenses
medidas em escala, prevalecero as primeiras.
- Em casos de divergncias entre desenhos, prevalecer o de maior escala ou de
data mais recente.
- Em casos de divergncias entre desenhos e especificaes prevalecero as
especificaes.
- Em casos de divergncia entre o Projeto Bsico e os demais, prevalece o Projeto
Bsico.
- Em casos de divergncia entre o oramento e as especificaes, prevalecero as
especificaes.
1 - PROJETOS
A CONTRATANTE fornecer o Projeto Bsico cabendo a contratada a
elaborao e fornecimento dos projetos executivos necessrios execuo da
obra.
A contratada ser responsvel integralmente pelas aprovaes dos projetos
nos rgo pblicos e concessionrias de servios, de forma a atender todas as
exigncias da legislao vigente, ficando a cargo da mesma todos os custos
relativos aprovao dos mesmos.
104
2 - DESPESAS DIVERSAS
Administrao da Obra
Engenheiro Civil
Este deve permanecer na referida obra por um perodo mnimo de 2 (duas)
horas por dia. O mesmo deve ter concludo o curso superior em engenharia civil por
uma escola de engenharia reconhecida pelo MEC e estar em dia com suas
obrigaes junto ao CREA.
Mestre de Obras
Este deve permanecer na referida obra por um perodo integral. Comprovar
experincia ao longo do curso da obra sendo este avaliado indiretamente pelo fiscal
da obra, com base no cumprimentos aos prazos estabelecidos no cronograma e
pela qualidade dos servios executados.
Instalaes provisrias
Instalao provisria de energia
Esta deve ser dimensionada para os equipamentos/iluminao constantes
no canteiro, conforme a NBR 5410 e normas da concessionria de energia local,
ateno especial deve ser dada a obrigatoriedade da utilizao de dispositivo DR
(Diferencial Residual), que protege os usurios de choques eltricos.
Instalao provisria de gua/esgoto
Deve ser projetada para atender as demandas da obra e dos funcionrios desta,
com a utilizao de fonte de gua potvel e correta destinao dos efluentes do
esgoto.
105
3 SERVIOS PRELIMINARES
Limpeza Manual do Terreno
Devero ser executados de forma a deixar completamente livre no s toda a rea
da obra, como tambm os caminhos necessrios ao transporte e arrumao dos
materiais de construo. No caso de destocamento, dever ser executado de forma
a no deixar razes ou troncos de rvores, que possam prejudicar os trabalhos ou a
prpria obra.
Locao da Obra
Devero ser utilizadas tbuas e pontaletes de boa qualidade, cuja implantao
dever obedecer s caractersticas do terreno e s informaes dos projetos de
fundao e arquitetura.
Licenas e Taxas
Devero estar includas neste item, todos os documentos necessrios para cada
tipo de licena de competncia de cada obra, incluindo a taxa do CREA.
Placa da Obra
As placas dever ser em chapa galvanizada n26 e pintadas com tinta leo,
com dimenses 3,00 x 2,00m obedecendo o modelo fornecido. Ficar a cargo
exclusivo da Contratada a instalao da Placa da Obra, com a identificao dos
responsveis tcnicos da empresa contratada.
106
Mobilizao / desmobilizao de canteiro
Estas devem ser executadas em momentos oportunos para que a obra no
fique desprovida de instalaes, e equipamentos ou fique com as mesmas alem do
tempo necessrio.
Barraco para depsito
Dever ser construdo um barraco para depsito em chapa em tbua de
madeira bruta. Ficar a cargo exclusivo do construtor todas as providncias
correspondentes s instalaes destinadas s reas de depsitos de materiais e
das ferramentas, preparo de frmas e armaduras, oficinas, escritrio, refeitrio e
sanitrios.
Tapume
Este devera ser executado na frontal e fundos do terreno, de instalao da
obra, com compensado plastificado fabricado com cola fenlica de espessura 10
mm, sendo estes fixados atravs de barrotes de madeira 3 x 3, a cada 2,2 metros.
Neste devem ser previstas portas para entrada de pessoas e automveis.
Instalaes Provisrias
Instalaes Hidrosanitrias
Quando o local da obra no possuir rede coletoras de esgoto, dever ser
instalado fossa sptica e sumidouro de acordo com as prescries mnimas
estabelecidas pela NB-4118.
A instalao sanitria dever ser constituda de lavatrio, vaso sanitrio e
mictrio na proporo de um conjunto para cada grupo de vinte trabalhadores, bem
como de chuveiros, na proporo de um para cada grupo de dez trabalhadores.
107
Instalaes de Luz
A ligao provisria de energia eltrica do canteiro de obras, dever
obedecer rigorosamente as normas e prescries da concessionria de energia
eltrica do local.
4 MOVIMENTO DE TERRA
Aterro Compactado
Dever ser executado em camadas de 20 cm. A princpio este servio ser
executado sem material de emprstimo.
Reaterro Compactado (cavas da sapatas)
O reaterro ser isento de matrias orgnicos e compactado em camadas
sucessivas no superiores a 20cm, de preferncia com emprego de compactadores
manuais e mecnicos.
Escavao Manual
A fundao da obra ser executada em sapatas de concreto aramado com
profundidade, dimenses e resistncia do concreto explicitada do projeto estrutural.
5 INFRA-ESTRUTURA/SAPATAS
As fundaes sero executadas de acordo com as normas da ABNT,
atinentes ao assunto. Caber ao construtor proceder verificao da taxa de
trabalho do terreno adaptada na elaborao do projeto, ficando a seu cargo
quaisquer modificaes que venha sofrer o projeto de fundaes.
108
A execuo das fundaes implicar na responsabilidade integral do
construtor pela resistncia das mesmas e pela estabilidade da obra.
Concreto Magro
Dever ser feita concretagem, no fundo da escavao das sapatas, blocos
e na base das vigas baldrames, com concreto magro no trao de 1:4:8.
Concreto armado para fundaes
ARMADURA
As barras de ao utilizadas para as armaduras das peas de concreto
armado, bem como sua montagem, devero atender ao projeto estrutural e
prescries das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: NBR-6118,
NBR-7480, NBR-7478.
CONCRETO VIRADO EM OBRA COM SEIXO FCK=25MPA
O concreto estrutural dever ser dosado de modo a assegurar a resistncia
mnima exigida no projeto. Se o concreto for fabricado no canteiro, sua mistura
dever ser feita em betoneira e atender aos seguintes requisitos:
- O cimento a ser utilizado ser o CP-320 e dever ser, como exigncia mnima, de
marca oficialmente aprovada. O cimento dever ser indicado em peso, no se
permitindo o seu emprego em frao de saco.
- Os agregados grados sero de seixo, isentos de substncias nocivas ao seu
emprego, tais como argila, material pulverulento, gravetos e outros.
- Nos agregados midos ser utilizada areia comum, com uma granulometria que
se enquadre no especificado pela NBR-7211.
109
- A gua usada dever ser limpa e isenta de siltes, sais, cidos, leos, matria
orgnica ou qualquer outra substncia prejudicial mistura. Em princpio, a gua
potvel poder ser utilizada. O fator gua/cimento dever ser rigorosamente
observado, com a correo da umidade do agregado.
- Dever ser feito o controle tecnolgico por empresa especializada de acordo com
a NBR.
- O adensamento do concreto dever ser mecnico, com vibrador.
FORMAS COM MADEIRA BRANCA
A forma dever ser executada em tbuas de madeira branca e apoiadas
em barrotes, colocadas a espao regulares correspondentes ao vo livre adotados
para a forma. Os painis da forma devero ser formados de tbuas brancas ligadas
por sarrafos em madeiras, estes painis devero servir para pisos de lajes, faces de
vigas , pilares e paredes.
6 ESTRUTURA
Forma com madeira branca
Ver item 5 referente a forma.
Laje pr-moldada (Isopor)
As lajes sero executadas em pr-moldadas do tipo Volterrana com
utilizao de isopor, sendo lanado uma camada de 4cm de concreto FCK=25MPA.
110
Armao para concreto
Ver item 5 referente a armao.
Verga de Pr-moldada de Concreto/Contra verga
Sobre os vos de portas e janelas com vo inferiores a 2 m, devero ser
colocadas vergas e contra vergas de concreto armado, com dimenses 10 x 10 cm.
Nos vos maiores que 2 m as vergas tero dimenses de 10 x 20 cm, todas com
concreto no trao 1:3:5, com comprimento excedendo no mnimo 0,30 m de cada
lado do vo.
Concreto Armado
Ver item 5, referente concreto virado em obra com seixo fck=25mpa.
7 - PAREDES
Alvenaria de Tijolo Cermico Furado
Nos locais e dimenses indicados em planta, a alvenaria ser
executada com tijolos cermicos de 6 ou 8 furos, de 1 qualidade, assentados
com argamassa de cimento, quimical e areia, no trao 1:2:8, com as juntas
verticais desalinhadas e as horizontais niveladas. As juntas tero espessura
mxima de 1,2 cm.
Devero ser obedecidas as espessuras das paredes indicadas nas
plantas e na execuo sero observados o mais perfeito prumo e nivelamento.
As vergas e contra-vergas devero ser de concreto armado, com largura igual
a da alvenaria e comprimento excedendo as larguras dos vos de 30 cm, no
mnimo. As alvenarias sero executadas conforme indicao no projeto de
arquitetura.
111
8 COBERTURAS
Estrutura em madeira de Lei
A madeira a ser utilizada dever ser de 1 qualidade, serrada do tipo
maaranduba ou Angelim vermelho, seca isenta de carunchos , brocas , ns e
outras imperfeies que comprometam sua resistncia e durabilidade, devendo
obedecer suas as dimenses compatveis com a carga que ira suportar.
Cobertura em telha tipo ondulada de 6mm
Antes do inicio das colocaes das telhas o madeiramento devera ser
verificado quanto a eventuais ondulaes e irregularidades.
Rinco em chapa galvanizada
O rinco e geralmente constituda por uma chapa de ao galvanizado
fixado na estrutura de madeira do telhado.
Calha Beiral
O telhado ser dotado de calhas beirais em PVC 150mm completas
com condutores e acessrios de fixao.
9IMPERMEABILIZAES
Impermeabilizao baldrames
Devero ser procedidos impermeabilizao de todas as superfcies das
vigas baldrame com igol + sika1 de modo a evitar umedecimento das paredes
pelo piso.
112
Impermeabilizao de rinco
O rinco em chapa galvanizada dever receber um tratamento em
pintura asfltica com igolflex + sika1.
10- ESQUADRIAS
Portas Internas
As portas internas sero em MDF 5 mm, tipo sanduiche, com h=2,10m
e largura de acordo com o projeto, em paredes de alvenaria. Sero de 35mm
de espessura, semi-oca. Os marcos e alizares sero em madeira de Lei. Os
marcos e alizares tero o mesmo acabamento de pintura das folhas de portas
selador + verniz.
Ferragens
As ferragens para as portas internas, inclusive as de divisrias, sero
de boa qualidade. Trs dobradias em ao laminado de 3"x 2 " com eixo e
bolas, cromados.
Janelas em Vidro Temperado
As janela e balancins, sero em vidro temperado, do tipo liso incolor de
8mm de espessura, atendendo as medidas de projeto. Sero instaladas com
fixadores e ferragens metlicas cromadas.
A porta de entrada principal do escritrio ser em vidro temperado de
10mm do tipo liso incolor com fixadores, ferragens e molas metlicas
cromadas.
113
11 - REVESTIMENTOS
Chapisco
O chapisco dever ser no trao 1:4, composto de cimento e areia
lavada mdia a grossa.
Reboco
Dever ser aplicado sobre o chapisco, camada de reboco com
argamassa de cimento, quimical e areia fina, no trao 1:2:9.
Cermica 20 x 20 cm
As paredes de sanitrios e copa, sero revestidas com cermica
20x20cm PEI-5, na cor branca. As juntas devero ser a prumo. O rejuntamento
ser feito com argamassa pr-fabricada para rejuntamento na cor branca. As
cermicas sero aplicadas do piso ao teto e devero ser assentadas com
argamassa pr-fabricada de acordo com as recomendaes do fabricante.
12 RODAPS E SOLEIRAS
Rodaps
Ser executado rodap em todas as reas de piso de cermica, exceto
paredes revestidas com cermicas. Todos os rodaps sero em cermica igual
a do piso aplicado, com altura de 7 cm.
114
Soleiras
Sero instaladas soleiras em granito polido cinza andorinha ou
Corumb, com espessura de 2,00 cm e a largura da parede, nos vos de todas
as portas de madeira.
No banheiro de deficientes fsicos a soleira dever ser rampada sob a
porta, de acordo com a NBR 9050/04;
13 PISOS
Camada Impermeabilizadora
Ser executado com argamassa de pedra preta e cimento e areia no
trao 1:6 com utilizao de impermeabilizante do tipo sika1.
Camada reguladora
Dever ser executado contra-piso em cimentado de cimento e areia no
trao 1:5 com a espessura mdia de 4cm, perfeitamente planos e nivelados.
Os contra-pisos dos sanitrios e copa, devero ter caimento para os
ralos.
Piso Cermico 40 x 40 cm
Nas reas interna sero utilizadas peas de cermica de 40 x 40 cm,
PEI 5, tendo como referncia a cermica Portobello linha Laser, ou
Fabricao Eliane, linha Urbanos Gray.
As cermicas sero assentadas com argamassa pr-fabricada,
conforme as recomendaes do fabricante.
115
Nos sanitrios, copa e depsito o piso ter desnvel de 1,00 cm em
relao ao piso de circulao.
14- INSTALAES COMPLEMENTARES
INSTALAES ELTRICAS
RAMAL DE ENTRADA
Ser instalado em poste de concreto ou ferro galvanizado 4 7 m com
rack de 4 roldanas . A descida dos condutores ser em eletroduto de ferro
galvanizado de 2 ate a mureta e ao disjuntor de 150A .
Eltrica
Quadros
Os quadros sero em chapa de ao bitola mnima # 16, pintura com
tratamento antiferruginoso em epxi, por processo eletrosttico, cor cinza real,
sobre tampa em acrlico, porta com fecho rpido em metal e perfil de borracha
para vedao, disjuntor geral tripolar.
Os barramentos sero independentes em cobre eletroltico, seo
retangular, para as fases, neutro e terra e sero fixados por meio de
isoladores em epxi.
A montagem dos quadros dever ser feita de forma organizada, com
condutores unidos por abraadeiras plsticas. Todos os quadros e circuitos
parciais sero identificados com etiquetas em acrlico preto com letras brancas
gravadas por trs da placa.
116
Os quadros devero possuir barramentos trifsico + neutro + terra,
apropriado para mini disjuntores padro DIN, com sobre tampa em acrlico
transparente de 4 mm, as fases do QGBT sero instalados protetor de surto
tipo VCL 275 V-40KA, fab. CLAMPER ou similar.
O QGBT ter barramentos para no mnimo 200 A e ter capacidade
para instalao de 01 disjuntor tripolar de 150 A e 3(trs) disjuntores tripolar GE
01 de70 A e 02 de 40A.
Eletrodutos
Sero utilizados eletrodutos em PVC fab. TIGRE ou similar.
As redes horizontais secundrias sero fixadas na estrutura por meio
de barra de ferro chata e demais acessrios, perfeitamente nivelados. Em
trajetos verticais os eletrodutos sero perfeitamente alinhados.
As bitolas sero de acordo com a cabeao a ser instalada, devendo-
se obedecer s limitaes impostas pela NBR-5410.
Eletrocalhas
O encaminhamento principal das redes eltrica e logica sero em
eletrocalhas perfurada com tampa 100x50 e 50x50 mm.
As eletrocalhas aparentes sero do tipo duto simples , as tampas
sero plana lisa, inclusive conexes e acessrios
Caixas
Caixas de passagem, derivao e ligao, sero em alumnio injetado,
com parafusos de ao bicromatizado e junta de vedao pr-moldada em PVC
flexvel, tipo dailet
117
As caixas de passagem, derivao ou ligao, quando embutidas,
sero de ferro.
As conexes das caixas com os eletrodutos sero feitas por meio de
buchas e arruelas, em metal galvanizado.
Cabos
Sero em cobre eletroltico, isolamentos termoplsticos 1000/750 V,
antichama, nas bitolas compatveis com as cargas e divises de circuitos (bitola
mnima 2,5 mm2).
Os circuitos de alimentao para equipamentos de informtica no
devero ultrapassar a 4 (quatro) tomadas, quando no mesmo circuito alimentar
2 (duas) impressoras, o nmero de tomada cair para 3 (trs) .
Os circuitos sero executados com cabos em cores, segundo a
seguinte conveno:
Fases - vermelho, preto.
neutro - azul
Terra - verde
retorno - branco
Cada circuito que alimentar os equipamentos de informtica dever
possuir obrigatoriamente os condutores fase, neutro e terra.
As conexes dos condutores aos barramentos sero feitas com
terminais pr-isolados.
Todo o isolamento de emendas e conexes de condutores ser em fita
isolante tipo autofuso.
118
Disjuntores
Todos os disjuntores at 125 A, sero de padro DIN, fab. SIEMENS
ou similar, com excesso dos instalados no QGBT..
Luminrias
Luminrias fluorescentes de sobrepor de alto rendimento2x40W,
fabricadas em ao fosfatizado, pintadas por processo eletrosttico. As
arandelas sero fab. ABALUX c/ 1 lmpada PL 23 W, tipo tartaruga.
Luminria de emergncia duas lmpadas com autonomia para 8 horas. Na
rea do jardim sero instaladas luminrias de globo em postes de f.g. c/
lmpada PL de As.
Tomadas e interruptores
As tomadas para microcomputadores e de uso geral sero 2P + T.
padro brasileiro; A capacidade das tomadas dever ser compatvel com a
carga a ser alimentada, sendo a capacidade mnima 15A - 250 Vca. As
tomadas e interruptores sero de fabricao Pial Legrand linha Platis. ou
similar.
Aterramento
Ser executado sistema de aterramento constitudo de no mnimo 3
(tres) hastes de cobre de 5/8x2,40m conectadas, atravs de solda exotrmica,
com cabo de cobre nu # 50 mm2, as hastes possuiro caixas de visitas em
concreto. A rede dever atender ao sistema de aterramento dos computadores
e no dever ter resistncia maior que 5 Ohms.
119
INSTALAES TELEFNICAS , DADOS e VOZ
Sero instalados pontos de dados e voz em locais a serem definidos
pela fiscalizao e em quantidade definida na planilha oramentria.
Tubulao
- As tubulaes de derivao sobre o forro e parede, sero acondicionadas em
eletrodutos de PVC fab. TIGRE ou similar
- Os eletrodutos devero ser adequadamente fixados, a fim de apresentarem
boa aparncia e firmeza, para suportar o peso e o esforo para colocao dos
condutores.
- A tubulao vertical de entrada do cabo da concessionria telefnica ser em
PVC. e a partir da caixa de passagem aos distribuidores gerais (DG) .
- No sero admitidas mais de duas curvas de 90 em cada trecho da
tubulao, sem utilizao de caixa de passagem.
Cabos
- A distribuio de pontos de voz dever ser feita a partir do rack que por sua
vez se interligar central telefnica. Os cabos do tipo par tranado no
blindado 10 Base T (UTP) de 4 pares na categoria 5e..
- As ligaes entre DG's e central telefnica sero atravs de cabo interno tipo
CCI.
A rede interna dever ser conectada em blocos do tipo BARGOA.
Componentes de rede
O cabeamento proposto consiste na utilizao de cabos tipo par tranado
no blindado 10 Base T(UTP) de 4 pares na categoria5e para interligao das
estaes aos switches.
120
A partir do rack, devero ser instaladas eletrocalhas de forma a
distribuir o cabeamento at o ponto mais prximo s entradas superiores das
salas/ambientes, seguindo a partir da por eletrodutos em PVC, at os pontos
de rede. Dever ser instalada uma caixa de passagem embutida na parede a
30 cm do piso. Dever ser instalada infra-estrutura visando interligao do
rack principal com a caixa de distribuio de telefonia.
Para cada porta dos patch panel ser fornecido um UTP patch cable de
1,50 m, pr-fabricado, com cabo UTP5e flexvel e conectores RJ-45 categoria
5e, com banho de ouro, mnimo de 50 microns nas extremidades e certificao
de fbrica, cor azul.
Sero fornecidos UTP line cord de 2,00 m, pr-fabricado, com cabo
UTP5e flexvel e conectores RJ-45 categoria 5e, com banho de ouro, mnimo
de 50 microns nas extremidades e certificao de fbrica, cor azul.
Equipamento e acessrios de rede de dados e voz.
1) RACK
a) Estrutura construda inteiramente em chapa de ao soldada bitola 14;
b) Colunas de perfis duplos, em chapa de ao bitola 19, garantindo alta
resistncia mecnica;
c) Laterais, tampa traseira e teto confeccionados em chapa de ao bitola 19;
d) Porta frontal em perfis de alumnio e chapa de acrlico 4 mm;
e) Estrutura pintada na cor grafite;
f) Laterais, teto e tampa traseira pintados na cor bege;
g) Composto por segundo plano de fixao para os equipamentos;
h) Equipado com Calha de Tomadas (8 un) para alimentao dos
equipamentos de rede;
i) Fornecido com kit de parafusos e porcas para fixao dos equipamentos
internos ao Rack;
121
j) Possuir organizador de cabos;
k) Dimenses: Largura- 19 (padro), Profundidade-470 mm;
l) Altura de8U.
2) PATCH PANEL
a) Com conector RJ-45 fmea bloco 110, categoria 56, cor preta (passivo) com
caractersticas que atendam s normas internacionais EIA/TIA 568A, FCC
68.5, ISO 8877, CENELEV ENV 41001;
b) Possuir certificados para uso em circuitos com taxas de transmisso de
100Mbps;
c) Perda por insero menor ou igual 0,3 dB Crosstalk de 43 dB @ 16 MHz;
d ) Dever estar devidamente certificado pelos rgos internacionais UL e/ou
CSA;
e) A conexo com os "patch cords" dever ser feita por portas ("jacks") RJ-45;
f ) Possuir os 8 (oito) contatos metlicos de cada "Jack" folheados a ouro;
g) Suporte a condutores slidos na faixa 22 - 26 AWG;
h) Os condutores devem ser conectados atravs da tecnologia IDC (Insulation
Displacement Connection);
i) Possuir no mnimo, 24 (vinte e quatro) portas RJ-45;
j) Facilidade de instalao e gerenciamento da rede;
l) Possuir organizador de cabos;
m) Possuir sistema de identificao para cada porta;
n) Permitir ser acomodado em bastidores de 19";
o) Possuir dispositivo para proteo de poeira para cada "jack" (RJ-45).
122
Certificao do cabeamento de dados e voz
Aps a execuo dos servios devero ser feito todos os testes
necessrios, para comprovar que as instalaes esto em condies de
funcionar corretamente e de acordo com a norma EIA/TIA 568A, categoria 5E.
Os certificados de garantia dos cabos UTP devero ser os relatrios
gerados diretamente de instrumentos de certificao de rede.
Todos os certificados devero conter, alm dos resultados, as anlises
destes, a identificao dos pontos, as datas que foram executadas, a
assinatura do tcnico responsvel pelo servio e a rubrica do fiscal designado
pela contratante para acompanhar o servio de testes dos pontos.
INSTALAES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
INSTALAES DE AR CONDICIONADO CENTRAL
As unidades condicionadoras sero do tipo air-splint com condensador
a ar remoto, de fabricao da SPRINGER CARRIER ou similar.
HIDRO-SANITRIAS e GUAS PLUVIAIS
GUA FRIA
O fornecimento dos projetos executivos de hidro-sanitrio e gua
pluviais ser de responsabilidade da CONTRATADA, devendo pelo contratante
a observncia dos projetos.
O abastecimento ser atravs da concessionria local, com entrada
prevista de 1. A distribuio ser feita a partir do reservatrio superior,
montando-se um barrilete cujas derivaes para os diferentes ramais sero
dotadas de registro de gaveta, obedecendo os dimensionamentos indicados no
projeto.
123
Nas instalaes de gua fria sero utilizados tubos de PVC soldvel.
Devero ser previstas pontos para torneiras cromadas para jardins,
distribudas estrategicamente nas reas a serem ajardinadas.
Os registro de gaveta e presso sero instalados no interior do prdio
sero do tipo com canopla da linha Targa do referido fabricante.
As conexes que recebero torneiras e chuveiros sero do tipo SRM.
ESGOTO
Os tubos, caixas sifonadas e conexes sero em PVC. As caixas de
gordura, inspeo sero em concreto com tampa pr-fabricada em ferro
fundido.
Toda a tubulao e conexes de esgoto primrio, secundrio e
ventilao sero ser de PVC, rgido:
Os ramais de ventilao sero ligados s respectivas colunas em
pontos situados 15cm, no mnimo, acima do nvel mximo de gua do mais
elevado aparelho sanitrio da instalao.
Apenas as guas servidas provenientes dos vasos sanitrios devero
ser conduzidos fossa as demais devero ser lanadas na rede de guas
pluviais publica.
A fossa dever ser e concreto armado com dimenses til de
3,00x1,50x1,50m e o sumidouro de dimetro 1,20 e altura de 2,00 m ,ter a
parede em alvenaria de tijolo de barro vazada e tampa de concreto armado.
GUAS PLUVIAIS
Os tubos para captao e conduo de guas devero ser de PVC,
rgido, com dimetro mnimo de 75 mm, observar projeto.
124
Os ps dos condutores sero constitudos de curvas, tambm de PVC
e mesmo dimetro destes, para posterior interligao com o esgoto de guas
pluviais a ser construdo.
As caixas de areia sero em concreto com grelha com caixilhos
fabricados com barra de ferro quadrada 1/2" e cantoneiras
15 APARELHOS SANITRIOS
As bacias sanitrios sero do tipo caixa acoplada em loua FAB.
DECA, linha targa ou similar, as do sanitrios de deficientes sero do tipo
elevado de acordo com a NBR 9050.
Os assento sanitrios sero da mesma linha das bacias na cor cinza,
as bacias de deficiente com abertura frontal obedecendo a NBR 9050.
As papeleiras dos sanitrios sero de embutir.
Os lavatrios sero em loua com coluna de fab. DECA linha ravena ou
similar.
A bancada da copa ser em ao inoxidvel 1cuba, de 1,50m.
As torneiras para lavatrios sero cromadas de FAB.DECA ou similar,
e as do banheiro de deficiente obedecero a mesma linha com dispositivo para
pessoas deficientes.
A torneira para pia ser do tipo cromada tipo longa FAB. DECA ref.
1157 C ou similar
As ligaes flexveis, ligaes para lavatrios devero ser de metal
cromado.
Em todos os sanitrios sero instalados o kit de acessrios cromado.
As duchas sero cromadas de fabricao DECA ou similar.
125
16 PINTURAS
Tinta Acrlica
Todas as paredes internas devero ser emassadas com duas demos
de massa PVA, e o entorno das janelas externas dever ser emassado com
massa acrlica, sendo em seguida lixadas, aps o que sero cuidadosamente
limpos com escova e pano seco, visando remover todo p antes da aplicao
da demo seguinte.
Todas as superfcies de paredes internas, devero ser pintadas com
tinta acrlica semi-brilho com duas demos tipo Coralplus ou equivalente.
A segunda demo s poder ser aplicada quando a anterior estiver
inteiramente seca, observando-se um intervalo mnimo de 24 (vinte e quatro)
horas entre as diferentes aplicaes.
Devero ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfcies
no destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que no
puderem ser evitados devero ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.
Tinta Latex
O muro dever ser pintados com tinta PVA Ltex, prpria para pinturas
externas com duas demos na cor cinza claro.
Esmalte Sinttico (para superfcies metlicas)
Todas as peas em ferro devero ser tratadas e pintadas, conforme a
sistemtica abaixo:
a) devero ser totalmente lixadas e cuidadosamente limpas com uma
escova e com um pano seco para remover todo o p remanescente;
126
b) aps uma aplicao de tinta de base, com uma demo de antixido
ferrolide;
c) todas as superfcies devero estar limpas e secas, logo aps
retocadas e preparadas;
d) As grades, portes, alapo e corrimo devero ser pintados com
duas demos com esmalte sinttico acetinado, na cor Grafite.
17- DIVERSOS
Corrimo
O corrimo das rampas dever ser de ao galvanizado de 1 com
dois corrimos em ambos os lados, sendo um a 70 cm e o outro a 92 cm de
altura do piso acabado das rampas e fixado em barra de suportes. Este deve
ser pintado conforme especificao de pinturas em esquadrias metlicas.
Portes e Grades de Fechamento
As grades de fechamento do terreno do imvel, previsto em layout
sero de tela ondulada de arame galvanizado, malha de 2, fio 10 BWG,
enquadrada em cantoneira de ferro tipo L, fixadas em estrutura tubular de
ferro de 50mm, sendo soldado em montantes de ao tubular de 100mm,
sendo toda a estrutura com acabamento em esmalte sinttico na cor grafite e
instalada sobre mureta de alvenaria de 0,40m conforme projeto anexo.
Os portes de acesso de veculos e pedestres, sero do mesmo
padro da grade, tipo de abrir, 02 (duas) fls, completo com dobradias, ferrolho
e fechadura e acabamento em esmalte sinttico na cor grafite conforme
projeto.
Urbanizao
Compreendem os servios de urbanizao, o fornecimento de terra
vegetal, colocao de gramas em placas.
127
ANEXO V
PROJETO ARQUITETNICO
Nas pginas seguintes apresenta-se um modelo de Projeto Arquitetnico
que, conforme definido nos estudos preliminares, para o presente estudo de caso,
ser composto por planta baixa de cobertura, fachadas e corte transversal.
PRINCIPAIS VANTAGENS PRINCIPAIS LIMITAES
Representao grfica da arquitetura do
prdio com especificaes.
Pouco detalhe das especificaes
tcnicas, necessitando de
complementao com memorial
descritivo e oramento discriminado.
ALGUMAS APLICABILIDADES AO PLANEJAMENTO
Fundamental para execuo da obra e acompanhamento. Presta detalhes grficos
sobre a edificao a ser construda.
INTEGRAO COM OUTRAS FERRAMENTAS
Integra-se com oramento discriminado e projetos de Engenharia.
Base para elaborao de projetos de Engenharia e oramento discriminado.
128
ANEXO VI
PROJETOS DE ENGENHARIA
Nas pginas seguintes apresenta-se um modelo de Projetos de Engenharia
que, conforme definido nos estudos preliminares, para o presente estudo de caso,
ser composto por projeto de instalao eltrica de rede estabilizada e rede lgica
estruturada, projeto de iluminao interna e externa, projeto hidro-sanitrio gua
fria e projeto hidro-sanitrio de esgoto.
PRINCIPAIS VANTAGENS PRINCIPAIS LIMITAES
Representao grfica dos projetos de
engenharia com especificaes.
Pouco detalhe das especificaes
tcnicas, necessitando de
complementao com memorial
descritivo e oramento discriminado.
ALGUMAS APLICABILIDADES AO PLANEJAMENTO
Fundamental para execuo da obra e acompanhamento. Presta detalhes grficos
sobre a edificao a ser construda.
INTEGRAO COM OUTRAS FERRAMENTAS
Integra-se com oramento discriminado e projetos de Arquitetura.
Base para elaborao do oramento discriminado.
130
129
ANEXO VII
CRONOGRAMAS
Para elaborao dos cronogramas foi utilizado o software OpenProj. Atravs
do referido programa foi planejado os prazos de execuo da obra e elaborados
cronograma de Gantt, rede PERT e cronograma de mo de obra. Na fase em que se
encontrava o planejamento da obra ainda no se havia definido o cronograma fsico-
financeiro.
PRINCIPAIS VANTAGENS PRINCIPAIS LIMITAES
Disponibilizam diversas informaes
gerenciais, auxiliam no controle do prazo
e gerenciamento de projetos
Demandam tempo significativo para
elaborao se no for utilizado software
especfico
Permitem visualizao grfica do
desenvolvimento da obra facilitando
entendimento das etapas construtivas
Dificuldade de impresso quando no h
disponibilidade de recursos para
plotagem em tamanho grande.
ALGUMAS APLICABILIDADES AO PLANEJAMENTO
Grande importncia para gerenciamento de prazos, recursos financeiros,
equipamentos e equipes.
INTEGRAO COM OUTRAS FERRAMENTAS
Integra-se com oramento discriminado, principalmente.
135
Você também pode gostar
- Manual Do Proprietário EV1 SPORT 2021Documento46 páginasManual Do Proprietário EV1 SPORT 2021Renilton Oliveira50% (2)
- Daniel en PTDocumento24 páginasDaniel en PTeduardoAinda não há avaliações
- Energia Eólica Parte 4 A Turbina Eólica PDFDocumento20 páginasEnergia Eólica Parte 4 A Turbina Eólica PDFLeila Delgado TavaresAinda não há avaliações
- Dds - Sugestões para AplicaçãoDocumento18 páginasDds - Sugestões para AplicaçãoValeska TrintaAinda não há avaliações
- Questões Comentadas Xxxi Exame Oab 6Documento13 páginasQuestões Comentadas Xxxi Exame Oab 6Sd jurisadv - Sandra DobjenskiAinda não há avaliações
- Sony MHC-GRX700 MechanismDocumento24 páginasSony MHC-GRX700 Mechanismmarco.msn.br100% (2)
- Portaria 367 InmetroDocumento21 páginasPortaria 367 InmetrovandersonfdiasAinda não há avaliações
- Anderson Antonio Siciliano 26716200800Documento1 páginaAnderson Antonio Siciliano 26716200800Jonislei Jr.Ainda não há avaliações
- Formulario Alavancar de Solicitacao de VagaDocumento4 páginasFormulario Alavancar de Solicitacao de VagaPauliane AlmeidaAinda não há avaliações
- Clientes Ativos Por RotasDocumento70 páginasClientes Ativos Por RotasJulio KasperAinda não há avaliações
- Manual de Praticas AdministrativasDocumento22 páginasManual de Praticas Administrativasdelanomacedo100% (1)
- APR-019 - Montagem Eletromecânica SEDocumento18 páginasAPR-019 - Montagem Eletromecânica SEClemilson TST100% (1)
- Moreira, Egon Bockmann - Situações Disruptivas, Negócios Jurídico-Administrativos ...Documento16 páginasMoreira, Egon Bockmann - Situações Disruptivas, Negócios Jurídico-Administrativos ...Guilherme FontouraAinda não há avaliações
- Trabalho Prático Do Módulo 2 - 2021-5A - Bootcamp - Analista de DadosDocumento13 páginasTrabalho Prático Do Módulo 2 - 2021-5A - Bootcamp - Analista de DadosJander FariaAinda não há avaliações
- DECRETO-31.564-2016.-Regulamenta-recebimento-de-premiação-por-apreensão-de-armas-de-fogo 2Documento3 páginasDECRETO-31.564-2016.-Regulamenta-recebimento-de-premiação-por-apreensão-de-armas-de-fogo 2Eder FreireAinda não há avaliações
- Apostila de Sistemas de AeronavesDocumento69 páginasApostila de Sistemas de Aeronavesengguedes1309Ainda não há avaliações
- Automatismos e Autómatos - E-BookDocumento27 páginasAutomatismos e Autómatos - E-BookHugo Ferreira PintoAinda não há avaliações
- Simulação 2cDocumento4 páginasSimulação 2cmthslibrasAinda não há avaliações
- Geopolítica Da Amazonia - Bertha BeckerDocumento16 páginasGeopolítica Da Amazonia - Bertha BeckersousaribeirojuniorAinda não há avaliações
- Apostila Completa de RadioterapiaDocumento34 páginasApostila Completa de RadioterapiaGuiomar de Araujo100% (3)
- Programa de Bolsas de Estudo Magda Tagliaferro - Edital 2024Documento7 páginasPrograma de Bolsas de Estudo Magda Tagliaferro - Edital 2024Lemuel CarvalhoAinda não há avaliações
- Datasheet RSR180-AEB - Contador de Eixo - FrausherDocumento2 páginasDatasheet RSR180-AEB - Contador de Eixo - Frausherjimison francoAinda não há avaliações
- Compressor Schulz Parafuso SRP 3060 E - 3075 EDocumento60 páginasCompressor Schulz Parafuso SRP 3060 E - 3075 EBueno MouraAinda não há avaliações
- Declaração de Vínculo EmpregatícioDocumento2 páginasDeclaração de Vínculo EmpregatícioCamilinha RodriguesAinda não há avaliações
- Apresentação Sisema 2023 Ok v2Documento39 páginasApresentação Sisema 2023 Ok v2Bruno VilaçaAinda não há avaliações
- Manual de Instruções Mitsubishi Pajero TR4 (2012) (Português - 184 Páginas)Documento2 páginasManual de Instruções Mitsubishi Pajero TR4 (2012) (Português - 184 Páginas)raimundoptrindadeAinda não há avaliações
- Agregados São Materiais GranulososDocumento1 páginaAgregados São Materiais GranulososBianca Molinas GuidaAinda não há avaliações
- Ativo ImobilizadoDocumento4 páginasAtivo ImobilizadoAngelson DomingosAinda não há avaliações
- PDFDocumento36 páginasPDFAraujolegal NascimentoAinda não há avaliações
- O Urbanismo Sustentável No BrasilDocumento9 páginasO Urbanismo Sustentável No BrasilMariele Dos SantosAinda não há avaliações