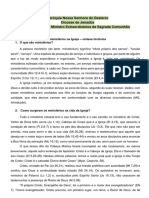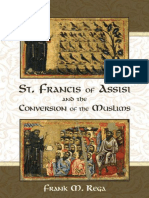Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Inter at Iva
Inter at Iva
Enviado por
Jean SilvaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Inter at Iva
Inter at Iva
Enviado por
Jean SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DIREITO CANNICO
Introduo
Sculos de evoluo desde o direito grego e a modernizao do mesmo junto ao direito
romano, houve a necessidade por parte da Igreja Catlica de elaborar e desenvolver
sua prpria doutrina uma vez que Ela iniciava seu papel fundamental como religio
predominante no mundo. Com base nos ensinamentos bblicos e na cultura dos povos,
vrias foram as leis e tradies repassadas pela cultura local onde se dizia ser a lei
divina onde todos os homens deveriam se subordinar. Visando uma maior e melhor
centralizao do poder, a Igreja Catlica teve a atitude de absorver e unificar todas as
leis, ensinamentos, doutrinas, dogmas que cada cultura detinha e repassava a ttulo de
leis divinas, propor-se assim a expanso de sua doutrina que ate ento era dividida e
variada pelos povos da todo o mundo. O surgimento de tal direito foi travado no perodo
medieval, onde teve uma maior evoluo do direito Cannico construindo um dogma e
elaborando um discurso que legitima a imposio da verdade absoluta. H de se
analisar de que modo o poder e a verdade viraram normas sociais atravs da estrutura
poltica da Igreja Catlica com origem nos vnculos de autoridade poltica. Assim,
posteriormente a essa influencia poltica, visualiza-se num segundo cenrio o dogma da
Igreja que pode ser utilizada de forma indiscriminada como instrumento de disciplina,
alienao e sujeio terica e social.
1
(WOLKMER, 2008, p. 2014).
O Cdigo de Direito Cannico, como principal documento legislativo da Igreja, baseado
na herana jurdica e legislativa da Revelao e da Tradio, deve considerar-se o
instrumento indispensvel para assegurar a ordem tanto na vida individual e social,
como na prpria atividade da Igreja. Por isso, alm de conter os elementos
fundamentais da estrutura hierrquica e orgnica da Igreja, estabelecidos pelo seu
Divino Fundador ou baseados na tradio apostlica ou na mais antiga tradio, e ainda
as principais normas referentes ao exerccio do trplice mnus confiado prpria Igreja,
deve o Cdigo definir tambm as regras e as normas de comportamento. Desde os
tempos da Igreja primitiva foi costume reunir em colees os sagrados cnones que
so: Deciso conciliar sobre matria de f ou disciplina catlica. Quadro que contm as
palavras que o sacerdote diz durante a consagrao. para tornar mais fcil o seu
conhecimento, a sua prtica e a sua observncia, sobretudo aos ministros sagrados,
uma vez que "no lcito a nenhum sacerdote ignorar os cnones, como j advertia o
Papa Celestino "os sacerdotes saibam as sagradas escrituras e os cnones porque "se
deve evitar, principalmente nos sacerdotes de Deus, a ignorncia, me de todos os
erros (cn. 25; Mansi, X, col. 627).
Definies e fins do direito cannico
O direito cannico surge, mediante vrios sculos como um direito divino, direito puro,
que detem inmeros conceitos. Etimologicamente, vem do grego Kann, que significa
`regra. Desde os primeiros sculos, os cnones indicam todas aquelas normas que,
estabelecidas pela autoridade eclesistica, direcionam a vida da comunidade eclesial e
de cada um dos fiis, no assumindo as caractersticas formais no mbito civil.
O direito cannico ou eclesial faz referncia a trs realidades diferentes, embora ligadas
entre si:
a) Direito da Igreja em sua essncia e globalidade.
b) Direito da Igreja em sua formulao positiva.
c) Cincia do Direito Cannico.
A distino entre Direito da Igreja em sua essncia e globalidade e o Direito da Igreja
em sua formulao positiva, foi bem explicado pelo Papa Joo Paulo II: " Se a Igreja
corpo de Cristo um conjunto organizado, se compreende em si essa diversidade de
membros e de funes, se ,"se reproduz nas multiplicidades das Igrejas particulares,
ento nela to densa a trama das relaes que o direito j existe, no pode deixar de
haver. Refiro-me ao direito entendido em sua globalidade e essncia , antes ainda das
especificaes, derivaes ou aplicaes de ordem propriamente cannica. O direito ,
portanto, no deve ser concebido como um corpo estranho, nem como uma
superestrutura j intil, nem como um resduo de supostas pretenses temporalistas. O
direito natural vida da Igreja, a qual de fato bastante til: ele um meio, um
auxlio , tambm- em delicadas questes de justia- uma proteo. O direito eclesial
o conjunto das relaes entre os fiis dotados de obrigatoriedade, determinadas pelos
vrios carismas, pelos sacramentos, pelos ministrios e funes, que criam regras de
conduta. Tambm podemos dizer que o direito eclesial considerado o conjunto de leis
e das normas positivas dadas pela autoridade legtima que regulam o entrecruzar-se
das relaes intersubjetivas na vida da comunidade eclesial e, assim, constituem
instituies, cuja totalidade produz a ordenao cannica.
2
(Cdigo de Direito Cannico,
1983, p. 461).
Primeiramente precisamos entender o que Teologia e o que Direito cannico ,
enquanto cincia. A teologia a "cincia da revelao crist e o objeto de que se ocupa
so "as verdades reveladas por Deus e conhecidas mediante a f. Portanto a "teologia
indaga e aprofunda o dado revelado, segundo as exigncias da f e as indicaes dos
sinais dos tempos.
A Teologia tem como base "o estudo das fontes da revelao, dirigindo a estabelecer o
que Deus revelou (teoria positiva). O Direito cannico a cincia que estuda e explica
aquelas relaes entre os fiis que - determinadas pelos carismas, pelos sacramentos,
pelos ministrios e pelas funes - so dotadas de obrigatoriedade e criam regras de
conduta formuladas em leis e normas positivas dadas pela autoridade legtima,
constituindo, em seu conjunto, as instituies eclesiais.
Importante se faz tambm observar que o direito cannico, por sua origem,
desenvolvimento e formao, totalmente diverso da essncia do direito Romano, onde
este norteado pela mxima, a cada direito corresponde uma ao para assegur-lo,
sendo o ru culpado, condenado a pagar o dano que causara. Por outro lado, o direito
cannico, firmando o papel legislativo e judicial da Igreja, defende a seguinte teoria
onde Jesus diz a Pedro e a seus discpulos: "Tudo que ligares na Terra, ser ligado no
Cu, tudo o que desligardes da Terra, ser desligado no Cu. (MATEUS 16:19 E
18:18). Tal passagem bblica passa a ter um papel fundamental, no apenas a coibir
transgresses de ordem espiritual ou doutrinaria, mas tambm a resolver conflitos
temporais existentes entre os membros do clero. Outra passagem que serve como base
esta contido em MATEUS 18:15-17); "se teu irmo cometer alguma falta contra ti, vai e
repreende-o entre ti e ele s. Se te ouvir, ters ganho o teu irmo. Mas se no te ouvir,
toma contido uma ou duas outras pessoas, para que toda a questo se ajuste sob a
palavra de duas ou trs testemunhas. Se, porm, no os ouvir, di-lo Igreja e se nem
sequer ouvir a Igreja, seja para ti como o gentio e o publicano, isto , seja excludo da
comunidade.
Desenvolvimento do direito cannico e suas fontes
Desde os primeiros indcios da doutrina da Igreja entre os escritos annimos da poca e
a didasclia dos apstolos, passando pelos primeiros papas, at o definitivo
reconhecimento da jurisdio eclesistica, vai o tribunal do bispo ampliando sua
competncia, por meio das normas baixadas por aqueles pontfices, assim, desde Cleto
(76-88) at Caio (283-296) e MARCELINO (296 - 304), institui-se o tribunal episcopal,
onde passa a ser reconhecido a apelao, principio do contraditrio, probe-se o
julgamento de ausentes, dentre outros direitos. Aps sculos de lutas e difcil e
atribulada perseguies aos cristos, o vitorioso Rei Constantino, ganhou a episcopalis
audientiareconhecida oficial. Desde momento em diante, inverte-se a situao, onde a
jurisdio eclesistica torna-se competente mesmo para causas cveis, se assim uma
das partes solicitar, todavia, mesmo se um processo em andamento perante um juiz
secular, podia o interessado no processo, requerer a remessa da causa ao exame do
tribunal episcopal, passando esse a ser o julgador do processo. Mas tal desenvolvimento
trouxe consigo no apenas benefcios, mas tambm malefcios, uma vez que veio a
sobrecarregar os bispos de processos, a posto de desvi-los de suas funes pastorais
pelo excesso de servio de sua nova jurisdio. Por outro lado, um ponto positivo para o
desenvolvimento da Igreja e consequentemente do direito cannico, foi o enorme
nmero de cristos que crescia exorbitantemente, pelas pessoas que, at ento, no
possuam condies de pleitear algo em juzo, ou se defender em processos nos juzes
secular. Nesse ponto, nasce para a Igreja o aspecto social, pois o tribunal do bispo
permitiu a vasas camadas mais humildes da populao de recorrer, obtendo assim
alguns pronunciamentos s suas dvidas ou querenas.
3
(AZEVEDO, 2005, p. 111).
Outra parte do desenvolvimento foi a modificao nas estruturas dos tribunais
eclesisticos, adotando uma complexa escala de instancias constituindo a autoridade
papal o mais alto grau de apelo. Enorme foi a importncia do pontfice, que a Igreja
ganhou competncia de carter universal, quando decidida, em ultimo recurso, decises
oriundas dos tribunais civis, alcanando assim governos das naes europeias, no
sendo poucos os soberanos afastados de seu trono por fora de uma deciso da Igreja
pelo seu tribunal. Assim sendo, as fontes do direito cannico pode ser divida em trs
partes:
4
(AZEVEDO, 2005, p. 115).
a) Formao
A sua formao distribui-se na Sagrada Escritura, nos escritos pseudo-apostlico, os
cnones emanados dos conclios, as decretais dos papas, os pronunciamentos judiciais
dos bispos e tribunais eclesisticos, e as regras monsticas. Pode-se situar desde o
inicio do cristianismo e mesmo antes a considerar o antigo testamento, at o sculo V.
num segundo momento aponta-se como fonte da formao a elaborao da colees
cannicas, da qual a Dionisiana parece ser a primeira ( aproximadamente 500 d.C).
Depois vieram outras fontes derivadas de vrios papas e Reis, desde o sculo VII ao
XII.
b) Estabilizao
A estabilizao do direito cannico tomou fora com o decreto de Graciano (meados de
1140), onde o mesmo passa a fase de estabilizao, onde neste trabalho o monge
camaldulense rene textos de varias provenincias, agrupa-os, comenta-os, procura
aparar as discordncias, estabelecendo a sua concrdia, a conciliao entre disposies
aparente ou efetivamente discordantes, onde esse trabalho de interpretao de
indiscutvel valor, passou a ser estudado e difundido nas nascentes universidades
medievais.
c) Consolidao
A consolidao do direito cannico vem se fortalecendo no decorrer dos anos, todavia
em meados dos sculos XIII e XIV que a Igreja Catlica rene estrondoso poder dentro
dos limites do ocidente europeu. Ocorre tal fenmeno devido as caractersticas
predominantes do sistema do feudalismo, onde a natureza e ambio dos nobres eram
apenas de aproveitar ao mximo sua situao frente aos seus servos, ocasio em que,
as novas ideologias propostas pela Igreja de nova esperana e de uma vida mais
digna e melhor, embora extraterrena. Ainda que ocorra o sofrimento do povo com as
guerras, castigos dos senhores, epidemias, fome, situa-se nesse contexto a situao
preponderante da f, a redeno da alma para a infinita salvao. A misso da Igreja
de apresentar a natureza obrigatria dos dogmas da f, e em contra partida proibir
outras colees, sem a expressa autorizao da Santa S, onde, se o direito Romano
mais costumeiro, o mesmo mantido, tendo vigncia apenas se no entrar em oposio
ao direito cannico, onde se ocorrido tal situao o mesmo tem-se por revogado.
d) Renovao
Aps sculos de movimentao, autoridade absoluta e indiscutvel, as legislaes
posteriores viriam fazer parte de um movimento renovador, onde as normas editadas
pelo Conclio de Trento, meados de 1547 - 1563, convocado com um propsito de
proceder reviso de determinados conceitos, em fase de situaes e problemas
elaboradas pela reforma protestante. Posteriormente, j no sculo XIX, no Conclio
Vaticano I, foi desenvolvida pela a sistematizao de regras modernas, onde fora
promulgado em 27 de maio de 1917, dividido em cinco livros; Normas gerais, das
pessoas, das coisas, do processo, do direito penal da Igreja. E por fim mais no menos
importante, no Conclio Vaticano II, em 1959, decidiu-se reformar a legislao,
culminando com o novo cdigo de Direito cannico de 1983, sob o pontificado de Joo
Paulo II.
Com todas as situaes temporais, aspectos da renovao, pode-se resumir a
"legislao cannica levando os seguintes aspectos:
5
(GONALVES, 2004, p. 52).
a) O estudo deve ser, em primeiro lugar, do texto e no suficiente estudar as normas
isoladas, pois todo o direito um corpo;
b) Aprofundar, enquanto possvel, os fundamentos teolgicos em geral e, em particular,
de cada instituto jurdico;
c) Analisar a histria das normas;
d) Ter uma preocupao com a prtica pastoral e suas consequncias jurdicas.
Uma importante observao se faz com relao ao direito cannico e a teologia, onde
Podemos distinguir 4 grandes fases na relao do - DIREITO CANNICO E TEOLOGIA:
Fase 1- do sculo I ao X - O primeiro conclio ecumnico da Igreja (Nicia-325)
constata-se que aps as exposies dogmticas, so sempre elencadas normas (regras)
a serem observadas.
Fase 2- IDADE MDIA- o perodo do nascimento do Direito Cannico como cincia
prpria. com o Decreto de Graciano (1140) que nasce, pouco a pouco , o Direito
Cannico como Cincia, influenciado pelo crescimento da importncia dada ao estudo do
Direito.
Fase 3- (1481-1546 ) Martinho Lutero ao se colocar contra a Igreja, joga ao fogo, o "
Corpus Iuris Canonici " com os decretais de Gregrio IX . Nega a essncia da Igreja
como comunidade visvel e encarnada.
FASE 4- (1789) aps a Revoluo Francesa, os estados passaram a ter as suas cartas
constitucionais. Assim aparece o Cdigo de 1917, utilizando a antiga estrutura do
Direito Romano, prevalecendo o critrio jurdico sobre o teolgico.
A idade mdia e o vnculo feudal como instrumento de dominao atravs da
autoridade
Com a derrota do imprio romano, imprio este que se auto denominava indestrutvel,
onde a sua fundamentao tinha como base trs pilares: a)proteo militar da
populao, b) o incentivo ao comercio, c) facilidade de comunicao com todos os
lugares, porem com os autos custos do governo com a vasta expanso, aumento
populacional e a crise agrria, o ate ento temido governo romano entrou em
decadncia, que a idade mdia se desenvolveu economicamente e teve uma base para
justificar seu discurso de poder. H de se observar tambm como fator de queda
imperial que a estrutura de produo escravocrata deixava sem trabalho os homens
livres, onde estes perdiam ocupaes para os escravos dominados por guerra, e a
situao do cristianismo como religio oficial, onde o corpo do clero detinha uma forte
influncia e acarretava com isso o descontentamento da plebe com sua poltica
autoritria. E por fim, a invaso dos nrdicos Europa central, onde as riquezas e
terras frteis ao redor de Roma eram um tentao diria aos germnicos, acarretando
assim o fim do vasto imprio romano. Com tal situao ocorrendo, qual seja, a invaso
dos brbaros, imediatamente houve um choque cultural, denominado etnocentrismo,
que surge de uma percepo equivocada das caractersticas da etnia.
6
(WOLKMER,
2008, p. 216).
Com o crescimento da Igreja catlica nos imprios, a mesma foi a responsvel por
varias mudanas no tipo organizacional, por um lado ela negava o aspecto importante
da cultura romana como o carter divino do imperados, a hierarquia e o militarismo;
todavia, por outro lado ela acabava prolongando o carter universalista de Roma,
induzindo que o cristianismo fosse levado a religio de Estado, onde a verdade divina
fosse alcanada pela Revelao nada mais do que uma imposio de um modelo de
pensamento pela teologia.
Que teologia? admitir, evidentemente, a verdade da revelao, mas voltar-se depois
para aqueles que no compreendem a revelao, os herticos, os ateus, para lhes
mostrar a verdade dessa verdade sagrada. De fato, a teologia consiste, segundo o
vocabulrio dos telogos, em demonstrar a Liz sobrenatural graas aos meios da luz
natural, isto , os meios desta razo que todos possumos. realmente a prpria razo
que trabalha.
7
(WOLKMER, 2008, p. 217).
Sendo assim, o direito que deriva da Igreja catlica servir para a sedimentao do
poder institucional atravs da fundamentao racional na interpretao da verdade,
onde a razo serve como base para a pratica jurdica subjulgar tanto os direitos
paralelos, quanto quer tipo de contestao expressa e descentralizadora do poder
poltico jurdico. Todavia uma pergunta se levanta no vasto desenvolvimento histrico
dos povos antigos; como a Igreja Catlica se tornou esta forte e praticamente
inabalvel instituio? A resposta esta na invaso dos povos germnicos sobre Roma,
onde por tal ato, desenvolveu grandes e numerosos governos menores e autnomos,
ocasionando assim uma confuso entre propriedade e autoridade. Uma das
caractersticas desse novo quadro foi a relao de produo diferente, organizada
atravs do vinculo de subordinao pessoal, caracterstica esta do feudalismo, onde
ser fixado a relao senhor/vassalo. O poder do senhor feudal esta relacionado a
existncias de elementos pessoais dos quais se encontram na posso, como a obedincia
e a fidelidade, onde esse vinculo de autoridade era baseado no carisma de um lder
guerreiro, herana deixada pelo direito germnico, onde o senhor feudal detinha uma
apropriao dos poderes e direitos de mando exercida pela relao fraterna de
fidelidade moral. Essa questo moral por sua vez esta ligada a um papel de
personalidade, extraordinria e mesmo divina para aqueles que so adeptos ou
dominados pelo carisma.
8
(WOLKMER, 2008, p. 220).
A idade mdia e o vnculo feudal como instrumento de dominao atravs da
autoridade
Para ser um direito da Igreja, o direito cannico deve estar numa relao contnua com
a teologia; portanto, a cincia do direito eclesial ao mesmo tempo uma cincia
teolgica e jurdica. A histria ensina que o estudo do direito cannico foi parte da
teologia at o sculo XI, quando o direito cannico comeou a delinear-se como cincia
autnoma, ainda que no separada da teologia. Durante os dez primeiros sculos,
foram elaboradas inmeras coletneas de leis eclesisticas, compostas por iniciativa
privada, nas quais se continham normas dadas principalmente pelos Conclios e pelos
Romanos Pontfices e outras tiradas de fontes menores. No sculo XII, o acervo destas
colees e normas, foi reunido metodicamente com escritos diversos, pelo monge
Graciano, numa concordncia de leis e de colees. Esta concordncia, mais tarde
denominada Decreto de Graciano, constitui a primeira parte da grande coleo das leis
da Igreja que, a exemplo do Corpo de Direito Civil do imperador Justiniano, foi chamada
Corpo de Direito Cannico, e continha as leis, que foram feitas durante quase dois
sculos pela autoridade suprema dos Romanos Pontfices, com a ajuda dos peritos em
direito cannico, que se chamavam glossadores. Este Corpo, alm do Decreto de
Graciano, no qual se continham as normas mais antigas, consta do "Livro Extra de
Gregrio IX, do "Livro VI de Bonifcio VIII, das Clementinas, isto , da coleo de
Clemente V promulgada por Joo XXII, s quais se acrescentaram as Decretais
"Extravagantes deste Pontfice e as Decretais "Extravagantes Comuns de vrios
Romanos Pontfices nunca reunidas numa coleo autntica. O direito eclesistico, de
que se compe este Corpo, constitui o direito clssico da Igreja catlica e comumente
designado com este nome.
1
(CDIGO DE DIREITO CANNICO, 1983, p. 461).
A idade mdia a idade clssica do Direito Cannico, perodo rico e de grande evoluo
na teologia, na arte, no direito. Para sistematizar as leis vigentes para toda a Igreja
universal, surgem diversas colees, como a denominada Corpus Iuris Canonici (onde
as leis cannicas se distinguem do direito da teologia). Durante os primeiros tempos da
idade mdia, graas a sua estrutura organizativa, sua mensagem de salvao, ao seu
poder econmico e social, a Igreja ocupou o lugar deixado vago pela queda do imprio
romano. Nas palavras de Grossi, "a civilizao medieval em boa parte criatura da
Igreja. Aconteceu ento o renascer do interesse pelos textos jurdicos que vem suscitar
um imediato entusiasmo por parte dos canonistas.
Podemos dizer que os canonistas lidam com um acervo normativo que ampliado de
dia para dia, lidam com legislao atua que constantemente vem acrescentar j
existente. H de se observar que todos os assuntos de natureza terrena em que os
sujeitos pudessem eventualmente incorrer numa situao de pecado, reclamavam
automaticamente uma aplicao da jurisdio cannica, e disto se valia frequentemente
o papado para intervir em domnios que, a partida, competiriam jurisdio imperial.
Bellomo d-nos o exemplo dos contratos de hipoteca ou arrendamento, que , como
matrias terrenas, cairiam sob a alada do imperador, mas que podiam envolver o
pagamento de juros. Ora, qualquer pessoa que pedisse juros incorria, aos olhos do
direito cannico, em pecado, uma vez que a usura era proibida por motivos religiosos.
Perante tal situao, o papa se arrogaria o direito de intervir em tais matrias, ditando
medidas tendentes a evitar esse mesmo pecado.
2
(CUNHA, 2005, p. 157).
O direito cannico como !r"tica re!ressiva na idade mdia
Importante aqui narrar que, conforme visto, a histria da religio catlica floresce nos
escombros de Roma como a consequncia da exigncia moral e o aumento da
importncia da palavra para fim social, onde os "deveres que atuam sobre sua
conduta. As relaes sociais de carter feudal, bem como sua economia agregada a
legalizao do catolicismo pelo imperador Constantino, veio a favorecer o
desenvolvimento e crescimento da Igreja como autoridade religiosa, onde sustenta
Tigar e Levy:
3
[...] a Igreja foi [...] uma fora onipresente no desenvolvimento financeiro e jurdico da
Europa. Como maior latifundirio, estaca comprometida com a defesa do feudalismo, e
com toda a sua autoridade auxiliou na represso das revoltas de camponeses que
varreram o continente, denunciava como herege ou trancafiava em mosteiros todos
aqueles que desejavam restabelecer a imagem de uma Igreja comunal, apostlica
(WOLKMER, 2008, p. 222).
Com o tempo, a Igreja veio a participar como grande senhor feudal, uma vez que se
apresentava como grande proprietria de terras, e por seu poder espiritual e temporal
por toda a Europa durante o perodo medieval, onde as cidades que sobrevivera, a
queda do Imprio Romano foram as cidades episcopais e arcebispais apenas. Aps esse
momento histrico, a Igreja tem por meta unificar a f crist de todos os recantos da
Europa, dominada pelos povos do oriente, onde para tanto, missionrios, figuras
geralmente santificadas que detinham o respeito e admirao interna da Igreja - como
Santo Antonio - foram designados para tal jornada. Outra forte arma utilizada pela
Igreja a implantao de mosteiros, braos avanados da propagao da f e de
controle econmico e social. Vale demonstrar que o direito Cannico veio a tornar nico
na Europa um conjunto de leis, tendo em vista que vrias so as leis da Idade Medieval,
com a caracterstica da descentralizao da justia, onde os senhores feudais eram
investidos de jurisdio prprias, nascendo ai a importncia da utilizao do direito
cannico como fonte do direito unificado para toda a Europa. Outro ponto importante
era o caso mais grave para resolver as questes sobra a aplicao pessoal onde o
individuo somente poderia responder pelas acusaes que possivelmente violasse nas
leis de seu prprio grupo, sendo que, divergncias nos julgamentos eram frequentes.
Porem, quando mais o poder de influncia da Igreja crescia, mais os tribunais seculares
passam a ser pressionados para resolver seus litgios com base no direito cannico e
para transmitir seu poder de deciso aos tribunais cannicos. Sendo assim, com o
desenvolvimento, a jurisdio da Igreja passa a abranger uma serie de direitos, como
por exemplo, o julgamento de todos os casos relativos ao casamento e maioria dos
litgios referentes ao direito de famlia. Os cnones so regras jurdicas denominadas
sagradas que passam a determinar de que modo devem ser interpretados e resolvidos
os litgios dos mais variados possveis, onde mais que regras, so leis, verdades
reveladas por um ser superior, onipotente e a desobedincia muito mais que uma
infrao, sim um pecado.
4
(WOLKMER, 2008, p. 224).
http://wilsonporte.blogspot.com.br/2012/05/as-indulgencias-abusos-e-fatos.html
Agora, estabelecida que o direito cannico sim um direito divino, indivisvel, e que a
sua afronta mais que uma infrao e sim um pecado, resta descrever como essas leis
foram organizadas ao longo do tempo. Por ser um direito escrito, diferente do direito
romano conforme j demonstrado, este passado pela tradio e costumes, o direito da
Igreja, aps exausta atividade jurisdicional, a mesma passou a considerar o antigo
direito romano como legislao viva, apesar de ser esparsa, onde deveria ser
interpretada pelo clero nas universidades.
Ao tempo, a Igreja passou a monopolizar a produo intelectual jurdica na idade
feudal, repassando apenas o que era de seu interesse, onde os doutores universitrios
eram mais reconhecidos no pelo seu conhecimento, mas sim pela autorizao divina de
revelar a lei, onde cabe a ele, de modo retrico, exercer o domnio e a submisso
imposta pela Igreja na Idade Mdia. O que ocorre de fato que esse poder abstrato
herdado pela revelao divina apenas no campo da idealizao, o que de fato
predomina o modo como o conhecimento jurdico da poca repassada aos povos,
situao esta que era imposta e geralmente vinculado ao amor da onipotncia, como
uma cincia universal e sacrossanta de imposio e transmisso do poder. O crime e
crticas contra a Igreja tratada como crime contra a lesa majestade, no admitindo
questionamentos contra a lei divina, onde tem-se praticas repressivas para controlar os
possveis revoltosos, onde fora materializada no Santa Inquisio com seu sistema de
construo aflitiva da verdade. Assim, as interpretaes dos doutores universitrios, o
controle do sentido da jurisprudncia, tcnicas de transmisso, reconhecimento da lei
mxima, passa assim o direito cannico a ser o censor da realidade como instituio de
represso e formao das condutas admitidas pela Igreja nas sociedades.
5
(WOLKMER,
2008, p. 227).
O le#ado do direito cannico
No perodo da Idade Mdia, poca em que a posio da Igreja Catlica gozava de
preponderncia no contexto jurdico da Europa, inclusive na jurisprudncia, deste final
serviram para construir o direito comum, onde o trabalho de interpretao e elaborao
desenvolvidos pelos glosadores com relao ao direito Romano. Dessa forma, ocorreu a
substituio das praticas costumeiras, de uso regional, ou seja, de cada polis, por um
direito mais abrangente, uniforme e taxativo, sustentado na escrita e na lngua latina,
garantidor na tese, de melhorar a justia com relao aos juzes locais nos feudos ou de
seus prprios senhores. Atualmente, no campo do direito cannico, certo que limites
quanto a aplicao do mesmo surgiram, mas nem por isto sua presena se afastou do
plano geral do direito, em especial quanto princpios ticos, morais que atuam com
intensidade com os jurdicos; o que se sucede no instituto do direito privado, como o
casamento e sua eventual anulao; a proteo da famlia; da criana; da juventude; o
ptrio poder; adoo; tutela; dentre outros. H de se observar ainda a influncia de tal
direito no que se refere a defesa dos direitos dos trabalhadores e a prpria legislao,
bem como a semente lanada da Igreja no que diz respeito ao processo, principalmente
na conciliao entre as partes, lembrando ainda da necessidade dos processos serem
obrigatrios escritos, heranas essas do direito cannico.
6
(AZEVEDO, 2005, p. 116).
Outros fatores importantes utilizados no nosso ordenamento jurdico so razes do
direito cannico, citando exemplos como: a oposio de terceiros antes do julgamento,
onde antigamente nascia no direito germnico, quando invocado durante a assembleia
geral, por qualquer membro do cl, j na situao cannica se instaurava em processo
autnomo, onde nascia dois processos para julgamento em conjunto pelo mesmo juiz; a
questo da testemunha, onde pesava a idoneidade e carter do depoente, inclusive
realizando juramentos de dizer a verdade; a preocupao com a justia, onde a coisa
julgada passava a ocorrer aps trs sentenas conformes; a figura do advocati
pauperum, destinados a atender s pessoas carentes de recursos, como forma de
servir e buscar a justia; dentre outros inmeros exemplos que marcaram a presena
do direito cannico na formao do direito moderno.
$e#islao Cannica %rasileira
At 1514, a Terra de Santa Cruz (primeiro nome do Brasil), estava sob jurisdio
eclesistica de Portugal. O Papa Leo X concedeu a Dom Manuel, rei de Portugal, o
Padroado de todas as Igrejas fundadas nas terras conquistadas pelos portugueses. Os
primeiros padres jesutas, que so padres regulares, ou seja, os regulares so os
pertencentes s Ordens Religiosas, aqueles que vivem em comunidades
(conventos,fraternidades) e submetidos uma Regra de Vida, normalmente ditada pelo
fundador da Ordem, so muitos cada qual com um carisma definido. Os Franciscanos
seguem o carisma da pobreza, segundo nosso Santo Francisco e os padres seculares,
aqueles que no fazem voto de pobreza, podem ter bens, e s esto submetidos ao
Bispo, chegaram ao Brasil (Bahia) em 1549 e criaram o Bispado Da Bahia, que ficou
canonicamente subordinado a metrpole Lisboa.
O primeiro ato jurdico-cannico no Brasil ocorreu em 21 de julho de 1707, quando
foram promulgadas as Constituies Primeiras da Arcebispado da Bahia. Um fato
marcante em termos jurdico-cannicos para o Brasil aconteceu quando foi proclamada
a repblica, em 15 de novembro de 1889 e a Igreja foi separada do Estado. Em 1915
foi elaborado pelo episcopado do sul do Brasil, um documento chamado de
CONSTITUIES DAS PROVNCIAS ECLESISTICAS MERIDIONAIS DO BRASIL.
DAS NORMAS GERAIS
Cn. 1 - Os cnones deste Cdigo dizem respeito unicamente Igreja latina.
DAS LEIS ECLESISTICAS
Cn. 11 - Esto obrigados s leis meramente eclesisticas os batizados na Igreja
catlica ou nela recebidos, que gozem de suficiente uso da razo, e, a no ser que outra
coisa expressamente se estabelea no direito, tenham completado sete anos de idade.
Cn. 14 - As leis, mesmo as irritantes e inabilitastes, no obrigam em caso de dvida
de direito; em caso de dvida de fato, os Ordinrios podem dispensar delas, contanto
que, se tratar de dispensa reservada, esta costume ser concedida pela autoridade
qual est reservada.
Cn. 20 - A lei posterior ab-roga a anterior ou derroga-a, se assim o determinar
expressamente, ou lhe for diretamente contrria, ou ordenar integralmente a matria
da lei anterior; mas a lei universal no derroga o direito particular ou especial, a no ser
que outra coisa expressamente se determine no direito.
Cn. 21 - Em caso de dvida no se presume a revogao de uma lei preexistente,
mas as leis posteriores devem cotejar-se com as anteriores e, quanto possvel,
conciliar-se com elas.
DO COSTUME
Cn. 23 - S tem fora de lei o costume introduzido pela comunidade de fiis que tiver
sido aprovado pelo legislador, segundo as normas dos cnones seguintes.
Cn. 24 - 1. No pode obter fora de lei nenhum costume que seja contrrio ao
direito divino.
2. Tambm no pode obter fora de lei o costume contra ou para alm do direito
cannico, se no for razovel; o costume expressamente reprovado no direito no
razovel.
Cn. 25 - Nenhum costume obtm fora de lei a no ser que tenha sido observado por
uma comunidade capaz, ao menos, de receber leis com a inteno de introduzir direito.
Cn. 26 - A no ser que tenha sido especialmente aprovado pelo legislador
competente, o costume contrrio ao direito cannico em vigor ou para alm da lei
cannica s obtm fora de lei, se tiver sido legitimamente observado durante trinta
anos contnuos e completos; mas contra a lei cannica que contenha uma clusula a
proibir costumes futuros, s pode prevalecer o costume centenrio ou imemorial.
DAS PESSOAS FSICAS E JURDICAS
CAPTULO I
DA CONDIO CANNICA DAS PESSOAS FSICAS
Cn. 96 - Pelo batismo o homem incorporado na Igreja de Cristo e nela constitudo
pessoa, com os deveres e direitos que, atendendo sua condio, so prprios dos
cristos, na medida em que estes permanecem na comunho eclesistica e a no ser
que obste uma sano legitimamente infligida.
Transformaes do Direito &oderno
Do !ositivismo
Faz-se imperioso aludir gnese do postulado positivista para que se
possa "conhecer", de forma clara e fundamentada essa teoria. Dessa
forma, abordar-se- alguns pontos desse marco do conhecimento
jurdico. A inegvel contribuio da teoria de Kelsen a possibilidade
de construir uma teoria cientfica do direito. Desse modo, definir a
norma como objeto da cincia do direito caracteriza-se por "sanar"
um dos pressupostos existenciais da cientificidade jurdica. O segundo
requisito essencial para que o direito possa ser
cientificamente/autonomamente trabalhado o seu mtodo, que
deve estar fundado na abstrao quanto aos fatos sociais
determinantes da produo da norma, bem como os valores que
rodeiam a sua aplicao.
1
No entanto, para ser atingida a
independncia cientfica do direito, faz-se necessria a sua
"purificao", que, segundo Warat (2000, p. 55)
2
,
ocorre em cinco nveis, a saber:
a' (urificao Causalista ou Anti)Naturalista, para o direito
somente importa saber se a norma jurdica. A questo do valor
pouco importa. Se a norma jurdica, mesmo que injusta, essa
norma parte integrante da Cincia do Direito[...]; b) Purificao
Anti-Jusnaturalista. Kelsen repugnava a ideia do Direito Natural.
Combatia a presena da metafsica em sua cincia[...]; c) Purificao
Poltica e Ideolgica. uma purificao axiolgica. O cientista deve
ser neutro em relao ao objeto de sua pesquisa[...]; d) Purificao
Monista ou Antidualista. Kelsen no estabelece dualismos. No dividiu
o direito em objetivo e subjetivo, no separou o Estado do
direito[...]; e, por fim, e) Purificao Intra-Normativa. A norma
fundamental, que no norma posta positivamente, mas
pressuposta[...].
Como o direito, enquanto teoria kelseniana, difere da realidade,
necessrio que se estabeleam nessa diferenciao os pontos em
comum, bem como a possibilidade de sua aplicao prtica. Na
concepo de Kelsen, o ser (Sein) e o dever-ser (Sollen) so os plos
dessa dicotomia. E como afirma Bittar (2002, p. 336)
3
: "[...] com a
quebra da relao ser/dever-ser que pretende Hans Kelsen operar
para diferir o que jurdico [...] do que no jurdico[...]."
Para Kelsen, a norma o centro da cincia
do direito. Portanto, a validade desse ncleo formador - norma - a
busca maior que contempla a possibilidade de existncia da sua
teoria. Dessa maneira, verificar se a norma vlida o imperativo
maior a ser observado pelos operadores do direito. (TRINDADE,
2007)
4
Assim,
para Rocha, [...] a norma jurdica uma metalinguagem do ser,
localiza ao nvel pragmtico da linguagem, que ao emitir imperativos
de conduta no pode ser qualificada de verdadeira ou falsa,
simplesmente pode ser vlida ou invlida. O critrio de racionalidade
do sistema normativo, j que as normas no podem ser consideradas
independente de suas interaes, dado pela hierarquia normativa
(norma fundamental) na qual uma norma vlida somente se uma
norma superior determina a sua integrao ao sistema (ROCHA,
20025, p. 18).
5
Vlida a norma que est de acordo com o sistema jurdico por
derivar da autoridade dotada da imprescindvel
capacidade/competncia para a sua edio, e justa a norma que
supre os requisitos formais da sua validade. Dessa forma,
desconsideram-se quaisquer outros elementos ou juzo de sua
aferio enquanto norma jurdica.
Colabora com esse entendimento a afirmao de Bonamigo (2000, p.
95):
Para a concepo positivista do direito, uma norma justa se for
vlida, fazendo depender a justia da validez - a validade diz respeito
a procedimentos formais, na verificao de requisitos, independente
de juzo de valor sobre seu contedo; sendo vlida, existe como
norma.
A validade a base para se observar o sustentculo de toda estrutura
normativa positivista: a norma fundamental (grundnorm), que, nos
dizeres de Bittar
6
, "nada mais que o fundamento ltimo de validade
de todo o sistema jurdico" e representa o "topo" do sistema
normativo.
7
o ponto ltimo da hierarquia normativa, que, alm de
validar o restante do sistema, d o seu fechamento e encerra o
processo de escalonamento auto-referencial das normas, o qual,
segundo Kelsen (1999, p. 218)
8
:
[...] como todas as normas de um ordenamento (...) j esto
contidas no contedo da norma pressuposta, elas podem ser
deduzidas daquela pela via de uma operao lgica, atravs de uma
concluso do geral para o particular. Esta norma, pressuposta como
norma fundamental, fornece no s o fundamento de validade como
o contedo de validade das normas dela deduzidas atravs de uma
operao lgica. Um sistema de normas cujo fundamento de validade
e contedo de validade so deduzidas de uma norma pressuposta
como norma fundamental um sistema esttico de normas. O
princpio segundo o qual se opera a fundamentao da validade das
normas deste sistema um princpio esttico.
O sistema positivo clssico, como fora assegurado anteriormente,
regula sua prpria criao isto , as normas somente existem porque
outras normas as validam. "A relao entre a norma que regula a
produo de uma outra e a norma assim regularmente produzida
pode ser figurada pela imagem espacial da supra-infra-ordenao."
(1986, p. 246)
9
. E, dessa maneira, forma-se um sistema de normas.
Fonte: Gonalves (2011).
No entanto, o sistema normativo positivista no est distribudo de
forma esparsa. Mas "o Direito colocado por fora de uma deciso
poltica vinculante. O Direito positivo uma metadeciso que visa a
controlar as outras decises, tornando-as obrigatrias. Para tanto,
elabora-se um sistema jurdico normativista e hierarquizado."
(ROCHA; SWARTZ; CLAN, 2005, p. 14)
10
. O Direito positivo, dessa
forma, possui um escalonamento hierrquico que diferencia as
diversas normas e a sua interdependncia. Nesse sentido, apregoa
Kelsen (1999, p. 247).
A ordem jurdica no um sistema de normas jurdicas ordenadas no
mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas uma
construo escalonada de diferentes camadas ou nveis de normas
jurdicas. A sua unidade produto da conexo de dependncia que
resulta do fato de a validade de uma norma, que foi produzida de
acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja
produo, por sua vez, determinada por outra; e assim por diante,
at abicar finalmente na norma fundamental [...].
Portanto, a matriz analtica concatena o sistema de normas atravs
de processo lgico-dedutivo, utilizando-se de um "silogismo
pretensamente normativo", que vincula uma norma a outra
hierarquicamente superior para coordenar, assim, a interdependncia
normativa. Por consequncia, a validade - que o elo de ligao
entre as normas - da norma superior pr-requisito para a validade
das normas que dela se ramificam (TRINDADE, 2007).
11
Tambm no
processo de aplicao do positivismo observa-se a imprescindvel
aplicao do raciocnio silogstico uma vez que,
segundo *elsen (1999, p. 293)
12
,
[...] qualifica-se como uma concluso normativa do geral para o
particular uma tal, cuja premissa maior uma norma geral hipottica
que, sob certas, e em verdadegeralmente determinadas condies,
estabelece como devida uma condutageralmente determinada, cuja
premissa maior um enunciado que assevera a existncia individual
da condio determinada na premissa maior e cuja proposio
conclusiva uma norma individual que estabelece como devida
individualmente a conduta determinada geralmente na premissa
maior.
Acesse o site sobre os quadrinhos puros do direito. Uma forma
divertida de estudar o positivismo jurdico:
- http://ruadosbragas223.no.sapo.pt/DIREITO/Os_Quadrinhos_Puros
_do_Direito_WARAT.pdf
_______________________________________________________
_____
Assim, para questionar a validade de uma norma, pode-se discutir a
validade da norma hierarquicamente superior que lhe d sustentao,
de tal modo que se pode utilizar a imagem de uma rvore para
representar esse escalonamento hierrquico de interdependncia das
normas. A folha de uma rvore est presa/ligada ao galho desta
rvore, que est atrelado ao tronco, o qual, por sua vez, est fixado
ao globo. Assim, o que d sustentao ao globo o universo - norma
hipottica fundamental -, que no perceptvel com clareza -
passvel de observao emprica final, mas, em decorrncia dessa
dificuldade de cientificidade laboratorial, tem-se como pressuposto.
Segundo Bittar (2002, p. 339):
13
[...] essa norma possui um natureza puramente pensada, como
forma de estancar o regresso ad infinitum do movimento
cadenciado de busca doprincipium de validade de toda a estrutura
[...] do ordenamento jurdico; trata-se de um fico do pensamento,
na busca de determinar logicamente um comeo e um fim.
A norma jurdica, como expresso de uma ordem social coativa,
proclama o dever-ser como a conduta programvel/impositiva ao seu
destinatrio. Essa busca de um enquadramento social para o sujeito
passa pela definio - generalizada - do comportamento que
passvel de sano e, em consequncia, pela determinao da
correspondente penalizao. Se o positivismo perdurar somente
enquanto teoria, seria perfeito.
Porm, ao buscar alcanar o objetivo a que se prope - garantir a
homeostase social -, o sistema positivo pressupe a existncia de
uma igualdade que no est presente no mundo. Assim, a
impossibilidade da eficaz aplicao da matriz analtica aos casos
concretos, em decorrncia da sua coligao a uma igualdade
empregada em um mundo caracterizado nica e exclusivamente pela
heterogeneidade, resta ainda mais explcita quando as relaes
sociais se ampliam, pois, se a noo de tempo - anteriormente
trabalhada - alterou-se pelo progressivo aumento das trocas
intersubjetivas, a impossibilidade do bom emprego do positivismo
aumenta (TRINDADE, 2007).
14
A respeito assevera Teubner (1999, p. 711-12)
15
ao trabalhar a
globalizao:
Mas no entanto, a moldura quebrou-se. Isso aconteceu por efeito dos
desenvolvimentos jurdicos concretos e no de crticas da teoria, da
dogmtica e da poltica do direito. O Great Deconstructor no se
chama nem Jasques Derrida nem Niklas Luhmann, se
chama globalizao. As dvidas sobre os fundamentos que at agora
foram escondidos com sucesso, explodem de frente lex
mercatoria do mercado mundial e de outras praxes jurdicas
"aptridas" que criam um direto global sem interveno da parte do
estado acima dos ordenamentos jurdicos nacionais, mas tambm
acima do direito internacional tradicional que fundado sobre
acordos internacionais. A globalizao do direito faz brotar uma
enorme quantidade de fenmenos jurdicos que constrange a praxe
jurdica a ocupar-se, sem que a sua hierarquia normativa possa
incluir-se ou excluir-se. O terceiro fenmeno, at ento excludo, se
faz claramente notar-se.
Dessa forma, o positivismo clssico kelsenianio torna-se limitada para
atuar em um Mundo em que os Estados perdem fora frente a outros
atores internacionais - grandes corporaes multinacionais.
Assim, ao se observar o ordenamento jurdico-positivista, constrito ao
Estado (pseudo)soberano, ter-se- conta de que a norma superior -
que d validade s demais normas integrantes do sistema - a
Constituio. Essa norma, enquanto norma posta e no pressuposta
como a norma hipottica fundamental, d o "fechamento" do
escalonamento normativo adstrito ao Estado e, assim, "representa o
escalo de Direito positivo mais elevado [...] e que, em primeira
linha, serve para estabilizao das normas que aqui so designadas
como Constituio material e que so o fundamento de Direito
positivo de qualquer ordem jurdica estatal".
Visto como um sistema hierrquico de normas que encontra ponto
final na Constituio - que, enquanto norma primria de um sistema
jurdico posto, tem sua validade atrelada norma hipottica
fundamental. Desse modo, o sistema positivista procura - de uma
forma utpica - isolar-se das influncias do meio externo. Assim, o
postulado positivista de Kelsen pode ser considerado como um
sistema jurdico fechado com relao s mutaes sociais. Contudo,
essa independncia sistemtica encontra-se cada vez mais fragilizada
pelo incessante e progressivo aumento da complexidade das
sociedades. Caracteriza-se, assim, por estar vinculado a um tempo
passado, tempo esse que procura estabilizar as relaes
intersubjetivas planificando os tempos pessoais em tempos da
coletividade. E, dessa forma, impossvel para a teoria kelseneana
programar o futuro social, como tambm no consegue restringir a
possibilidade de desordem no meio, seja com a edio de um
infindvel nmero de normas, seja com interpretao "avalorativa"
dessas (TRINDADE, 2007).
16
O +neo'!ositivismo
Como foi apontado supra, o postulado positivista clssico um
sistema fechado s influncias de outros elementos da sociedade.
Com o intuito de criar uma teoria do direito "pura" a matriz
kelseniana procurou refinar o sistema jurdico expurgando todo
contedo anormativo. No entanto, essa busca "utpica" por uma
teoria lgico-dedutiva que, atravs da simples subsuno dos
preceitos normativos aos fatos da vida, desse todas as respostas ao
direito, passou, reiteradamente, por mutaes/adaptaes. Uma
delas a sistematizao, isto , a busca por categorias gerais que
deem suporte s categorias especficas.
Assim,
Se existe um trao que caracteriza de modo geral as formas de
racionalidade jurdica, este o pensamento sistemtico. De fato, a
dogmtica, como qualquer disciplina com pretenses em maior ou
menor medida cognoscitivas, toma como um dos seus objetos
fundamentais a sistematizao do conhecimento, seja qual seja o
critrio de sistematizao (SANCHEZ, 1992, p. 74)
1
.
A sistematizao de categorias para o direito positivo a base de sua
estrutura de encadeamento validativo. Prescinde assim de outros
elementos. No entanto, a grande mudana do/no posicionamento
dogmtico justamente a introduo de elementos extra-normativos
no processo decisional. Nesse caso, a insero de valores matrias no
sistema jurdico permitiu a construo de uma teoria do direito mais
adaptada realidade do mundo da vida - a qual estamos inseridos
(TRINDADE, 2007).
2
O positivismo limitava o problema questo da validade e da
atribuio de sentido jurdico a atos e eventos. A teoria pura reduzia
o problema a uma questo prpria da teoria do conhecimento e tinha
determinado as condies de possibilidade para pensar o
ordenamento jurdico. Estas simplificaes no enfrentavam o
problema de fundo: a diferenciao de um sistema de ao que opera
com base no sentido, que operativamente fechado, que reproduz
recursivamente a sua clausura e que no pode ser limitado por
operaes de natureza epistemolgica (CAPILONGO, 2000, p. 184).
3
A utilizao de disciplinas como a sociologia, a psicologia e a
antropologia possibilitaram uma anlise do direito no bitolada com
os mandamentos normativos. A sociologia apresentou uma forma de
observao dos fatos jurdicos luz das prticas de uma sociedade e
suas inter-relaes comunicacionais.
4
J a psicologia possibilitou a
anlise de elementos da (i)racionalidade humana e seus efeitos no
mundo da vida. Por fim, a antropologia apresenta ao Direito uma
postura do ser humano enquanto Ser. Dessa forma, o Direito no
seria tido apenas como exposio de preceitos normativos. O Direito
estaria conciliado com a realidade humana, e no apenas imposto a
ela.
5
Essa abertura do sistema jurdico propiciou a incorporao de novas
concepes tericas e uma maior autonomia na elaborao
conceitual. Contudo, trouxe tambm uma certa insegurana aos
operadores do Direito. Essa insegurana reflete, por exemplo, a
necessidade de manuteno de algumas reservas adoo
incondicional de conceitos extrapenais pelo sistema jurdico.
Assim,
[...] algumas reservas sobre os eventuais prejuzos que a assuno
incondicional de tal metodologia poderia causar [...] a possvel perda
de garantias e limites valorativos na imposio da pena, a dissoluo
da dimenso garantista das categorias do sistema do Direito penal, e
incluso o prprio desaparecimento do Direito penal que viria a ser
substitudo por um sistema de controle de base "teraputica"
(SANCHEZ, 1992, p. 92, grifo nosso).
6
Essa perda da referncia normativa permite uma
sobreposio de elementos pragmticos que castram o jurista por
retirar o arcabouo normativo da base do sistema jurdico. Dessa
forma, o crescente pragmatismo que ora refere-se nas palavras de
Dworkin "adota uma atitude ctica com relao ao pressuposto que
acreditamos estar personificado no conceito de Direito: nega que as
decises polticas do passado, por si ss, ofeream qualquer
justificativa para o uso ou no do poder coercitivo do Estado"
(DWORKIN, 2003, p. 185).
7
A necessidade de abrir o sistema jurdico s interferncias de outros
elementos externos ao direito iniciou uma discusso acerca da
autonomia do direito. Se atrelarmos o direito - e consequentemente o
processo decisional dele provindo - s estruturas extrajurdicas pode-
se perder uma das mais festejadas conquistas do mundo jurdico: o
princpio da legalidade. Por mais que a noo de segurana jurdica
no represente uma possibilidade ftica
8
, o livre arbtrio de um direito
sem vinculao normativa extirparia as garantias fundamentais
apregoadas pelo direito vigente em um Estado Democrtico de Direito
to desejoso (TRINDADE, 2007).
9
Do todo observado, resta a noo de que um Direito estritamente
direcionado pelo positivismo clssico, e sua construo normativa em
um sistema fechado, no pode servir aos anseios do atual estgio de
desenvolvimento scio estatal ao qual estamos inseridos. Tampouco
um sistema, cuja orientao esteja vinculada aplicao exclusiva de
elementos extrajurdicos, pode suprir a falta de um elemento de
estabilizao de expectativas social em tempos de complexidade.
Assim, tem-se que a construo dogmtica, com vis valorativo
(TRINDADE, 2007)
10 11
e esfera teleolgica apresenta-se como o ponto
de mutao do em direo ps-modernidade que atende as
necessidades de um Direito com vis social.
,ermen-utica
Temos de observar que a linguagem a base das relaes sociais,
motivo pelo qual faz-se necessrio uma adaptao desta linguagem
ao mundo do direito. Analisando assim qual cdigo comunicativo pode
ser estabelecido como base de lngua padro, criando assim um
semiolgico. Importante ressaltar o conceito e caractersticas da
nomenclatura hermenutica para adentrarmos no trabalho. O termo
hermenutica de origem grega, possivelmente oriunda de
"Hermes", o deus que, na mitologia grega foi considerado o inventor
da linguagem e da escrita. Tal deus tambm tinha a funo de trazer
as instrues dos deuses para o entendimento do ser humano, o que
j demonstra as ligaes iniciais entre a hermenutica e a teologia. A
hermenutica surgiu primeiramente na teologia pag, posteriormente
na teologia crist, migrando para a filosofia at chegar desta ao
mundo do direito. A analogia da hermenutica jurdica, ou seja, as
tcnicas e os mtodos para a correta interpretao das leis se torna
fundamental para o estudo desta cincia, onde no vem de um nico
ato solitrio, mas sim de uma corrente de atos jurdicos.
12
Importante aqui narrar tambm a distino entre a hermenutica,
interpretao e a aplicao do direito que so conceitos diversos,
contudo sempre em uma formato de convexo, sendo parte de um
nico processo. De plano a hermenutica visa o objetivo bsico da
interpretao, esclarecer o sentido e o alcance das questes jurdicas
e a aplicao no caso concreto, todavia no se pode considerar a
hermenutica como exclusivamente um mtodo de interpretao. Ela
um processo sistemtico de interpretao, mtodos e leis cientificas
para apurao do contedo, ou seja, a busca do sentido para a
correta e justa aplicao no mundo dos fatos.
A palavra interpretao de origem do latim e quer dizer "entre
entranhas", onde vem de prticas de feiticeiros e prticas religiosas
ao introduzir as mos entre as entranhas de um animal morto a fim
de conhecer o destino das pessoas de obter resposta para o problema
humano. Assim, pode-se tecer a considerao de que a hermenutica
utiliza da interpretao como um dos processos de entendimento do
sentido das normas, onde muitas vezes no tem o mesmo
significado. Uma interpretao por meio de regras e processos
especiais nem sempre alcanam o seu objetivo final, onde a
hermenutica lana mo da interpretao para alcanar o sentido
preciso do sentido jurdico da norma para posteriormente alcanar o
sentido no caso concreto.
O sistema da hermenutica mostra que o processo de compreenso
fuso de horizontes, tendo em vista que impossvel ao intrprete se
colocar no lugar do outro, sendo assim o processo de compreender
necessrio para alcanar os objetivos literrios. Deve-se ainda ter
um pr-conceito e pr-juzos para uma melhor compreenso, como
por exemplo, um texto ir fazer despertar algo que de certa forma j
est, pelo menos, presente a quem ir interpretar.
Para visar a soluo da interpretao busca-se vrios meios, mtodos
e tcnicas para sua existncia, dentre elas pode-se citar.
13
&todos .ermen-uticos = tcnicas que visam a obteno de um
nico resultado, buscam orientaes para os problemas de
decidibilidade dos conflitos, embora no se possa escrever de forma
rigorosa todos os tipos, segue algumas:
a' Inter!retao literal ou #ramatical
Busca uma interpretao e uma conexo das palavras nas sentenas,
conceitua uma expresso com outras expresses dentro de um
contexto, parte-se da ideia de que a ordem das palavras e o modo
como elas esto conectadas so importantes para a interpretao do
texto.
/' Inter!retao lo#ico sistem"tico
Instrumento tcnico que serve de incio para a identidade de
inconsistncia, onde a conexo de uma expresso normativa com as
demais do contexto necessria para a obteno do significado
correto.
c' Inter!retao .ist0rica
Uma vez emanada a lei, desprende-se do legislador e passa a ter vida
e interpretao prpria recebendo e modificando o meio o que
significa a transformao do seu significado ao decorrer do tempo.
d' Inter!retao teol0#ica
Basicamente consiste em que possvel atribuir um proposito s
normas, encontrar nas leis, constituies, decretos, um fim que
jamais poder ser contra a sociedade.
Sendo assim, interpretar o direito visa revelar o seu sentido e alcance
na esfera real dos fatos. A interpretao do direito uma atividade
que tem por fundamento levar ao conhecimento das expresses
normativas para ai sim aplic-las s situaes sociais.
A .ist0ria constitucional
A evoluo do sistema legalista no decorrer dos anos, passando do direito grego,
aperfeioamento pelo direito romano e a coleo de normas pelo direito cannico,
ocorreu em pocas marcantes no tocante imposio de leis. Sendo assim
indispensvel um estudo histrico das constituies brasileiras para que se possa
apreciar a atualidade e criar expectativas para o futuro. certo que o poder
constitucional se concentra em pelo menos trs exigncias, quais sejam: a imposio de
limites ao poder do governo, a adeso aos princpios do Estado de direito e a proteo
aos direitos fundamentais.
De um ponto de vista sociolgico, possvel alegar que as constituies modernas
estabelecem limites entre o que toca ao direito e poltica, fixando assim as regras
onde um sistema se comunica com o outro e ainda permitindo que eles permaneam
distintos. Por um lado a poltica que detm a funo primordial de produo de decises
coletivas de forma vinculante, fornecendo assim o direito a uma organizao
institucional dotada de coercibilidade. O direito, em um segundo momento, tem como
funo precpua a estabilizao de expectativas comportamentais.
de se observar que o denominado Constitucionalismo tem suas procedncias no
pensamento europeu do sculo XVIII, quando com a Revoluo Francesa se formou
como movimento estratgico na passagem dos poderes, em substituio sociedade do
Ancien Rgime (Antigo Regime), baseada na desigualdade jurdica para uma sociedade
democrtica.
As Constituies tm por base central outras constituies passadas, que tambm
servem de inspirao para futuras constituies, e contm uma srie de ideias,
realidades da sociedade e bandeiras polticas e sociais, nacionais e internacionais que
inspiram o seu teor. Ou seja, no fazem parte de um sistema travado, mas um sistema
aberto aos demais subsistemas do sistema social. Uma Constituio no pode ser
interpretada como um "vcuo jurdico, sem aluso s Constituies que a
antecederam. O que d sentido s normas de uma carta constitucional e, por
conseguinte, o que nos permite falar em inovao, avano ou retrocesso, o pano de
fundo da histria constitucional do pas.
As histrias das constituies brasileiras devem ser transmitidas como uma evoluo na
direo democracia e incluso social e poltica do pas. Evoluo que muitas vezes
passou por incerta, com avanos e retrocessos, mas que, no decorrer do tempo,
apresenta uma manifesta tendncia democratizao e incluso social e de direitos
inerentes pessoa. Dentre as constantes ampliaes dos direitos constitucionalmente
distinguidos, pode-se citar, Direitos Civis, Polticos, Sociais, Difusos dentre outros e sua
delimitao em: Direitos de minorias ou grupos vulnerveis.
mos a comemorao da constituio federal no dia 24 de janeiro, data da primeira
Constituio Brasileira, promulgada no ano de 1824, aps o procedimento de
Independncia do Brasil, que ocorrera em 1822. Em 1823, o imperador D. Pedro I
escolheu os constituintes que iriam escrever nossa Carta Maior (Constituio Federal). A
primeira Constituio Federal brasileira de 1824 teve como fundamental caracterstica a
efetivao e ascendncia do poder do monarca acima dos poderes Executivo, Legislativo
e Judicirio. D. Pedro I conseguiu manobras polticas para no perder fora poltica e
para no reduzir suas discusses. Ao contrrio da Constituio Francesa, a Constituio
do Brasil deu maiores poderes ao Imperador e no sociedade que necessitava tanto
de democracia.
Logo em seguida Proclamao da Repblica, ocorrida em 1889, foi anunciada, no ano
de 1891, a segunda Constituio brasileira, em que o principal acrescentamento desta
Constituio em relao anterior foi que a Constituio de 1891 aboliu qualquer
possibilidade de o Estado brasileiro retornar ao Imprio, ou seja, ao governo imperial. A
terceira Constituio Federal brasileira foi outorgada no ano de 1934, pela denominada
Revoluo Constitucionalista, do ano de 1932. Essa Constituio teve abreviada
durao, foi abalizada por um ambiente poltico cercado de crises, incertezas e
ressentimentos. Imediatamente, no ano de 1937, com a elevao do Estado Novo, o
presidente Getlio Vargas decretou uma nova Constituio brasileira, para autenticar a
ditadura que havia implantado. Aps o final do ano de 1945, no ano de 1946, outra
Constituio brasileira foi concedida. Grupos pertencentes ao Estado Novo queriam o
prosseguimento da ditadura, fato este impossvel para aquele momento histrico. Sendo
assim, no ano de 1945 tinha sido concluda a Segunda Guerra Mundial, o mundo
precisava de democracia para restaurar as runas deixadas pela guerra e pelas ditaduras
dos Estados Totalitrios. A sexta e penltima variante da Constituio brasileira foi
escrita no ano de 1967, sob o escudo da ditadura militar. Os militares iniciaram a
ditadura no ano de 1964, que perdurou at o ano de 1985. A Constituio de 1967 foi
reescrita sob a tica da censura e da represso. J em 1969 ela foi modificada com o
Ato Institucional n 5 (asseveramento da censura e da ditadura). A ltima verso da
Constituio brasileira foi reescrita na Assembleia Constituinte do ano de 1987.
Sendo assim, iremos abordar agora traos detalhados das constituies ao longo dos
anos de acontecimentos ocorridos at a presena marcante da atual Constituio
Federal do Brasil de 1988.
1' A Constituio im!erial de 1234
H de se analisar a primrdio a difcil tarefa de se elaborar tal constituio, quando os
representantes do poder constituinte, na elaborao da primeira constituio
esbarraram na firme inteno do imperador em preservar a garantia de sua autoridade,
impondo entre outras medidas, o veto e a possibilidade de dissoluo do parlamento. A
primria Constituio brasileira datada de 25 de maro de 1824 e possua fortes
traos do liberalismo francs. Outorgada por Pedro I como a primeira Carta poltica do
Imprio do Brasil, ela cunhava um Governo Monrquico, Constitucional e
Representativo. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007)
1
Seu texto teve como base a
proposta da Assembleia Constituinte de 1823, que apesar de ser dissolvida por Pedro I,
contribuiu para a redao final da Constituio do Imprio. O projeto da nova
constituio federal pelo relator Antnio Carlos Ribeiro de Andrade entrou em desacordo
com o imperador que, conforme j comentado, dissolveu a assembleia. O territrio
brasileiro, at ento dividido pelas capitanias hereditrias, foi desmembrado em
provncias cujo governo era exercido por Presidentes. A ampla inovao trazida pela
Constituio do Imprio frente ao surgimento do constitucionalismo foi a criao do
Poder Moderador. Assim, alm do Executivo, Legislativo e do Judicirio, o Poder
Moderador garantia o autoritarismo do imperador como meio de suplantar os demais e,
supostamente, garantir o equilbrio de todo o sistema constitucional/poltico. Segundo
Bulos, a Constituio de 1924, criou quatro funes do poder poltico:
2
uno legislativa - delegada Assembleia Geral, formada pela Cmara dos Deputados,
eletiva e temporria, e pelo Senado, organizado mediante eleio provincial, sendo os
seus membros designados pelo Imperador, em lista trplice, para uma investidura
vitalcia.
uno moderadora !ou neutra) - chave de toda a organizao poltica do Imprio, foi
atribuda, exclusivamente, ao Monarca, que interferia no exerccio das outras. No
mbito legislativo, nomeava senadores, dissolvia a Cmara de Deputados, convocava
extraordinariamente a Assembleia Geral, sancionava e vetava proposies legislativas.
Na esfera executiva, nomeava e exonerava Ministros de Estado. Na judiciria, suspendia
juzes, exercendo a clemncia soberana de rus condenados por sentena.
uno executiva - chefiada pelo Monarca (pessoa sagrada e inviolvel, sem qualquer
dever de responsabilidade), que era servido por Ministros de Estado, os quais
administravam a Corte. Ademais, o prprio Rei examinava as proposies legislativas,
submetidas ao seu poder de sano ou de veto, o qual era tcito. Caracterizava-se pelo
decurso, in albis" do prazo de um ms. Passadas duas legislaturas, dentro do perodo de
quatro anos cada uma, e sendo o projeto reapresentado e aprovado pela Assembleia
Geral, a lei estava, automaticamente sancionada.
uno #udici$ria - desempenhada por juzes, com a participao de jurados. O Tribunal
do Jri possua competncia penal e civil, nas hipteses previstas na legislao. Quanto
s garantias da magistratura, era assegurado ao juiz a vitaliciedade, mas no a
inamovibilidade. O rgo de cpula do Poder Judicirio era o Supremo Tribunal de
Justia, formado por juzes togados, advindos das relaes provinciais, e nomeados de
acordo com a antiguidade.'
3
O ttulo I da Carta de 1824, a qual tratava do Imprio, de seu territrio, governo,
dinastia, religio dentre outros, o Brasil " a associao poltica de todos os cidados
brasileiros formando uma nao livre e independente, e seu territrio dividia-se em
provncias, sendo o governo monrquico, hereditrio, constitucional e representativo. A
dinastia imperante a de D. Pedro I, o qual era o defensor perptuo do Brasil. A religio
do Imprio a catlica. Outra caracterstica peculiar Constituio do Imprio que foi
a nica a enquadrar-se como semirrgida, uma vez que, em seu art. 178, exigia um
procedimento mais rigoroso para a matria eminentemente constitucional, deixando as
demais seguirem os procedimentos da lei ordinria. Por fim, deve-se ressaltar que a
Constituio de 1824 foi a primeira a conter em seu texto a Declarao dos Direitos
Fundamentas.
4 5
J no segundo ttulo, a carta mxima tratava dos cidados brasileiros, incluindo nestes
os nascidos em Portugal, mas residentes no Brasil, e que de forma expressa ou tcita,
houvessem aderido continuao da residncia neste pas. Com respaldo no artigo 7
da referida constituio, aquele que se naturalizasse em pas estrangeiro ou aceitasse
emprego, penso ou condenao sem licena do imperador, ou sofresse pena de
banimento, perderia assim os direitos de cidado. Ainda com base nessa lei maior, em
seu artigo 10, so quatro os poderes polticos reconhecidos pela lei, quais sejam:
legislativo, moderador, executivo e judicial, sendo o primeiro delegado a uma
assembleia geral composta de duas cmaras, deputados e senadores, enquanto aqueles
so eletivos e temporrios, estes so vitalcios. Temos ainda no capitulo IV a
proposio, discusso, sano e promulgao de leis infraconstitucionais, ficando claro
que a ltima deciso cabe ao imperador, e este ir consentir de forma negativa ou
positiva. Importante narrar que o imperador tambm o chefe do poder executivo, com
respaldo no artigo 102 da constituio federal da poca, podendo convocar a
assembleia geral, nomeia bispos em razo da unio entre o estado e a igreja, prov
cargos pblicos, designa embaixadores, realiza tratados de aliana, declara guerra e faz
a paz, dentre diversas outras funes inerentes apenas ao imperador.
6
3' A Constituio da Re!5/lica 6el.a de 1271
H de se observar primeiramente que em meados das dcadas de 1870 e 80 teve um
marco pelo declnio do regime imperial no Brasil. O modo de governo monrquico no
foi capaz de resolver os problemas polticos e atender s ambies sociais que surgiram
com o desenvolvimento do pas e as transformaes da sociedade. Gradativamente a
monarquia foi perdendo legalidade diante dos movimentos republicanos e abolicionistas
e entrando em conflito com duas instituies importantes, quais sejam, o Exrcito e a
Igreja. Assim, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a Repblica. O governo
monrquico foi arrasado por um golpe militar e a Proclamao da Repblica foi um
movimento predominantemente elitista que ocorreu sem luta e sem a participao
direta das categorias populares. Uma aliana entre a elite militar do Exrcito e os
fazendeiros cafeicultores do oeste paulista possibilitou aos republicanos tomarem o
poder. Em tal contexto, pode-se verificar que o "coronelismo teve grande influncia no
processo poltico. Assim, o chamado "voto de cabresto limitou a real participao
popular e imps populao a escolha de candidatos vinculados aos interesses dos
latifundirios.
7
O Governo Provisrio adotou algumas medidas admirveis tais como a separao oficial
entre a Igreja e o Estado, abolindo com o regime do Padroado, pelo qual a Igreja
obteve autonomia e liberdade para tomar decises relativas a questes religiosas e
administrativas; a instituio do casamento civil e a criao da bandeira republicana
com o lema "Ordem e Progresso". A mais extraordinria medida que o Governo
Provisrio realizou foi a promulgao da Constituio de 1891. O Brasil passava a ser
uma Repblica Federativa presidencialista. A Repblica conectava e congregava vinte
Estados com ampla autonomia econmica e administrativa. O Presidente da Repblica,
escolhido em eleio direta, exercia o Poder Executivo por um mandato de quatro anos
e escolhia livremente seus Ministros de Estado. O Poder Legislativo era composto de
Cmara dos Deputados e Senado. Os primeiros eram escolhidos, por sufrgio direto,
pelos Estados e pelo Distrito Federal, com mandato de trs anos. J os trs Senadores
de cada Estado-Membro, tambm escolhidos por sufrgio direto, exerciam mandato de
nove anos com alternncia trienal de um tero. A Constituio de 24 de fevereiro de
1891 foi a primeira a ser promulgada no Brasil e, seguindo o modelo dos Estados
Unidos da Amrica, instituiu o federalismo, a repblica e o sistema presidencialista. Ao
adotar a forma unitria de Estado, a Constituio de 1891 estabelece o federalismo,
transforma as provncias em Estados, o Municpio Neutro em Distrito Federal, e inibe o
perigo de secesso. Aos Estados atribudo governo prprio e competncias especficas.
extinto o voto censitrio e a religio oficial (catlica). O Estado passa a delegar
autonomia aos Estados-Membros que compem a federao, limitada at os dias atuais.
A Constituio institui os Estados Unidos do Brasil demarca a separao dos Poderes:
Executivo, Legislativo e Judicirio. O Poder moderador - vinculado ao Prncipe - extinto
paralelamente converso da Monarquia em Repblica. O momento em que os
militares ocuparam a liderana poltica do pas tambm ficou notrio como a Repblica
da Espada. Com a queda do governo monrquico foi constitudo um governo provisrio
comandado pelo marechal Deodoro da Fonseca, que governou o pas at 1891.
8
A Constituio Federal de 1981 passa por uma devotada crise de demarcao dos
interesses sociais. "Em 1926, uma reforma constitucional tratou de centralizar o poder,
alterou as hipteses de interveno federal, modificou o processo legislativo e criou a
Justia Federal
9
. Estavam criadas as bases para a Revoluo de 1930.
8' A Constituio de 1784
A reviravolta causada pela Revoluo Constitucionalista de 1932 coagiu o governo
provisrio de Getlio Vargas a aceitar medidas que dessem normalidade ao regime
republicano. De tal modo, o governo elaborou uma nova Lei Eleitoral e convocou
eleies que foram realizadas no ano posterior. A partir de ento, uma nova assembleia
constituinte recebeu a posse em novembro de 1933 com o escopo de atender os
anseios polticos protegidos desde a queda do regime oligrquico. Em seguida, no dia 16
de julho de 1934, foi anunciada uma nova constituio federal com 187 artigos. De um
modo amplo, essa nova carta ainda resguardava alguns pontos anteriormente
difundidos pela constituio do ano de 1891. Entre muitos itens foram poupados o
princpio federalista que mantinha a nao como uma Repblica Federativa; a utilizao
de eleies diretas para escolha dos membros dos poderes Executivo e Legislativo; e a
separao dos poderes em Executivo, Legislativo e Judicirio.
http://pnld.moderna.com.br/2011/07/09/a-rebeldia-paulista-de-9-de-julho/
___________________________________________________________________
A Constituio Federal da Nova Repblica foi uma carta anunciada que manteve a
estrutura bsica da anterior, mas expandiu os poderes da Unio. Tal carta constitucional
teve como amparo ideolgico a constituio alem de 1919 e a constituio espanhola
de 1931. A Constituio de 1934 foi a primeira a ter em seu texto o ttulo da "Ordem
Social, mencionando, assim, a base para todo um rol de direitos sociais.
10
Para Fachin,
A Constituio de 1934 nasceu em consequncia de dois fatos histricos importantes na
Histria do Brasil: a Revoluo de 1930, que conduziu Getlio Vargas ao poder, e o
Movimento Constitucionalista de 1932, pressionando o Governo Provisrio para que este
aceitasse convocar eleies, a fim de eleger a Assembleia Constituinte e propiciar a
elaborao de uma Constituio para o Brasil.
11
No que se refere s questes trabalhistas, a Carta Magna vedava qualquer tipo de
distino salarial baseada em critrios de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil. Ao
mesmo tempo, apresentou novas conquistas classe trabalhadora com a concepo do
salrio mnimo e o abatimento da carga horria de trabalho para 8 horas dirias.
Alm disso, estabeleceu o repouso semanal e as frias remuneradas, a indenizao do
trabalhador demitido sem justa causa e proibiu o uso da mo de obra de jovens
menores de 14 anos. Nessa mesma carta magna, as diretrizes eleitorais criadas em
1932 foram finalmente concretizadas. Fazendo direito s propostas da Revoluo de 30,
a nova lei eleitoral admitiu a adoo do voto secreto e direto e ainda paralelamente, a
nova lei aceitou o voto para todos aqueles maiores de 21 anos, incluindo neste
momento as mulheres. Exclusivamente os analfabetos, soldados, padres e mendigos
no poderiam ter direito ao voto. Assim sendo, tais caractersticas, pode-se verificar que
tal constituio Inovou o cenrio jurdico com a criao da Justia do trabalho e da
Justia Eleitoral como rgo do Poder Judicirio. Redefiniu os direitos polticos com a
possibilidade do voto feminino. Atribuiu Cmara dos Deputados a competncia
legislativa federal, deixando o Senado apenas como rgo colaborador. Foi objeto de
constante ameaa pelo movimento fascista europeu que, a exemplo da constituio
alem e da constituio espanhola, foi derrubada pelo golpe de 1937.
4' A Constituio de 1789
Inicialmente a Assembleia Constituinte elegeu Getlio Vargas para ocupar o cargo da
presidncia da Repblica, cargo que seria preenchido at 3 de maio de 1938. Sendo
assim, em meados de 1937, os candidatos presidncia eram Armando de Sales
Oliveira, Jos Amrico de Almeida, Plnio Salgado, e Lus Carlos Prestes. Todavia, as
eleies no vieram a ocorrer, pois em novembro de 1937, Getlio produziu um golpe
de estado, e no mesmo ms, Getlio Vargas outorgou a Constituio do Estado Novo,
ordenada por Francisco Campos, sendo uma Constituio autoritria e centralizadora. A
Constituio do Estado Novo ou Polaca, que tem o significado pela clara vinculao com
os ideais nazifascistas, foi organizada por Francisco Campos e deveria ser submetida ao
plebiscito nacional, fato este que nunca ocorreu. O texto outorgado em 10 de novembro
de 1937 teve como embasamento a Ditadura de Getlio Vargas e a sua implantao era
justificada pelo medo da infiltrao comunista em terras brasileiras% Sua principal
caracterstica foi concentrao do poder nas mos do Executivo que governava
atravs de decretos. Teve a caracterstica de uma constituio semntica, uma vez que
apenas servia para legitimar o poder de Vargas.
12
Segundo Ferreira:
Essa Carta Magna nunca foi cumprida. Dissolvidos os rgos do Poder Legislativo, tanto
a Unio como os Estados-Membros, dominou a vontade desptica do presidente,
transformado em caudilho, maneira do caudilhismo dominante nas Repblicas latino-
americanas. Os Estados-Membros viveram sob o regime da interveno federal, sendo
os interventores na verdade delegados do presidente. A liberdade de imprensa e de
opinio foi amordaada e tambm dissolvidos os partidos polticos.
13
Foi uma constituio adversa em que, de um lado ocorriam o enfraquecimento das
garantias individuais, a relativizao do federalismo e a interveno no judicirio, e de
outro, o grande desenvolvimento econmico, a consolidao das Leis do Trabalho, a
afirmao de vrios direitos sociais dentre outros.
14
:' A Constituio de 174;
Aps a antiga constituio a era de Getlio Vargas entrou em descrdito,
posteriormente de entrar na Segunda Guerra Mundial e um movimento de oposio
conseguiu retir-lo do poder no ano de 1945. Com a queda do ditador, ostentou a
presidncia o general Eurico Gaspar Dutra. A Constituio de cunho autoritrio no era
a mais adaptada para o Brasil e precisava ento ser substituda. O ento presidente
convocou uma nova Assembleia Nacional Constituinte para que se pudesse promulgar
uma indita constituio federal brasileira. Diversos intelectuais da poca participaram
do desenvolvimento da nova Constituio, e pela primeira vez os comunistas tambm
agregaram as reunies do Assembleia Constituinte, tendo por resultado uma carta
constitucional muito avanada para a referida poca, conquistando avanos
democrticos e na liberdade individual de cada cidado. As liberdades que o prprio
Getlio Vargas havia acrescentado Constituio em 1934 e que foram retiradas por
ele mesmo em 1937 voltaram a integrar a carta de 1946. A nova Constituio Brasileira
foi promulgada no dia 18 de setembro de 1946. Entre suas novas regulamentaes
estavam as seguintes: igualdade perante a lei, ausncia de censura, garantia de sigilo
em correspondncias, liberdade religiosa, liberdade de associao, extino da pena de
morte e separao dos trs poderes.
15
A Constituio de 1946 permaneceu em vigncia at o Golpe Militar, em 1964, ocasio
em que, os militares comearam a aplicar uma srie de emendas para constituir as
diretrizes do novo regime at ser definitivamente suspensa pelos Atos Institucionais e
pela Constituio de 1967. A nova constituio federal, seguindo o panorama do ps
Segunda Guerra Mundial, teve admirvel papel no processo de redemocratizao do
Brasil, aps a derrubada de Vargas, ocorrida dia 29 de outubro de 1945, pelo receio dos
Ministros Militares de sua finalidade de permanecer no poder, foi eleito em 02 de
dezembro do mesmo ano o General Eurico Gaspar Dutra que recebeu a faixa
presidencial do Ministro do STF Jos Linhares. A Assembleia Constituinte teve incio no
dia 02 de fevereiro de 1946 e teve como alvo principal o restabelecimento da harmonia
entre os Poderes, abalada pela hipertrofia do Executivo de Vargas. Diferentes elementos
foram restitudos ao sistema constitucional brasileiro, dentre eles pode-se citar:
aumento da autonomia dos municpios; real participao do Senado no processo
legislativo; ampliao dos direitos e garantias individuais.
16
O texto da Constituio de 1946 seguiu os ditames das anteriores constituies de
cunho popular do Brasil. Assim, seu texto seguia as regras apresentadas pelas
constituies de 1891 e, principalmente, de 1934. Segundo o relato de Capez, tal
constituio "restaurou a autonomia das entidades federadas, criou novamente o cargo
de Vice-Presidente da Repblica [...] e reintroduziu os remdios do mandado de
segurana e da ao popular
17
A Constituio de 1946, embora de matriz liberal,
promoveu avanos de cunho social. Alm da funo social da propriedade, o repouso
semanal remunerado, frias, direito de greve, estabilidade no emprego, previdncia
social, aposentadoria e participao nos lucros so conquista proclamadas por tal carta
constitucional.
18
;' A Constituio de 17;9
Aps os militares assumirem o poder no Brasil atravs de um Golpe de Estado, vrias
medidas foram tomadas para que o exerccio do regime que estabeleciam fosse
viabilizado atravs de aparatos legais. A Constituio de 1967 foi uma das medidas do
novo governo, a qual acumulou todos os outros decretos do regime militar iniciado em
1964. Fruto do golpe de 1964, a Constituio de 24 de janeiro de 1967 foi formalmente
promulgada. Contudo, devido imposio feita pelo governo Militar do Marechal Castelo
Brando junto ao Congresso Nacional, pode-se afirmar que o poder constituinte fora
limitado, predominando a vontade do poder executivo que outorgou o novo texto
constitucional. Sobre a proposta de limitar a influncia dos possveis revolucionrios na
poltica nacional que se confere a gnese da Constituio de 1967, reflexo da poltica
internacional que estava focada na Guerra Fria.
A ideia de um atual Estado de Segurana Nacional, assim como o prprio corpo do texto
constitucional, foi inspirada na Constituio de 1937 e apareciam forte tendncia de
centralizao poltica e administrativa na Unio. Os poderes de Presidente da Repblica
tambm foram ampliados em detrimento dos demais poderes da trade
estatal.
19
Segundo Avelar,
A Constituio de 24.01.1967, vigente a partir de 15.03.1967, foi outorgada ao povo.
Foi centralizadora, j que trouxe para o mbito federal uma srie de competncias
antes conferidas aos Estados-membros e aos Municpios. Houve uma ampliao dos
poderes atribudos ao Presidente da Repblica e um abrandamento daqueles conferidos
ao Legislativo e ao Judicirio.
20
No ano de 1964 foi publicado o Ato Institucional Nmero Um, que a princpio no
recebia uma determinao numrica, pois confiavam que seria o suficiente para
controlar as movimentaes da oposio. Com o passar do tempo, restou provado que
no, e os Atos Institucionais foram se somando e ficando cada vez mais autoritrios e
opressores. O Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, foi a culminncia de
outros atos institucionais que limitaram a liberdade criando, de tal modo, um ambiente
desprovido de representatividade. Tal ato permitia ao Presidente da Repblica encerrar
o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Cmaras Municipais, interromper
direitos polticos, cassar mandatos parlamentares, suspender as garantias da
magistratura dentre outros atos. Foram proibidos os habeas corpus em matria de
crimes polticos com carter atentatrio segurana nacional. A Emenda Constitucional
n. 1 de 1969 objeto de constante debate sobre sua natureza, onde tal emenda alterou
de tal forma a constituio que considerada por parte de alguns doutrinadores como
um novo texto constitucional, pela estrondosa modificao.
21
9' A Constituio de 1722
A constituio federal de 1988 a contempornea Carta Magna da Repblica Federativa
do Brasil. Ela foi elaborada no espao de 20 meses por 558 constituintes entre
deputados e senadores poca, e trata-se da stima constituio na histria do pas
desde sua independncia. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ganhou quase que
prontamente o codinome de constituio cidad, por ser considerada a mais completa
entre as constituies brasileiras, com destaque para os vrios aspectos que garantem o
acesso cidadania. Aps Jos Sarney assumir o primeiro governo civil depois uma
sucesso de cinco governos militares, foi confirmada a Emenda Constitucional n.26, de
27 de novembro de 1985, que convocava a Assembleia Nacional Constituinte para
elaborar uma nova Carta Constitucional para um novo Estado. Apesar de no ter sido
escolhida para a finalidade exclusiva de fazer a Constituio, a Assembleia Nacional
Constituinte, liderada por Ulisses Guimares, manteve sua legitimidade ao representar a
vontade popular em sua estrutura. Tal acontecimento pode ser verificado pelas
inmeras propostas de emendas e pelos quase cinco milhes de pessoas que estiveram
no Congresso Nacional. Completava, assim, um perodo de vinte e cinco anos de regime
militar, surgindo em seu lugar a proposta de um novo Estado: o Estado Democrtico de
Direito.
22
A denominada Constituio Cidad pode ser classificada como analtica pela extenso do
seu texto e pelas especificidades a que seu texto remonta. Contudo, devido aos
resqucios do poder militar, seu escrito procurou traduzir as magoas do ambiente
antidemocrtico implantado pela poltica militar. Segundo Ulisses Guimares, a
Constituio de 1988 "diferentemente das sete Constituies anteriores, comea com o
homem. Geograficamente testemunha e primazia do homem, que foi escrita para o
homem, que o homem seu fim e sua esperana, a Constituio Cidad.
23
Suas
grandes contribuies foram a criao/ampliao dos direitos fundamentais e sociais, a
maior participao da sociedade civil na vida poltica, e a reformulao de um Estado,
que passa a ser norteado pela observncia das normas de direito criadas com ampla
participao popular: O Estado Democrtico de Direito.
24
A constituio est aparelhada em nove ttulos que abrigam 245 artigos dedicados a
temas como os princpios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organizao
do estado, dos poderes, defesa do estado e das instituies, tributao e oramento,
ordem econmica e financeira e ordem social. Dentre as conquistas acarretadas pela
nova carta, destacam-se o restabelecimento de eleies diretas para os cargos de
presidente da repblica, governadores de estados e prefeitos municipais, o direito de
voto para os analfabetos, o fim censura aos meios de comunicao, obras de arte,
msicas, filmes, teatro e similares.
Você também pode gostar
- Estudo Avaliação Da Equipe de LouvorDocumento6 páginasEstudo Avaliação Da Equipe de LouvorMusicaAinda não há avaliações
- Coluna BoazDocumento3 páginasColuna Boazv.oliveira.csbAinda não há avaliações
- Deidades Galaicas de Irmandade Druidica GalegaDocumento25 páginasDeidades Galaicas de Irmandade Druidica GalegaIsma Novo GómezAinda não há avaliações
- Currículo de Estudos Dos Graus Da Aurora Dourada (Pan Veritrax) (Por)Documento4 páginasCurrículo de Estudos Dos Graus Da Aurora Dourada (Pan Veritrax) (Por)Pan VeritraxAinda não há avaliações
- Yahveh Oasis IMCDocumento2 páginasYahveh Oasis IMCCristian Diaz DiazAinda não há avaliações
- E-BOOK - ALÉM DAS PALAVRAS - Os Segredos Da Jornada Espiritual Desvendados Pelo Salmo 36Documento6 páginasE-BOOK - ALÉM DAS PALAVRAS - Os Segredos Da Jornada Espiritual Desvendados Pelo Salmo 36ErinaldoAinda não há avaliações
- Assistência RelatórioDocumento1 páginaAssistência RelatórioPaulo LiraAinda não há avaliações
- O Apolineo e o Dionisiaco Paradoxos CompDocumento18 páginasO Apolineo e o Dionisiaco Paradoxos CompJouberto HeringerAinda não há avaliações
- Folheto-Para-Missa 2Documento1 páginaFolheto-Para-Missa 2MariaAinda não há avaliações
- Roteiro Casamento JuninoDocumento9 páginasRoteiro Casamento Juninohigor kalleuAinda não há avaliações
- Exegese Do Antigo TestamentoDocumento2 páginasExegese Do Antigo TestamentoGilvanAinda não há avaliações
- Alunos Transporte EveraldoDocumento5 páginasAlunos Transporte EveraldoMoniqueMachadoAinda não há avaliações
- He - Actividade DiganosticaDocumento2 páginasHe - Actividade DiganosticaLourdes Cayo RojasAinda não há avaliações
- A Glória Da CruzDocumento20 páginasA Glória Da CruzLuiz GomesAinda não há avaliações
- Parabola Das 10 Virgens - EBDDocumento17 páginasParabola Das 10 Virgens - EBDmalaquiascefetAinda não há avaliações
- VIDEIRA M. Entre A Empfindsamkeit e o Romantismo-A Est Tica Musical Segundo Wackenroder e TieckDocumento24 páginasVIDEIRA M. Entre A Empfindsamkeit e o Romantismo-A Est Tica Musical Segundo Wackenroder e TieckGustavo MedinaAinda não há avaliações
- 0 - Idade Média 3o. AnoDocumento4 páginas0 - Idade Média 3o. Anoblabla blebleAinda não há avaliações
- Maria MadalenaDocumento5 páginasMaria MadalenaObélix SiilvaAinda não há avaliações
- Eu Sou A Luz Do MundoDocumento2 páginasEu Sou A Luz Do Mundoevanderfreitas100% (1)
- RESUMO CAPÍTULO 6 de AconselhamentoDocumento2 páginasRESUMO CAPÍTULO 6 de AconselhamentoJessyca Lilian Dias SilvaAinda não há avaliações
- Arquivo - Ministros Da ComunhãoDocumento39 páginasArquivo - Ministros Da Comunhãoamanda pereiraAinda não há avaliações
- O ExtraordinárioDocumento1 páginaO ExtraordinárioCarla JacquelineAinda não há avaliações
- Vivendo No Fim Dos Tempos by Slavoj ŽižekDocumento415 páginasVivendo No Fim Dos Tempos by Slavoj ŽižekProfEugênio Duarte de AlmeidaAinda não há avaliações
- Ebook Mandala Dos ChakrasDocumento18 páginasEbook Mandala Dos ChakrasMarcos CaetanoAinda não há avaliações
- As Mulheres Da ReformaDocumento5 páginasAs Mulheres Da ReformaFernanda LimaAinda não há avaliações
- Pregaçao II Reis Cap 4 Vers 1-7 - Do Nada Surgirá o Seu MilagreDocumento2 páginasPregaçao II Reis Cap 4 Vers 1-7 - Do Nada Surgirá o Seu MilagreVerissimocorretora de seguroAinda não há avaliações
- 5 QuebraGeloDocumento1 página5 QuebraGeloBispo Paulo Cesar MachadoAinda não há avaliações
- M8 - EclesiologiaDocumento4 páginasM8 - Eclesiologiajeferson clecioAinda não há avaliações
- 2008 PDFDocumento39 páginas2008 PDFIgor Marchi Dutra NogueiraAinda não há avaliações
- Sao Francisco de Assis e A Conv - Rega, Frank MDocumento143 páginasSao Francisco de Assis e A Conv - Rega, Frank MRômulo Coêlho de SouzaAinda não há avaliações