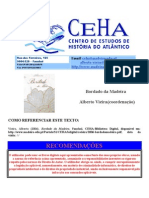Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Animus - Milena Cruz e Juliana Patermann
Animus - Milena Cruz e Juliana Patermann
Enviado por
Milena Freire0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações13 páginasTítulo original
Animus _ Milena Cruz e Juliana Patermann
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações13 páginasAnimus - Milena Cruz e Juliana Patermann
Animus - Milena Cruz e Juliana Patermann
Enviado por
Milena FreireDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
Resumo: Este artigo busca reetir acerca das prticas e saberes que orientam
a formao do prossional da publicidade. Parte-se do princpio que existe, na
construo da identidade do publicitrio, o esteretipo de um sujeito mais ali-
nhado s prticas do que s formulaes tericas. Assim, pretende-se debater
de que maneira esta imagem construda e como acaba por interferir na for-
mao e atuao prossional e acadmica destes sujeitos. Ainda, sugere reetir
se (e como) a academia contribui com esta constituio.
Palavras-chave: publicidade; ensino; formao prossional e acadmica.
Resumen: Este artculo visa reexionar sobre las prcticas y saberes que orien-
tan la formacin del profesional de la publicidad. Partimos de lo principio que
existe, en la construccin de la identidad del publicitario, el esteriotipo de un
individuo mas en lnea con la prctica que la teora. As, pretendemos discutir
de que manera esta imagen es construida y como interere en la formacin y
la actuacin profesional y acadmica de esos individuos. Adems, sugerimos
reexionar si (y como) la academia contribuye con esta constitucin.
Palabras claves: publicidad; enseo; formacin profesional y acadmica.
Abstract: Tis article aims at reecting on practices and knowledge that guide
the formation of professionals in advertising. We base our reexion on the
principle that the image of the advertising person is constructed from the ste-
reotype existent of a person more lined up to the practices than the theoretical
formulations. Terefore, we intend to discuss how this image is built and how
it interferes in their formation and professional and academic performance.
Moreover, we pretend to reect on whether (and how) the academy helps with
building such an image.
Keywords: advertisement; education; professional and academic formation
Entre a prtica e a teoria: algumas
propostas para pensar o ensino em
publicidade
Milena Carvalho B. F. de Oliveira-Cruz*
Juliana Petermann**
Animus - revista interamericana de comunicao miditica 102
Entre a prtica e a teoria
No so recentes os estudos que se dedicam a analisar as signi-
caes e contradies que permeiam a complexa relao entre publici-
dade e sociedade. Considerando que h muito a interferncia da publi-
cidade no mbito social ultrapassa os limites de sua atuao visivelmente
mercadolgica, partimos da sua caracterizao enquanto instituio so-
cial (GOLOBOVANTE, 2005, p. 144), que orienta, antecipa ou produz
valores e modelos de comportamento.
Neste contexto, entendemos ser necessrio ponderar os discur-
sos valorativos extremados que condenam ou enaltecem a prtica publi-
citria e seus efeitos, to comuns entre os estudos sobre o assunto. Pensar
a prtica publicitria com acuidade implica em observar a vinculao
de seu discurso s foras sociais que o condicionam e o contextualizam.
Sendo preciso considerar, ainda, as ambigidades e contradies que
permeiam a relao dos sujeitos, nas suas prticas scio-culturais, com
esse discurso (PIEDRAS & JACKS, 2005, p. 203).
Tendo como princpio a importncia do olhar cauteloso sobre
estes sujeitos que compem a trama que relaciona publicidade e socieda-
de, nos detemos a observar o lugar construdo e ocupado por aquele cuja
funo est na elaborao deste discurso: o publicitrio. Reetir sobre o
prossional de publicidade sugere a anlise de suas prticas, seus valores
e sua identidade. Entendemos, neste contexto, que a reexo sobre a
formao acadmica na construo deste publicitrio enquanto sujeito,
revelado a partir de seu ofcio e de sua funo social, assume grande
relevncia.
Assim, discutir a formao acadmica indissocivel do pen-
samento sobre a construo identitria e sobre o lugar ocupado pelo
prossional da rea perante a sociedade. com este intuito, inclusive,
que os Planos Polticos Pedaggicos dos cursos superiores direcionam
suas matrizes curriculares com vistas ao perl do egresso, do prossio-
nal que vai atuar elaborando a mensagem publicitria, efetivamente.
sabido que a formao acadmica na rea de Publicidade e Propaganda
no exigida para atuao no mercado prossional, no contexto brasi-
leiro. No nosso intuito, contudo, discutir a necessidade da formao
universitria para o desempenho da prosso (embora reconheamos a
importncia deste tema, o debate fugiria dos limites possveis da reexo
proposta para este ensaio).
O que consideramos preponderante reetir sobre como esta
formao est diretamente ligada ao papel assumido pelo publicitrio
em nossa sociedade: como a construo deste perl prossional per-
Mestrado em Comunicao - UFSM v.17, jan-junho 2010 103
Milena Carvalho B. F. de Oliveira-Cruz e Juliana Petermann
meada por valores construdos na relao entre academia, mercado e
sociedade. Desta feita, tomamos como base as Diretrizes Curriculares
para os cursos de Comunicao Social no Brasil (Parecer CNE/CES
492-2001, p.15-16) para observar alguns atributos que so tidos como
parmetro para o perl comum do prossional de comunicao:
utilizar criticamente o instrumental terico-prtico ofereci-
do em seu curso, sendo portanto competente para posicio-
nar-se de um ponto de vista tico-poltico sobre o exerccio
do poder na comunicao, sobre os constrangimentos a que
a comunicao pode ser submetida, sobre as repercusses so-
ciais que enseja e ainda sobre as necessidades da sociedade
contempornea em relao comunicao social.
Vemos, portanto, que as Diretrizes Curriculares apontam para
a formao de um sujeito crtico, capaz de posicionar-se, de compreender
a relevncia e a repercusso de sua atuao prossional. Tomando este
referente como base na formao destes sujeitos, passamos a analisar
o quanto este perl se aproxima daquele que construdo e observado
tanto pela sociedade, quanto pelo prprio prossional da rea.
Parte-se do princpio que existe, na construo da identidade
do publicitrio, o esteretipo de um sujeito mais alinhado s prticas
do que s formulaes tericas. Para refoar esta idia, recorremos a
Roberto Menna Barreto quando exempica a incompatibilidade entre o
publicitrio criativo e as lucubraes dos tericos:
Ney Figueiredo, um bem-sucedido homem de criao, j no-
tou, num artigo, que pelo menos entre ns [publicitrios],
os tericos raramente tem-se transformado em bons pros-
sionais. E exemplica: bom lembrar que um dos maiores
especialistas em teoria da comunicao em nosso pas, nunca
conseguiu se rmar como publicitrio. Quando se trata de
falar sobre o assunto, ele era imbatvel. Mas fazer anncio
no consegue. Tudo certinho, bonitinho, mas no funciona.
No vende. No persuade. (BARRETO, 2004, p.30-31)
O que temos, neste ponto, o exemplo de uma representao
que arma ser bom prossional aquele que executa, que se volta para
Animus - revista interamericana de comunicao miditica 104
Entre a prtica e a teoria
a prtica, e no para as formulaes tericas - imagem que vem sendo
reforada na construo da identidade do publicitrio. Esta dicotomia
entre teoria e prtica, alis, encontra seu fundamento na prpria acade-
mia, que divide os contedos, as disciplinas, as atividades, e at mesmo
os docentes entre tericos e prticos. Neusa Demartini Gomes (2005,
p. 111), revela claramente esta distino entre professores da rea tcni-
ca cuja preocupao centra-se em repassar o conhecimento gerado no
mercado, daqueles que so encarregados de transmitir fundamentos
tericos.
No estamos dizendo, com isso, que no existem especicida-
des entre aspectos tericos e prticos da prosso. O que questionamos,
neste sentido, a maneira distorcida com que a questo apresentada:
como se no existisse uma interdependncia, uma associao direta entre
os fundamentos tericos e os aportes tcnicos e prticos na formao do
prossional de publicidade.
O que entendemos, neste contexto, que existe uma tendncia
valorizao dos aspectos prticos que contribuem para a construo
deste esteretipo do publicitrio enquanto sujeito de formao eminen-
temente tcnica. E a escola, em seu papel de formadora, se apresenta
como referencial importante que refora esta construo. Tal como re-
ete Neusa Demartini Gomes (2005, p. 12):
(...) atualmente, h necessidade de uma abordagem mais
cientca no ensino superior desta rea [publicidade e pro-
paganda] que, at agora, vinha sendo dominada pelo enfo-
que tcnico. O que se sente falta a presena, nos cursos
de comunicao social que contemplam esta formao, de
disciplinas que tratem a publicidade e a propaganda em seus
aspectos mais tericos (GOMES, 2005, p. 12)
Para que se entenda como se constituiu este quadro, interes-
sante rever o percurso histrico de institucionalizao do ensino superior
de Publicidade e Propaganda no Brasil. Neste sentido, percebe-se que
as instituies de ensino superior na rea, que nasceram da necessidade
de proporcionar aos alunos uma formao tcnica e humanstica que
embasasse as responsabilidades sociais e econmicas da prosso (VI-
TALI, 2007, p. 18), reforam esta distino entre teoria e prtica (pri-
vilegiando a segunda), uma vez que os primeiros professores dos cursos,
Mestrado em Comunicao - UFSM v.17, jan-junho 2010 105
Milena Carvalho B. F. de Oliveira-Cruz e Juliana Petermann
renomados prossionais do mercado na poca (dcada de 1950), foram
selecionados no pela capacidade didtica, mas sim pelo conhecimento
prtico das matrias (idem, p. 19).
Com o intuito de discutir a atividade publicitria e seu reco-
nhecimento, Maringela Toaldo faz uma reexo a partir da teoria de
Hannah Arendt sobre as relaes que envolvem o trabalho humano.
Toaldo caracteriza o publicitrio como um prossional cujo reconheci-
mento prprio e perante os demais depende da presena de outros que
possam ver, ouvir e lembrar tais pensamentos, discursos e aes e, ainda,
de sua materializao (TOALDO, 2004, p. 25) .
Neste sentido, temos no publicitrio, e especialmente em seu
reconhecimento social, um sujeito cuja atividade construda conside-
rando um resultado que ser observado pela sociedade. Um trabalho
cujos discursos e aes so materializados (atravs de anncios, produtos,
campanhas) e que a partir desta materializao so vistos, reconhecidos
e valorizados publicamente. Ora, se para o publicitrio o seu reconhe-
cimento e de sua atividade passam especialmente pela materializao e
pela conseqente exposio de seu trabalho, compreensvel que a tc-
nica, a prtica, tornem-se mais valorizadas que a teoria na construo da
identidade deste prossional.
1
Ainda considerando a reexo da autora sobre o perl do pro-
ssional desta rea, tomando como parmetro as convenes do fazer
publicitrio e as convices morais circulantes no mercado, ca evidente
o lugar preponderante assumido pelo trabalho e suas conquistas na vida
destes sujeitos:
Para Arendt a necessidade do trabalho, o tempo gasto no de-
sempenho de uma atividade, o esforo pelo reconhecimento
dessa atividade e para sustentar-se, a preocupao pela con-
quista de bens, para satisfazer as necessidades (de consumo)
que a vida impe tiram o homem do mundo: concentram-
se na busca por esta demanda, isolando-o na sua atividade,
no seu trabalho e limitando seu convvio em outras esferas,
assim como sua preocupao com relao a elas (TOALDO,
2004, p. 32).
Temos, assim, no perl do publicitrio proposto por Toaldo, a
caracterizao de um sujeito que tem na materializao e exposio de
suas prticas (ou seja, na circulao pblica dos anncios por ele produ-
Animus - revista interamericana de comunicao miditica 106
Entre a prtica e a teoria
zidos) o reconhecimento de sua atividade. Temos, ainda, a constituio
de um indivduo que muito valoriza, em sua vida, seu trabalho e seu re-
conhecimento pessoal e prossional. Tanto que se concentra de maneira
especial sua atividade, podendo, inclusive, isolar-se do convvio e da
preocupao com as demais esferas coletivas.
Questionamos, neste sentido, o quanto esta valorizao do tra-
balho em si e dos produtos dele resultantes, aliados ao possvel isola-
mento e desconexo com as demais esferas sociais, no corrobora com a
construo da imagem de um sujeito pouco reexivo, cujas bases tericas
encontram-se enfraquecidas em funo de uma concentrao que est
focada essencialmente nos aspectos prticos de sua atividade prossio-
nal.
Dito de outra maneira: percebe-se que existe um distancia-
mento entre o perl ideal do prossional, tomado como parmetro nos
planos curriculares (do sujeito crtico, que posiciona-se e reete sobre a
repercusso de sua atuao prossional), e o perl real, evidenciado no
esteretipo construdo tanto no mercado, quanto na sociedade. Resta
procurar compreender, neste sentido, o quanto e como a escola tem inter-
ferncia na construo deste cenrio.
Voltando a pensar sobre o lugar da formao universitria na
constituio deste prossional, consideramos a anlise feita por Everar-
do Rocha (1995), ao investigar a partir de um estudo etnogrco alguns
mecanismos de legitimao que so acionados pelos prossionais de pu-
blicidade na construo da imagem do grupo perante a sociedade. Para
Rocha, dentre outros aspectos, a aprendizagem formal em nvel superior
um dos pontos que formam a base desta imagem:
(...) evidente que uma das formas mais importantes da mu-
dana e elevao de status numa prosso a introduo do
seu estudo no nvel superior, como curso universitrio. Os
publicitrios sabem disso, pois, a despeito de crticas vee-
mentes s faculdades de comunicao, recomendam e, prati-
camente s aceitam candidatos deles advindos. A ambigi-
dade das faculdades de comunicao est em que elas so
um dos pontos bsicos de legitimao social da prosso e,
portanto, absolutamente necessrias nesse nvel (ROCHA,
1995, p. 46).
Mestrado em Comunicao - UFSM v.17, jan-junho 2010 107
Milena Carvalho B. F. de Oliveira-Cruz e Juliana Petermann
Um aspecto evidenciado pelo antroplogo, no entanto, merece
nossa ateno. Para Rocha (1995, p. 46-47), a valorizao da formao
em nvel superior ser mais importante para os publicitrios enquanto
instncia legitimadora do prossional no mercado, do que para a prtica
cotidiana prossional em si. Ou seja, segundo depoimentos colhidos na
pesquisa, os ensinamentos formais contribuem para um aprimoramento
da viso do prossional sobre o sistema em que se enquadra a atividade
publicitria, mas o curso superior no parece ser necessrio, essencial, ao
fazer publicitrio. Este saber sobre a prtica, segundo publicitrios
depoentes da pesquisa, tambm pode ser aprendido no dia-a-dia, no
prprio mercado de trabalho.
Diante deste contexto, preciso analisar o quanto a aplicao
real dos conhecimentos desenvolvidos na escola superior equivalem
sua funo idealizada, enquanto instituio de ensino. Fica evidente, as-
sim, a necessidade de reetir sobre o papel da universidade e o dilogo
que ela consegue manter com o mercado, a sociedade e os estudantes/
prossionais (considerando, neste sentido, expectativas e relaes evi-
dentemente diferentes em cada um dos trs nveis).
Ou seja, o que temos, at ento, a observao do seguinte
cenrio: embora as escolas historicamente venham canalizando seus es-
foros (currculos, atividades, investimentos) no sentido de aprimorar
seus ensinamentos tcnicos e prticos, estas mesmas instituies no so
observadas pelos prprios publicitrios como lugar onde se ensina a pr-
tica (uma vez que esta tambm se aprende no dia-a-dia, no mercado).
Em contrapartida, ao ser detectada a necessidade de uma abor-
dagem mais cientca no ensino superior da rea, em funo de uma
predominncia do enfoque tcnico (GOMES, 2005), percebemos um
enfraquecimento do aporte terico na formao dos prossionais que
esto no mercado que, em razo disso, no reconhecem devidamente a
necessidade das teorias na sua atividade prossional.
Com este cenrio em vista, entendemos que estamos diante
de uma crise que tensiona, nestas relaes, a importncia e a funo da
escola na formao dos publicitrios. Neste sentido, acreditamos que a
manuteno desta dicotomia que diferencia, que pe em conito (por-
que no dialogam), aspectos prticos e tericos da prosso, contribui
substancialmente para este quadro.
Para partir de um exemplo que demonstre o quanto esta distor-
o que desassocia teoria e prtica produz entendimentos preocupantes,
Animus - revista interamericana de comunicao miditica 108
Entre a prtica e a teoria
tomemos como exemplo, novamente, Roberto Menna Barreto reetindo
sobre a atividade prossional do publicitrio:
O homem de criao, numa agncia, como bem sabem os
envolvidos no mtier, no cria abstratamente, por inspirao
prpria (como um pintor ou um escultor), mas sim orienta-
do por sua sensibilidade intuitiva quanto ao psiquismo dos
grupos a que se dirige. Sua audcia, sua originalidade
nada mais so que catalizadores de elementos j plenamente
presentes na constelao de valores de tais grupos. As enor-
mes verbas envolvidas numa campanha no poderiam correr
riscos de falta de sintonia com seus destinatrios. O sucesso
que seu autor venha a conseguir produto menos de sua
criatividade que de sua intuio passiva, perceptiva (BAR-
RETO, 2006, p. 17).
Evidenciando, atravs deste exemplo, a falta de reconhecimen-
to por parte de alguns prossionais quanto a importncia das formula-
es tericas no exerccio prtico de sua atividade, torna-se pertinente
problematizar o que seria, de fato, a sensibilidade intuitiva ou a intui-
o passiva, perceptiva a que se refere Menna Barreto? No estaramos,
neste caso, falando de aprendizados ou modos de observar, constru-
dos a partir de um suporte eminentemente terico, que auxiliam este
prossional a observar o seu pblico, na prtica? E ainda, quando consi-
dera que os valores catalizados pelo prossional j so circulantes entre
os grupos a quem a mensagem se dirige: mais uma vez no estaramos
diante de uma situao da prtica em que se observa a relao direta
entre publicidade, cultura e sociedade, to cara aos estudos tericos?
interessante perceber que o reconhecimento da existncia
desta dicotomia, em si, pode contribuir para a reexo sobre novas for-
mas de analisar e constituir o fazer publicitrio. Deste modo, v-se a
necessidade de interrogar ambas, construes tericas e prticas, para
que se possa compreender de que maneira esta relao pode ser re-sig-
nicada.
Em nosso ponto de vista, por mais que tenha se construdo
ao longo dos anos um conito que distancia teoria e prtica tanto na
formao acadmica quanto na atividade prossional em publicidade,
percebemos que os dois aspectos sempre foram indissociveis. O que pa-
rece fora do eixo so as formas de observar, de perceber e de evidenciar a
Mestrado em Comunicao - UFSM v.17, jan-junho 2010 109
Milena Carvalho B. F. de Oliveira-Cruz e Juliana Petermann
congruncia entre as duas instncias. Desta maneira, considerando que a
escola palco privilegiado na necessria articulao entre teoria e prti-
ca, cabe prpria academia analisar a forma de equacionar e demonstrar
esta complementaridade.
Neste sentido, entendemos que a escola deve rever, primeira-
mente, o quanto sua postura refora esta idia de incongruncia entre
os dois aspectos a partir, como j dito, de uma distino que separa dis-
ciplinas, atividades e docentes entre tericos e prticos. Neste ltimo
exemplo, possvel armar que a instituio de ensino contribui signi-
cativamente com esta dicotomia, ao distinguir seu corpo docente entre
aqueles que so provenientes do mercado e cujos ensinamentos so
voltados para este m, daqueles que tem perl mais intelectualizado,
cuja carreira prossional voltada para a academia e para a pesquisa. A
partir desta informao distintiva dos pers docentes, nos remetemos a
uma considerao sobre o perl do prossional pretendido pela escola e
esperado pelo mercado e pela sociedade:
O homem de propaganda tem que ser informado com todo
tipo e toda espcie, seja acadmica, tcnica e at amenidades
e reunir uma bagagem cultural slida, que englobe a histria
da arte clssica e moderna, literatura, losoa, teatro, cinema
e conhecer os principais movimentos culturais (PETIT apud
VITALI, 2007, p. 24).
Desta forma, parece que estamos diante de uma incoerncia
que precisa ser revista: se o perl do egresso que a escola pretende for-
mar cada vez mais abrangente e complexo, como ela reproduz, dentro
de sua prpria estrutura, a categorizao e distino de seus prossionais
docentes a partir do saber especco, setorizado? Esta formao mais
abrangente no deveria ser reexo da atuao de professores tambm
mais abertos ao dilogo necessrio entre saberes tericos e prticos?
Um outro aspecto que nos parece importante para tornar esta
relao coerente e evidente durante o percurso da formao acadmica,
diz respeito desmisticao sobre a aplicabilidade da teoria. Sobre
este tema, alis, recorrente a reivindicao dos acadmicos que no
reconhecem onde ou de que forma os conhecimentos tericos sero
aplicados, na sua prtica prossional postura que, evidentemente,
Animus - revista interamericana de comunicao miditica 110
Entre a prtica e a teoria
nasce da idia de que ambas, teoria e prtica, seguem percursos distintos
durante a sua formao e atuao prossional.
A idia de aplicar a teoria na prtica para que que evidente
a sua funo no exerccio prossional nos parece equivocada, para no
dizer temerosa. Esta noo faz parte de uma viso linear sobre constru-
o do conhecimento. Neste sentido, recorremos a Pedro Demo, cuja
proposta de fazer reetir sobre a complexidade do conhecimento e da
aprendizagem no lineares, nos convida a rever alguns modelos de edu-
cao e a forma como se compreende o conhecimento. Para o autor, a
escola reprodutiva v o conhecimento a partir do processo linear, em que
o professor fala, o aluno escuta, toma nota e devolve na prova (DEMO,
2002, p. 124).
Neste modelo pedaggico linear, que responde com exatido
onde a teoria se aplica na prtica, tambm um modelo autoritrio,
que no estimula o acadmico a saber pensar, inovar, propor de novas
maneiras a utilizao de seu conhecimento no mercado de trabalho. Par-
tindo deste contexto da escola linear e reprodutiva, questionamos: ser
que no reconhecemos esta realidade ao observar as escolas superiores
de publicidade? Ou mais, ser que no reconhecemos (ou mesmo, ser
que no somos) ainda hoje professores de uma escola reprodutiva? Nos-
sa proposta, neste momento provocar a auto-crtica, a auto-avaliao
anal, no nos cabe avaliar se no aceitarmos ser avaliados.
Para que se reveja a atuao do professor enquanto mediador,
condutor, necessrio que se entenda o processo de construo do co-
nhecimento como contnuo, inacabado e o professor, no seu prprio
processo de formao, deve questionar, deve aguar seu esprito crtico, e
reciclar continuamente o saber pensar, anal, no h como incentivar
o aluno a fazer algo que no ele mesmo no faa.
Assim, reconhecer que os argumentos no concluem, que as
verdades se modicam, que as teorias e as disciplinas isoladas no do
conta de observar a complexidade dos saberes, seria um primeiro passo
a se dar. Neste contexto, as vrias vises propiciadas pela abordagem
interdisciplinar, so uma necessidade. No caso da publicidade preciso
perceber a importncia de diversas reas do conhecimento
2
que so basi-
lares e s constroem sentido ao saber e fazer publicitrios quando postas
em dilogo, quando trabalham conjuntamente.
Em seguida preciso rever o contexto, a intersubjetividade que
compe as relaes em sala de aula, onde este conhecimento deve ser
estimulado. substancial observar o acadmico como sujeito, cujos va-
Mestrado em Comunicao - UFSM v.17, jan-junho 2010 111
Milena Carvalho B. F. de Oliveira-Cruz e Juliana Petermann
lores, cultura e subjetividade compem aquela formao. Cada aluno,
como sabemos, tem suas potencialidades, tem expectativas, facilidades
e diculdades prprias. Ser professor implica em saber reconhecer cada
sujeito desta relao de forma a explorar e incentivar estas potencialida-
des, como reete Demo (2002, p. 137):
(...) retorna o desao quase milagroso da politicidade, no
sentido de estabelecer entre professor e estudante uma rela-
o de sutilidade supina, medida que um depende do outro,
mas buscam sua autonomia. O professor precisa aprender
manejar esta arte nssima: influir de tal modo que o aluno
possa resistir e superar a influncia. Em vez de alinhar-se
ao que o professor diz, saber pensar, argumentar, fundamen-
tar com mo prpria. Em vez de apenas escutar e tomar nota,
elaborar de modo participativo. Em vez de apenas colher da-
dos e discursos, pesquisar para aprender a questionar. Saber
pensar exige, em seu mago mais caracterstico, autonomia,
emancipao, projeto prprio de vida e sociedade. Trata-se de
manejo do conhecimento, mas sobretudo de politicidade do
conhecimento. V-se por a que imprpria a imagem usual
da relao pedaggica marcada pela aula reprodutiva. Esta ,
na prtica, falta de relao pedaggica, por linear e autori-
tria. Na relao dinmica no linear, a relao pedaggica
supe dois sujeitos autnomos em interao naturalmente
criativa, desaadora e provocativa, eivada de negociaes e
pretenses de ambos os lados, em grande parte imprevisvel.
fundamental que o professor perceba a importncia desta
imprevisibilidade, desta no linearidade em que se forma o conheci-
mento. saber ser disciplinado e indisciplinado manejar os diferentes
ritmos de aprendizagem, ser inovador, provocar a curiosidade, estimular
o esprito crtico, receber crticas, envolver e estimular o aluno ao prazer
do saber. Dito isto, nos parece mais coerente no corresponder de forma
imediata ao anseio demonstrado pelos acadmicos para tornar evidente,
explcita, esta aplicao dos fundamentos tericos na prtica.
Neste sentido, deve-se trabalhar entre os prprios acadmicos
a idia de que a teoria tem a funo essencial de possibilitar ao futuro
prossional um saber pensar que dever ser construdo durante a sua
formao. E ainda, deve-se esclarecer que este saber pensar, fruto da
relao de complementaridade e interdependncia entre fundamentos
Animus - revista interamericana de comunicao miditica 112
Entre a prtica e a teoria
tericos e prticos, proporcionar ao acadmico a necessria autonomia
que o torna capaz de denir, por si, as relevncias e os caminhos ade-
quados para gerar competncias (VITALI, 2007, p. 26) que o ajudem a
desenvolver-se prossional, individual e socialmente.
Temos em mente que este estmulo ao desenvolvimento dos
acadmicos como sujeitos reexivos, autnomos e comprometidos deve
auxiliar na formao de publicitrios que tenham uma compreenso mais
abrangente de sua insero prossional. De modo que possam buscar nas
diversas bases tericas que compem a construo do saber publicitrio
fundamentos que orientem, aprimorem e justiquem suas prticas pro-
ssionais no cotidiano. Isto signica construir o fazer publicitrio de
modo mais responsvel e crtico. O que favorece aqueles que so direta-
mente atingidos por estes discursos (anunciantes, mercado e sociedade),
ao mesmo tempo em que fortalece a prpria publicidade enquanto rea
de construo do conhecimento e de atuao prossional.
Referncias
BARRETO, Roberto Menna. Agncia de propaganda e engrenagens da
histria. So Paulo: Summus, 2006.
________. Criatividade em propaganda. So Paulo: Summus, 2004.
BRASLIA. Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosoa,
Histria, Geograa, Servio Social, Comunicao Social, Cincias So-
ciais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Parecer Con-
selho Nacional de Educao/Cmara Superior de Educao 492/2001.
Aprovado em 03/04/2001.
DEMO, Pedro. Complexidade e Aprendizagem - a dinmica no linear do
conhecimento. So Paulo: Atlas, 2002.
GOLOBOVANTE, Maria da Conceio. Publicidade: o fazer-valer.
Comunicao, mdia e consumo. So Paulo. Vol.2, n 3. Mar/2005. p.
139-153.
GOMES, Neusa Demantrini. Publicidade ou propaganda? isso a!
Revista FAMECOS. Porto Alegre. n 16; dezembro/2001.
Mestrado em Comunicao - UFSM v.17, jan-junho 2010 113
Milena Carvalho B. F. de Oliveira-Cruz e Juliana Petermann
PIEDRAS, Elisa & JACKS, Nilda. A publicidade e o mundo social:
uma articulao pela tica dos Estudos Culturais. Contempornea, vol. 3,
n 2, Julho/Dezembro de 2005. p 197-216
ROCHA, Everardo P. Guimares. Magia e Capitalismo: um estudo an-
tropolgico da publicidade. So Paulo: Brasiliense, 1995.
TOALDO, Maringela Machado. O publicitrio e a sua atividade pu-
blicitria. Comunicao, Mdia e Consumo. So Paulo, v. 1, n 2. 2004, p.
20-34.
VITALI, Tereza Cristina. O desao do ensino superior de Publicidade
para o sculo XXI. In: PEREZ, Clotilde; BARBOSA, Ivan Santo (orgs).
Hiperpublicidade: fundamentos e interfaces, V. 1. So Paulo: Tomson
Learning, 2007.
Notas
[1] No queremos dizer, com isso, que
os resultados visveis do fazer publici-
trio (anncios, campanhas) no sejam
precedidos de conhecimentos cons-
trudos teoricamente, de estudos que
fundamentem o direcionamento, ou
mensurem os resultados da comuni-
cao publicitria. Queremos observar
que, nestes termos apontados pelos au-
tores da rea, a materialidade e a ex-
posio destes discursos ocupam maior
relevncia para o reconhecimento des-
te prossional que as bases utilizadas
para o planejamento, direcionamento e
constituio destas prticas.
[2] Dentre as quais, alm das teorias
da comunicao, citamos a psicologia,
a administrao, as cincias sociais e as
artes como diretamente envolvidas.
* Milena Carvalho Bezerra
Freire de Oliveira-Cruz
Mestre em Cincias Sociais
(UFRN) e Professora assis-
tente do Departamento de
Cincias da Comunicao da
Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).
E-mail:
milena.freire@terra.com.br
** Juliana Petermann
Doutoranda em Cincias da
Comunicao (Unisinos) e
Professora assistente do De-
partamento de Cincias da
Comunicao da Universi-
dade Federal de Santa Maria
(UFSM).
E-mail:
jupetermann@yahoo.com.br
Você também pode gostar
- Prova RenascimentoDocumento4 páginasProva RenascimentoMaiara Oliveira100% (9)
- Catalogo RevetexDocumento34 páginasCatalogo RevetexThiago Louro100% (1)
- Morada Paulista - Luis SaiaDocumento13 páginasMorada Paulista - Luis SaiaElaine MartinsAinda não há avaliações
- Tarabalho de PortuquesDocumento19 páginasTarabalho de PortuquesJonas VictorAinda não há avaliações
- Dramatizacao Arte FeministaDocumento370 páginasDramatizacao Arte FeministaDolores GalindoAinda não há avaliações
- Revelando A Cidade: Imagens Da Modernidade No Olhar Fotográfico de Osmar Micucci (Jacobina, 1955-1963)Documento179 páginasRevelando A Cidade: Imagens Da Modernidade No Olhar Fotográfico de Osmar Micucci (Jacobina, 1955-1963)Valter de OliveiraAinda não há avaliações
- Gênero, Agência e Escrita CAP 1 - CHARLES BAZERMANDocumento41 páginasGênero, Agência e Escrita CAP 1 - CHARLES BAZERMANAdriana VieiraAinda não há avaliações
- Elias Erico MonteiroDocumento279 páginasElias Erico MonteiroLorena TravassosAinda não há avaliações
- A Importância Da Arte No Desenvolvimento Integral Da CriançaDocumento10 páginasA Importância Da Arte No Desenvolvimento Integral Da CriançaSwammy AlvesAinda não há avaliações
- A Arquitetura Da Moda. Entre o Efémero e o Permanente. Maria Real LamelaDocumento115 páginasA Arquitetura Da Moda. Entre o Efémero e o Permanente. Maria Real LamelaAndrey Dante BelmontAinda não há avaliações
- Barbara TancettiDocumento151 páginasBarbara TancettiferragonioAinda não há avaliações
- Grande Baile Mistico Da Ilha de Santa Catarina 2019Documento67 páginasGrande Baile Mistico Da Ilha de Santa Catarina 2019JANAAinda não há avaliações
- Aula A Distancia 1C Semana 1 e 2Documento10 páginasAula A Distancia 1C Semana 1 e 2Paulinha IacksAinda não há avaliações
- ClaudioR - Duarte. Literatura, Geografia e Modernização Social - Espaço, Alienação e Morte Na Literatura Moderna PDFDocumento335 páginasClaudioR - Duarte. Literatura, Geografia e Modernização Social - Espaço, Alienação e Morte Na Literatura Moderna PDFClaudio DuarteAinda não há avaliações
- Plano Anual 8º AnoDocumento5 páginasPlano Anual 8º AnoJúnior FeitosaAinda não há avaliações
- Cultura e Memória SocialDocumento91 páginasCultura e Memória SocialJuliana Sabino SimonatoAinda não há avaliações
- Plano de Curso Anual 2021 5o AnoDocumento67 páginasPlano de Curso Anual 2021 5o AnoRoberta MarzanoAinda não há avaliações
- Os Ciclos Da História ContemporâneaDocumento394 páginasOs Ciclos Da História Contemporâneaiavento100% (1)
- STAUT JR, S. O Discurso Tradicional Dos Direitos AutoraisDocumento28 páginasSTAUT JR, S. O Discurso Tradicional Dos Direitos AutoraisraphapeixotoAinda não há avaliações
- (Vivian Shimizu, 2013) Papel Da Dança Na Vida Das Crianças Contado Por Crianças Que DançamDocumento70 páginas(Vivian Shimizu, 2013) Papel Da Dança Na Vida Das Crianças Contado Por Crianças Que DançamMarcelo MenezesAinda não há avaliações
- 2006-Bordado MadeiraDocumento140 páginas2006-Bordado MadeiraAlberto VieiraAinda não há avaliações
- Projeto MiróDocumento12 páginasProjeto MiróSheila RodriguesAinda não há avaliações
- O Mal Estar Na Civilizacao PDFDocumento21 páginasO Mal Estar Na Civilizacao PDFAnne MouraAinda não há avaliações
- ATIVIDADE AnhangueraDocumento6 páginasATIVIDADE AnhangueraLuisaAinda não há avaliações
- TCC - Arteterapia (Final) (2163)Documento57 páginasTCC - Arteterapia (Final) (2163)Bruna PascoalAinda não há avaliações
- 10163-38201-1-PB GeografiaDocumento17 páginas10163-38201-1-PB GeografiaCari CopAinda não há avaliações
- História Do BalletDocumento4 páginasHistória Do BalletPatricio BandeiraAinda não há avaliações
- Pdi 3º Bismestre E.E.S.M Davi AquilaDocumento11 páginasPdi 3º Bismestre E.E.S.M Davi AquilaLuiz Carlos BqAinda não há avaliações
- 4º Ano - ArtesDocumento55 páginas4º Ano - ArtesJosiane De CamargoAinda não há avaliações
- 7CgZxyWtNiOWYsNdH4P0livro Da Disciplina Escrita Criativa Tcnicas e PrticasDocumento36 páginas7CgZxyWtNiOWYsNdH4P0livro Da Disciplina Escrita Criativa Tcnicas e Prticaslincolng108Ainda não há avaliações