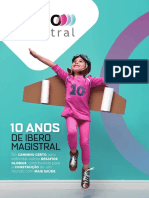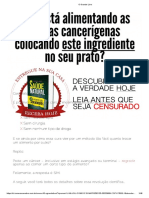Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Modulo5 UrgenciaEmergencia
Modulo5 UrgenciaEmergencia
Enviado por
KátiaBiancaAmaralTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Modulo5 UrgenciaEmergencia
Modulo5 UrgenciaEmergencia
Enviado por
KátiaBiancaAmaralDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Introduo ao Curso
1
Curso de Especializao em
Linhas de Cuidado em Enfermagem
mdULo v: Classificao de Risco e Acolhimento
urgncia e emergncia
GOVERNO FEDERAL
Presidente da Repblica Dilma Vana Rousseff
Ministro da Sade Alexandre Padilha
Secretrio de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade (SGTES)
Diretora do Departamento de Gesto da Educao na Sade (DEGES)
Coordenador Geral de Aes Estratgicas em Educao na Sade
Responsvel Tcnico pelo Projeto UNA-SUS
Reviso Geral
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Reitora Roselane Neckel
Vice-Reitora Lcia Helena Pacheco
Pr-Reitora de Ps-Graduao Joana Maria Pedro
Pr-Reitor de Extenso Edison da Rosa
CENTRO DE CINCIAS DA SADE
Diretor Srgio Fernando Torres de Freitas
Vice-Diretora Isabela de Carlos Back Giuliano
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Chefe do Departamento Lcia Nazareth Amante
Subchefe do Departamento Jane Cristina Anders
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ENFERMAGEM
Coordenadora Vnia Marli Schubert Backes
Subcoordenadora Odala Maria Brggemann
COMIT GESTOR
Coordenadora Geral do Projeto e do Curso de Especializao Vnia Marli Shubert Backes
Coordenadora Didtico-Pedaggica Kenya Schmidt Reibnitz
Coordenadora de Tutoria Lcia Nazareth Amante
Coordenadora de EaD Grace Terezinha Marcon Dal Sasso
Coordenadora de TCC Flvia Regina Souza Ramos
Coordenadoras Plos Silvana Martins Mishima, Lucieli Dias Pedreschi Chaves, Lucilene
Cardoso
EQUIPE DE APOIO
Secretaria: Claudia Crespi Garcia e Viviane Aaron Xavier
Tecnologia da Informao: Fbio Schmidt Reibnitz
AUTORAS
Grace Teresinha Marcon Dal Sasso
Lucieli Dias Pedreschi Chaves
Maria Clia Barcelos Darli
Ana Ldia de Castro Sajioro Azevedo
REVISO TCNICA
Izilda Esmnia Muglia Arajo
2013 todos os direitos de reproduo so reservados Universidade Federal de Santa Catarina.
Somente ser permitida a reproduo parcial ou total desta publicao, desde que citada a fonte.
Edio, distribuio e informaes:
Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitrio, 88040-900 Trindade Florianpolis SC
M5 - Classifcao de Risco e Acolhimento
D136c DAL SASSO, Grace Teresinha Marcon
Curso de Especializao em Linhas de Cuidado em Enfermagem: Classifcao
de risco e acolhimento / Grace Teresinha Marcon Dal Sasso; Maria Clia Barcelos
Darli; Lucieli Dias Pedreschi Chaves; et al. Florianpolis (SC): Universidade
Federal de Santa Catarina/Programa de Ps-Graduao em Enfermagem, 2013.
115 p.
ISBN: 978-85-88612-62-4
1. Urgncia e Emergncia. 2. Classifcao de Risco. 3. Enfermagem.
CDU 616-083.98
Catalogado na fonte por Anna Khris Furtado D. Pereira CRB14/1009
EQUIPE DE PRODUO DE MATERIAL
Coordenao Geral da Equipe Eleonora Milano Falco Vieira, Marialice de Moraes
Coordenao de Design Instrucional Andreia Mara Fiala
Design Instrucional Master Mrcia Melo Bortolato
Design Instrucional Isabela C. G. de Oliveira
Reviso Textual Deise Joelen Tarouco de Freitas
Coordenao de Design Grfco Giovana Schuelter
Design Grfco Cristal Muniz, Fabrcio Sawczen
Design de Capa Rafaella Volkmann Paschoal
Projeto Editorial Cristal Muniz, Fabrcio Sawczen
CURSO DE ESPECIALIZAO EM
LINHAS DE CUIDADO EM ENFERMAGEM
MDULO V
CLASSIFICAO DE RISCO E ACOLHIMENTO
FLORIANPOLIS
2013
UFSC/ENFERMAGEM/PEN
CARTA DO AUTOR
Caro aluno.
Inicialmente, desejamos parabeniz-lo por fazer o Curso de Especializa-
o em Linhas de Cuidado em Enfermagem, rea de Urgncia e Emergn-
cia. Sua participao representa a busca de aperfeioamento profssional,
compartilhado com muitos outros que decidiram trilhar pelo mesmo ca-
minho, espalhados em diversas regies de nosso pas e, quem ganha efeti-
vamente a populao. Ao aprimorar o seu desempenho profssional, voc
contribuir com a qualidade da assistncia de sade e infuenciar posi-
tivamente a vida de muitas pessoas que passam pela rede de ateno s
urgncias, muitas vezes na luta entre a vida e a morte.
Este mdulo composto por quatro unidades: Diretrizes da Rede de Ateno
s Urgncias; Acolhimento com classifcao de risco conforme o Ministrio
da Sade; Acolhimento com classifcao de risco conforme o Sistema de
Triagem de Manchester; e Instrumentos gerenciais em servios de sade.
Assim, convidamos voc a participar ativamente das propostas apontadas
no desenvolvimento dos contedos, pois buscamos coletivamente traba-
lhar em uma Rede de Ateno a Urgncia e Emergncia desenvolvendo
uma linha de cuidado de enfermagem segura e de qualidade.
Grace Teresinha Marcon Dal Sasso, Dra.
Lucieli Dias Pedreschi Chaves, Dra.
Maria Clia Barcelos Darli, Dra.
Ana Ldia de Castro Sajioro Azevedo, Ms.
OBJETIVO GERAL
Identifcar princpios e diretrizes da rede de ateno s urgncias/emer-
gncias, sendo apto a estabelecer prioridades clnicas e aplicar os instru-
mentos gerenciais no contexto da sua realidade, bem como realizar o aco-
lhimento e classifcao de risco conforme protocolos estabelecidos pelo
Ministrio da Sade e pelo sistema de Triagem de Manchester.
CARGA HORRIA
45 horas.
CURSO DE ESPECIALIZAO EM
LINHAS DE CUIDADO EM ENFERMAGEM
MDULO V
CLASSIFICAO DE RISCO E ACOLHIMENTO
FLORIANPOLIS
2013
UFSC/ENFERMAGEM/PEN
SUMRIO
UNIDADE 1 DIRETRIZES DA REDE DE ATENO S URGNCIAS ............................................9
1.1 Introduo...................................................................................................................................... 9
1.2 Caso clnico-gerencial ..................................................................................................................... 10
1.3 Rede de Ateno s Urgncias (RAU) ............................................................................................... 11
1.3.1 Normativas Ministeriais............................................................................................................................. 13
1.3.3 Detalhando a RAU.................................................................................................................................... 16
1.4 Resumo ....................................................................................................................................... 22
1.5 Fechamento ................................................................................................................................. 22
1.6 Recomendao de Leitura Complementar: ........................................................................................ 23
UNIDADE 2: ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAO DE RISCO CONFORME O
MINISTRIO DA SADE DO BRASIL .............................................................25
2.1 Introduo.................................................................................................................................... 25
2.2 Humanizao, acolhimento e classifcao de risco ............................................................................. 26
2.2.1 Os Eixos e Suas reas de acordo com o Ministrio da Sade ........................................................................ 29
2.3 Resumo ....................................................................................................................................... 37
2.4 Fechamento ............................................................................................................................... 38
2.5 Recomendao de leitura complementar ......................................................................................... 38
UNIDADE 3: CLASSIFICAO DE RISCO CONFORME O SISTEMA DE TRIAGEM DE MANCHESTER ...........41
3.1 Introduo.................................................................................................................................... 41
3.2 O Sistema de Triagem de Manchester ............................................................................................... 42
3.2.1 Conceitos, processo de tomada de deciso e triagem .................................................................................... 43
3.2.2 Mtodo de triagem .................................................................................................................................. 46
3.2.4 Exemplo prtico ...................................................................................................................................... 51
3.3. Resumo ..................................................................................................................................... 53
3.4 Fechamento ................................................................................................................................. 54
3.5 Recomendao de leitura complementar .......................................................................................... 54
UNIDADE 4: INSTRUMENTOS GERENCIAIS EM SERVIOS DE SADE ...........................................57
4.1 Introduo.................................................................................................................................... 57
4.2 A Prtica gerencial do enfermeiro na ateno s urgncias .................................................................. 58
4.2.1 Planejamento ......................................................................................................................................... 61
4.2.2 Previso e Proviso de Recursos Materiais ................................................................................................... 65
4.2.3 Previso e Proviso de Recursos Humanos ................................................................................................... 69
4.2.4 Educao continuada/permanente ............................................................................................................. 75
4.2.5 Superviso ............................................................................................................................................. 77
4.2.6 Tomada de Deciso ................................................................................................................................. 80
4.2.7 Sistemas de Informao em Sade ............................................................................................................ 82
4.2.8. Avaliao dos Servios de Sade ............................................................................................................... 85
4.3 Resumo ....................................................................................................................................... 90
4.4 Fechamento ................................................................................................................................. 91
4.5 Recomendao de leitura complementar .......................................................................................... 91
REFERNCIAS ....................................................................................................92
MINICURRCULO DAS AUTORAS ..................................................................................99
ANEXO - DICIONRIO DE DISCRIMINADORES ................................................................102
UNIDADE 1
Diretrizes da Rede de Ateno s Urgncias
9
Unidade 1 Diretrizes da Rede de Ateno s
Urgncias
Nesta unidade voc vai aprender a identifcar o contexto em que est inse-
rida a Poltica Nacional de Redes de Ateno em Sade, a Rede de Ateno
s Urgncias (RAU), os princpios, diretrizes e vigilncia em sade da Polti-
ca da Rede de Ateno s Urgncias.
1.1 Introduo
Palavra do profssional
Voc j pensou como as questes relativas ateno a urgncia/
emergncia tm tido destaque nos servios de sade?
Analisar essas questes envolve aspectos assistenciais e gerenciais em ser-
vios de sade, requer a organizao de recursos de diferentes naturezas
em microespaos de ateno e tambm em sistemas de sade.
Propomos nesta unidade uma abordagem com foco nas diretrizes da Rede
de Ateno s Urgncias. Pretende-se, com isso, que voc possa desenvol-
ver competncias para atuar na rede de ateno s urgncias do SUS re-
conhecendo, sobretudo, sua relevncia enquanto poltica pblica voltada
para o atendimento de urgncia.
Nesse contexto, dever ser capaz de:
Identifcar a Poltica Nacional das Redes de Ateno s Urgncias e
deliberar os fuxos de clientes e necessidades de servio adequada-
mente;
Aplicar as normativas ministeriais que integram a rede de ateno
a urgncia/emergncia e caracterizar os modelos de organizao do
trabalho e da assistncia em sade/enfermagem;
Reafrmar a importncia de seu trabalho dentro da lgica e estrutu-
ra de redes de ateno a sade;
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
10
Coordenar a equipe de sade acerca dos encaminhamentos corretos dos
usurios nas respectivas linhas de cuidado articulada na rede de ateno
sade, e reconhecer a rede de servios de sua regio que assiste aos usu-
rios da RAU, favorecendo a promoo, preveno e vigilncia em sade.
1.2 Caso clnico-gerencial
O caso clnico-gerencial abaixo ilustra a situao de uma usuria do ser-
vio de sade cujas caractersticas so comuns a outros usurios que re-
querem ateno de urgncia/emergncia em diferentes servios de sade.
CASO Dona Antnia
Dona Antnia uma senhora de 66 anos, mora na periferia da cidade, aposentada,
sustenta a famlia com seu salrio mnimo. O marido, que era pedreiro autnomo, dei-
xou de trabalhar aps uma isquemia cerebral. Alm de seu difcil dia a dia, cuidando
do marido, Dona Antnia diabtica e hipertensa, vrias vezes recorre unidade
bsica de sade do bairro, mas nem sempre tem sucesso. s vezes no consegue con-
sulta mdica, em outras , falta remdio. Outro dia, Dona Antnia foi ao banco receber
seu dinheiro da aposentadoria e ao descer do nibus, passou mal e desmaiou. As
pessoas que passavam, chamaram o SAMU, que rapidamente chegou para atend-la.
A equipe do SAMU identifcou que a glicemia estava baixa e que sua presso arterial
estava alta. O regulador orientou que a paciente fosse levada a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA). L ela teve seu quadro clnico estabilizado e foi encaminhada
ao seu domiclio, com a expressa recomendao de que fosse procurar seguimento
e avaliao mdica na unidade bsica em poucos dias. Assim ela fez, a consulta foi
marcada para 30 dias. Antes disso, quando foi ao supermercado, novamente passou
mal e o SAMU foi acionado. A equipe reconheceu a senhora em atendimento. Estava
novamente hipertensa. Foi encaminhada a mesma UPA, onde conversaram com Dona
Antnia, preocupados com seu retorno ao servio de sade. Dona Antnia, cansada e
estressada, relatou suas difculdades de vida e chorando, pedia ajuda.
Palavra do profssional
Fazendo uma refexo, voc consegue apontar as falhas no
atendimento e sugerir melhorias?
Considerando o caso descrito, possvel identifcar que a D. Antonia, em
diversos momentos, precisava de atendimento em servios de sade que
disponibilizam recursos de diferentes densidades tecnolgicas, tanto para
Diretrizes da Rede de Ateno s Urgncias
11
avaliao e acompanhamento de sua condio de sade, bem como em
atendimento de urgncia e emergncia. Nesse sentido, e pensando a consti-
tuio de redes de ateno sade, conhea a Rede de Ateno s Urgncias.
1.3 Rede de Ateno s Urgncias (RAU)
Atualmente o Brasil vive uma situao de transio demogrfca acele-
rada, com forte predominncia de condies crnicas em decorrncia do
crescimento do envelhecimento da populao, alm de elevada incidncia
de agravos agudos decorrentes do trauma e violncia urbana. Este perfl
epidemiolgico traz refexos na organizao dos servios e sistema de sa-
de. O sistema de sade se encontra fragmentado e operando sem coorde-
nao, de forma episdica e reativa, uma vez que voltado principalmente
para a ateno s condies agudas e s agudizaes de condies crni-
cas (COLEMAN; WAGNER, 2008).
Para Mendes (2011), a crise do sistema pblico de sade no Brasil decorre
da crescente incidncia de doenas crnicas e da organizao do sistema
de sade ser fragmentada e centrada nas condies agudas. Para o autor,
a crise s ser superada com a substituio do sistema fragmentado pelas
redes de ateno sade, sem hierarquizao, mas uma rede horizonta-
lizada disponibilizando distintas densidades tecnolgicas em diferentes
sistemas de apoio, sem ordem e sem grau de importncia entre eles. A im-
plantao dessas redes poder ocasionar uma interveno concomitante
sobre as condies crnicas e sobre as condies agudas. Para melhorar a
ateno s condies agudas e aos eventos decorrentes das agudizaes
das condies crnicas, h que se implantar a rede de ateno s urgncias
e emergncias.
A organizao do Sistema de Redes de Ateno Sade tem sido concebida
como estratgia voltada para responder de forma contnua e integral as
necessidades de sade da populao, seja diante das condies crnicas e/
ou agudas, seja promovendo aes de vigilncia e promoo da sade que
consequentemente geram impacto positivo nos indicadores de sade da
populao.
A partir da necessidade de superar o modelo fragmentado das aes e ser-
vios de ateno sade voltado para as condies agudas, o Ministrio da
Sade normatizou a Portaria 4.279/2010, que institui as Redes de Ateno
Sade (RAS), caracterizadas como arranjos organizativos de aes e ser-
vios de sade, de diferentes densidades tecnolgicas, que integradas por
meio de sistemas de apoio tcnico, logstico e de gesto, buscam garantir a
integralidade do cuidado (BRASIL, 2010).
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
12
O objetivo da RAS superar a fragmentao da ateno e da
gesto nas regies de sade, alm de promover a integrao
sistmica de aes e servios de sade com proviso de ateno
contnua, integral, de qualidade, responsvel e humanizada,
bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos
de acesso, equidade, efccia clnica e sanitria; e efcincia
econmica.
A RAS caracteriza-se pela formao de relaes horizontais entre os pon-
tos de ateno com o centro de comunicao na Ateno Primria Sade
(APS), pela centralidade nas necessidades em sade de uma populao,
pela responsabilizao na ateno contnua e integral, pelo cuidado multi-
profssional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os
resultados sanitrios e econmicos.
Os pontos de ateno sade so entendidos como espaos onde se ofer-
tam determinados servios de sade, por meio de uma produo singular.
So exemplos de pontos de ateno sade: os domiclios, as unidades
bsicas de sade, as unidades ambulatoriais especializadas, os servios de
hemoterapia e hematologia, os centros de apoio psicossocial, as residn-
cias teraputicas, entre outros. Os hospitais tambm podem abrigar dis-
tintos pontos de ateno sade: o ambulatrio de pronto atendimento,
a unidade de cirurgia ambulatorial, o centro cirrgico, a maternidade, a
unidade de terapia intensiva, a unidade de hospital/dia, entre outros.
Palavra do profssional
Cabe destacar que a estruturao da RAS segue uma lgica
diferenciada em relao hierarquizao de servios de sade.
Voc j refetiu sobre esse conceito de RAS? Reconhece os
pontos de ateno sade na localidade regional que voc est
inserido?
Todos os pontos de ateno sade so igualmente importantes para que
se cumpram os objetivos das redes de ateno sade, e se diferenciam,
apenas, pelas distintas densidades tecnolgicas que os caracterizam.
No que se refere ateno em urgncia, o crescimento do nmero de aci-
dentes, a violncia urbana e a insufciente estruturao da rede de servios
de sade, so fatores que tm contribudo decisivamente para a sobrecarga
dos servios hospitalares.
Diretrizes da Rede de Ateno s Urgncias
13
Na perspectiva de consolidao dos princpios do SUS, o conhecimento
desta realidade de importncia fundamental, no sentido de evidenciar a
necessidade de reestruturao do atual sistema de sade.
1.3.1 Normativas Ministeriais
Desde 1995, o Ministrio da Sade tem investido esforos para organizar os
servios de atendimentos s urgncias. O quadro 1 sumariza as normati-
vas publicadas.
Quadro 1: Portarias institudas pelo Ministrio da Sade relativas organizao e sistematiza-
o dos servios de urgncia e emergncia.
PORTARIAS CONTEDO
Portaria N 1.692/1995 Institui o ndice de valorizao hospitalar de emergncia.
Portaria N 2.923/1998 Institui o Programa de Apoio Implantao dos Sistemas Estaduais de
Referncia Hospitalar em Atendimento de Urgncia e Emergncia.
Portaria N 479/1999
Revoga a portaria anterior, e altera os mecanismos para a implanta-
o dos sistemas estaduais de referncia hospitalar em atendimento
de urgncia e emergncia, os critrios para classifcao dos hospitais
no sistema e a remunerao adicional.
Portaria N 824/1999
Cria as normas para o atendimento pr-hospitalar.
Portaria N 814/2001
Revoga a portaria anterior e estabelece conceitos, princpios e dire-
trizes da regulao mdica das urgncias e normaliza o atendimento
pr-hospitalar mvel de urgncia.
Portaria N 2048/2002 aprovado o regulamento tcnico dos sistemas estaduais de urgncia
e emergncia.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
14
Portaria N 1863/2003
Institui a Poltica Nacional de Ateno s Urgncias. Estabelece que
a referida poltica ser composta pelos sistemas de ateno s ur-
gncias e emergncias estaduais, regionais e municipais organizadas
e que dever ser instituda a partir dos componentes fundamentais
estabelecidos no regulamento tcnico dos sistemas estaduais de
urgncia e emergncia.
Portaria N 1864/2003
Institui o componente pr-hospitalar mvel por intermdio da
implantao de Servios de Atendimento Mvel de Urgncia (SAMU),
suas centrais de regulao e seus ncleos de educao em urgncia.
Portaria N 2072/2003
Institui o Comit Gestor Nacional de Ateno s Urgncias.
Portaria N 1828/2004
Institui o incentivo fnanceiro para adequao da rea fsica das
Centrais de Regulao Mdica de Urgncia em estados, municpios e
regies de todo territrio nacional.
Portaria N 2420/2004
Constitui Grupo Tcnico (GT), visando avaliar e recomendar estrat-
gias de interveno do Sistema nico de Sade para abordagem dos
episdios de morte sbita.
Portaria N 2657/2004
Estabelece as atribuies das centrais de regulao mdica de urgn-
cias e o dimensionamento tcnico para a estruturao e operacionali-
zao das Centrais SAMU 192.
Portaria N 1600/2011 Reformula a Poltica Nacional de Ateno s Urgncias e institui a
Rede de Ateno s Urgncias no Sistema nico de Sade
Portaria N 1601/2011
Estabelece diretrizes para implantao do componente Unidades de
Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto dos servios de urgncia
24 horas da Rede de Ateno s Urgncias, em conformidade com a
Poltica Nacional de Ateno s Urgncias
Portaria N 2395/2011
Organiza o Componente Hospitalar da RAU no mbito do SUS
Diretrizes da Rede de Ateno s Urgncias
15
PORTARIA N 1.010, DE 21
DE MAIO DE 2012
Redefne as diretrizes para a implantao do Servio de Atendimento
Mvel de Urgncia (SAMU 192) e sua Central de Regulao das Urgn-
cias, componente da Rede de Ateno s Urgncias.
PORTARIA N 1.663, DE 6 DE
AGOSTO DE 2012
Dispe sobre o Programa SOS Emergncias no mbito da Rede de
Ateno s Urgncias e Emergncias (RUE)
FONTE: Conselho Nacional de Secretrios de Sade (2007); Ministrio da Sade (2012)
Considerando a importncia da rea de urgncia e emergncia enquanto
componente da ateno sade, o aumento da morbimortalidade por aci-
dentes de trnsito, violncia e doenas do aparelho circulatrio, bem como
a insufciente estruturao da rede assistencial, o MS elegeu como um dos
compromissos prioritrios a Rede de Ateno s Urgncias (RAU), institu-
da pela Portaria 1.600/GM, de 07 de julho de 2011. Esta portaria alm de
instituir a RAU, reformula a Poltica Nacional de Ateno s Urgncias, re-
vogando a Portaria 1.863/GM, de setembro de 2003.
A organizao da RAU tem a fnalidade de articular e integrar o conjunto
de tudo aquilo que serve para prover os servios de sade objetivando am-
pliar e qualifcar o acesso humanizado e integral aos usurios em situao
de urgncia nos servios de sade de forma gil e oportuna, no mbito do
Sistema nico de Sade (SUS). A RAU deve ser implementada gradativa-
mente, em todo territrio nacional, respeitando critrios epidemiolgicos e
de densidade populacional, priorizando as linhas de cuidado cardiovascu-
lar, cerebrovascular e traumatolgica (BRASIL, 2011).
Segundo a referida portaria os usurios com quadros agudos devem ser
atendidos em todas as portas de entrada de servios de sade do SUS, po-
dendo ser transferidos para servios de maior complexidade, dentro de um
sistema regulado, organizado em redes regionais formando elos de uma
rede de manuteno da vida em nveis crescentes de complexidade e res-
ponsabilidade. (BRASIL, 2012).
Palavra do profssional
Voc percebe como esses aspectos evidenciam um enfoque
organizacional diferenciado da RAU?
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
16
Importante destacar que o perfl epidemiolgico do Brasil aponta para
crescimento da morbimortalidade por traumas e doenas cardiovascula-
res. No ano de 2007, por exemplo, a mortalidade de pacientes internados
com infarto no pas foi de 16,1%, enquanto que, no sistema privado, essa
mortalidade foi menor que 5% em pases desenvolvidos. As causas exter-
nas/traumas so responsveis pelo maior nmero de mortes entre indiv-
duos de 1(um) a 39 (trinta e nove) anos de idade, uma vez que nesta faixa
etria encontra-se a maior parcela da populao economicamente ativa
(CARVALHO, 2007).
A Portaria 1.863/GM tambm apresenta as diretrizes da rede de ateno
s urgncias no tocante ao acesso, integralidade, longitudinalidade, regio-
nalizao, humanizao, modelo de ateno de carter multiprofssional,
articulao e integrao dos diversos servios e equipamentos de sade,
regulao, qualifcao da assistncia, dentre outros.
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto, sugerimos
a leitura individual da portaria, disponvel no site do Ministrio
da Sade: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/
prt1600_07_07_2011.html>. Acesso em: 13 jul. 2012.
Palavra do profssional
Alm dessa leitura, que tal voc levar para o seu servio esse
material e propor uma discusso conjunta? Essa pode ser
uma alternativa para ampliar o entendimento acerca da RAU,
repensar a insero do servio no sistema locorregional de
sade.
1.3.3 Detalhando a RAU
A proposta da RAU confgura-se em diferentes nveis de ateno. dividida
em componentes como promoo, preveno e vigilncia sade, ateno
bsica, servio de atendimento mvel de urgncia (SAMU) com centrais de
regulao mdica, sala de estabilizao, Fora Nacional de Sade do SUS,
Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de servios 24
horas, Hospitalar e Ateno Domiciliar.
Diretrizes da Rede de Ateno s Urgncias
17
Palavra do profssional
Voc percebe que essa proposta engloba a ateno urgncia/
emergncia no contexto de diferentes servios de sade?
Estes diferentes nveis de ateno devem se relacionar de forma comple-
mentar com mecanismos organizados e regulados pelo sistema de refe-
rncia e contrarreferncia. de fundamental importncia que cada ser-
vio se reconhea como parte integrante da rede de ateno, acolhendo
e atendendo adequadamente a demanda que lhe apresentada e se res-
ponsabilizando pelo encaminhamento quando no dispuser de recursos
necessrios a tal atendimento. Assim, a articulao do estado, municpios
e regies de sade deve permitir uma resposta equnime s necessidades
de sade da populao.
Palavra do profssional
Voc est inserido em qual servio de sade? Refita sobre a
importncia de reconhecer que cada servio parte integrante
da RAU, cada servio com sua especifcidade e com sua
possibilidade de atuao resolutiva.
Apresentamos, a seguir, os componentes da RAU e seus objetivos:
PROMOO, PREVENAO E VIGILANCIA SADE
Na RAU, o componente de promoo, preveno e vigilncia em sade tem
como objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento de aes de sade
e educao permanente voltadas para a vigilncia e preveno das violn-
cias e acidentes, das leses e mortes no trnsito e das doenas crnicas no
transmissveis, alm de aes intersetoriais, de participao e mobilizao
da sociedade visando a promoo da sade, a preveno de agravos e a
vigilncia sade. Fazem parte desse componente:
O Ncleo de Preveno da Violncia e Promoo da Sade, vincula-
do aos trs nveis de gesto e instituies acadmicas, possui como
principal atribuio articular e estruturar a Rede de Ateno e Pro-
teo Integral as Pessoas em Situao de Violncia.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
18
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o referido Ncleo,
acesse o Portal da Sade. Disponvel em: <http://portal.saude.
gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria936.pdf>. Acesso em: 13 jul.
2012.
Vigilncia de Violncias e Acidentes (VIVA), que possibilita conhecer
melhor a dimenso dos acidentes em geral, seja de trnsito, de tra-
balho, domstico, quedas, queimaduras, afogamentos, intoxicaes.
Possibilita, tambm, identifcar a violncia domstica e sexual, que
ainda permanecem ocultas na esfera do privado, principalmente
os maus-tratos contra crianas, adolescentes, mulheres e pessoas
idosas. Possui dois componentes: Componente I e VIVA Contnuo/
SINAN-NET: notifcao compulsria de violncia domstica, sexual
e/ou outras violncias envolvendo crianas, adolescentes, mulheres
e idosos.
Aes voltadas para a vigilncia e preveno de leses e mortes pro-
vocadas pelo trnsito, para a ateno s vtimas e para a promoo
da sade e cultura de paz, com objetivo maior de reduzir as leses e
mortes provocadas pelo trnsito.
ATENO BSICA EM SADE
Na RAU a Ateno Bsica tem como principal objetivo: a ampliao do
acesso, fortalecimento de vnculos e responsabilizao, alm de ser res-
ponsvel pelo primeiro cuidado e acolhimento s urgncias por meio da
implantao da classifcao de risco, de forma articulada aos outros pon-
tos de ateno.
Importante destacar as potencialidades das Unidades Bsicas de Sade
como componente para melhorar a resolutividade bem como de ampliar o
acesso ateno s urgncias/emergncias. Entretanto, devemos destacar
o desafo de organizar recursos materiais e equipamentos, bem como de
capacitar recursos humanos na perspectiva de qualifcar o cuidado na es-
fera de ao dessas unidades integradas a outros servios de sade.
A Sala de Observao o ambiente da Unidade Bsica de Sade destina-
do ao atendimento de pacientes em regime ambulatorial, no perodo de
funcionamento da unidade, com necessidade de observao em casos de
urgncia/emergncia.
Diretrizes da Rede de Ateno s Urgncias
19
SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA (SAMU 192) E
CENTRAIS DE REGULAO MDICA DAS URGNCIAS
Este componente tem como objetivo: o atendimento precoce s vtimas de
agravos sade (de natureza clnica, cirrgica, gineco-obsttrica, traum-
tica e psiquitrica), sendo necessrio garantir atendimento e/ou transporte
adequado, rpido e resolutivo para um servio de sade devidamente hie-
rarquizado e integrado ao SUS.
SALA DE ESTABILIZAO
Este componente prev um local para estabilizao de pacientes crticos/
graves, com condies de garantir a assistncia 24 horas, vinculado a uma
unidade de sade, articulado e conectado aos outros nveis de ateno
para posterior encaminhamento rede de ateno sade pela central
de regulao.
As salas de estabilizao sero implantadas em regies de vazios assisten-
ciais, municpios com menos de 50 mil habitantes, sem qualquer equipa-
mento de urgncia (UPA, Unidade 24 horas, SAMU). Estas regies devero
ser cobertas por SAMU regional e se articularo com a Rede de Urgncias
para continuidade do cuidado.
FORA NACIONAL DO SUS FN-SUS
O componente objetiva aglutinar esforos para garantir a integralidade na
assistncia em situaes de risco ou emergenciais para populaes. A atu-
ao do SUS em situaes que exigem maior participao do poder pbli-
co como: catstrofes que envolvem mltiplas vtimas e demais condies
de calamidade, em especial, de natureza epidemiolgica, situaes pedem
ajuda rpida, com atendimento mdico especializado e apoio logstico.
Exemplos: alagamento e seca, desabamento, enchente, incndio, epide-
mias/pandemias, acidentes nucleares, eventos com grande concentrao
de pessoas, como Copa do mundo e Olimpadas.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24h)
o conjunto de servios de urgncia 24 horas no hospitalares. So es-
tabelecimentos de sade de complexidade intermediria entre as Unida-
des Bsicas de Sade/Sade da Famlia e a Rede Hospitalar. Devem pres-
tar atendimento resolutivo e qualifcado aos pacientes acometidos por
quadros agudos ou agudizados de natureza clnica. Deve prestar primeiro
atendimento aos casos de natureza cirrgica ou de trauma, estabilizando
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
20
os pacientes e realizando a avaliao diagnstica inicial, defnindo, em to-
dos os casos, as necessidades de encaminhamento a servios hospitalares
de maior complexidade.
COMPONENTE HOSPITALAR
Este componente constitudo pelas Portas Hospitalares de Urgncia, pe-
las enfermarias de retaguarda clnicas e de longa permanncia, pelos leitos
de cuidados intensivos e pela reorganizao das linhas de cuidados prio-
ritrias.
A Portaria 2395/2011 organiza o componente Hospitalar da Rede de Aten-
o s Urgncias e regulamenta o seu funcionamento com os seguintes
objetivos:
Organizar a ateno s urgncias nos hospitais, que deve atender
demanda espontnea e referenciada para os outros pontos de aten-
o s urgncias de menor complexidade;
Garantir a retaguarda de atendimentos de mdia e alta complexi-
dade; procedimentos diagnsticos; leitos clnicos e cirrgicos, de te-
rapia intensiva e de longa permanncia para a rede de ateno s
urgncias;
Garantir a assistncia hospitalar nas linhas de cuidado prioritrias
(cardiovascular, cerebrovascular e traumatologia) em articulao
com os demais pontos de ateno.
A Portaria 2395/2011 refora a necessidade do componente hospitalar estar
integrado Rede de Ateno s Urgncias, e estabelece, alm das diretrizes
bsicas do SUS de universalidade, equidade e integralidade e tambm a hu-
manizao; a exigncia do acolhimento com Classifcao de Risco; a Regio-
nalizao com acesso regulado e a ateno multiprofssional, e baseado na
gesto de linhas de cuidado.
As portas de entrada hospitalares de urgncias sero consideradas qualif-
cadas quando se adequarem aos seguintes critrios:
Estabelecer e adotar protocolos de classifcao de risco clnico, e de
procedimentos administrativos no hospital;
Implantar processo de Acolhimento com Classifcao de Risco, em
ambiente especifco, identifcando o paciente que necessita de trata-
mento imediato, estabelecendo o potencial de risco, agravos sade
ou grau de sofrimento e garantindo atendimento priorizado de acor-
do com o grau de sofrimento ou a gravidade do caso;
Diretrizes da Rede de Ateno s Urgncias
21
Estar articulado com o Servio de Atendimento Mvel de Urgncia
- SAMU 192, Unidades de Pronto Atendimento UPA e com outros
servios da rede de ateno sade, construindo fuxos coerentes
e efetivos de referncia e contrareferncia, ordenados atravs das
Centrais de Regulao Regionais.
Possuir equipe multiprofssional compatvel com seu porte;
Organizar o trabalho das equipes multiprofssionais de forma hori-
zontal;
Implantar mecanismos de gesto da clnica, com equipe de refern-
cia para responsabilizao e acompanhamento de caso e de mdia
de permanncia, com pronturio nico multidisciplinar;
Fornecer retaguarda s urgncias atendidas pelos outros pontos de
ateno de menor complexidade que compem a Rede de Ateno
s Urgncias em sua regio: procedimentos diagnsticos, leitos cl-
nicos, leitos de terapia intensiva e cirurgias,
Garantir o desenvolvimento de atividades de educao permanente
para as equipes, por iniciativa prpria ou por meio de cooperao.
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto, acesse a
Portaria N 2.395, de 11 de outubro de 2011. Disponvel em: <http://
www.sesa.pr.gov.br/arquivos/File/CIBNOVEMBRO7REUNIAO/
componentehospitalardeurgencia.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2012.
ATENO DOMICILIAR
Este componente compreendido como o conjunto de aes integradas
e articuladas de promoo sade, preveno e tratamento de doenas
e reabilitao prestadas em domiclio, com garantia de continuidade de
cuidados e integrada s redes de ateno.
O reconhecimento das diretrizes, componentes e articulaes da RAU pos-
sibilita ao enfermeiro identifcar aspectos demogrfcos, epidemiolgicos
e organizacionais relativos aos atendimentos realizados em diferentes
servios. Dessa forma, poder subsidiar suas aes gerenciais referentes
distribuio de pessoal, escala diria, mensal e de frias, previso e pro-
viso de recursos materiais. Ou seja, as informaes que caracterizam os
servios e o perfl dos atendimentos trazem contribuies para identifcar
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
22
nuances do servio, fornecendo subsdios para a organizao do microes-
pao de ateno (COELHO, 2009).
Nessa tica, o exerccio profssional em unidades de urgncia e emergncia
tem se mostrado como um desafo para o enfermeiro articular a centralida-
de do cuidado ao paciente e a gerncia de enfermagem, em uma nova pers-
pectiva, responsabilizando-se pela coordenao de equipe, pela mobilizao
de recursos subjetivos e objetivos requeridos na ateno em urgncia.
1.4 Resumo
A Ateno s Urgncias no mbito do SUS um tema muito relevante que
deve ser abordado a partir da constituio de uma Rede Ateno (POR-
TARIA 1.600/2011). Esta Rede denominada RAU deve considerar o perfl
epidemiolgico do pas, articular os diversos nveis de complexidade do
sistema, alm de comportar vrios servios diferentes, organizados a par-
tir das necessidades dos usurios. Desse modo, a RAU constituda pe-
los componentes: promoo e preveno; a ateno primria em sade
por meio das Unidades bsicas; o SAMU e seus complexos reguladores; as
UPA e o conjunto de servios de urgncia 24 horas; as portas de entrada
hospitalares de urgncia; as enfermarias de retaguarda aos atendimentos
de urgncia (leitos clnicos resolutivos, unidades de cuidado intensivo, lei-
tos crnicos, etc.) e algumas inovaes tecnolgicas nas linhas de cuida-
do prioritrias (infarto agudo do miocrdio, acidente vascular enceflico e
trauma); alm do programa de ateno domiciliar. Todas estas portas nor-
teadas pela proposta do acolhimento com classifcao do risco, qualidade
e resolutividade na ateno.
1.5 Fechamento
A organizao da RAU tem a fnalidade de articular e integrar todos os
equipamentos de sade, objetivando ampliar e qualifcar o acesso huma-
nizado e integral aos usurios em situao de urgncia nos servios de
sade, de forma gil e oportuna. Para uma efetiva implementao da RAU
no SUS ser imprescindvel o envolvimento e apoio de todos os profssio-
nais e gestores que atuam no setor sade.
Diretrizes da Rede de Ateno s Urgncias
23
Sugesto de autoavaliao: Considerando a leitura realizada
desse material, sugere-se que voc releia o caso clnico-
gerencial da Dona Antnia e faa uma anlise considerando o
contedo terico apresentado.
1.6 Recomendao de Leitura Complementar:
Conhea mais sobre as redes de ateno sade no site do Telessade.
Disponvel em: <http://telessaude.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId
=333>. Acesso em: 06 maio 2012.
UNIDADE 2
Classifcao de risco e acolhimento
25
Unidade 2: Acolhimento com classifcao de risco
conforme o Ministrio da Sade do Brasil
Nesta unidade, voc vai compreender o processo de humanizar o atendi-
mento, classifcar as queixas dos usurios, construir e aplicar os fuxos de
atendimento e informao na urgncia/emergncia considerando a rede
dos servios de prestao de assistncia sade.
2.1 Introduo
Ao atuar no cuidado em situaes de urgncia e emergncia nos diferentes
contextos da Rede de Ateno Sade, o enfermeiro se depara com diver-
sos desafos. Gostaramos de dar destaque a um deles que se relaciona com
as fronteiras e limites do cuidado a estes indivduos no sentido de saber
como cada servio desempenhar suas atividades para que este paciente
receba um cuidado seguro, rpido e de qualidade na lgica de uma Rede de
Ateno em Urgncia e Emergncia.
Palavra do profssional
Qual seria, ento, uma das estratgias que podemos utilizar
para garantir este cuidado? Nesta Unidade 2, a resposta a esta
questo o processo de Acolhimento com Classifcao de risco
em urgncia e emergncia proposta para a Rede de Ateno
Sade. Assim, para que voc possa se instrumentalizar
e entender melhor como isso se desenvolve na prtica,
convidamos voc a ler com ateno o texto a seguir.
Para que voc possa compreender o processo de humanizar o atendimento
em urgncia e emergncia importante saber que o HumanizaSUS foi a pro-
posta lanada pelo Ministrio da Sade em 2004 para enfrentar os desafos
em relao mudana dos modelos de ateno e de gesto das prticas de
sade a partir dos princpios do SUS. Com essa proposta, o Ministrio da
Sade priorizou o atendimento com qualidade e a participao integrada
dos gestores, trabalhadores e usurios na consolidao do SUS.
Um dos objetivos da Poltica Nacional de Humanizao da Ateno e Ges-
to do SUS provocar inovaes nas prticas gerenciais e nas prticas de
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
26
produo de sade, propondo para os diferentes coletivos/equipes impli-
cados nestas prticas o desafo de superar limites e experimentar novas
formas de organizao dos servios e novos modos de produo e circula-
o de poder.
Assim, com o princpio da transversalidade, o HumanizaSUS lana mo de
ferramentas e dispositivos para consolidar redes, vnculos e a corresponsa-
bilizao entre usurios, trabalhadores e gestores. Ao direcionar estratgias
e mtodos de articulao de aes, saberes e sujeitos, pode-se, efetivamen-
te, potencializar a garantia de ateno integral, resolutiva e humanizada.
2.2 Humanizao, acolhimento e classifcao de
risco
Vamos abordar nessa seo conceitos fundamentais para o entendimento
de temas como humanizao, acolhimento e classifcao de risco.
Na valorizao dos diferentes sujeitos implicados no
processo de produo de sade, os valores que norteiam esta
poltica so: a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a
corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vnculos
solidrios, a participao coletiva no processo de gesto e a
indissociabilidade entre ateno e gesto (Brasil, 2009; 2011).
Como ento entendida a humanizao nesta perspectiva?
Na construo do SUS, surgem novas questes que demandam outras res-
postas, bem como problemas e desafos que persistem, impondo a necessi-
dade tanto de aperfeioamento do sistema, quanto de mudana de rumos.
A mudana das prticas de acolhida aos cidados/usurios e aos cidados/
trabalhadores nos servios de sade um destes desafos.
Como postura e prtica nas aes de ateno e gesto nas
unidades de sade, o acolhimento, a partir da anlise dos
processos de trabalho, favorece a construo de relao de
confana e compromisso entre as equipes e os servios e
possibilita avanos na aliana entre usurios, trabalhadores e
gestores da sade em defesa do SUS, como uma poltica pblica
essencial para a populao brasileira.
Classifcao de risco e acolhimento
27
Assim, ao direcionar a ateno sade para a rede de urgncia e emergn-
cia, entende-se que desafos devem ser superados no atendimento sade
tais como: superlotao, processo de trabalho fragmentado, confitos e as-
simetrias de poder, excluso dos usurios na porta de entrada, desrespeito
aos direitos desses usurios, pouca articulao com o restante da rede de
servios, entre outros.
preciso, portanto, a partir da compreenso da insero dos servios de
urgncia na rede local, repensar e criar novas formas de agir em sade que
levem a uma ateno resolutiva, humanizada e acolhedora.
Saiba mais
Sugere-se que voc aprofunde esta temtica consultando as
Portarias relacionadas na sequncia:
Portaria n 4.279, de 30 de dezembro de 2010 Estabelece
diretrizes para a organizao da Rede de Ateno Sade
no mbito do Sistema nico de Sade (SUS). Disponvel
em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/
portaria4279_docredes.pdf>. Acesso em: abr. 2012;
Portaria N 1.600, de 07 de julho de 2011 - Reformula a
Poltica Nacional de Ateno s Urgncias e Institui a
Rede de Ateno a Urgncias no Sistema nico de Sade.
Disponvel em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2011/prt1600_07_07_2011.html> Acesso em maio 2012;
Nota tcnica: Implementao da rede de ateno s
Urgncias/emergncias RUE. Disponvel em: <http://
portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/urgencia_300511>.
Acesso em: abr. 2012.
A ateno s urgncias um tema complexo, que no deve ser tratado de
forma pontual e por um nico tipo de servio, conforme ressaltado pelo
Ministrio da Sade (2011). Desse modo, no mbito do SUS, as urgncias
devem ser abordadas a partir da constituio de uma Rede de Ateno, que
atravesse os diversos nveis de complexidade do sistema, alm de compor-
tar servios diferentes, organizados a partir das necessidades dos usurios
(BRASIL, 2011).
Esta atual poltica busca aprimorar os mecanismos de regulao, controle
e avaliao da assistncia aos usurios do SUS. A implantao do SAMU
ou das UPAs isoladamente no suporta a diversidade e especifcidades das
questes relacionadas urgncia e emergncia no Brasil, dada a natureza
do objeto sade/doena e a complexa rede de intervenes necessrias
para impactar os problemas de sade (Brasil, 2006; BRASIL, 2011).
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
28
Assim, o conceito estruturante a ser utilizado que o atendimento aos
usurios com quadros agudos deve ser prestado por todas as portas de
entrada do SUS. Possibilitando, assim, a resoluo de seu problema ou
transportando-o, responsavelmente, para um servio de maior complexi-
dade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, conforme institui a
Poltica Nacional de Ateno as Urgncias (BRASIL, 2003a). Organizando
as redes regionais de ateno s urgncias enquanto elos de uma rede de
manuteno da vida em nveis crescentes de complexidade e responsabili-
dade (BRASIL, 2006; BRASIL, 2011).
Saiba mais
Para aprofundar esta temtica, no deixe de ler o material do
Ministrio da Sade que trata do Acolhimento e classifcao de
risco nos servios de urgncia. Disponvel em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_
classifcaao_risco_servico_urgencia.pdf>.
Nessa perspectiva, o Ministrio da Sade salienta o acolhimento como:
Uma ao tecno-assistencial que pressupe a mudana da
relao profssional/usurio e sua rede social por meio de
parmetros tcnicos, ticos, humanitrios e de solidariedade,
reconhecendo o usurio como sujeito e participante ativo no
processo de produo da sade.
O acolhimento implica prestar um atendimento em sade com resoluti-
vidade e responsabilizao. Orientando, quando for o caso, o paciente e
a famlia em relao a outros servios de sade para a continuidade da
assistncia e estabelecendo articulaes com esses servios para garantir a
efccia desses encaminhamentos. Desse modo, possibilita o atendimento
a todos que procuram os servios de sade na rede, ouvindo seus pedidos
e assumindo no servio uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar
respostas mais adequadas aos usurios.
Desse modo, o acolhimento com Avaliao de Risco se confgura como uma
das intervenes decisivas na reorganizao das portas de urgncia e na
implementao da produo de sade em rede, pois extrapola o espao de
gesto local afrmando, no cotidiano das prticas em sade, a coexistncia
das macro e micropolticas (Brasil, 2009).
Classifcao de risco e acolhimento
29
Palavra do profssional
Voc j deve ter observado, at aqui, que o Acolhimento
tem relao direta com a avaliao/classifcao de risco do
indivduo que procura o servio de sade. E, em se tratando
de urgncia e emergncia, a classifcao de risco contribui
para estabelecer a prioridade do atendimento. Vamos ento
entender melhor o que so os Protocolos de Classifcao de
Risco?
A classifcao de risco vem sendo utilizada em muitos pases, inclusive no
Brasil. Para essa classifcao foram desenvolvidos diversos protocolos que
objetivam, sobretudo, no demorar em prestar atendimento queles que
necessitam de uma conduta imediata com segurana. Por isso, todos eles
so baseados na avaliao primria do paciente, j bem desenvolvida para
o atendimento s situaes de catstrofes e adaptada para os servios de
urgncia.
Os protocolos de classifcao so instrumentos que sistematizam a ava-
liao. Vale ressaltar que no se trata de fazer um diagnstico prvio nem
de excluir pessoas sem que tenham sido atendidas pelo mdico, mas a
classifcao de risco realizada pelo enfermeiro, baseado em consensos
estabelecidos conjuntamente com a equipe mdica para avaliar a gravida-
de ou o potencial de agravamento do caso, assim como o grau de sofrimen-
to do paciente. Portanto, a classifcao de risco um processo dinmico
de identifcao dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de
acordo com o potencial de risco, agravos sade ou grau de sofrimento.
2.2.1 Os Eixos e Suas reas de acordo com o Ministrio da Sade
A reinveno dos espaos fsicos e seus usos na urgncia, orientada pelas
diretrizes do acolhimento e da ambincia do Ministrio da Sade, convoca-
-nos, de imediato, a lidar com alguns desafos tanto conceituais quanto
metodolgicos. Um dos desafos trabalhar essa reinveno de modo a
contribuir para a produo (reinveno) de sade. Nessa produo, expres-
sam-se regimes de sensibilidades em que, antes mesmo da realidade cons-
truda, h o processo de construo dessa realidade, da qual esses regimes
fazem parte (como digo, como vejo, como uso).
O espao um territrio que se habita, que se vivencia, onde convivemos
e nos relacionamos. um territrio que se experimenta, que se reinventa
e que se produz. Uma produo do espao que acontece porque h proces-
sos de trabalho, encontros entre as pessoas, modos de se viver e modos de
ir reconstruindo o espao (BRASIL, 2009 p.28 -29).
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
30
A orientao da ambincia na urgncia, articulada diretriz do acolhimen-
to, favorece que ao se intervir, criar e recriar os espaos fsicos na urgncia
problematize-se tambm as prticas, os processos de trabalho e os modos
de viver e conviver nesse espao.
Assim, o Acolhimento com Classifcao de Risco o guia
orientador para a ateno e gesto na urgncia, no qual
outros modos de estar, ocupar e trabalhar se expressaro
nesse lugar e solicitaro arranjos de espaos singulares, com
fuxos adequados que favoream os processos de trabalho nos
servios de urgncia e emergncia (Brasil, 2009).
Para entender a lgica do atendimento destes espaos e seus usos nestes
servios, o Ministrio da Sade (MS) organizou uma estrutura composta
por eixos e reas que evidenciam os nveis de risco dos pacientes.
A proposta de desenho se desenvolve pelo menos em dois eixos (BRASIL,
2009):
O do paciente grave, com risco de morte, denominado eixo verme-
lho;
O do paciente aparentemente no grave, mas que necessita ou pro-
cura o atendimento de urgncia, denominado de eixo azul.
Cada um desses eixos possui diferentes reas, de acordo com a clnica do
paciente e os processos de trabalho que nele se estabelecem, sendo que
essa identifcao tambm defne a composio espacial por dois acessos
diferentes. Assim, temos como Eixos e suas reas a seguinte estrutura
organizada para a ambincia na Emergncia conforme a seguir (BRASIL,
2009):
Classifcao de risco e acolhimento
31
Nmero Eixo rea
1
VERMELHO: Este eixo est
relacionado clnica do
paciente grave, com risco de
morte, sendo composto por
um agrupamento de trs
reas principais
a) rea Vermelha: nesta rea que est a sala de
emergncia, para atendimento imediato dos pacientes
com risco de morte, e a sala de procedimentos espe-
ciais invasivos
b) rea Amarela: composta por uma sala de reta-
guarda para pacientes j estabilizados, porm ainda
requerem cuidados especiais (pacientes crticos ou
semicrticos).
c) rea Verde: composta pelas salas de observao, que
devem ser divididas por sexo (feminino e masculino) e
idade (crianas e adultos), a depender da demanda.
2
AZUL: o eixo dos pa-
cientes aparentemente
no graves. O arranjo do
espao deve favorecer o
acolhimento
do cidado e a classifcao
do grau de risco.
Este eixo se compe de 3
(trs) planos de atendimento:
a) Plano 1: espaos para acolhimento, espera, recepo,
classifcao do risco e atendimento administrativo. A
diretriz principal, neste plano, acolher, o que pressu-
pe a criao de espaos de encontros entre os sujeitos.
b) Plano 2: rea de atendimento mdico, lugar onde os
consultrios devem ser planejados de modo a possibi-
litar a presena do acompanhante e a individualidade
do paciente.
c) Plano 3: reas de procedimentos mdicos e de en-
fermagem (curativo, sutura, medicao, nebulizao).
importante que as reas de procedimentos estejam
localizadas prximas aos consultrios, ao servio de
imagem e que favoream o trabalho em equipe.
Fonte: Brasil (2009)
A construo de um protocolo de classifcao de risco a partir dos exis-
tentes e disponveis nos textos bibliogrfcos, porm adaptado ao perfl de
cada servio e ao contexto de sua insero na rede de sade, uma opor-
tunidade de facilitar a interao entre a equipe multiprofssional e de valo-
rizar os profssionais da urgncia (BRASIL, 2009, 2011).
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
32
tambm importante que servios de uma mesma regio desenvolvam
critrios de classifcao semelhantes, buscando facilitar o mapeamento
e a construo das redes locais de atendimento. A elaborao e a anlise
do fuxograma de atendimento no pronto-socorro, identifcando os pontos
nos quais se concentram os problemas, promovem uma refexo profunda
sobre o processo de trabalho (BRASIL, 2011).
Palavra do profssional
Sugerimos, ento, que voc participe em sua regio tanto
da construo quanto da implantao de um protocolo de
classifcao de risco. O que voc pensa sobre isso? Discuta com
sua equipe sobre o que voc tem refetido aqui.
Como exemplo desta proposta de Classifcao de Risco na Emergncia,
citamos o artigo de Claudia Abbs e Altair Massaro (2004) em que a Classi-
fcao de Risco d-se nos seguintes nveis:
Vermelho: signifca prioridade zero emergncia, atendimento ime-
diato;
Amarelo: signifca prioridade 1 - urgncia, atendimento em no m-
ximo 15 minutos;
Verde: signifca prioridade 2 - prioridade no urgente, atendimento
em at 30 minutos;
Azul: signifca prioridade 3 - consultas de baixa complexidade -
atendimento de acordo com o horrio de chegada tempo de espera
pode variar at 3 horas de acordo com a demanda destes atendi-
mentos, urgncias e emergncias.
A identifcao das prioridades feita, por exemplo, mediante adesivo co-
lorido colado no canto superior direito do Boletim de Emergncia.
Os pacientes classifcados como verde podem tambm receber encami-
nhamento unidade bsica de referncia pelo servio social ou enfermei-
ro, com garantia de consulta mdica e/ou cuidados de enfermagem, situ-
ao que deve ser pactuada previamente. Os pacientes classifcados como
azul tambm podero ser encaminhados para o acolhimento na Unidade
Bsica de Sade de referncia ou tero seus casos resolvidos pela equipe
de sade.
Classifcao de risco e acolhimento
33
Palavra do profssional
Estabelece-se, assim, um fuxo de ateno em sade na lgica
de Redes como proposto pelo Ministrio da Sade.
Como ilustrao prtica da aplicao do protocolo, os pacientes que de-
vero ser encaminhados diretamente sala vermelha para atendimento
imediato so os que apresentam as seguintes situaes/queixas conforme
destacam (ABBS & MASSARO 2004):
Politraumatizado grave Leso grave de um ou mais rgos e siste-
mas, Escala de Coma de Glasgow (ECG) < 12;
Queimaduras com mais de 25% de rea de superfcie corporal quei-
mada ou com problemas respiratrios;
Trauma crnio-enceflico grave (Escala de Coma de Glasgow) ECG
<12;
Estado mental alterado ou em coma ECG <12; histria de uso de
drogas;
Comprometimentos da coluna vertebral;
Desconforto respiratrio grave: cianose de extremidades, taquipnia
(FR>20mvpm), agitao psicomotora, sudorese, saturao de O2 90;
Dor no peito associada falta de ar e cianose (dor em aperto, faca-
da, agulhada com irradiao para um ou ambos os membros su-
periores, ombro, regio cervical e mandbula, de incio sbito, de
forte intensidade acompanhada de sudorese, nuseas e vmitos ou
queimao epigstrica, acompanhada de perda de conscincia, com
histria anterior de IAM, angina, embolia pulmonar, aneurisma ou
diabetes; qualquer dor torcica com durao superior a 30 minutos,
sem melhora com repouso);
Perfuraes no peito, abdome e cabea;
Crises convulsivas (inclusive ps-crise);
Intoxicaes exgenas ou tentativas de suicdio com Glasgow abaixo
de 12;
Anaflaxia ou reaes alrgicas associadas insufcincia respira-
tria;
Tentativas de suicdio;
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
34
Complicaes de diabetes (hipo ou hiperglicemia);
Parada cardiorrespiratria;
Alteraes de sinais vitais em paciente sintomtico: Pulso > 140 ou
< 45bpm; PA diastlica < 130 mmHg; PA sistlica < 80 mmHg; FR >34
ou <10ipm;
Hemorragias no controlveis;
Infeces graves febre, exantema petequial ou prpura, alterao
do nvel de conscincia.
Existem muitas condies e sinais perigosos de alerta, que so chamadas
Bandeiras Vermelhas e que devero ser levadas em considerao, pois po-
dem representar condies em que o paciente poder piorar repentina-
mente: acidentes com veculos motorizados acima de 35 Km/h; foras de
desacelerao tais como quedas ou em exploses; perda de conscincia,
mesmo que momentnea, aps acidente; negao violenta de eventos b-
vios ou injrias graves com pensamentos de fugas e alteraes de discurso
e ocasionalmente, com respostas inapropriadas; fraturas da 1 e 2 costela;
fraturas 9, 10, 11; costela ou mais de trs costelas; Possvel aspirao;
possvel contuso pulmonar; bitos no local da ocorrncia (ABBS, MAS-
SARO 2004).
Amarelos: Pacientes que necessitam de atendimento mdico e de enfer-
magem o mais rpido possvel, porm no correm riscos imediatos para a
vida. Devero ser encaminhados diretamente sala de consulta de enfer-
magem para classifcao de risco.
Situao/Queixa conforme destacam (ABBS & MASSARO 2004):
Politraumatizado com Glasgow entre 13 e 15; sem alteraes de si-
nais vitais;
Cefalia intensa de incio sbito ou rapidamente progressiva, acom-
panhada de sinais ou sintomas neurolgicos, parestesias, alteraes
do campo visual, dislalia, afasia;
Trauma cranioenceflico leve (ECG entre 13 e 15);
Diminuio do nvel de conscincia;
Alterao aguda de comportamento agitao, letargia ou confuso
mental;
Histria de Convulso / psictal convulso nas ltimas 24 horas;
Dor torcica intensa;
Antecedentes com problemas respiratrios, cardiovasculares e me-
Classifcao de risco e acolhimento
35
tablicos (diabetes);
Crise asmtica (dispnia, cianose, tosse e sibilos);
Diabtico apresentando sudorese, alterao do estado mental, vi-
so turva, febre, vmitos, taquipnia, taquicardia;
Desmaios;
Estados de pnico, overdose;
Alteraes de sinais vitais em paciente sintomtico: a) FC < 50 ou >
140 bpm; b) PA sistlica < 90 ou > 240 mmHg; c) PA diastlica > 130
mmHg; d) T < 35 ou 40C;
Histria recente de melena ou hematmese ou enterorragia com PA
sistlica, 100 ou FC > 120bpm;
Epistaxe com alterao de sinais vitais;
Dor abdominal intensa com nuseas e vmitos, sudorese, com al-
terao de sinais vitais (taquicardia ou bradicardia, hipertenso ou
hipotenso, febre);
Sangramento vaginal com dor abdominal e alterao de sinais vi-
tais, gravidez confrmada ou suspeita;
Nuseas /Vmitos e diarria persistente com sinais de desidratao
grave letargia, mucosas ressecadas, turgor pastoso, alterao de
sinais vitais;
Febre alta (39/40 C);
Fraturas anguladas e luxaes com comprometimento neurovascu-
lar ou dor intensa;
Intoxicao exgena sem alterao de sinais vitais, Glasgow de 15;
Vtimas de abuso sexual;
Imunodeprimidos com febre.
Verdes: Pacientes em condies agudas (urgncia relativa) ou no agudas
atendidos com prioridade sobre consultas simples tempo de espera at
30 minutos. De acordo com (ABBS & MASSARO 2004):
Idade superior a 60 anos;
Gestantes com complicaes da gravidez;
Pacientes escoltados;
Pacientes doadores de sangue;
Defcientes fsicos;
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
36
Retornos com perodo inferior a 24 horas devido a no melhora do
quadro;
Impossibilidade de deambulao;
Asma fora de crise;
Enxaqueca pacientes com diagnstico anterior de enxaqueca;
Dor de ouvido moderada a grave;
Dor abdominal sem alterao de sinais vitais;
Sangramento vaginal sem dor abdominal ou com dor abdominal
leve;
Vmitos e diarria sem sinais de desidratao;
Histria de convulso sem alterao de conscincia;
Lombalgia intensa;
Abscessos;
Distrbios neurovegetativos;
Intercorrncias ortopdicas (entorse suspeita de fraturas, luxaes);
Pacientes com ferimentos devero ser encaminhados diretamente
para a sala de sutura.
Azuis: Demais condies no enquadradas nas situaes/ queixas acima.
Queixas crnicas sem alteraes agudas;
Procedimentos como: curativos, trocas ou requisies de receitas
mdicas, avaliao de resultados de exames, solicitaes de ates-
tados mdicos. Aps a consulta mdica e medicao o paciente
liberado.
Vamos ento transpor esta avaliao para a prtica?
Caso 2: Imaginemos que voc recebe um paciente, Sr. RS do sexo
masculino de 40 anos, em sua Unidade de Sade apresentando
desconforto respiratrio grave. O Sr. RS apresenta histria
passada de asma e problemas cardacos. No exame clnico, voc
observa que RS est com a respirao inefcaz, com cianose
de extremidades, agitado e com saturao de 02 de 89% pelo
oxmetro de pulso. Os sinais vitais do Sr. R.S neste momento
so: PA: 220/140mmHg; P: 150bpm; FR: 38irpm.
Classifcao de risco e acolhimento
37
Qual a sua avaliao neste momento?
De acordo com o proposto acima, esse paciente deve receber atendimento
imediato e, portanto, recebe a classifcao de risco de cor Vermelha e de-
ver receber o atendimento adequado para desconforto respiratrio grave.
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos, recomenda-se a leitura
dos seguintes artigos:
Acolhimento e Avaliao com Classifcao de Risco de
ABBS C, MASSARO A. Disponvel em: <http://www.slab.
uff.br/textos/texto84.pdf>.
Protocolo Implantado na Secretaria Municipal de
Sade da Prefeitura de Belo Horizonte. Disponvel em:
<http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/protocolos/
AcolhimentoClassifcacaodeRiscodasUpasdeBH.pdf>
2.3 Resumo
O contexto mostra que os avanos na atual poltica pblica de sade es-
to direcionados para a melhoria do atendimento no SUS, estabelecendo
o atendimento na estrutura de Redes. Para que isso se consolide, h ne-
cessidade de um trabalho que valorize o acolhimento e a classifcao de
risco. O MS organizou uma estrutura composta por eixos e reas que evi-
denciam os nveis de risco dos pacientes. A proposta do desenho desen-
volve em pelo menos dois eixos: o do paciente grave, com risco de morte,
denominada eixo vermelho, e o do paciente aparentemente no grave,
mas que necessita ou procura o atendimento de urgncia, denominada
eixo azul. Cada um desses eixos possui diferentes reas, de acordo com
a clnica do paciente e os processos de trabalho que nele se estabelecem,
sendo que essa identifcao tambm defne a composio especial por
dois acessos diferentes. A partir desta orientao, o MS destaca que tam-
bm importante que servios de uma mesma regio desenvolvam crit-
rios de classifcao semelhantes, buscando facilitar o mapeamento e a
construo das redes locais de atendimento. A elaborao e a anlise do
fuxograma de atendimento no pronto-socorro, identifcando os pontos em
que se concentram os problemas, promovem uma refexo profunda sobre
o processo de trabalho. Nesse sentido, foi exemplifcado a voc como fazer
a Classifcao de Risco na Emergncia de acordo com a prioridade clnica
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
38
proposta pelo Ministrio da Sade na qual o Vermelho: signifca prioridade
zero emergncia, atendimento imediato. Amarelo: signifca prioridade 1
- urgncia , atendimento em no mximo 15 minutos. Verde: signifca prio-
ridade 2 - prioridade no urgente, atendimento em at 30 minutos. Azul:
signifca prioridade 3 - consultas de baixa complexidade - atendimento
de acordo com o horrio de chegada tempo de espera pode variar at 3
(trs) horas de acordo com a demanda destes atendimentos, urgncias e
emergncias. Estruturado a partir destas orientaes, exemplos prticos
da aplicao do protocolo foram apresentados de acordo com as situaes/
queixas dos pacientes com seus respectivos atendimentos e encaminha-
mentos. Foi possvel, ento, observar como se estabelece um fuxo de aten-
o em sade para os servios de urgncia e emergncia na lgica de Redes
como proposto pelo Ministrio da Sade.
2.4 Fechamento
O acolhimento com classifcao de risco proposto pelo Ministrio da Sade
favorece a construo de relao de confana e compromisso entre as equi-
pes e os servios na lgica do atendimento em rede. Possibilita tambm for-
talecer os laos entre usurios, trabalhadores e gestores da sade em defesa
do SUS como uma poltica pblica essencial para a populao brasileira.
Sugesto de autoavaliao: Considerando os assuntos
apresentados, elabore um protocolo de atendimento para a
sua Unidade, considerando os diferentes nveis de prioridade
clnica, a estrutura de trabalhadores, recursos fsicos e materiais
necessrios.
2.5 Recomendao de leitura complementar
LOPES, J. B. Enfermeiro na classifcao de risco em emergncia:
reviso integrativa. 2001. 37f. TCC (Graduao em Enfermagem) - Escola
de Enfermagem , Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2011. Disponvel em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/10183/37529/000822594.pdf?sequence=1>
Classifcao de risco e acolhimento
39
UNIDADE 3
Classifcao de risco e acolhimento
41
Unidade 3: Classifcao de Risco conforme o
Sistema de Triagem de Manchester
Nesta unidade, voc vai conhecer o mtodo de classifcao de risco do
Sistema de Triagem de Manchester. A partir da, vai saber como classifcar
as queixas dos usurios que demandam os servios de urgncia/emergn-
cia, visando identifcar a necessidade de atendimento mediato e imediato
e tambm construir e aplicar os fuxos de atendimento e informao na
urgncia e emergncia.
3.1 Introduo
O Grupo Brasileiro de Acolhimento com Classifcao de Risco (GBACR)
(2010) ressalta aspectos importantes da evoluo no processo de triagem
em todo o mundo. Em 1898, Glasgow, Sir DArcy Powerin descrevia que, em
um hospital em Londres, os pacientes comeavam a se amontoar nas es-
cadas num determinado horrio e somente tinham acesso ao hospital em
outro horrio. As portas eram ento abertas para um paciente por vez. A
enfermeira perguntava sua queixa para depois o encaminhar para o clnico
ou cirurgio.
Nos Estados Unidos, a triagem foi usada inicialmente pelos militares para
escolher soldados feridos em batalha com o objetivo de estabelecer priori-
dades de tratamento. Os soldados com ferimentos eram classifcados pela
gravidade de suas leses
O principal objetivo da triagem era devolver o maior nmero de soldados
para o campo de batalha o mais rpido possvel, entretanto, como era uma
tecnologia para guerra ou grandes catstrofes no se aplicava popula-
o civil. Contudo, mudanas no sistema de sade americano foraram os
pronto-socorros (PS) a avaliar alternativas na abordagem pelo aumento da
demanda de atendimento nos anos 1950 e 1960.
No fnal de 1950, pela mudana na prtica mdica, quando os mdicos par-
ticulares e os de famlia passaram a ser raros, as visitas se transformaram
em consultas agendadas em consultrios e os pronto-socorros tornaram-
-se o principal local de atendimento quando os consultrios estavam fe-
chados, principalmente em feriados e fns de semana. Alm disso, mais
mdicos se tornaram especialistas, com poucos generalistas.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
42
Isso gerou uma grande demanda nas Unidades de Pronto Socorro e este
volume de pessoas resultou no uso destas unidades por pacientes com
problemas menos graves. Assim, houve a necessidade de um mtodo para
classifcar pacientes e identifcar aqueles com necessidade imediata de
cuidados nos PS. Os mdicos e enfermeiros que tinham experincia com
o processo de triagem nos campos de batalha introduziram a tecnologia
nas emergncias civis com sucesso. A primeira referncia de triagem fora
do perodo de grandes catstrofes foi em 1963, em Yale, conforme consta
dos relatos do Grupo Brasileiro de Acolhimento com Classifcao de Risco
(GBACR) (2010).
Mundialmente, existem diversos protocolos de avaliao e classifcao de
risco e, no Brasil, os servios que realizam esta atividade desenvolveram
seus protocolos com base nos protocolos internacionais, bem como no pro-
tocolo do MS/Brasil que veremos em detalhes mais frente (SILVA, 2010).
Contudo, podemos citar, dentre os protocolos reconhecidos mundialmen-
te: o americano Emergency Severity ndex (ESI)(Gilboy et al, 2005), o australia-
no Australasian Triage Scale (ATS)(Australasian College for Emergency Medicine,
2001), o canadense Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS)(Beveridge,(1998);
Beveridge (1998)) e o ingls Manchester Triage System (Protocolo de Manches-
ter)(Freitas, 1997).
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto, consulte
o site do Grupo Brasileiro de Acolhimento com Classifcao
de Risco. Disponvel em: <http://www.gbacr.com.br/index.
php?option=com_frontpage&Itemid=1>.
Sugere-se tambm aprofundar essa temtica com a dissertao
de Michele de Freitas Neves Silva que trata de Protocolo de
avaliao e classifcao de risco de pacientes de uma unidade
de emergncia. Disponvel em: <http://www.bibliotecadigital.
unicamp.br/document/?code=000774288&fd=y>.
3.2 O Sistema de Triagem de Manchester
Um dos mtodos adotados no mundo tem sido o Mtodo do Sistema de
Triagem de Manchester concebido para permitir ao profssional de sade
atribuir rapidamente uma prioridade clnica a cada indivduo. O sistema
seleciona os pacientes com maior prioridade e funciona sem fazer quais-
Classifcao de risco e acolhimento
43
quer presunes sobre o diagnstico mdico, uma vez que os atendimen-
tos nos servios de urgncia so, na sua maioria, orientados pelos sinais e
sintomas apresentados pelos pacientes.
O Grupo de Triagem de Manchester foi formado em 1994, com o intuito
de estabelecer um consenso entre mdicos e enfermeiros dos Servios de
Urgncia a fm de criar normas de triagem.
Vamos abordar na prxima seo alguns conceitos bsicos sobre triagem
e o processo de tomada de deciso nessa rea para dar continuidade aos
nossos estudos.
3.2.1 Conceitos, processo de tomada de deciso e triagem
Palavra do profssional
Mas o que signifca triagem? Qual seu objetivo?
A palavra triagem tem origem da palavra francesa trier que signifca es-
colha, seleo (GILBOY, 1999). Pelo menos alguma forma de Avaliao de
Risco ou triagem sempre foi feita em servios de urgncia e emergncia
no Brasil seguindo, contudo, uma lgica da excluso. Triagem signifca clas-
sifcar ou priorizar itens e classifcao de risco no pressupe excluso e
sim estratifcao a partir de protocolos preestabelecidos. A expectativa de
acesso rpido ao atendimento em sade crescente embora as unidades
de sade muitas vezes no disponham de estrutura fsica, recursos huma-
nos e equipamentos adequados para atender tal demanda.
A regulao desse atendimento como resposta maior demanda de sade
constitui instrumento necessrio de ordenao e orientao da assistncia.
A regulao se confgura, portanto, em potente ferramenta
para organizao e induo das Redes de Ateno sade
com qualidade, efetividade, compromisso, responsabilidade,
tica e solidariedade, pois tem como objetivo nico priorizar
os pacientes, consoante com a gravidade clnica com que se
apresentam no servio.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
44
Conforme a lei do exerccio profssional, o enfermeiro o profssional ha-
bilitado para a realizao da triagem (BRASIL, 2005). Diante desse cenrio
e mediante as necessidades de implantao da classifcao de risco na
Rede de Ateno Sade no Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN), conforme a Resoluo N 423/2012, ressalta que o acolhimento
com classifcao de risco pode ser realizado pelo enfermeiro desde que
no haja excluso de pacientes, que o atendimento mdico seja garantido
e que sejam frmados protocolos, promovendo a agilidade do atendimento
de forma digna e harmonizada (BRASIL, 2005; COFEN, 2012).
Palavra do profssional
Mas, ento, como se faz a Metodologia de Triagem?
Para abordarmos esse contedo, vamos Inicialmente entender que uma
triagem/classifcao de risco requer tomada de deciso. Ou seja, a toma-
da de deciso parte integrante e importante da prtica clnica e de en-
fermagem. Uma adequada avaliao clnica de um paciente requer tanto
raciocnio como intuio, e ambos devem se basear em conhecimentos
e aptides profssionais. Assim, como parte de seu processo de aptido
preciso que voc aprenda a interpretar, discriminar e avaliar.
Uma adequada avaliao clnica essencial para a tomada de
deciso e prestao de cuidados seguros e de qualidade!
Dessa forma, a tomada de deciso deve ser orientada por 05(cinco) passos
de acordo com este sistema (FREITAS, 1997):
4. Implementao da alternativa selecionada:
os profssionais da triagem aplicam uma das cinco categorias existentes
com nome, cor e defnio especfcos que melhor se adapta urgncia
da condio apresentada pelo paciente.
5. Monitorizao da implementao e avaliao dos resultados:
o resultado determinado a medida que identifcado em como e
quando chegou-se quela categoria. Isso facilita a reavaliao e
posterior confrmao ou alterao da categoria. Portanto, a triagem
dinmica e deve responder tanto s necessidades dos pacientes como
s do servio.
1. Identifcao do problema:
realizada mediante a obteno de informaes relacionadas ao
prprio paciente, das pessoas que lhe prestam cuidados e/ou qualquer
pessoal de sade pr-hospitalar. Aqui voc ir aprender a identifcar
os diversos fuxogramas de relevncia apresentados para auxiliar na
triagem/classifcao de risco.
2. Coleta e anlise das informaes relacionadas soluo
do problema:
uma vez identifcado o fuxograma, esta fase se torna menos complexa,
pois possvel procurar os discriminadores em cada nvel do fuxograma,
que facilita a avaliao rpida a partir de perguntas estruturadas.
3. Avaliao de todas as alternativas e seleo de uma delas para
implementao:
os enfermeiros obtm uma grande quantidade de dados sobre os
pacientes que observam. Estes so integrados aos fuxogramas, aos
quais fornecem o quadro organizacional para a ordenao do processo
do raciocnio durante a triagem. Ou seja, os fuxogramas integram o
processo de tomada de deciso no quadro clnico.
Classifcao de risco e acolhimento
45
4. Implementao da alternativa selecionada:
os profssionais da triagem aplicam uma das cinco categorias existentes
com nome, cor e defnio especfcos que melhor se adapta urgncia
da condio apresentada pelo paciente.
5. Monitorizao da implementao e avaliao dos resultados:
o resultado determinado a medida que identifcado em como e
quando chegou-se quela categoria. Isso facilita a reavaliao e
posterior confrmao ou alterao da categoria. Portanto, a triagem
dinmica e deve responder tanto s necessidades dos pacientes como
s do servio.
1. Identifcao do problema:
realizada mediante a obteno de informaes relacionadas ao
prprio paciente, das pessoas que lhe prestam cuidados e/ou qualquer
pessoal de sade pr-hospitalar. Aqui voc ir aprender a identifcar
os diversos fuxogramas de relevncia apresentados para auxiliar na
triagem/classifcao de risco.
2. Coleta e anlise das informaes relacionadas soluo
do problema:
uma vez identifcado o fuxograma, esta fase se torna menos complexa,
pois possvel procurar os discriminadores em cada nvel do fuxograma,
que facilita a avaliao rpida a partir de perguntas estruturadas.
3. Avaliao de todas as alternativas e seleo de uma delas para
implementao:
os enfermeiros obtm uma grande quantidade de dados sobre os
pacientes que observam. Estes so integrados aos fuxogramas, aos
quais fornecem o quadro organizacional para a ordenao do processo
do raciocnio durante a triagem. Ou seja, os fuxogramas integram o
processo de tomada de deciso no quadro clnico.
No 4 passo, as cinco categorias existentes com nome, cor e defnio espe-
cfcos que so citadas esto apresentadas na tabela a seguir:
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
46
Nmero Nome Categoria Cor Tempo Alvo Min
1 Emergente Vermelho 0
2 Muito Urgente Laranja 10
3 Urgente Amarelo 60
4 Pouco Urgente Verde 120
5 No Urgente Azul 240
Palavra do profssional
A partir dessa viso geral, vamos colocar em prtica o mtodo
de triagem pelo sistema de Manchester, na prxima seo voc
ver como.
3.2.2 Mtodo de triagem
Na identifcao do problema, a prtica clnica est centrada na queixa
principal, ou seja, o principal sinal e sintoma identifcado pelo prprio pa-
ciente ou pelo profssional de sade. O protocolo de Manchester estabele-
ceu 52 problemas pertinentes para a triagem e, dentre eles, para o paciente
adulto, destacamos alguns como: agresso, asma, catstrofe (avaliao pri-
mria e secundria); cefalia, comportamento estranho, convulses, corpo
estranho, diabetes, dispnia, doena mental, DST, dor abdominal, dor cer-
vical, dor lombar, dor torcica, embriaguez aparente, estado de inconsci-
ncia, exposio a produtos qumicos, feridas, grande traumatismo, gravi-
dez, hemorragia gastrointestinal (GI), hemorragia vaginal, indisposio no
adulto, infeces locais e abscessos, leso toraco-abdominal, mordeduras e
picadas, problemas estomatolgicos, nasais, nos membros, oftalmolgicos,
ouvidos, urinrios; quedas; queimaduras profundas e superfciais; super-
dosagem ou envenenamento; TCE e vmitos (FREITAS, 1997).
Classifcao de risco e acolhimento
47
Na coleta e anlise das informaes o desta-
que para os discriminadores que so fatores
que fazem a seleo dos pacientes, de modo a
permitir a sua incluso em uma das cinco prio-
ridades clnicas. Estes Discriminadores podem
ser gerais ou especfcos. Veja no Anexo os Dis-
criminadores especfcos. (FREITAS, 1997)
Os discriminadores gerais so: risco de
morte; dor; hemorragia; nvel de conscincia;
temperatura e agravamento. Segundo Freitas
(1997), os discriminadores gerais so uma ca-
racterstica recorrente dos fuxogramas e, por
essa razo, precisamos entender cada um deles
detalhadamente a fm de termos uma boa com-
preenso do mtodo de triagem:
Risco de morte ou para a vida
Este discriminador reconhece que qualquer
perda ou ameaa das funes vitais (vias areas, respirao e circulao)
coloca o paciente no primeiro grupo de prioridades. Detalhado no fuxogra-
ma apresentado na sequncia desta seo.
Dor
Todas as avaliaes de triagem devem incluir uma avaliao da dor. A dor
severa indica uma dor intolervel signifcativa e insuportvel. Qualquer
paciente com grau de dor inferior a esta deve, por excluso - salvo se exis-
tirem outros discriminadores que sugiram maior gravidade - no mnimo,
ser colocado na prioridade pouco urgente e no na prioridade no urgente.
Os discriminadores ge-
rais se aplicam a todos
os pacientes, independen-
temente da condio que
apresentam e surgem
repetidamente ao longo
dos fuxogramas. Os dis-
criminadores especfcos
nos remetem aos casos
individuais ou a pequenos
grupos de apresentaes
e tendem a se relacionar
com caractersticas-chave
de condies particula-
res. Ex: Dor aguda um
discriminador geral, dor
pr-cordial e dor pleur-
tica so discriminadores
especfcos.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
48
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o processo de
avaliao da dor na triagem, com destaque especial para a
tcnica de avaliao e os instrumentos existentes, sugere-se
que voc consulte os seguintes sites:
Simbidor - Arquivos do 8 Simpsio Brasileiro e Encontro
Internacional sobre Dor. Disponvel em: <http://www.
simbidor.com.br/publicacoes/arquivos_simbidor_2007.
pdf>. Acesso em: jun. 2012.
Dor na Emergncia, 2010. Disponvel em: <http://www.
dor.org.br/profssionais/pdf/fasc_dor_na_emergencia.pdf>.
Acesso em: maio 2012.
Portal da Sociedade Brasileira para os estudos da dor.
Disponvel em: <http://www.dor.org.br/> Acesso em: abr.
2012.
Hemorragia
A hemorragia apresenta-se de vrias formas, principalmente, mas no ex-
clusivamente, na que envolve traumatismo. Os discriminadores de trau-
matismo so: exsanguinante, grande hemorragia incontrolvel ou pequena
hemorragia incontrolvel. A tentativa de controlar com sucesso a hemor-
ragia por compresso determina a gravidade da mesma. De modo geral,
uma hemorragia contnua tem maior prioridade clnica. Uma hemorragia
que no controlada pela aplicao de presso direta constante e que con-
tinua a sangrar abundantemente ou ensopa rapidamente compressas ou
chumaos grandes descrita como grande hemorragia incontrolvel, en-
quanto que uma hemorragia que continua a sangrar ligeiramente ou inter-
mitentemente descrita como pequena hemorragia incontrolvel. Qual-
quer hemorragia por menor que seja, dever - salvo se existirem outros
discriminadores que conduzam a uma maior prioridade clnica merecer,
pelo menos, a prioridade urgente.
Nvel de inconscincia
O nvel de inconscincia analisado separadamente para adultos e crian-
as. Nos adultos apenas os pacientes em estado de mal epiltico so sem-
pre colocados na categoria de interveno emergente (vermelho). Os pa-
cientes adultos com grau de conscincia alterado (apenas respondem a voz
ou a dor pela ECG, ou que no respondem) so includos na categoria de
muito urgentes. Todos os pacientes com histria de alterao do nvel de
conscincia devem ser colocados na categoria urgente.
Classifcao de risco e acolhimento
49
Temperatura (T)
Se o paciente estiver muito quente, com T = ou > de 41C, deve receber
a categoria muito urgente (laranja); se estiver quente, com T entre 38,5
a 40,9 C, deve receber a categoria urgente (amarelo) e, se apresentar a
temperatura em torno de 37,5 a 38,4 C (febrcula/subfebril), deve receber
a categoria pouco urgente (verde). Procure sempre verifcar a temperatura
timpnica por ser rpida e mais exata.
Agravamento
Para esta avaliao determinado o tempo de instalao de um problema
como forma de enquadrar temporalmente o aparecimento da situao. As-
sim, avalie se o problema recente. Se ou no uma leso ou ferimento
recente, pois um tempo relativamente longo de existncia de um problema
pode ser includo na prioridade no urgente sem risco clnico.
Para podermos entender os discriminadores gerais e os especfcos mais
comuns, independentemente da condio apresentada, o fuxograma a se-
guir descreve resumidamente os discriminadores gerais:
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
50
VERMELHO
SIM
NO
H comprometimento da via area?
Respirao inefcaz?
Choque?
Criana que no responde?
LARANJA
SIM
Dor severa?
Grande hemorragia incontrolvel?
Alterao do nvel de conscincia?
Criana quente?
NO
AMARELO
SIM
Dor moderada?
Pequena hemorragia incontrolvel?
Histria inapropriada?
Vmitos persistentes?
Quente?
NO
VERDE
SIM
SIM
Dor?
Febrcula?
Vmitos?
NO
NO NO
AZUL
Problema recente?
Fonte: FREITAS, P. Triagem no Servio de Urgncia/emergncia: Grupo de Triagem d e Man-
chester. Portugal: Grupo Portugus de Triagem BMJ-Publishing Group 1997- 154p
Classifcao de risco e acolhimento
51
3.2.4 Exemplo prtico
Vamos aplicar o que aprendemos em uma situao real?
Compartilhando
Imagine que voc est recebendo um paciente masculino,
de 22 anos, vtima de acidente de carro em sua unidade. A
informao que voc tem de que se trata de um caso de grande
traumatismo. Esta unidade pode ser primria de sade, uma
unidade de pronto atendimento, ou uma unidade hospitalar.
Quais sero ento os passos da avaliao deste paciente?
Vamos ver como isso se processa no fuxograma a seguir:
VERMELHO
SIM
NO
H comprometimento da via area?
Respirao inefcaz?
Hemorragia exsanguinante?
Choque?
LARANJA
SIM
Dor severa?
Histria signifcativa de incidente?
Mecanismo de leso?
Dispnia Aguda?
Grande hemorragia incontrolvel?
Alterao do estado de conscincia?
NO
AMARELO
REAVALIAR
SIM
Dor moderada?
Histria clnica signifcativa?
Pequena hemorragia incontrolvel?
Histria de perda de conscincia?
Novos sintomas e/ou sinais neurolgicos?
NO
Fonte: FREITAS,P.Triagem no Servio de Urgncia/emergncia: Grupo de Triagem de Manches-
ter. Portugal: Grupo Portugus de Triagem BMJ-Publishing Group 1997- 154p
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
52
Observe que, ao negar todos esses discriminadores, ele fca com o discri-
minador amarelo.
Compartilhando
Vamos ver agora uma explicao deste fuxograma com os
discriminadores especfcos para o grande traumatismo. No
deixe de consultar os discriminadores para obter ajuda nessa
avaliao.
Notas do grande traumatismo: A maior parte dos profssionais de sa-
de sabe o que est implicado para a sade do paciente aps um grande
traumatismo. A atuao desses profssionais no pode ser baseada ape-
nas nas leses que o paciente apresenta. Os discriminadores gerais inclu-
dos foram: risco de morte ou para a vida, hemorragia, grau de conscincia
e dor. Os especfcos foram utilizados para assegurar que seja atribuda
uma prioridade sufcientemente alta aos pacientes com um mecanismo de
traumatismo maior e, para que aqueles com doena mdica preexistente
e/ou desenvolvimento de novos sinais neurolgicos sejam reconhecidos
em tempo correto (FREITAS, 1997)
Aplicando os discriminadores
Discriminadores especficos Explicao
Dispnia aguda
Difculdade respiratria que se desenvolve subitamente,
ou uma repetida exacerbao de dispnia crnica
Histria clnica signifcativa
Qualquer situao clnica preexistente que requer medi-
cao contnua ou outros cuidados
Histria de perda de conscincia
Pode haver uma testemunha de confana que possa
afrmar se o paciente esteve inconsciente (e por quanto
tempo). Caso contrrio, se o paciente no for capaz de
se recordar do acidente devemos assumir que ele esteve
inconsciente.
Histria signifcativa de incidente
Fatores signifcativos incluem: quedas de alturas, ejeo
de veculos, morte de ocupantes e outras vtimas do
acidente e a deformao signifcativa de um veculo
Classifcao de risco e acolhimento
53
Mecanismo de leso
So signifcativas as leses penetrantes (facadas ou
tiros) e as leses com elevada transferncia de energia,
tais como quedas de alturas e acidentes de trfego em
alta velocidade (>60Km/h)
Novos sintomas/sinais neurolgicos
Pode incluir ateno ou perda de sensibilidade, enfra-
quecimento dos membros (transitria ou permanente)
ou alteraes no funcionamento da bexiga ou do intesti-
no (incontinncia)
Reavaliar
Se no houver a certeza quanto existncia de grande
traumatismo, necessrio reavaliar e pesquisar mais
uma vez antes de reclassifcar.
Fonte: GPT Grupo de Triagem Portugus Portugal (1996)
3.3. Resumo
Voc teve oportunidade de conhecer, nesta Unidade, o Sistema do Protoco-
lo de Triagem de Manchester. Recentemente, no Brasil, foram dados passos
importantes para a instituio de um mtodo de Triagem Nacional. O sis-
tema seleciona os pacientes com maior prioridade e funciona sem fazer
quaisquer presunes sobre o diagnstico mdico, uma vez que os servios
de urgncia so, na sua maioria, orientados pelos sinais e sintomas apre-
sentados pelos pacientes. Trata-se de um importante mtodo de ordenao
e orientao da assistncia fundamentada essencialmente no processo de
tomada de deciso que garanta uma assistncia de sade mais segura
e livre de riscos nas situaes de urgncia e emergncia. Portanto, uma
adequada avaliao clnica essencial para a tomada de deciso, presta-
o de cuidados seguros e de qualidade que, de acordo com esse mtodo,
baseia-se em cinco passos: identifcao do problema; coleta e anlise das
informaes relacionadas soluo do problema; avaliao de todas as
alternativas e seleo de uma delas para implementao; implementao
da alternativa selecionada, monitorizao da implementao e avaliao
dos resultados. Assim, os profssionais da triagem aplicam uma das cinco
categorias existentes com nome, cor e defnio especfcos que melhor se
adapta urgncia da condio apresentada pelo paciente: emergente (ver-
melho); muito urgente (laranja); urgente (amarelo); pouco urgente (verde)
e no urgente (azul). preciso, portanto desenvolver as competncias para
a realizao da triagem.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
54
3.4 Fechamento
A triagem de Manchester no um processo difcil, pelo contrrio, ela nor-
teia a tomada de deciso para o estabelecimento de uma prioridade cl-
nica. Assim, dentre os requisitos para execut-la adequadamente, ressal-
tamos: o critrio clnico, a metodologia reproduzvel, uma nomenclatura
comum, as defnies comuns, um programa permanente de formao e
atualizao, auditoria e acompanhamento.
3.5 Recomendao de leitura complementar
ANZILIERO, F. Emprego do Sistema de Triagem de Manchester na
estratifcao de risco: reviso de literatura. 2011. 47f. TCC (Graduao
em Enfermagem) - Escola de Enfermagem , Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponvel em: <http://www.lume.
ufrgs.br/bitstream/hand-le/10183/37506/000822814.pdf?sequence=1>
Classifcao de risco e acolhimento
55
UNIDADE 4
Classifcao de risco e acolhimento
57
Unidade 4: Instrumentos gerenciais em servios
de sade
Nesta unidade, voc vai aprender a reconhecer os instrumentos gerenciais
da prtica do enfermeiro (planejamento, tomada de deciso, superviso,
educao continuada/ permanente, avaliao e qualidade dos servios)
dentro das especifcidades da ateno s urgncias e vai saber como iden-
tifcar aspectos relacionados previso e proviso de recursos humanos,
materiais e equipamentos para ateno s urgncias.
4.1 Introduo
Considerando as dimenses assistencial e gerencial na formao do enfer-
meiro, bem como a sua interface, abordamos, nesta Unidade, os instrumen-
tos gerenciais no contexto dos servios de ateno s urgncias. So eles:
Previso e proviso de recursos humanos;
Previso e proviso de recursos materiais e equipamentos;
Planejamento;
Tomada de deciso;
Superviso;
Uso dos sistemas de informao em sade;
Educao permanente;
Avaliao e qualidade dos servios.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
58
4.2 A Prtica gerencial do enfermeiro na ateno s
urgncias
Palavra do profssional
Por que relevante enfocar a prtica gerencial do enfermeiro
nos servios de ateno as urgncias?
A importncia da rea de urgncia no contexto de ateno sade, a cres-
cente demanda por servios regulados e estruturados, a magnitude dos
agravos para a sociedade, bem como a necessidade do enfoque multiprofs-
sional no atendimento evidenciam o quanto imperioso para o enfermeiro
sistematizar uma nova viso sobre o processo de gerenciar e de cuidar na
ateno s urgncias.
O processo de cuidar e gerenciar podem ser considerados como as princi-
pais dimenses do trabalho do enfermeiro em seu dia-a-dia. O cuidar ca-
racteriza-se pela observao, pelo levantamento de dados, planejamento,
pela implementao, evoluo, pela avaliao e interao entre pacientes
e trabalhadores da enfermagem e entre diversos profssionais de sade. J
o processo de gerenciar, tem como foco organizar a assistncia e propor-
cionar a qualifcao do pessoal de enfermagem por meio educao per-
manente/ continuada, apropriando-se para isto, dos modelos e mtodos de
administrao, da fora de trabalho da enfermagem e dos equipamentos e
materiais (PEDUZZI, 2000; WILLING; LENARDT, 2002).
O distanciamento do profssional enfermeiro entre o gerenciar e o cuidar
gera inquietaes pessoais e profssionais, impe um repensar da prtica
administrativa voltada para a assistncia, no sentido de resgatar o papel do
enfermeiro como gerente do cuidado.
O gerenciamento, no processo de trabalho da enfermagem, tem como foco
principal a organizao da assistncia, isto , o planejamento de aes
compartilhadas de modo que a equipe de enfermagem, sob liderana do
enfermeiro, desenvolva o trabalho com efcincia e qualidade(WILLING;
LENARDT, 2002).
A concepo clssica e tradicional de gerncia, voltada burocracia e cen-
trada na diviso de trabalho, j sofre infuncias de um modelo contem-
porneo, voltado ao gerenciamento do cuidado e aponta a necessidade de
Classifcao de risco e acolhimento
59
trabalhar a concepo de gerenciamento dos enfermeiros de forma mais
articulada, para que possa favorecer a assistncia (HAUSMANN; PEDUZZI,
2009).
O novo paradigma da enfermagem construdo na atualidade envolve o en-
trelaamento e a aproximao entre os processos de cuidar e gerenciar,
pois na medida em que ocorre a articulao entre os processos, as neces-
sidades do paciente e da instituio sero atendidas integralmente, o que
refete a expresso mais clara da boa prtica em enfermagem (AZEVEDO,
2010; HAUSMANN, PEDUZZI, 2009).
Nesse sentido, a prtica do enfermeiro nos servios de urgncia dever
distanciar-se da concepo de gerenciamento burocrtico e aproximar-se
da perspectiva de gerenciamento do cuidado que articula as atividades as-
sistenciais e gerenciais. Cuidar e gerenciar so dimenses indissociveis do
trabalho do enfermeiro, cada qual com especifcidades, que tm o cuidado
ao paciente como foco das aes (AZEVEDO, 2010)
Diante desse cenrio, os objetos de trabalho do enfermeiro para alcanar
o gerenciamento do cuidado so a organizao do trabalho e os recursos
humanos de enfermagem. Neste processo um conjunto de instrumentos
tcnicos prprios so necessrios como, planejamento, previso e provi-
so de recursos humanos e materiais, tomada de deciso, uso de sistemas
de informao em sade, educao continuada/permanente, superviso e
avaliao no contexto dos servios de ateno s urgncias.
O exerccio profssional em servios de ateno s urgncias tem se mostra-
do como um desafo para o enfermeiro articular a centralidade do cuidado
ao paciente e a gerncia de enfermagem. Na perspectiva do gerenciamento
do cuidado, responsabilizando-se pela assistncia de alta complexidade,
coordenao e articulao da equipe, mobilizao de recursos subjetivos e
objetivos requeridos com vistas a atender s necessidades dos pacientes e
conciliar os objetivos das equipes e os organizacionais.
Palavra do profssional
Portanto, no processo de gerenciamento da RAU, com o
intuito de garantir o acesso do usurio rede com segurana
e qualidade, preciso levar em considerao os servios e
materiais disponveis, profssionais de referncia, o tempo de
atendimento, os recursos de comunicao e informao de
acesso, a competncia da equipe de sade, a prioridade clnica
e a viabilidade dos recursos para transporte.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
60
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto, sugerimos
a leitura desse editorial que enfoca as competncias para o
gerenciamento do cuidado de enfermagem. Disponvel em:
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/13406>.
O caso a seguir ilustra aspectos de gerenciamento do cuidado de enfer-
magem. Sugere-se a leitura atenta, a refexo e a identifcao de pontos
relevantes.
A enfermeira MA trabalha h 10 anos na sala de urgncia de um hospital pblico,
que atualmente possui 120 leitos de internao, 25 de terapia intensiva e 10 em
unidade de cuidados semi-intensivos, distribudos em quatro pavimentos. O pri-
meiro atendimento das urgncias e emergncias ocorre nos seguintes espaos: sala
de triagem, sala de trauma (5 leitos monitorizados), sala de estabilizao clnica (5
leitos monitorizados para pacientes com quadro clnico instvel) e 7 consultrios
(para atendimentos em diversas especialidades). No municpio, a Central de Regu-
lao Mdica responsvel pela regulao da demanda de atendimentos. A equipe
de enfermagem da sala de urgncia constituda por 21 enfermeiros e 45 auxiliares
de enfermagem, que, conforme escala rotativa, so alocados nos trs espaos cita-
dos acima. No dia 16 de abril de 2012, planto da manh, a enfermeira MA e dois
auxiliares de enfermagem estavam escalados na Sala de Trauma. Nesse espao, o
enfermeiro responsvel pelos 5 leitos da unidade, suas atividades consistem em
orientar e supervisionar os auxiliares de enfermagem quanto aos cuidados a serem
prestados, bem como, verifcar e testar o funcionamento de equipamentos, controlar
e realizar previso de materiais e o estoque de medicao, realizar os cuidados de
maior complexidade, principalmente aos pacientes politraumatizados e com insta-
bilidade hemodinmica. Ainda, solicitar avaliao mdica dos pacientes admitidos,
requisitar exames diagnsticos quando solicitados pelos mdicos, admitir e transfe-
rir os pacientes, auxiliar em procedimentos mdicos, alm de gerenciar os confitos
que envolvem os pacientes, os familiares e os profssionais.
Aps receber o planto, MA delegou as aes para os auxiliares, que deveriam
administrar as medicaes e prestar os cuidados de higiene e conforto aos trspa-
cientes que se encontravam na Sala de Trauma desde o dia anterior, pois no havia
leitos vagos para internao. Os auxiliares medicaram todos os pacientes e inicia-
ram o banho do paciente politraumatizado (vtima de acidente de moto, com diag-
nstico mdico de TCE, fratura em membro inferior esquerdo e TRM esclarecer),
esse paciente exigia a movimentao em bloco com pelo menos trs profssionais.
A enfermeira MA, antes de colaborar com os dois auxiliares nesse banho, checou os
materiais e equipamentos prioritrios da sala (material de entubao, respirador,
Classifcao de risco e acolhimento
61
monitores, desfbriladores, etc.), constatou que no havia respirador infantil na uni-
dade. Sendo assim, solicitou-os com urgncia central de material e, desse modo, os
materiais e equipamentos necessrios para o desenvolvimento do planto fcaram
completos. Alm disso, acionou a equipe mdica responsvel pelo paciente solici-
tando nova avaliao, com vistas internao, uma vez que o paciente no deve
permanecer por tempo prolongado na sala de trauma j que, ao ser submetido a um
Protocolo de Triagem, recebeu a classifcao vermelha para atendimento imediato.
Entretanto, embora o paciente devesse ser internado, no havia leito disponvel.
Durante a realizao do banho a enfermeira pde observar o modo como os auxilia-
res executavam o cuidado e a forma de abordagem do paciente.
Nesse caso possvel identifcar aspectos relativos a:
Acesso regulado a servios de maior densidade tecnolgica;
Assistncia do paciente baseada nas necessidades de sade;
Gerenciamento de recursos materiais e equipamentos;
Gerenciamento e articulao de recursos humanos;
Superviso;
Problema gerencial/planejamento: intervalo de tempo para alta.
Em cima do caso relatado, sugerimos que voc liste os trechos que identi-
fcam esses aspectos gerenciais. No texto que a seguir, apresentam-se con-
tedos que colaboram para o seu entendimento.
4.2.1 Planejamento
O planejamento um instrumento gerencial, inerente ao funcionamento
do sistema de sade, que permite identifcar os problemas de sade da
populao, selecionar aqueles de maior prioridade, estabelecer objetivos
que visem modifcar a situao encontrada, determinar as aes a serem
desenvolvidas para o alcance dos objetivos preestabelecidos e avaliar os
resultados obtidos pela aplicao das aes adotadas.
Na enfermagem o instrumento de planejamento mais utilizado o Pla-
nejamento Estratgico Situacional (PES), voltado para resoluo de pro-
blemas, aquilo que o profssional (ator) detecta na realidade e confronta
com um padro que considera inadequado ou intolervel que o estimula a
enfrent-lo, visando a promoo de mudanas (MATUS, 1996).
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
62
um instrumento que trabalha com o processamento de problemas atu-
ais, potenciais e macroproblemas, explica como eles nasceram e se de-
senvolveram, faz planos para resolver as suas causas, analisa a viabilida-
de poltica do plano e ataca o problema na prtica, o que representa ter
uma viso real sem generaliz-lo na descrio e nas propostas de soluo
(CIAMPONE, MELLEIRO, 2010).
O Planejamento Estratgico Situacional considera a existncia de vrios
atores, admite o confito como algo inerente s relaes sociais e advoga
que o poder, a tomada de deciso e o prprio planejamento, devem ser
compartilhados. Rejeita a teoria do comportamento social como aquela
capaz de fundamentar as questes relativas ao planejamento e coloca em
seu lugar a teoria da ao estratgica, a qual fundamentada em juzo
estratgico e amparada em clculos interativos (MATUS, 1996), que no se
resumem apenas considerao dos comportamentos sociais.
Nesse sentido, o PES colabora na construo da competncia gerencial
do enfermeiro por constituir-se em um planejamento integrado e parti-
cipativo, que contribui para a organizao dos servios de sade e para o
enfrentamento de confitos e problemas institucionais. uma ferramenta
potente para transformar a realidade, visto que proporciona um aumento
na capacidade direo, gerncia e controle do sistema social. Por ser um
mtodo de processar problemas, tem grande aplicabilidade na gesto em
sade, uma vez que o trabalho, nessa rea, trata de problemas complexos
e no estruturados (LALUNA et al, 2003).
Cabe ao enfermeiro que atua na ateno s urgncias realizar, entre outras
atividades, o planejamento e coordenar a equipe, no sentido de se apro-
priar das tecnologias disponveis, potencializar o seu tempo disponvel e
garantir um cuidado integral aos pacientes. Desse modo, a administrao
do processo de trabalho, associado ao conhecimento cientfco e ao com-
promisso profssional do enfermeiro, confgura-se como ferramenta essen-
cial para melhorar o cuidado prestado, contribuindo para superao do
modelo biologicista e centrado em procedimento que rege o processo de
trabalho em emergncia (DAROLT, 2007).
O PES composto de quarto momentos: explicativo, normativo, estratgico,
ttico-operacional. No caso descrito a seguir, apresentamos um exerccio
para refetir sobre o planejamento.
Momento Explicativo
Defnir o problema: O intervalo de tempo para alta e/ou transfern-
cia (sada) do paciente da unidade de atendimento s urgncias para
as unidades de internao e alta muito prolongado.
Classifcao de risco e acolhimento
63
Descrever o problema: Busca-se caracterizar quanti-qualitativa-
mente o problema. O tempo mdio de liberao dos leitos nas uni-
dades de internao:
- Unidade de Internao Peditrica - tempo mdio - 6 horas
- Unidade de Internao Clnicas/Neuro - tempo mdio -72 horas
- Unidade de Internao Cirrgicas - tempo mdio - 46 horas
Os pacientes com maior grau de dependncia fsica: permanecem
maior tempo internado no ps-alta, o que consequentemente blo-
queia os leitos para os pacientes que vm dos setores de emergncia.
Consequncias do problema: baixa rotatividade dos leitos hospita-
lares, aumento do custo internao, risco para o paciente internado,
equipe de sade com baixo poder de interveno, ambiente propcio
para confitos na equipe de sade.
Explicar o problema: identifcar as causas do problema: a famlia
no foi previamente preparada sobre os cuidados ps-alta, a famlia
no tem estrutura domiciliar para receber o paciente, o transporte
de ambulncia regional no efciente.
Palavra do profssional
Vamos refetir um pouco? Por que os enfermeiros devem
realizar planejamento?
Respostas:
Estruturar a anlise de uma unidade complexa;
Facilitar a tomada de decises;
Sintonizar a direo dos servios de sade e das unidades
funcionais;
Avaliar o andamento rumo ao planejado;
Compartilhar os objetivos com a comunidade,
comprometendo-a para o seu alcance.
Momento Normativo
Desenhar o plano: compor operaes para impactar a causa mais
importante. Nesse caso:
preparar famlia e o domicilio para receber paciente com de-
pendncia;
treinamento do familiar responsvel para realizar os cuidados
domiciliares.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
64
Produtos e Aes do Plano: conjunto de aes a ser executado e que
consumir recursos fnanceiros, de poder, de comunicao, de sabe-
res cientfcos, recursos materiais, recursos humanos, de organiza-
o, entre outros.
identifcar responsvel familiar;
visitar o domicilio antecipadamente para identifcar difcul-
dades dos familiares e do ambiente domiciliar para receber o
paciente;
adequar ambiente fsico: cama, cadeira de rodas, materiais de
curativo, respirador, por exemplo;
agendar horrios para orientar o familiar no hospital;
realizar cuidados no hospital-responsvel familiar e equipe de
enfermagem;
elaborar manual educativo;
agendar acompanhamento na UBS;
realizar contra referncia de enfermagem.
Momento Estratgico
Estabelecer recursos crticos: busca-se construir a viabilidade do desenho
normativo, identifcando os obstculos que possam pesar no projeto e suas
correspondentes naturezas tcnica, poltica, econmica, de cultura organi-
zacional e outras.
No exemplo, pode-se considerar recursos crticos: vnculo famlia/pacien-
te, vnculo famlia/equipe de enfermagem, deciso multiprofssional, inte-
rao equipe de sade hospitalar/UBS, emprstimo de equipamentos m-
dicos, fornecimento de medicamentos.
Momento Ttico-operacional
o momento em que toda anlise e elaborao convertem-se em ao con-
creta, para tanto, cria-se um sistema de gerenciamento estratgico para
monitorar a execuo do plano, controlar a implementao e avaliar os
resultados. No caso em questo, preciso concretizar as seguintes aes:
Famlia e paciente com preparo psico-emocional;
Segurana e conhecimento para realizar cuidados ps-alta;
Suprir o domicilio de infraestrutura fsica e material livre de risco
para paciente/famlia;
Classifcao de risco e acolhimento
65
Aumentar a rotatividade de leitos hospitalares.
Incrementar a produtividade.
Indicadores de Avaliao
Medida que quantifca e qualifca o impacto do plano sobre o atendimento
ao usurio e a melhoria da organizao hospitalar.
o momento de propor indicadores que permitam monitorar e avaliar a
ao realizada. Por exemplo, tempo entre comunicao de alta e a efetiva
sada do paciente do hospital.
4.2.2 Previso e Proviso de Recursos Materiais
O enfermeiro, por assumir o gerenciamento das unidades de atendimen-
to e coordenar toda a atividade assistencial, tem papel preponderante no
que diz respeito determinao do material necessrio consecuo da
assistncia, tanto nos aspectos quantitativos como nos qualitativos, na
defnio das especifcaes tcnicas, na participao no processo de com-
pra, na previso e proviso, na organizao, no controle e avaliao desses
materiais (CASTILHO; GONALVES, 2010).
Os materiais, geralmente relacionam-se com suprimentos, este ltimo de-
signa todas as atividades que visam o abastecimento de materiais para a
produo envolvendo programao de materiais, compra, recepo, arma-
zenamento no almoxarifado, movimentao de materiais e o transporte
interno para abastecer as unidades produtivas. A produo a atividade
principal ou fnal, enquanto o suprimento atividade-meio ou apenas
subsidiria a produo (CHIAVENATO, 2011).
Para gerenciar materiais e equipamentos importante determinar qual a
razo do servio, onde estamos atuando, qual demanda deve ser atendi-
da, quais resultados so esperados, quais especialidades atuam naquele
servio, quais procedimentos, terapias, tcnicas, manobras, intervenes e
exames so ali realizados.
As funes do enfermeiro no gerenciamento de recursos materiais so:
previso, proviso, organizao e controle. Assim, descreveremos cada eta-
pa procurando inter-relacionar com a lgica das unidades de emergncia,
como segue:
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
66
ETAPA DESCRIO
Previso
um levantamento das necessidades da unidade, fazendo o diagnstico
situacional, identifcando a quantidade e as especifcidades, analisando os fa-
tores como: especifcidades da unidade (nmero de leitos, pediatria, geriatria,
adulto, com acompanhante), caractersticas da clientela (grau de dependncia
de cuidado, tipo de patologia, etc.), frequncia no uso dos materiais, local de
guarda (disponibilidade de locais), durabilidade do material (clice de vidro
graduado tem durabilidade infnita, caso no quebre).
Proviso
a reposio dos materiais necessrios para a realizao das atividades do
setor. Em alguns servios existe o sistema de reposio interna (do almoxarifa-
do para a unidade produtiva), este processo pode ser realizado por quantidade
e tempo ou imediato por quantidade.
Organizao
Consiste na maneira como o enfermeiro ir dispor os materiais para o uso. A
fm de organiz-los melhor, deve-se procurar centraliz-los para facilitar o uso
e o controle. Os aspectos que devem ser considerados so os da planta fsica e
atividades desenvolvidas na unidade. Por exemplo: guardar todos os materiais
para o preparo de medicamentos prximos do local onde este procedimento
realizado.
Controle
Cabe ao enfermeiro testar tecnicamente o desempenho e analisar os riscos e
benefcios, bem como a qualidade dos materiais e equipamentos para assim
atender s necessidades dos usurios e garantir a segurana dos clientes e dos
profssionais.
Na previso, por exemplo, a estimativa do material a ser comprado depen-
de do consumo mensal das unidades, ou seja, da soma das cotas de todas
as unidades, cujos valores so calculados com base na mdia aritmtica do
consumo, podendo ser estimada por uma expresso matemtica, proposta
por Castilho, Gonalves (2010).
J na proviso, a reposio por quantidade e tempo utilizada por siste-
ma de cotas com reposio semanal, quinzenal ou mensal. Os fatores que
determinam esse tipo de reposio o dimensionamento de pessoal do
almoxarifado, o local de guarda de estoque do almoxarifado, a rotatividade
do material de estoque, caractersticas do local de guarda de materiais nas
unidades.
Classifcao de risco e acolhimento
67
A reposio imediata por quantidade a mais utilizada atualmente nos
servios de ateno s urgncias, por ser mais dinmica, promove reposi-
o mais rpida e efcaz e estoque real dirio, alm de evitar desvios.
Quanto organizao, deve-se identifcar os locais de guarda de material,
pois a comunicao visual extremamente importante como medida de
segurana, afnal o remanejamento dos profssionais de enfermagem entre
as unidades uma prtica frequente.
Nos setores de emergncia, a disposio do material na sala deve ser orga-
nizada para evitar o atropelo de pessoal circulando afoitamente a sua pro-
cura. Recomenda-se que estes estejam organizados em bandejas ou kits
dispostos prximos a maca ou ainda em carros ou mesinhas mveis.
Outro procedimento que devemos adotar o sistema do primeiro que en-
tra o primeiro que sai, ou seja, verifcar o prazo de validade do material e
dispor aqueles que vencem antes na frente dos outros com validade poste-
rior, para que sejam usados primeiro, evitando assim o desperdcio e situa-
es de risco ao profssional e possveis danos ao cliente.
O suprimento de medicamentos deve ser previsto tomando-se como base
a casustica do servio e mediante consulta a equipe mdica. Mant-los
agrupados, com identifcao em destaque.
Em relao ao controle, temos o controle quantitativo, no qual necessria
a implantao de um estoque mnimo de materiais e implantao de um
sistema de kits para os procedimentos tcnicos (entubao orotraqueal,
drenagem de trax, sondagem vesical, acesso central, etc.).
Diariamente, um membro da equipe de enfermagem dever checar o ma-
terial de consumo. Para facilitar a checagem, recomenda-se que esse ma-
terial esteja discriminado e quantifcado.
Dever haver checklist dos itens a serem verifcados no nicio de cada plan-
to e aps cada atendimento como: funcionamento do ventilador mecni-
co, do monitor/desfbrilador, do aspirador, da rede de oxignio, do laringos-
cpio, do amb e demais equipamentos.
Outro papel do enfermeiro no gerenciamento de recursos materiais e equi-
pamentos tem sido o de escolher o material, tendo como base de estudos,
o custo-benefcio, ou seja, o menor custo para a instituio, o maior bene-
fcio para o cliente interno e externo e sade ambiental.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
68
Palavra do profssional
Por exemplo, o custo-benefcio da utilizao do sistema de
drenagem torcica descartvel. Seguindo a lgica do custo-
benefcio, o que seria melhor para todos? Deve-se reunir com
todos os profssionais envolvidos nesse processo de aquisio
de material, da ao produtiva e o gestor de resduos para
discusso e tomada de decises.
Assim, as atribuies do enfermeiro no gerenciamento de materiais so:
Realizar um bom planejamento de aquisio de materiais, conside-
rando a previso e especifcao tcnica;
Padronizar o quantitativo por procedimento tcnico conjuntamente
com a equipe de enfermagem;
Estar atualizado com novos produtos de mercado, testar e analisar
os produtos;
Controlar o material quantitativamente por meio de implementao
de kits;
Monitorar o gasto de materiais junto equipe;
Treinar o pessoal para o uso adequado do material em conjunto com
o setor de educao continuada/permanente e comisso de controle
de infeco hospitalar da instituio, se houver;
Estar atualizado com as normas e leis vigentes;
Garantir que os materiais e equipamentos sejam checados quanti e
qualitativamente a cada planto = checklist dirio;
Testar o funcionamento dos equipamentos a cada planto;
Criar critrios para checagem da validade;
No permitir mudana de local sem aviso prvio a toda equipe;
Assegurar que todos os profssionais saibam da existncia dos ma-
teriais, bem como a sua correta utilizao.
Um dos aspectos relevantes no gerenciamento de recursos materiais na
ateno s urgncia diz respeito necessidade do planejamento antecipa-
do das unidades. Os materiais e equipamentos devem estar preparados,
testados e colocados de forma a estarem imediatamente disponveis para
garantir a rapidez e efcincia do atendimento (AZEVEDO, 2010).
Classifcao de risco e acolhimento
69
Como nesses setores os profssionais trabalham mais diretamente com
o limiar entre a vida e a morte dos pacientes, destaca-se a realizao de
atividades voltadas a zelar pela disponibilidade e funcionalidade dos ma-
teriais e equipamentos utilizados no atendimento j que nessas ocasies
cada segundo torna-se precioso e nem sempre h tempo disponvel para
conserto ou busca de novos materiais durante o atendimento (SANTOS,
2010).
O gerenciamento de recursos materiais fundamental nas organizaes
de sade, refere-se ao seu produto fnal ou atividade fm, que a assistn-
cia aos usurios por meio de aes que no podem sofrer interrupes. Os
avanos tecnolgicos tm impulsionado o aumento constante da comple-
xidade assistencial, exigindo um nvel de ateno cada vez mais elevado
por parte dos profssionais de sade, criando uma demanda crescente por
recursos materiais. Assim, impem-se a necessidade dos servios de sade
aprimorarem os sistemas de gerenciamento desses recursos, a fm de ga-
rantirem uma assistncia contnua de qualidade a um menor custo e, ain-
da, assegurarem a quantidade e qualidade dos materiais necessrios para
que os profssionais realizem suas atividades sem riscos para si mesmos e
para os pacientes (CASTILHO; GONALVES, 2010).
4.2.3 Previso e Proviso de Recursos Humanos
O processo de reorganizao dos servios de sade, no que tange a assegu-
rar uma distribuio e utilizao dos recursos humanos, fnanceiros e ma-
teriais que contemplem a efccia, efcincia e a economicidade do sistema
de sade tem sido apontado como sendo o maior desafo das instituies.
A expresso recursos humanos na rea da sade envolve tudo
que se refere aos trabalhadores da sade e possui mltiplas
dimenses: composio e distribuio da fora de trabalho,
formao, qualifcao profssional, mercado de trabalho,
organizao do trabalho, regulao do exerccio profssional e
relaes de trabalho.
A estruturao dos servios de sade depende de um planejamento minu-
cioso, que tem por base as necessidades do usurio a ser atendido, de modo
que a Enfermagem deve assegurar processos assistenciais em quantidade
e qualidade capazes de satisfazer s necessidades da clientela. Para execu-
o desses processos, devem utilizar um conjunto de instrumentos como
o dimensionamento de pessoal, escala de pessoal, recrutamento e seleo,
educao permanente, trabalho em equipe e avaliao de desempenho.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
70
Importante destacar que, nas unidades de emergncia, os desafos rela-
cionados ao planejamento, alocao e avaliao de recursos humanos de
enfermagem, assume maiores propores devido, entre outros aspectos,
dinmica de trabalho da unidade; diversidade das aes desenvolvidas;
rotatividade de pacientes e escassez de parmetros que difcultam a
operacionalizao dos mtodos convencionais de gerenciamento de recur-
sos humanos (GARCIA, FUGULIN, 2010).
Para realizao do planejamento numrico de profssionais da enferma-
gem (dimensionamento de pessoal), nos reportamos Resoluo do CO-
FEN 293 de 21 de setembro de 2004. Esta Resoluo defne tambm par-
metros qualitativos, ou seja, quantos de cada categoria profssional so
necessrios para viabilizar uma prestao de assistncia de qualidade.
O dimensionamento de pessoal de enfermagem constitui, sem dvida, um
instrumento de natureza gerencial a ser desenvolvida pelos enfermeiros e,
nesse sentido, uma fonte de constante preocupao dada necessidade
de corresponder s fnalidades e aos objetivos do servio no que se refere
prestao de cuidados aos pacientes.
O dimensionamento de pessoal de enfermagem tem se constitudo ao longo dos anos,
foco de ateno das enfermeiras, bem como dos administradores dos servios de sa-
de, por interferir, diretamente, na efccia e no custo da assistncia sade (DAL BEN;
GAIDZINSKI, 2007).
Kurcgant et al. (1989) defnem dimensionamento de pessoal de enferma-
gem como a etapa inicial do processo de provimento de pessoal, com a
fnalidade prever a quantidade de funcionrios por categoria, requerida
para suprir as necessidades de assistenciais de enfermagem, direta ou in-
diretamente prestada clientela.
Os aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos humanos tm-se tor-
nado ento sinnimos de efcincia e efccia dos gerentes, pois, vincula-se
defnio de seus nveis de responsabilidade organizacional em virtude
das implicaes que o dimensionamento inadequado desses recursos cau-
sa no resultado da assistncia prestada.
O dimensionamento inadequado apresenta vrias implicaes nos resul-
tados de assistncia prestada e, atualmente, o que tem ocorrido a utiliza-
o de uma mo-de-obra no limite. Ou seja, trabalha-se com um nmero
mnimo de funcionrios, no caso enfermeiros, tcnicos e/ou auxiliares de
enfermagem necessrios para no causar danos visveis clientela atendi-
da. (LUNARDI FILHO, 1995).
Classifcao de risco e acolhimento
71
A compreenso desse cenrio, em que dimensionar pessoal de
enfermagem,enquanto instrumento gerencial para uma assistncia de
qualidade refete a capacitao tico-poltica do enfermeiro em explicitar
as necessidades da categoria profssional, nos remete a um aprofunda-
mento na temtica.
O dimensionamento de pessoal de enfermagem apresenta-se como uma
questo crucial para o gerenciamento do cuidado nos servios de ateno
s urgncias. Identifcar o quantitativo de trabalhadores de enfermagem
necessrio e adequado ao volume de atividades desenvolvidas tem gerado
confitos de natureza econmica, tcnica e tica.
A enfermagem, no mbito da ateno s urgncias, assume a
responsabilidade de prover cuidados contnuos aos pacientes e
para tanto necessita dispor de recursos humanos qualifcados
e em quantidade que lhe possibilite responder s expectativas
institucionais.
Embora alicerada cientifcamente, a questo de provimento de pessoal
da enfermagem transcende a dimenso tcnico-cientfca e se insere
em uma dimenso poltica do gerenciamento de recursos humanos que
requer capacidade de articulao, sensibilizao, coalizes e negociao
de projetos.
Kurcgant (2005) resume a questo do dimensionamento de pessoal ao afr-
mar que a reduo de despesas, por meio da diminuio numrica e quan-
titativa de pessoal de enfermagem, colabora para a instalao de confitos
que se estabelecem entre o custo e o benefcio, entre o pessoal e o institu-
cional, entre o capital e o trabalho, entre a tcnica e o tico. Diante disso,
faz-se necessrio que as enfermeiras explicitem as condies de assistn-
cia, utilizando mtodos adequados de dimensionamento de pessoal, que
permitam argumentao e justifcativa de suas propostas referentes ao
quadro de pessoal, compromissando assim, os responsveis pela aprova-
o do quadro quanto s implicaes para os usurios e o prprio servio
na ausncia dos recursos necessrios para a prestao da assistncia.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
72
A inadequao numrica e qualitativa dos recursos humanos
da enfermagem lesa a clientela no seu direito de assistncia
sade livre de riscos. Os enfermeiros precisam comprometer
a administrao responsvel pelo provimento do quadro de
pessoal de enfermagem quanto aos riscos a que os pacientes
esto expostos quando no so providos os recursos
necessrios, de modo que a instituio seja responsabilizada
legalmente pelas eventuais falhas ocorridas na assistncia.
Para efetivao da assistncia nos servios de ateno s urgncias, os
enfermeiros so responsveis pelas escalas de distribuio de pessoal de
enfermagem (mensal, diria e frias), o que requer conhecimento do perfl
demogrfco, epidemiolgico e organizacional da clientela atendida no
servio, dinmica da unidade, caractersticas da equipe de enfermagem e
leis trabalhistas.
Para elaborao da escala mensal de trabalho necessrio conhecimento
tcnico e do potencial do pessoal que compe a equipe. ainda importante
efetuar escala de distribuio das atividades dirias, semanais e mensais.
A Lei do Exerccio Profssional, nmero 7.498 de 25 de junho de 1986, foi
regulamentada pelo Decreto nmero 94.406, de junho de 1987. Esta lei de-
fne a abrangncia de atuao dos profssionais de enfermagem, sejam eles
enfermeiros, tcnicos ou auxiliares de enfermagem, estabelecendo quem
so, qual o grau de instruo e quais as atividades que cada categoria pro-
fssional est habilitada para exercer.
A correta elaborao das escalas e distribuio dos funcionrios garante
que em cada setor dos servios haja um nmero sufciente de trabalhado-
res de enfermagem, conforme o quantitativo de pessoal disponvel. Para
tanto, os enfermeiros precisam atentar s folgas e trocas efetuadas entre
os funcionrios, designar os tcnicos responsveis pelas atividades espe-
cfcas, como a busca de medicamentos na farmcia e a higienizao dos
materiais. Os enfermeiros tambm precisam avaliar e trocar informaes
constantemente sobre o ritmo de trabalho nos diferentes setores da emer-
gncia, para efetuar trocas conforme as mudanas que vo acorrendo ao
longo do turno.
A elaborao de escalas de trabalho, como atividade inerente ao cotidiano
gerencial do enfermeiro, fundamental na organizao e diviso do traba-
lho no contexto das urgncias.
As competncias gerenciais esto muito relacionadas gesto de recursos
humanos e de equipes, o que demanda do enfermeiro o exerccio constan-
Classifcao de risco e acolhimento
73
te de relacionar-se e construir elos de integrao/articulao com credibi-
lidade e respeito, visando uma atuao em equipe que possibilite maior
desempenho funcional e relacional (ERDMANN et al., 2008).
Os enfermeiros so responsveis por articular as aes assistenciais entre
os profssionais e no trabalho em equipe visando ao gerenciamento do cui-
dado no cotidiano dos servios de emergncia.
A articulao pode ser considerada uma tecnologia utilizada pelos enfer-
meiros para obter a cooperao dos profssionais com as atividades que
envolvem a produo do cuidado no servio de emergncia. Por meio do
dilogo e da interao com os componentes da equipe de sade e enfer-
magem, os enfermeiros conseguem mediar e negociar a consecuo do tra-
balho, com foco nas necessidades dos pacientes/usurios dos servios de
sade e da equipe de enfermagem (SANTOS, 2010).
O enfermeiro na unidade de emergncia exerce um importante papel na
articulao de profssionais, constituindo-se expressiva parcela de seu tra-
balho no mbito gerencial na sala de trauma. O trabalho em equipe dos
profssionais da sade constitui-se em importante aspecto elencado, evi-
denciado pela capacidade da equipe de estabelecer prioridades e a rapidez
do atendimento (AZEVEDO, 2010).
Para Santos (2010), os enfermeiros entendem o trabalho em emergncia
como um processo coletivo, em que existe uma interdependncia e com-
plementaridade entre as atividades dos diversos profssionais que atuam
no servio de emergncia. Alm disso, como j discutido anteriormente,
eles reconhecem sua responsabilidade na articulao e integrao das di-
ferentes aes profssionais que envolvem a produo do cuidado no ser-
vio de emergncia.
A fexibilizao da diviso do trabalho busca superar a rigidez das aes/
tarefas executadas por determinada categoria profssional e construir ati-
vidades comuns a todos os profssionais, no entanto, corroboro Peduzzi
(2007), que destaca a importncia de preservar as diferenas tcnicas de
trabalhos especializados, uma vez que existem aes prprias de cada ca-
tegoria profssional.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
74
Palavra do profssional
Nesse sentido, todos os profssionais da sade, na respectiva
rea de atuao, executam suas aes de acordo com sua
esfera de autonomia e responsabilidade, mas, para que a
equipe possa articular essas aes, ser necessrio reconhecer
a interdependncia das aes e a autonomia profssional do
outro. Diante desse contexto, uma equipe coesa expressa
relaes de trabalho, relaes de saberes, poderes e relaes
interpessoais nas quais as aes devem estar articuladas e os
profssionais integrados.
Vale enfatizar, tambm, que nas proposies de Ciampone e Peduzzi (2005),
o trabalho em equipe utiliza habilidades, recursos e competncias de todos
os seus membros para planejar suas atividades, tomar decises compar-
tilhadas e consensuais, responsabilizar-se e empenhar-se para garantir a
cooperao por meio de objetivos mtuos compartilhados, comunicao
aberta, reconhecimento e apoio recprocos.
Para o enfermeiro, alcanar o melhor nvel do trabalho em
equipe algo complexo, pois exige grande esforo, interesse
e disponibilidade dos profssionais da equipe de enfermagem
na busca de conhecimentos que subsidiem uma assistncia
qualifcada e integral aos usurios.
Os enfermeiros reconhecem a complementaridade entre as atividades dos
diversos profssionais e sua responsabilidade na articulao e integrao das
diferentes aes profssionais que envolvem a produo do cuidado. Desse
modo, trabalhar em equipe facilita a realizao do trabalho em um contexto
com as particularidades dos servios de emergncia (SANTOS, 2010).
Classifcao de risco e acolhimento
75
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto consulte
os seguintes sites:
GARCIA, E. A. G.; FUGULIN, F. M. T. Distribuio do tempo de
trabalho das enfermeiras em Unidade de emergncia. Rev
Esc Enferm USP, v. 44, n. 4, p. 1032-8, 2010. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v44n4/25.pdf>.
Livreto de Dimensionamento de Pessoal Coren-SP.
Disponvel em: <http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/
fles/livreto_de_dimensionamento.pdf>.
4.2.4 Educao continuada/permanente
A capacitao profssional e a integrao entre as equipes so facilitadores
para o alcance de uma assistncia adequada aos pacientes que necessitam
de intervenes imediatas (SALEH, 2003) e, nesse sentido, Adami (2000)
afrma que a enfermagem sempre se preocupou com a educao perma-
nente de seus membros como fator essencial para o controle qualitativo
dos cuidados prestados.
Com o crescimento dos hospitais, a incorporao de novas tecnologias e
os novos paradigmas de educao de profssionais de sade torna-se in-
questionvel, para a maioria das instituies, a necessidade de capacitar
seus trabalhadores por meio de educao refexiva e participativa a fm de
desenvolver novas habilidades e o potencial dos trabalhadores para a par-
ticipao ativa no processo de trabalho (CHAVES; AZEVEDO, 2009).
Palavra do profssional
Nesse sentido, cabe esclarecer a distino entre educao
permanente e educao continuada.
A educao continuada envolve atividades de ensino realizadas com tem-
pos determinados e lugares especfcos, por meio da transmisso de conhe-
cimentos de forma passiva, sem resultar, necessariamente, em mudanas
na prestao dos servios. Em contrapartida, a educao permanente uti-
liza a metodologia da problematizao e a aprendizagem signifcativa nos
processos educativos de trabalhadores de sade para a melhoria da quali-
dade dos servios e a transformao das prticas de sade e enfermagem.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
76
Na educao permanente o processo de trabalho o gerador das necessi-
dades de conhecimento e das demandas educativas contnuas, que devem
ter como referncia, as necessidades de sade dos usurios e da populao
(PEDUZZI et al., 2009; SILVA, PEDUZZI, 2009).
A equipe que atua na unidade de emergncia precisa estar qualifcada
para atender aos usurios acometidos por causas externas. Dessa forma,
a educao continuada e permanente, assim como as capacitaes para
utilizao de protocolos de atendimento imediato ao trauma, possibilitam
maior autonomia aos profssionais da equipe de sade, rompendo paradig-
mas e exigindo transformaes conceituais no atendimento a esta popula-
o especfca (POLL; LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2008).
A ateno s urgncias e emergncias passou a contar, recentemente, com
frentes assistenciais de grande relevncia, como, por exemplo:
Suporte Avanado de Vida ao Trauma (ATLS);
Suporte Avanado de Vida em Cardiologia (ACLS);
Suporte Bsico de Vida (BLS);
Suporte Avanado de Vida em Pediatria (PALS);
Atendimento Pr-Hospitalar ao Traumatizado (PHTLS) que prev a
adoo de protocolos para a orientao uniforme da ateno articu-
lada ao atendimento pr-hospitalar.
O estabelecimento desses protocolos, que ordena prioridades e dimensiona
os riscos, frmou-se como linguagem prpria e adequada para os diferentes
nveis e unidades do sistema de sade, na perspectiva da ateno integral
ao trauma, modifcando favoravelmente o panorama assistencial, confr-
mando a importncia do atendimento sistematizado ateno bsica (RO-
MANI et al., 2009).
Compartilhando
Entretanto, as aes de educao em servio com vistas
capacitao de recursos humanos no so sufcientes, por
si s, para melhorar positivamente o cenrio dos servios de
urgncia. So necessrias aes articuladas em diferentes
esferas do sistema de sade.
Classifcao de risco e acolhimento
77
O atendimento e o tratamento de situaes de emergncia fazem parte
de um sistema de cuidados especializados, cuja participao da equipe de
enfermagem fundamental para o sucesso na restaurao de vidas e mi-
nimizao de sequelas. Mas, para isso, todos os recursos necessrios para
este atendimento precisam estar disponveis de forma imediata e em per-
feitas condies de utilizao (GONALVES et al., 2007).
4.2.5 Superviso
A principal preocupao dos enfermeiros tem sido se a equipe de enferma-
gem est cumprindo corretamente suas atividades e conseguindo elencar
aquelas que so prioritrias diante da grande demanda de trabalho no ser-
vio de emergncia. Essa preocupao remete utilizao da superviso
como um instrumento do processo de trabalho gerencial do enfermeiro
em emergncia. Entendida como responsvel por promover a refexo e a
discusso sobre a execuo da prtica, com base no acompanhamento do
cotidiano do trabalho. No entanto, a superviso geralmente lembrada pe-
los enfermeiros apenas na sua dimenso de controle, que se direciona ora
para o trabalhador ora para o processo de trabalho, na verifcao do que
foi realizado. (HAUSMANN, PEDUZZI, 2009, SANTOS, 2010).
As atividades dos enfermeiros relacionadas superviso
integram um importante eixo do gerenciamento do cuidado,
tendo em vista a grande quantidade de atividades que so
desenvolvidas pela equipe de enfermagem sob coordenao
dos enfermeiros.
O processo de superviso passa a ser um importante instrumento para a
prtica gerencial do enfermeiro possibilitando, quando bem planejada e
conduzida, uma assistncia de enfermagem livre de danos, riscos e agravos
aos usurios, assim como a melhoria dos processos e o desenvolvimento
da equipe na qual trabalha. O papel do supervisor deve ser o de um orien-
tador e facilitador, tornando-se co-responsvel pela manuteno de um
servio de qualidade (LIBERALI, 2008).
Para Silva (1991) a superviso um instrumento de organizao e controle
do trabalho que, alm do carter de ensino, tambm tem o de controle da
articulao poltica.
Explicitando melhor essas trs caractersticas da superviso apresentamos
na sequncia detalhes de cada uma:
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
78
Carter educativo
Refere-se refexo crtica sobre a prtica do trabalho, a anlise do tra-
balho realizado em vista a elaborao de novas snteses, feitas com base
nas experincias empricas (prticas) e nos conceitos tericos. O ensino
uma das caractersticas centrais da superviso em sade e na enfer-
magem dado que o atendimento ao processo de sade-doena pressupe
uma grande complexidade tcnica e relaes interpessoais, intergrupais e
sociais, cuja vivncia constitui-se de maneira dinmica e frequentemen-
te contraditria, o que demanda apoio constante, tanto em nvel pessoal
quanto institucional.
Carter de controle
D-se pela organizao do trabalho em bases coletivas que demanda ativi-
dades articuladoras que lhe confra unidade e garanta a efetivao de suas
fnalidades e objetivos.
Carter de articulao poltica
Evidencia a posio intermediria e intermediadora da superviso, pois
no conceito do trabalho, tanto os aspectos de ensino quanto de controle,
condicionam-se por posicionamento tico-polticos. O profssional de en-
fermagem, independente do nvel em que atua ou cargo que ocupe, desem-
penha a funo de superviso na sua prtica diria, no podendo exerc-la
de modo desarticulado de uma anlise institucional e social do pas e do
resto do mundo, haja vista o processo de globalizao. Se assim agir, estar
atuando de forma limitada na compreenso da problemtica da qualidade
das intervenes em sade de um modo geral. inegvel o carter polti-
co que a superviso encerra e que a enfermeira deve assumir para inter-
mediar os nveis centrais com os regionais/locais, bem como os aspectos
tico-polticos relacionados funo.
Segundo Cunha (1991), constituem tcnicas de superviso: observao di-
reta; anlise de registros; entrevistas; reunio e discusso em grupo; de-
monstrao; orientao; estudo de caso. So instrumentos utilizados no
desenvolvimento da superviso: pronturio do paciente; prescrio de en-
fermagem; plano de superviso (constam objetivos e atividades de super-
viso), cronograma (constam a relao de atividades e os dias ou perodos
em que sero executados), roteiro; manual do Servio de Enfermagem com
normas, procedimentos e rotinas.
Classifcao de risco e acolhimento
79
A superviso pode ser realizada informalmente no dia a dia de trabalho,
em situaes eventuais. Sendo importante que o funcionrio encontre no
enfermeiro uma referncia para discusso de suas dvidas ou questes.
No basta enfermeira, a competncia tcnica para a superviso, neces-
srio o entendimento das pessoas e dos grupos para melhor coordenao
dos recursos humanos. Para integrar as pessoas no exerccio do trabalho
importante que o supervisor tenha, simultaneamente, frmeza e sensibili-
dade (usadas na quantidade e momento certo).
H tambm que se considerar o aspecto da reciprocidade presente na ati-
vidade de superviso, pois trata-se de uma relao que depende da capaci-
dade de interao e de mtua infuncia.
inegvel que a superviso constitui-se parte integrante do processo de
trabalho da enfermagem e, mais especifcamente do enfermeiro. Por tratar-
-se de um trabalho que se realiza em bases coletivas e de forma inter-
dependente, seja entre os diferentes agentes de enfermagem como entre
outros profssionais da sade, requer que o enfermeiro, independentemen-
te do nvel onde atua ou cargo que ocupa na organizao, desempenhe
a funo de superviso na sua prtica diria. O exerccio dessa atividade
comporta permanente anlise do contexto organizacional e suas articu-
laes com as polticas de sade; o acompanhamento das intervenes
e respectivos resultados obtidos, em termos quantitativos e qualitativos;
o aprimoramento e qualifcao dos agentes do trabalho pelo desenvolvi-
mento de processos de ensino-aprendizagem mais participativos e demo-
crticos; e ainda, uma articulao poltica que viabilize a intermediao
entre as diferentes esferas organizacionais e, entre os prprios trabalhado-
res, criando espaos possveis de negociao de interesses, desejos, poderes
e valores pautados em aspectos ticos capazes de garantir a qualidade da
assistncia prestada.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
80
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto, consulte
os seguintes materiais:
Finalidade das estratgias de superviso utilizadas em
ensino clnico de enfermagem. Disponvel em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072007000400003>.
LIBERALI, J; DALLAGNOL, C. M. Superviso de
enfermagem: um instrumento de gesto. Rev Gacha
Enferm., Porto Alegre, v. 29, n. 2, p. 276-82, jun. 2008.
Disponvel em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/
Revi staGauchadeEnfermagem/arti cl e/vi ewFi l e/55
92/3202>.
SCARPARO, A.F.; FERRAZ, C.A. Auditoria em enfermagem:
identifcando sua concepo e mtodos. Rev Bras Enferm,
v. 61, n. 3, p: 302-5, 2008. Disponvel em: <http://www.scielo.
br/pdf/reben/v61n3/a04v61n3.pdf>.
4.2.6 Tomada de Deciso
Os enfermeiros costumam tomar decises o tempo todo e, s vezes, nem se
do conta disso! Talvez hoje mesmo no seu servio voc teve de decidir que
paciente atender primeiro, quais funcionrios seriam escalados em cada
setor, como cobrir um turno com dfcit de funcionrios, que aes eram
prioritrias , o que voc teria de fazer primeiro para cumprir com todas as
atividades que props para o seu planto e muitas vezes voc ter respon-
sabilidades sobre a vida de outras pessoas.
A tomada de deciso permite refexes sobre problemas e quais ferramen-
tas devero ser utilizadas para que aes e resultados sejam positivos, deve
ser encarada como um passo do planejamento o que deve ser feito, quem
deve fazer, quando, onde, como e porque.
O processo decisrio consiste em identifcar a situao, obter informaes,
gerar solues, avaliar e escolher as melhores solues, transformar a so-
luo em ao e avaliar os resultados.
As condies para que uma deciso seja tomada tambm precisam ser
levadas em considerao, pois, quanto maiores forem as condies de im-
previsibilidade, maiores sero as difculdades para se tomar uma deciso,
tendo em vista que o objetivo fca menos claro, defnido ou conhecido (MO-
RAES, 2000).
Classifcao de risco e acolhimento
81
A rotina do trabalho dos enfermeiros na ateno s urgncias marcada
pelo excesso de demanda por atendimento, o que requer que eles sempre
estabeleam prioridades como uma estratgia para enfrentar as deman-
das dirias e realizar a assistncia que os pacientes necessitam. O estabe-
lecimento de prioridades importante diante do contexto turbulento que
caracteriza o trabalho em emergncia, que pode auxiliar os enfermeiros a
dar conta dos seus afazeres dirios e se prepararem para as surpresas que
podem vir a acontecer, que so imprevisveis (LIMA, 2007).
A atuao do enfermeiro agilizando, preparando e, muitas vezes, tendo que
buscar solues para os problemas que surgem no dia a dia do trabalho em
emergncia, pode ser explicada em funo dos casos que, a partir da sua
experincia profssional, ele j reconhece e sabe que se no fzer ou tomar
uma providncia para que algum o faa, a assistncia ao paciente poder
fcar prejudicada e sua recuperao tambm (LIMA, 2007).
A prtica profssional dos enfermeiros nos servios de ateno s urgn-
cias marcada pela imprevisibilidade e, muitas vezes, desprovido de roti-
na, h uma alta presso em virtude do ritmo frentico na realizao das
atividades que esto relacionadas alta demanda de trabalho e corrida
em benefcio da vida, que exige dos enfermeiros conhecimento tcnico-
-cientfco, compromisso profssional, disposio para agir e raciocnio cr-
tico para auxiliar no processo de tomada de deciso preciso e rpido, com
intuito de garantir o cuidado integral e qualifcado ao usurio desses ser-
vios.
Nos servios de emergncia as atitudes e decises so tomadas constan-
temente sobre a vida do paciente. Dessa maneira, espera-se que toda atu-
ao profssional neste setor seja de qualidade, realizada com efcincia e
conhecimento, para assim tratar cada indivduo de forma adequada com
vistas sua complexidade (MONTEZELI, 2009).
Palavra do profssional
Pensando nos elementos que compem o processo decisrio
ou resolutivo/deliberativco e no que ele consiste, descreva um
problema do seu servio e pense como tomaria uma deciso.
Quais seriam suas solues alternativas? Consegue enumer-
las? Pensando nas alternativas, ter que escolher uma para
realizar primeiro. Qual seria?
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
82
Cada pessoa tender para uma ou outra alternativa. Uma vez escolhida a
alternativa, ela precisa virar ao para que uma deciso seja efetivamente
tomada, seno ela no passar de planejamento.
4.2.7 Sistemas de Informao em Sade
O sistema de informao um instrumento gerencial imprescindvel ao
enfermeiro, no sentido de permitir fundamentar/aprimorar o processo de
tomada de decises no tocante a organizao/acompanhamento/controle
e avaliao do sistema local de sade (LEMOS, CHAVES, AZEVEDO, 2010).
Quando os enfermeiros esto diante de um problema, precisam
de um mtodo para resoluo do mesmo, de modo que o
primeiro passo aps a identifcao do problema estabelecer
um diagnstico da situao, que uma forma de conhecer mais
amplamente o que se apresenta.
Para ampliar conhecimentos ou a nossa viso da realidade preciso con-
sultar o que h de informaes disponveis: nos sistemas de informao
em sade, nos servios de sade, na comunidade ou, em alguns casos le-
vantar informaes especfcas que sejam necessrias em cada caso.
O objetivo do Sistema de Informao em Sade (SIS) deve ser o de informar
ao pblico, a seus representantes (polticos, funcionrios, administradores,
gestores e prestadores de servio) sobre a natureza e amplitude dos pro-
blemas de sade, sobre o impacto de uma ampla gama de infuncias na
sade individual e coletiva. Bem como apoiar os processos de tomada de
deciso e de gesto para a resoluo desses problemas.
Para a OMS (2001), o sistema de informao na sade impactante na me-
lhoria dos processos gerenciais, na qualidade da assistncia e na satisfao
dos usurios. Permite ampliar a conectividade em toda rede de ateno,
possibilita o desenvolvimento do mtodo de comparao de prticas e de
ferramentas que possibilitem reduzir os custos com efcincia e qualidade,
estabelece intercmbio com outras instituies de sade sejam elas nacio-
nais e/ou internacionais, facilita a educao continuada dos profssionais
da sade, apoia decises e promove mudanas de padres e condutas.
Classifcao de risco e acolhimento
83
Palavra do profssional
Voc j pensou quantas decises so tomadas na prtica
diria do enfermeiro em diferentes servios de sade? Quais
elementos embasam o processo de tomada de deciso?
Quanto abordamos a ateno a urgncia/emergncia a
tomada de deciso reveste-se de maior importncia dadas as
caractersticas de temporalidade e adequao inerentes essa
rea de ateno.
O SIS permite articular e viabilizar a gesto dos vrios nveis que consti-
tuem o SUS, alm de ser um fator essencial para o reconhecimento da rea-
lidade socioeconmica, demogrfca e epidemiolgica (PERES, LEITE, 2010).
A enfermagem exerce um papel fundamental no sistema de informao
sade, pois alm de contribuir signifcativamente com informaes que
integram os conhecimentos tcnicos de controle de qualidade e de docu-
mentao clinica e administrativa dos servios prestados, tambm neces-
sita das informaes para a tomada de decises (OMS, 2001).
Podemos classifcar os sistemas de informao em sade conforme sua
natureza:
Sistemas de Informaes Estatstico-epidemiolgicas;
Sistemas de Informaes Clnicas;
Sistemas de Informaes Administrativas.
Podemos classifcar, ainda, segundo a origem de produo, por tipo de ins-
tituio de sade:
Sistemas de Informaes Ambulatoriais;
Sistemas de Informaes Hospitalares;
Sistemas de Informaes de Mortalidade;
Sistemas de Informaes das Aes Programticas;
Sistemas de Vigilncias Sade.
No setor pblico de sade, reconhece-se a importncia de empreender es-
foros para a obteno e manuteno de dados e informaes de abran-
gncia nacional, que permitam o acompanhamento do SUS em todo o pas,
possibilitando anlises comparativas entre os diversos estados, municpios
e regies, de forma a subsidiar a tomada de decises em todos os nveis de
gesto. A informao fundamental para a democratizao e o aprimora-
mento do setor sade.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
84
Atualmente, ainda verifca-se a falta de integrao entre os diversos sis-
temas existentes. Destaca-se a falta de confabilidade dos dados e a baixa
utilizao das informaes. Apesar destes problemas, fundamental a uti-
lizao dos sistemas existentes como estratgia para:
Estimular que o processo de tomada de decises e de avaliao, em
todos os nveis do SUS, seja cada vez mais orientado pelo uso de
informaes;
Aperfeioar estes sistemas continuamente, apostando que, por meio
de sua ampla utilizao, eles podero ser criticados, corrigidos ou
mesmo substitudos;
Viabilizar um processo de consolidao de bancos de dados de
abrangncia nacional, que permitam o compartilhamento e, em
particular, a comparao entre diferentes situaes. Comparar
uma das principais ferramentas para a elaborao de uma anlise
epidemiolgica.
necessrio tambm salientar que atualmente j existem sistemas para o
desenvolvimento da triagem nas Unidades de Emergncia e que estes es-
to sendo planejados e desenvolvidos associados ao Pronturio Eletrnico
do Paciente.
Portanto, o Sistema de Informao fonte importante que podem forne-
cer um diagnstico da sade em nvel local ou nacional, subsidiar o pla-
nejamento e a defnio de prioridades. No Brasil, embora estes bancos
de dados disponibilizem grande nmero de variveis referentes s aes
da assistncia sade, ainda no so adequadamente explorados. H um
potencial de uso de dados do SIH-SUS para a anlise da organizao dos
servios de sade no tocante a oferta e demanda por servios, fuxo de pa-
cientes e complexidade de aes.
Classifcao de risco e acolhimento
85
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto, consulte
sites de informaes em sade:
Ministrio da Sade <http://www.saude.gov.br>
Datasus <http://www.datasus.gov.br>
Secretaria Estadual da Sade <http://www.saude.sp.gov.br>
Centro de Vigilncia Epidemiolgica <http://www.cve.
saude.sp.gov.br>
Centro de Vigilncia Sanitria <http://www.cvs.saude.
sp.gov.br>
Pasteur <http://www.pasteur.saude.sp.gov.br>
Funasa <http://www.funasa.gov.br>
Conferncia Nacional de Sade On-line <http://www.
datasus.gov.br/cns/cns.htm>
IBGE <http://www.ibge.net> <http://www.ibge.org>
Seade <http://www.seade.gov.br>
Organizao Panamericana de Sade <http://www.paho.org>
Organizao Mundial da Sade <http://www.who.org>
Organizao Mundial da Sade, Europa <http://www.
who.dk>
Agency for Healthcare Research and Quality <http://
www.ahcpr.gov>
CDC <http://www.cdc.gov>
Naes Unidas <http://www.un.gov>
United Nations Population <http://www.undp.org/popin/>
4.2.8. Avaliao dos Servios de Sade
A partir do sculo XIX, a Inglaterra e EUA iniciaram as avaliaes de pro-
gramas de sade ligados ao sistema educacional.
Na rea da sade, Flexner, em 1910, foi o precursor na avaliao de progra-
mas de sade ao realizar trabalho de acreditao em escolas mdicas nos
EUA e Canad, tendo seu trabalho tido como um marco para a qualidade
do ensino e assistncia mdica, servindo para delinear outras profsses.
Seu estudo demarcou o incio da chamada medicina cientfca, dominante
at os dias atuais.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
86
Dcada de 50
A partir da dcada de 50, houve uma grande expanso dos servios de
sade devido ao rpido desenvolvimento tecnolgico da prtica mdica,
elevando os custos das novas tcnicas, alm de responsabilizar os governos
pelo fnanciamento da ateno sade, esta rea tornou-se um campo
de estudos e de prticas dentro do movimento que consolidou os servios
como objeto de um campo cientfco (HADDAD, 2004).
Dcada de 60
A partir da dcada de 60 que encontramos estudos abordando a qualida-
de nos servios de sade como um fator de abrangncia mundial que traz
a avaliao como um dos instrumentos para medir os esforos dirigidos
obteno da qualidade. Nesse perodo, a rea da sade que mais se desen-
volveu aquela que procurou assegurar a qualidade dos servios hospita-
lares utilizando a acreditao como principal instrumento avaliativo.
Dcada de 80
Dentre as vrias pesquisas realizadas destaca-se a fecunda produo de
Donabedian, na dcada de 80, os estudos realizados para acreditao hos-
pitalar desenvolvidos nos EUA e os esforos realizados pela Organizao
Panamericana da Sade que editou, em 1996, o Manual de Gerncia da
Qualidade, no qual Novaes (2000) sintetiza grande parte dos conhecimen-
tos desenvolvidos na Amrica Latina.
Segundo Donabedian (1992), no que tange defnio de qualidade na
ateno mdica, devido a diversos fatores que intervm no julgamento do
que qualidade, difcilmente consegue ter-se uma defnio universal. Cita
que trs elementos podem ser observados na qualidade na sade: aspectos
tcnicos, interpessoal e conforto/generosidade.
Quanto aos servios de sade, em razo do paradigma da Gesto da Quali-
dade, nesta dcada, devero produzir-se profundas mudanas nas relaes
entre a medicina e a sociedade, pois a soberania mdica no ter mais
espao para sustentao prpria em razo de controles administrativos
e legais externos profsso mdica (NOGUEIRA apud MATSUDA, 2000).
Classifcao de risco e acolhimento
87
O Brasil desperta para a qualidade de produtos e servios a
partir da dcada de 80, devido aos recursos fnanceiros escassos
e aos custos cada vez maiores. Alm disso, a variada gama
de presses vindas do governo, das indstrias, dos clientes,
da rpida evoluo da tecnologia mdica, fez com que as
instituies de sade avaliassem sua forma de administrar e
adotassem um gerenciamento de qualidade.
A rede hospitalar do Sistema nico de Sade caracteriza-se por ser mui-
to heterognea principalmente no que diz respeito sua caracterstica de
oferta de servios e forma de organizao e gesto. Segundo dados do Mi-
nistrio da Sade, existem poucos estudos que permitam desenhar um
diagnstico preciso da dimenso gerencial dos estabelecimentos hospita-
lares no Pas.
Nos ltimos anos, foram realizados investimentos, sobretudo via Projeto
Reforsus, em novas iniciativas para a melhoria da qualidade gerencial e
assistencial dos estabelecimentos hospitalares. No houve, porm, uma
preocupao em se estruturar um mecanismo de monitoramento e avalia-
o do real impacto dessas medidas. Outras iniciativas especfcas, como o
Programa de Acreditao Hospitalar, mostraram-se pouco impactantes da
maneira como foram implementados nos ltimos anos.
O Programa Nacional de Avaliao dos Servios de Sade (PNASS), por sua
vez, tem envidado esforos no sentido de avaliar a efcincia, efccia e
efetividade de estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, ao
acesso e satisfao dos cidados com os servios pblicos de sade, na
busca da sua melhor resolubilidade e qualidade (BRASIL, 2004).
Segundo Cianciarulo (1997), pode-se afrmar que sempre existiu um con-
trole informal da qualidade da assistncia na Enfermagem, representada
pela preocupao secular das enfermeiras em seguir os procedimentos
risca, considerando que com isso garantir-se-iam os resultados desejados.
No Brasil, a organizao da enfermagem adotou o modelo funcional de tra-
balho fundamentado nos princpios de Taylor e Fayol, que j se encontra-
vam arraigados na atuao da enfermagem norte-americana, decorrentes
do movimento de padronizao hospitalar ocorrido nos EUA.
Nogueira (1996) refere que a participao da enfermagem no processo de
implantao da gesto de qualidade em hospitais de suma importncia,
pois so estes profssionais que passam o maior tempo junto ao usurio,
viabilizando as prescries mdicas, coletando e registrando dados, inte-
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
88
ragindo com as famlias e acompanhantes. Alm disso, ressalta alguns be-
nefcios desta participao como racionalizao de rotinas, padronizao
e mais segurana na realizao dos procedimentos, participao efetiva
no planejamento e liberao de mais tempo para interagir com o paciente.
Segundo Bader (1998), os pacientes, com muita freqncia, julgam as orga-
nizaes pela qualidade dos servios de enfermagem, visto que a equipe de
enfermagem representa o maior grupo dentre os profssionais da sade e tem
contato direto com o paciente, com maior intensidade e maior frequncia.
Em um processo de avaliao da qualidade da assistncia de enfermagem,
Cadah (2000) captou a importncia que os pacientes deram a determi-
nados aspectos, principalmente as relaes interpessoais. Em seu estudo
criou 3 categorias principais que denominou relaes interpessoais (ca-
ractersticas pessoais e disponibilidade dos profssionais no atendimento),
competncia tcnica (composta de habilidade e preparo tcnico necess-
rios para o desenvolvimento de procedimentos e tcnicas de enfermagem)
e atributo da estrutura (referindo-se ao ambiente de cuidados incluindo
conforto, segurana e recursos humanos disponveis).
A enfermagem, entretanto enfrenta srios problemas na implementao
de uma flosofa de qualidade principalmente nos fatores relacionados
equipe como nmero insufciente de profssionais, falta de conhecimento
de abordagem, falta de comprometimento, resistncia s mudanas, hete-
rogeneidade de conhecimento, falta ou ausncia de trabalho em equipe.
Outros fatores a serem mencionados so a falta de comprometimento da
alta direo, a indefnio da misso, viso, flosofa e atribuies do servio
bem como o excesso de burocratizao (MATSUDA, 2000).
Para Kurcgant (2010), o quantitativo de recursos humanos, a qualifcao
profssional, a remunerao e a motivao das pessoas para trabalhar com
entusiasmo e criatividade so aspectos a serem considerados para o alcan-
ce da qualidade da assistncia de enfermagem.
A participao do usurio fundamental para obteno do real resultado
da qualidade da assistncia sade disponibilizada, para tal essencial
que os profssionais estimulem e orientem a participao do usurio, bem
como precisam ter acesso s opinies e sugestes que nos auxiliem na
mensurao do nvel de satisfao, desde que sejam asseguradas a valida-
de e confabilidade das informaes obtidas, tendo-se cautela na utilizao
de mtodos e estratgias que no sejam tendenciosas ou induzam a res-
postas desejveis.
Classifcao de risco e acolhimento
89
Alcanar a qualidade nos servios de enfermagem requer a
implementao de instrumentos para avaliar os programas sob
sua responsabilidade, utilizando estratgias integradoras que
garantam a participao do usurio (foco central do trabalho
em sade) e da equipe envolvida no processo produtivo.
O conceito de qualidade deve estar incorporado flosofa do servio de
sade e na vontade poltica dos que nele atuam. A qualidade est intima-
mente ligada dimenso de otimizao dos recursos existentes sem risco
para a clientela interna e externa. fundamental garantir espaos e meios
para que esta clientela seja efetivamente protagonista do processo de bus-
ca da qualidade nos servios de sade (KURCGANT,2005).
As novas condies inauguradas nas organizaes de sade
com a regulamentao do SUS no Brasil, criam novas bases
materializadas, social e politicamente, em aes cuidadoras
integrais e uma renovao do processo de trabalho. A infuncia
do movimento de humanizao modifca a assistncia fundada
numa relao interpessoal muito intensa, pois a sade, mais
do que outros servios depende de um lao interpessoal
particularmente forte e decisivo para a prpria efccia das
aes.
Acreditamos que o incremento da efcincia e efccia nos processos de
gesto, mais especifcamente da assistncia hospitalar, tem sentido quan-
do objetivam melhorar a ateno sade do usurio. Essa melhoria envol-
ve aspectos como a humanizao do atendimento, a adoo de medidas
que atendam as crescentes exigncias e necessidades da populao. Bem
como a utilizao de instrumentos para a tomada de decises estratgicas,
de modo a gerar conhecimentos e promover a integrao da gesto entre
os diferentes nveis do sistema e seus respectivos participantes, articulan-
do todo este processo ao uso racional dos recursos fnanceiros disponveis
e as peculiaridades inerentes produo no setor sade (CHAVES, 2005).
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
90
Saiba mais
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto, consulte
a Revista Gacha de enfermagem (on-line): Disponvel em:
<http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/
view/7586>.
4.3 Resumo
Essa Unidade abordou questes de como, no cotidiano do trabalho das
unidades de ateno s urgncias, os enfermeiros tm assumido os cui-
dados aos pacientes mais graves e os procedimentos de maior complexi-
dade, alm das atividades de gerenciamento de recursos do servio, aes
que requerem conhecimento cientfco, manejo tecnolgico, competncias
relacionais, comunicativas e polticas. Voc viu tambm que, atualmente,
alm de participarem de todos os atendimentos de urgncias, realizando
procedimentos/abordagens de alta complexidade e avaliaes clnicas sis-
tematizadas junto aos pacientes, esses profssionais realizam: o gerencia-
mento do cuidado de enfermagem, o gerenciamento de recursos humanos,
a articulao da equipe de sade, a utilizao dos sistemas de informa-
o, a educao continuada e permanente, o gerenciamento de materiais e
equipamentos, a superviso, a organizao e coordenao do atendimen-
to, bem como a avaliao dos servios. Voc viu, ainda, a importncia das
aes de cuidar/gerenciar e de como devem aparecer de forma articulada
centradas no e para o usurio, caracterizando o gerenciamento do cuidado
nos servios de ateno s urgncias.
Classifcao de risco e acolhimento
91
4.4 Fechamento
A prtica do enfermeiro nos servios de ateno s urgncias deve aproxi-
mar-se da perspectiva de gerenciamento do cuidado que articula a dimen-
so assistencial e gerencial do trabalho. Cuidar e gerenciar so dimenses
indissociveis do trabalho do enfermeiro, cada qual com especifcidades,
que tm o cuidado integral ao paciente como foco das aes.
Para fnalizar, cabe destacar que apresentamos um enfoque atualizado
acerca da prtica profssional do enfermeiro nos servios de ateno s ur-
gncias sem, contudo, esgotar as possveis abordagens focando a temtica.
Acreditamos que ainda h muito a ser estudado considerando a contem-
poraneidade das mudanas no perfl epidemiolgico da populao, a re-
confgurao dos servios na perspectiva da rede de ateno s urgncias
e a dimenso da gerncia do cuidado no trabalho.
4.5 Recomendao de leitura complementar
Para aprofundar mais ainda seus conhecimentos sobre os assuntos trata-
dos, sugerimos a leitura da Revista Eletrnica de Enfermagem. Disponvel
em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/6585>.
92
Referncias
ADAMI, N. P. Melhoria da qualidade nos servios de enfermagem. Acta
Paulista de Enfermagem, So Paulo, v. 13, n. especial, p.190-196, 2000.
AUSTRALASIAN COLLEGE FOR EMERGENCY MEDICINE. Guidelines for
implementation of the Australasian Triage Scale (ATS) in Emergency
Departments. Sidney: ACEM, 2001.
AZEVEDO, A. L. C. S.. Gerenciamento do cuidado de enfermagem
em unidade de urgncia/emergncia traumtica. 2010. Dissertao
(Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto, Universidade de So
Paulo. Ribeiro Preto, 2010.
BADER, B. Nursing cares behaviors that predict patient satisfaction. J.
Nurs. Qual. Assur., v. 2, n. 3, p. 11-17, 1998.
BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Sade. Coordenao de
Urgncia e Emergncia. Proposta de regulao da porta de entrada das
unidades de urgncia e emergncia. Belo Horizonte: SMSA, 2002. 8p.
BEVERIDGE, R. The Canadian triage and acuity scale: a new critical
element in health care reform. J. Emerg. Med., v. 16, n. 3, p. 507-11, 1998.
BEVERIDGE, R. et al. Implementation Guidelines for The Canadian
Emergency Department: Triage & Acuity Scale (CTAS). Canad: Canadian
Association of Emergency Physicians (CAEP); National Emergency Nurses
Affliation of Canada (NENA); Lassociation des mdecins durgence du
Qubec (AMUQ), 1998.
BRASIL. Ministrio da Sade. Nota tcnica: implementao da rede de
ateno s urgncias/emergncias RUE. Braslia, 2011. Disponvel em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/urgencia_300511.pdf>.
Acesso em: 13 maio 2012.
BRASIL. Ministrio da Sade. Poltica nacional de ateno s urgncias. 3.
ed. Braslia: Ministrio da Sade, 2006. 256 p.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n 1.600, de 07 de julho de 2011.
Re-formula a poltica nacional de ateno s urgncias e institui a rede de
ateno urgncias no sistema nico de sade. Dirio Ofcial da Unio,
Braslia, 2011.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n 4.279, de 30 de dezembro de 2010.
Estabelece diretrizes para a organizao da rede de ateno sade no
mbito do Sistema nico de Sade. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 2010.
93
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n 4.279, de 30 de dezembro de 2010.
Estabelece diretrizes para a organizao da rede de ateno sade no
mbito do Sistema nico de Sade. Dirio Ofcial da Unio. Braslia, 2010.
Disponvel em: <http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/107038-
4279.html>. Acesso em: 16 fev. 2012.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Assistncia Sade.
Coordenao Geral de Ateno Hospitalar. Reforma do Sistema da
Ateno Hospitalar Brasileira. Braslia: Ministrio da Sade, 2004.
BRASIL. Ministrio da sade. Secretaria Nacional de Aes Bsicas de
Sade. Diviso Nacional de Organizao de Servios de Sade. Guia
de Superviso em estabelecimentos de sade. Braslia: Centro de
Documentao, 1983.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria-Executiva. Ncleo Tcnico da
Poltica Nacional de Humanizao. HumanizaSUS: acolhimento com
avaliao e classifcao de risco: um paradigma tico-esttico no fazer
em sade. Braslia: Ministrio da Sade, 2004.
CADAH, L. Avaliao da qualidade da assistncia de enfermagem sob
a tica da satisfao dos pacientes, 2000, 104 f. Dissertao (Mestrado) -
Escola de Enfermagem, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2000.
CARVALHO, A. K. S. Dados demogrfcos e caractersticas gerais de sade
de uma populao acima de 40 anos: estudo platino, rea metropolitana
de So Paulo. 2007. 86f. Dissertao (Mestrado) - Paulista de Medicina
Universidade Federal de So Paulo. So Paulo, 2007.
CASTILHO, V.; GONALVES, V. L. M. Gerenciamento de recursos materiais.
In: KURCGANT, P. (Org.). Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan: 2010. p. 155-167.
CHAVES, L. D. P. Produo de internaes nos hospitais sob gesto
municipal em Ribeiro Preto-SP, 1996-2003. 2005. 148 f. Tese (Doutorado
em Enfermagem Fundamental) Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto,
Universidade de So Paulo, Ribeiro Preto, 2005.
CHAVES, L. D. P.; AZEVEDO, A. L. C. S. Refexes sobre a formao do
enfermeiro no contexto do Sistema nico de Sade. Enfermagem Brasil,
v. 8, n. 2, p. 106-112, 2009.
CHIAVENATO, I. Introduo teoria geral da administrao. 8. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011.
94
CIAMPONE, MHT.; MELLEIRO, MM. O Planejamento e o Processo Decisrio
como Instrumentos do Processo de Trabalho Gerencial. In: KURCGANT, P.
(Org.). Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koo-
gan: 2010. p. 35-50.
CIANCIARULO, T. Teoria e prtica em auditoria de cuidados. So Paulo:
cone, 1997.
COELHO, MF. Caracterizao dos atendimentos de urgncia clnica em
um hospital de ensino. 2009. 79 f. Dissertao (Mestrado) - Escola de
Enfermagem de Ribeiro Preto, Universidade de So Paulo, Ribeiro Preto,
2009.
COFEN. Resoluo 293 de 21 de setembro de 2004. Livreto de Dimensiona-
mento de Pessoal So Paulo: COREN-SP, 2010. Disponvel em: < http://
inter.coren-sp.gov.br/sites/default/fles/livreto_de_dimensionamento.pdf>.
Acesso em: 10 maio 2012.
COFEN. Resoluo COFEN n 423, de 9 de abril de 2012. Normatiza,
no mbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem,
a participao do enfermeiro na atividade de classifcao de riscos.
Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 11 abr. 2012 Disponvel em: <http://site.
portalcofen.gov.br/node/8956>. Acesso em: maio 2012.
COLEMAN, C. F.; WAGNER, E. Mejora de la atencin primaria a pacientes
con condiciones crnicas: el modelo de atencin a crnicos. In: BENGOA,
R.; NUO, RS. Curar y cuidar: innovacin en la gestin de enfermedades
crnicas, una gua prctica para avanzar. Barcelona: Elsevier Espaa,
2008. p. 15.
CUNHA, K. C. Superviso em enfermagem. In: KURCGANT, P. (Org.).
Administrao em enfermagem. So Paulo: EPU, 1991, p.117-32.
DAL BEN, L. W.; GAIDZINSKI, R. R. Proposta de modelo para
dimensionamento do pessoal de enfermagem em assistncia domiciliria.
Rev. Esc. Enferm. USP, v. 41, n. 1, p. 97-103, 2007. Disponvel em: <http://
www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n1/v41n1a12.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2012.
DAROLT, C. F. Concepes dos enfermeiros sobre integralidade em sade
no processo de trabalho em uma unidade de emergncia. 2007. 102 f.
Dissertao (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Vale do Itaja.
Itaja, 2007.
DONABEDIAN, A. Quality assurance in health care: consumerrole.
Quality in Health Care, v. 1, p. 1-5, 1992.
95
ERDMANN, A. L.; BACKES, D. S.; MINUZZI, H. Care management in
nursingunder the complexity view. OBJN, v. 7, n. 1, 2008. Disponvel em:
<http://www.objnursing.uff.br//index.php/nursing/article/view/1033>.
Acesso em: 20 jul. 2012.
FREITAS, P. Triagem no servio de urgncia/emergncia: grupo de
triagem de Manchester. Portugal: BMJ-Publishing Group, 1997. 154p.
GAIDZINSKI, R. R. Dimensionamento de pessoal de enfermagem em
ins-tituies hospitalares. 1998. 119 f. Tese (Livre docncia) - Escola de
Enfermagem, Universidade de So Paulo, So Paulo, 1998.
GAIDZINSKI, R. R. O dimensionamento do pessoal de enfermagem
segundo a percepo de enfermeiras que vivenciam esta prtica. 1994.
Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem, Universidade de So Paulo, So
Paulo, 1994.
GARCIA, E. A. G.; FUGULIN, F. M. T.. Distribuio do tempo de trabalho
das enfermeiras em Unidade de emergncia. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 44,
n. 4, p. 1032-38, 2012. Disponvel em: < http://www.scielo.br/pdf/reeusp/
v44n4/25.pdf >. Acesso em 5 maio 2012.
GILBOY, N. et al. Emergency Severity Index, Version 4: Implementation
Handbook. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality,
2005.
GONALVES, A. B. M. et al. Sala de emergncia: fatores que difcultam a
assistncia de enfermagem. Emergncia Clnica, v. 2, n. 9, p. 23-33, 2007.
GRUPO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAO DE RISCO.
Histria da classifcao de risco no Brasil. Belo Horizonte, [2004].
Disponvel em: <http://www.gbacr.com.br/index.php?option=com_
content&task=view&id=75&Itemid=109>. Acesso em: 10 maio 2012.
HADDAD, M. C. L. Qualidade da assistncia de enfermagem: o processo
de avaliao em hospital universitrio pblico. 2004. 201 f. Tese
(Doutorado) - Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto, Universidade de
So Paulo, Ribeiro Preto. 2004.
HAUSMANN, M.; PEDUZZI, M. Articulao entre as dimenses gerencial e
assistencial do processo de trabalho do enfermeiro. Texto e Contexto En-
fermagem, Florianpolis, v. 18, n. 2, p. 258-265, 2009.
KURCGANT, P. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010.
96
KURCGANT, P; CUNHA, K. de C.;GAIDZINSKI, R. R. Subsdios para a
estimativa de pessoal de enfermagem. Enfoque, v. 17, n. 3, p. 79-81, 1989.
LALUNA, M. C. M. C.; FERRAZ, C. A. Compreenso das bases tericas
do planejamento participativo no currculo integrado de um curso de
enfermagem. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeiro Preto,
v. 11, n. 6, p. 771-777, 2003.
LEMOS, C.; CHAVES, L. D. P.; AZEVEDO, A. L. C. S. Sistemas de informao
hospitalar no mbito do SUS: reviso integrativa de pesquisas. Rev. Eletr.
Enf., v. 12, n. 1, p. 177-85, 2010. Disponvel em: <http://www.fen.ufg.br/
revista/v12/n1/v12n1a22.htm>. Acesso em: 14 jul. 2012.
LIBERALI, J.; DALLAGNOL, C. M. Superviso de enfermagem: um
instrumento de gesto. Rev Gacha Enferm., Porto Alegre, v. 29, n. 2, p.
276-82, jun. 2008.
LIMA, S. B. S. A gesto da qualidade na assistncia de enfermagem:
signifcao das aes no olhar da acreditao hospitalar no pronto
socorro. 2008. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem, Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008.
LUNARDI FILHO, W. D. Prazer e sofrimento no trabalho: contribuies
organizao do processo de trabalho da enfermagem. 1995. 228f.
Dissertao (Mestrado) - Faculdade de Cincias Econmicas, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1995.
MAGALHES JNIOR, H. M. Urgncia e Emergncia: a participao do
municpio. In: CAMPOS, C. R. et al. Sistema nico de Sade em Belo
Horizonte: reescrevendo o pblico. So Paulo: Xam, 1998. p.265-286.
MATUS, C. Poltica, planejamento e governo. Braslia: Ipea,1996.
MENDES, E. V. As redes de ateno a sade. Braslia: Organizao
panamericana da sade. 2011. 549 p. Disponvel em: <http://telessaude.
bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=333>. Acesso em: 13 jul. 2012.
MONTEZELI, J. H. O trabalho do enfermeiro no pronto-socorro:
uma anlise na perspectiva das competncias gerenciais. 2009. 135f.
Dissertao (mestrado) Universidade Federal do Paran. Curitiba, 2009.
Disponvel em: <http://www.ppgenf.ufpr.br/DissertaoJulianaMontezeli.
pdf>. Acesso em: 10 jun. 2012.
MORAES A. M. P. Iniciao ao estudo da administrao. So Paulo:
Markron Books, 2000.
97
NOGUEIRA, L. C. L. Gerenciando pela qualidade total na sade. Belo
Horizonte: QFCO, 1996.
PEDUZZI M, CIAMPONE MHT. Trabalho em equipe e processo grupal.
In: Kurcgant P, (Org.). Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005. p. 108-124.
PEDUZZI, M. et al. Atividades educativas de trabalhadores na ateno
primria: concepes de educao permanente e educao continuada
em sade presentes no cotidiano de unidades bsicas de sade em So
Paulo. Interface, Botucatu, v. 13, n. 30, p. 121-134, 2009.
PEDUZZI, M. Trabalho em equipe de sade da perspectiva de gerentes
de servios de sade: possibilidades da prtica comunicativa orientada
pelas necessidades de sade dos usurios e da populao. 2007. Tese
(Livre Docncia) - Escola de Enfermagem, Universidade de So Paulo, So
Paulo, 2007.
PEDUZZI, M. A insero do enfermeiro na equipe de sade da famlia
na perspectiva da promoo da sade. In: SEMINRIO ESTADUAL: O
ENFER-MEIRO NO PROGRAMA DE SADE DA FAMLIA, 1., 2000, So Paulo.
Anais... So Paulo: Secretaria de Estado da Sade, 2000.
PERES, H. H. C.; LEITE, M. M. J. Sistemas de Informao em Sade. In:
KURCGANT, P. (Org.). Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010. p. 63-70.
POLL, M. A.; LUNARDI V. L.; LUNARDI FILHO W. D. Atendimento em
unidade de emergncia: organizao e implicaes ticas. Acta Paulista
de Enfermagem, So Paulo, v. 21, n. 3, p. 509-514, 2008.
REBELLO, T. S. Superviso em enfermagem como processo educativo: li-
mites e possibilidades. 2002. 64f. Dissertao (Mestrado em Enfermagem)
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2002. Disponvel
em: <http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0402.pdf>. Acesso em: 1 maio
2012.
ROCHA, A. F. S. Determinantes da procura de atendimento de urgncia
pelos usurios nas unidades de pronto atendimento da secretaria
municipal de sade de Belo Horizonte. 2005. 98f. Dissertao (Mestrado
em Enfermagem) - Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.
ROMANI, H. M. et al. Uma viso assistencial da urgncia e emergncia no
sistema de sade. Revista Biotica, v. 17, n. 1, p. 41-53, 2009.
98
SALEH, C. M. R. Construo da fcha de registro do atendimento inicial
aos pacientes na sala de emergncia de um hospital de porte extra.
2003. 107f. Dissertao (Mestrado em Enfermagem) - Escola Paulista de
Medicina, Universidade Federal de So Paulo, So Paulo, 2003.
SANTOS, J. L. G. A dimenso gerencial do trabalho do enfermeiro em
um servio hospitalar de emergncia. 2010, 135f. Dissertao (Mestrado
em Enfermagem) -Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
SERVO, M. L. S.; CORREIA, V. S . A superviso sob a tica dos auxiliares de
enfermagem. Dilogos & Cincia, Feira de Santana, ano. 3, n. 6, dez. 2005.
Disponvel em: <http://www.ftc.br/revistafsa>. Acesso em: 15 jan. 2012.
SILVA, A. M.; PEDUZZI, M. Caracterizao das atividades educativas de
trabalhadores de enfermagem na tica da educao permanente. Rev.
Eletr. Enf. v. 11, n. 3, p. 518-526, 2009. Disponvel em: <http://www.fen.ufg.
br/revista/v11/n3/v11n3a08.htm>. Acesso em: 10 maio 2012.
SILVA, A. P. Foras impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe de
enfermagem em Unidade de Urgncia/emergncia e Emergncia. 2009,
153 f. Dissertao (Mestrado em Enfermagem). Faculdade de Enfermagem,
Universidade Federal de Gois, Goinia, 2009.
SILVA, E. M. Superviso em enfermagem: anlise crtica das publicaes
no Brasil dos anos 30 dcada de 80. 1991. 158p. Dissertao (Mestrado
em Enfermagem) - Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto, Universidade
de So Paulo, Ribeiro Preto, 1991.
SILVA, M. F. N. Protocolo de avaliao e classifcao de risco de
pacientes de uma unidade de emergncia. Campinas: [s.n.], 2010.
WILLING, M. H.; LENARDT, M. H. A prtica gerencial do enfermeiro no
processo de cuidar. Cogitare Enfermagem, Curitiba, v. 7, n. 1, p. 23-29,
2002.
99
Minicurrculo das autoras
Grace Teresinha Marcon Dal Sasso
especialista em Informtica em Sade pela FIOCRUZ (2000). Tutora e Au-
tora em Educao a Distncia pela UNISUL (2003). Possui Mestrado em En-
fermagem (Cuidado Intensivo) pela Universidade Federal de Santa Catari-
na (1994) e Doutorado em Informtica em Enfermagem pela Universidade
Federal de Santa Catarina (2001). School of Health Information Sciences
at Houston - Texas Tem Ps-doutorado pela - EUA. Fez cursos na rea de
Informtica em Enfermagem nos EUA (Johns Hopkins - 2000 Informtica
em Enfermagem, New Mexico - Sistema de Informao em Sade 1999).
Atualmente Professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua
na Graduao e no Programa de Ps-Graduao em Enfermagem da UFSC.
Tem experincia na rea de Enfermagem, com nfase em Enfermagem de
cuidado crtico (UTI e emergncia) atuando principalmente nas seguintes
temticas: informaes e informtica em sade enfermagem, informtica
em sade, sistemas de informao em sade, cuidado intensivo e de emer-
gncia, Tecnologias emergentes e persuasivas em educao, pesquisa e
cuidado em sade, Educao a Distncia e Telenfermagem. Lder do Grupo
de Pesquisa Clnica, Tecnologias e Informtica em Sade e Enfermagem do
Programa de Ps-Graduao em Enfermagem da UFSC - GIATE: <http:www.
giateinfo.ufsc.br/>. Coordenadora SIG Telenfermagem RUTE-SC. Membro
do eHealth Strategic Group at the ICN desde 2011.
Endereo na Plataforma Lattes: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/
visualizacv.do?id=K4709081P6>.
Lucieli Dias Pedreschi Chaves
graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto
USP (1986). Mestra (2001) e Doutora (2005) pelo Programa de Ps-Gradua-
o em Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribeiro
Preto - USP, na linha de pesquisa de Dinmica da organizao dos servios
de sade e de enfermagem. Desde fevereiro de 2006 Professora Doutora
da Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto - USP. Pesquisadora do Centro
de Estudos e Pesquisas sobre Hospital e Enfermagem e do Ncleo de Estu-
dos sobre Sade e Trabalho (NUESAT). Membro da Comisso Assessora de
Pesquisa do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da Escola
de Enfermagem de Ribeiro Preto - USP. Membro da Comisso de Coor-
denadora do Programa de Ps-graduao em Enfermagem Fundamental.
Membro do Conselho Editorial da Revista CuidArt e Revista Eletrnica de
100
Enfermagem. Consultora ad-hoc da Revista Latino-Americana de Enferma-
gem; da Revista da Escola de Enfermagem da USP; Revista Cincia, Cuidado
e Sade; Revista Panamericana de Salud Pblica/Pan American Journal of
Public Health; Revista de Sade Pblica. Ex- enfermeira no Hospital das
Clnicas da Faculdade de Medicina de Ribeiro Preto-USP (1987-89), Dire-
o Regional de Sade de Ribeiro Preto (1989-94) e, Secretaria Municipal
de Sade de Ribeiro Preto (1994-2006) tendo atuado por 12 anos na rea
de avaliao, controle e auditoria. Na Organizao Educacional Baro de
Mau (1993-2006) atuou na docncia e coordenao de curso de graduao
em Enfermagem. Experincia na rea de Enfermagem (assistncia, geren-
ciamento e docncia), com nfase em Gerenciamento em Enfermagem e
Sistema nico de Sade, atuando principalmente em gesto de sistemas
de sade, informao em sade, servios de sade de alto custo/comple-
xidade. orientadora de Mestrado e Doutorado em Enfermagem Funda-
mental, na linha de pesquisa de Dinmica da organizao dos servios de
sade e de enfermagem. Assessora cientfca da FAPESP. Participou, em
2011, de programa de Ps-doutorado, na rea de gesto e avaliao, junto
Faculdade de Sade Pblica da Universidade de So Paulo, sob superviso
de Dr Oswaldo Y. Tanaka, com fnanciamento CNPq.
Endereo na Plataforma Lattes: <http://buscatextual.cnpq.br/
buscatextual/visualizacv.do?id=K4710429P5>.
Maria Clia Barcelos Dalri
Possui graduao em Enfermagem pela Pontifcia Universidade Catlica
de Campinas (1983), mestrado (1993) e doutorado (2000) pelo Programa de
Ps-Graduao em Enfermagem Fundamental pela Escola de Enfermagem
de Ribeiro Preto da Universidade de So Paulo. Atualmente, Professora
Associada da Universidade de So Paulo e professor responsvel pelas dis-
ciplinas, no Programa de Ps-Graduao Enfermagem Fundamental: Pro-
cesso de Enfermagem: anlise e etapas operacionais; e " Estratgias
da Assistncia de Enfermagem. vice-lder do grupo de pesquisa Enferma-
gem e Comunicao, certifcado pelo CNPq. membro efetivo do Comit de
tica em Pesquisa da EERP/USP; Coordenadora da disciplina Enfermagem
em Urgncia e Emergncia e docente responsvel da disciplina Cuidado In-
tegral ao adulto e idoso hospitalizado em situao clnica; membro efetivo
da Comisso Assessora para assuntos de Pesquisa do Departamento de En-
fermagem Geral e Especializada da EERP/USP; Membro efetivo do Conselho
gestor da Central nica de Regulao Mdica das Urgncias e Emergncias
da Diviso Regional da Sade DIR VIII; Pesquisadora do grupo de pesquisa
Enfermagem e Comunicao. Desenvolve pesquisas nas seguintes linhas
de investigao: Fundamentao terica metodolgica e tecnolgica do
processo de cuidar em Enfermagem e no Processo de cuidar do adulto com
101
doenas agudas e crnicas degenerativas, atuando especifcamente nos se-
guintes temas: nfase em Urgncia e Emergncia, Processo de enfermagem
e as taxonomias de enfermagem internacionais, diagnstico de enferma-
gem, intervenes de enfermagem, queimadura, paciente crtico, parada
cardiorrespiratria e reanimao cardiopulmonar.
Endereo na Plataforma Lattes: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/
visualizacv.do?id=K4721128A2>.
Ana Ldia de Castro Sajioro Azevedo
enfermeira pela Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto USP (2002), tem
ps-graduao modalidade residncia em enfermagem clnico-cirrgica/
Urgncia e Emergncia (2005), Mestra (2010) pelo Programa de Ps-Gra-
duao em Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribei-
ro Preto - USP, na linha de pesquisa de Dinmica da organizao dos ser-
vios de sade e de enfermagem, doutoranda do Programa Interunidades
de Doutoramento em Enfermagem da EERP e EE - USP. Membro do Centro
de Estudos e Pesquisas sobre Hospital e Enfermagem. Tem experincia na
rea de Urgncia e Emergncia, Administrao e Gesto em Enfermagem.
Foi enfermeira da Sala de Urgncia do Hospital das Clnicas da Faculdade
de Medicina de Ribeiro Preto-USP. Atuou como enfermeira especialista na
EERP-USP, contribuindo com as atividades assistenciais, pesquisa e docn-
cia junto ao curso de graduao em enfermagem da EERP-USP.
Endereo na Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5834250967383652>.
ANEXO
Anexo
103
DICIONRIO DE DISCRIMINADORES
Acuidade visual
reduzida
Qualquer reduo na acuidade visual corrigida.
Alta mortalidade
A mortalidade representa o potencial de uma substncia absorvida causar
danos. possvel que seja necessrio obter aconselhamento do centro de
informao Anti-Venenos para estabelecer o risco de doena grave ou morte.
Em caso de dvida, presumir alto risco.
Alterao do nvel de
conscincia
No totalmente atento e reagindo apenas voz ou dor, ou no reagindo.
Alterao da Escala de Coma de Glasgow.
Alterao nvel de
conscincia no total-
mente atribuvel ao
lcool
Pessoa que no se encontra totalmente alerta,com histria de ingesto de
lcool e, sobre quem no h dvidas da presena de outras causas de perda
do nvel de conscincia preenchem este critrio.
Alterao de estado de
conscincia totalmente
atribuvel ao lcool
Pessoa que no se encontra totalmente alerta, com histria clara de ingesto
de lcool e sobre quem no existem dvidas de que todas as outras causas do
nvel de conscincia reduzida terem sido excludos, preenche este critrio.
Angstia devido dor
Uma criana sente-se angustiada e inconsolvel devido dor.
Angstia marcada
Pessoa que apresentam perturbaes fsicas, ou emocionais acentuadas
preenchem este critrio.
Apnia
Ausncia de respirao ou esforo respiratrio durante 10 (dez) segundos,
conforme avaliao pelo olhar, a audio e o tato.
Apresentao fetal
Fase do nascimento ou o aparecimento de outras partes fetais na vagina.
Articulao quente
Qualquer aquecimento ao redor de uma articulao preenche este critrio.
Frequentemente acompanhado por eritema.
Asma sem melhoria
com o seu tratamento
habitual
Esta histria deve ser transmitida pelo prprio doente. A ausncia de melhoria
com a teraputica broncodilatadora administrada pelo mdico igualmente
signifcativa.
Ausncia de pulso
Nenhum pulso central sentido por um perodo de 5(cinco) segundos.
Avaliao de
respirao
Algumas vezes a respirao irregular. Quando demasiado elevada 29 ou
muito baixa 10(mvpm) a pessoa classifcada com a cor vermelha.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
104
Baba
Saliva que escorre da boca devido incapacidade de engolir.
Broncoespasmo
Pode ter sibilncia audvel. Deve ter-se em mente que a difculdade respirat-
ria grave silenciosa (o ar no pode movimentar-se).
Cefalia
Qualquer dor na cabea no relacionada com uma determinada estrutura
anatmica. A dor facial no est includa.
Celulite escrotal
Vermelhido e inchao em torno da bolsa escrotal.
Choque
O choque deve-se distribuio inadequada de oxignio pelos tecidos. Os
sinais clssicos incluem sudorese, palidez, taquicardia, hipotenso e nvel de
conscincia reduzido.
Choro prolongado ou
ininterrupto
Qualquer criana que chore continuamente durante duas horas ou mais
preenche este critrio.
Clicas
Dores intermitentes. A clica renal tem tendncia a aparecer e a desaparecer
durante um perodo de mais ou menos 20 minutos.
Comportamento
estranho
Criana que se comporta de forma no habitual numa determinada situao.
Os tutores prestam frequentemente esta informao de forma voluntria.
Estas crianas so muitas vezes referidas como rabugentas ou indispostas.
Comportamento
disruptivo
um comportamento que afeta a boa ordem do Servio de Urgncia. Poder
ou no ser ameaador.
Compromisso
vascular distal
Trata-se de uma combinao de palidez, frio, alterao da sensibilidade e dor,
com ou sem ausncia de pulsao distal leso.
Compromisso da via
area
A via area poder estar comprometida, quer por no conseguir mant-la
aberta ou porque os refexos protetores da via respiratria (que evitam a as-
pirao) se perderam. A incapacidade de manter a via area aberta poder re-
sultar de uma obstruo total intermitente, ou de uma obstruo parcial. Isto
manifestar-se- por sons como ressonar ou de gorgolejo durante a respirao.
Contaminao de
ferimentos
Um ferimento que contm matria extrnseca de qualquer tipo diz-se estar
contaminado.
Convulso atual
Pessoa que se encontra em fase tnica ou clnica de uma convulso epiltica.
Couro cabeludo
doloroso
Dor palpao da regio temporal (especialmente sobre uma artria).
Anexo
105
Criana no reativa
As crianas que no reagem a estmulos verbais ou dolorosos dizem-se no
reativas.
Deformao
Alterao na forma normal.Situao sempre subjetiva. Esto implcitas angu-
laes ou rotaes anormais.
Deformao grosseira
Esta situao ser sempre subjetiva. Est implcita uma angulao ou rotao
grosseira e anormal de qualquer membro.
Dispnia aguda
Difculdade respiratria que se desenvolve subitamente, ou uma repentina
exacerbao de dispnia crnica.
Distrbio hemorrgico
Distrbio sanguneo que pode ser congnito ou adquirido.
Disria
Dor ou difculdade em urinar.
Doente que anda
Num incidente grave, qualquer doente que possa andar preenche este critrio.
Dor
Qualquer expresso de dor preenche este critrio. Ver captulo 4 sobre avalia-
o da dor.
Dor que irradia para o
ombro
Dor sentida na extremidade do ombro. Indicao frequente de irritao
diafragmtica.
Dor que irradia para a
regio dorsal
Dor que tambm sentida no dorso, quer de forma intermitente ou constante.
Dor moderada
Dor signifcativa mas suportvel. Ver captulo 4 sobre avaliao da dor.
Dor nas articulaes
em movimentao
Poder tratar-se de uma dor por movimento ativo (do doente) ou por movi-
mento passivo (pelo examinador).
Dor pleurtica
Dor aguda no peito, piora quando se respira, tosse ou espirra.
Dor pr-cordial
Classicamente, uma dor constritiva ou pesada no centro do peito, podendo
irradiar para o brao esquerdo ou para o pescoo. Poder estar associada a
sudorese e nusea.
Dor severa
Dor signifcativa e insuportvel, frequentemente referida como a pior de
todas as j sentidas. Ver captulo 4 sobre avaliao da dor.
Dor testicular
Dor nos testculos.
Edema da face
Inchao difuso na face, envolvendo habitualmente os lbios.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
106
Edema de lngua
Inchao da lngua em qualquer grau.
Enfisema subcutneo
Presena de ar no interstcio do tecido conjuntivo de um rgo.O enfsema
subcutneo pode ser detectado quando se sente uma espcie de crepitao
palpao. Podero existir bolhas de ar em uma linha rea demarcada.
Estridor
Som que poder ser inspiratrio ou expiratrio, ou ambos. O estridor ouvido
mais claramente quando se respira de boca aberta.
Exantema eritematoso
ou bulhoso
Qualquer erupo de vesculas que cobrem uma rea superior a 10% da
superfcie corporal.
Exantema generalizado
uma erupo cutnea difusa e mais ou menos extensa ao longo da su-
perfcie do corpo.O exantema poder aparentar qualquer forma, mas ser
habitualmente eritematoso ou urticariforme.
Erupo cutnea desco-
nhecida
Qualquer erupo que no se possa identifcar.
Exausto
Uma pessoa exausta aparenta reduzir o esforo de respirar, embora continu-
ando com insufcincia respiratria. Isto pr-terminal.
Eviscerao de rgos
Herniao ou franca extruso de rgos internos.
Extrao dentria
recente
Dente que foi extrado intacto nas 24 horas anteriores.
Incapacidade de se
alimentar
Crianas que no ingerem alimentos slidos ou lquidos (como se espera)
por via oral. Crianas que ingerem alimentos, mas que em seguida vomitam,
podero tambm preencher este critrio.
Febrcula
Temperatura 37,5C.
Fezes escuras
Qualquer sinal de apresentao de fezes pretas, constitui um alerta.
Fezes com presena de
sangue
As fezes aparecem com cor vermelho escuro, mas casualmente. A ausn-
cia temporria deste tipo de manifestao, no regra para se excluir um
diagnstico.
Forte sensao de
angstia
Pessoas que se apresentam com forte sensao de angstia, quer fsicamente,
quer emocionalmente, preenchem este critrio.
Anexo
107
Fratura exposta
Situao em que h perda da continuidade ssea, geralmente com separao
de um osso em dois ou mais fragmentos, aps um traumatismo, com perfu-
rao da pele. Todos os ferimentos na proximidade de uma fratura devem ser
considerados suspeitos. Se existir alguma possibilidade de comunicao entre
o ferimento e a fratura dever ser considerada como exposta.
Frequncia de pulso
Nmero de batimentos cardacos transmitidos pelas artrias para a superfcie
da pele por minuto.
Frequncia respiratria
Nmeros de respirao por minuto.
Gangrena escrotal
Tecido morto, escurecido ao redor do escroto e virilha. A gangrena precoce
poder no escurecer mas poder aparecer como uma queimadura extensa
com ou sem descamao.
Grande hemorragia
incontrolvel
Quando impossvel conter um sangramento rpido por meio da aplicao
de uma presso direta sustentvel e que continua a sangrar fortemente ou a
molhar rapidamente uma grande quantidade de pensos.
Gravidez com mais de
24 semanas
ltimo perodo menstrual ocorreu h 24 semanas ou mais.
Hematemeses
O sangue expelido no vmito poder ser fresco (vermelho vivo ou escuro) ou
com aparncia de borra de caf.
Hematoqusias, mele-
nas ou retorragias
Hematoqusias- o termo utilizado para designar a presena de sangue com
cor vermelha viva misturado com as fezes. Melena- refere a fezes pastosas de
cor escura e cheiro ftido, sinal de hemorragia digestiva alta Numa hemorra-
gia gastrointestinal(GI) macia e ativa o sangue vermelho escuro expelido
pelo reto. medida que aumenta o tempo de trnsito GI o sangue torna-se
mais escuro vindo a tornar-se em melenas.
Hematoma auricular
Coleo (acmulo) de sangue localizado no ouvido externo
(usualmente ps-traumtico).
Hematoma do couro
cabeludo
Uma rea elevada (acmulo de sangue) no couro cabeludo acima da linha da
implantao do cabelo.
Hematria clinicamen-
te evidente
Sangue na urina visvel a olho nu.
Hemorragia
exsanguinante
Sangramento que ocorre com um volume considervel que resultar em
morte se no for estancado.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
108
Hemorragia vaginal
intensa
A perda de sangue vaginal difcil de avaliar. A presena de grandes cogulos
ou de fuxo contnuo preenche este critrio. O uso de grandes quantidades de
pensos higinicos sugestivo de grande perda.
Hiperglicemia
Glicemia superior a 200 mg/dl.
Hiperglicemia com
cetose
Glicemia superior a 200 mg/dl com cetonria ou sinais de acidose (respirao
profunda, etc.)
Hipoglicemia
Glicemia inferior a 60 mg/dl.
Hipotermia
Se a pele se encontrar fria, considera-se que o doente est clinicamente frio. A
temperatura deve ser medida logo que possvel - uma temperatura central de
35C considerada hipotermia.
Histria clnica
significativa
Qualquer situao clnica pr-existente que requer medicao continua ou
outros cuidados.
Histria de convulses
Uma histria de convulses durante as seis horas antecedentes. Esta situao
especialmente signifcativa no fm da gravidez quando poder signifcar
eclmpsia.
Histria de hematmese
Hematmese recente e clinicamente evidente, vmitos de sangue alterado
(borra de caf) ou de sangue misturado com vmito.
Histria hematolgica
significativa
Pessoa com distrbio sanguneo que pode desenvolver rapidamente complicaes.
Histria inadequada
Se no existir uma histria clara e inequvoca de ingesto aguda de lcool, e
quando no se pode excluir uma leso da cabea, ingesto de drogas, situao
mdica subjacente, etc., ento a histria inadequada.
Histria inapropriada
Se o mecanismo (motivo) alegado no explicar a leso ou doena aparente,
ento a histria inapropriada.
Histria de perda de
conscincia
Existe a possibilidade de haver uma testemunha de confana que possa dizer
se a pessoa esteve inconsciente (e durante quanto tempo). Caso contrrio, se a
pessoa no se recorda do incidente, deve presumir-se que esteve inconsciente.
Histria de risco espe-
cial de infeco
Exposio a alto risco conhecido, quer num laboratrio ou numa rea de
infeco conhecida.
Histria psiquitrica
significativa
Histria de doena ou evento psiquitrico importante.
Anexo
109
Histria significativa
de alergias
signifcativa a presena de sensibilidade conhecida com reaes graves (ex. a
nozes ou picada da abelha).
Histria significativa
de asma
Histria de asma instvel ou de episdios anteriores com perigo de vida.
Histria significativa
de diarreia
Aumento do nmero de evacuaes e/ou a presena de fezes amolecidas, com
consistncia pastosa ou at mesmo lquidas Diarreia que pela frequncia e/ou
volume implica risco iminente de desidratao.
Histria significativa
de incidente
Fatores signifcativos que incluem quedas de alturas, ejeo de um veculo,
morte de ocupantes e deformao signifcativa de um veculo.
Histria de sobredosa-
gem ou envenenamento
Esta informao poder ser prestada por terceiros ou poder ser deduzida na
presena de caixas vazias.
Histria de T.C.E.
Traumatismo crnio-
-enceflico
Qualquer acontecimento traumtico envolvendo a cabea preenche este
critrio.
Histria de trauma-
tismo
Histria de um evento fsicamente traumtico recente.
Histria de viagens ao
estrangeiro
Recentes viagens ao estrangeiro (nos ltimos trs meses).
Imunossupresso co-
nhecida
Qualquer doente que esteja recebendo medicamentos imunossupressores
(incluindo cortico-esterides a longo prazo) ou com SIDA.
Inalao de fumaa
Deve presumir-se ter havido inalao de fumaa quando a pessoa estiver
confnado a um espao cheio de fumaa. Os sinais fsicos de fuligem oral ou
nasal so menos seguros, mas signifcativos se presentes.
Incapaz de se alimentar
(beb)
Habitualmente referido pelos pais. Crianas que comem menos da metade do
seu alimento slido ou lquido (como adequado) por via oral.
Incapacidade de andar
importante tentar distinguir entre a pessoa com dor e difculdade em andar
e aqueles que no conseguem andar. Apenas estes ltimos podem ser consi-
derados como incapazes de se locomover.
Incapacidade de articu-
lar frases completas
Pessoa com difculdade respiratria to grande que no consegue articular
frases curtas numa s expirao.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
110
Incapacidade de
distrao
Crianas angustiadas pela dor ou por outros fatores que so incapazes de se
distrair pela conversa ou pelas brincadeiras, preenchem este critrio.
Incapacidade de
suportar peso
Incapacidade de carregar o peso total do corpo por um ou por ambos os mem-
bros inferiores. Esta situao poder causar dor ou perda de funo.
Inconsolvel pelos pais
As crianas cujo choro ou angstia no respondem s tentativas de conforto
dos pais preenchem este critrio.
Infeco local
A infeco local manifesta-se habitualmente como infamao (dor, inchao
e eritema) confnada a um determinado local ou rea, com ou sem o apareci-
mento de pus.
Inflamao local
A infamao local envolve dor, inchao e eritema confnados a um determi-
nado local ou rea.
Incio agudo ps-trau-
mtico
O incio agudo de sintomas imediatamente, ou pouco depois, de um incidente
fsicamente traumtico.
Incio repentino
Incio de um sinal/sintoma em segundos ou minutos. Pode obrigar a pessoa a
acordar durante o sono.
Instalao sbita
Inicio em menos de 12 horas.
Leso
Evento recente fsicamente traumtico.
Leso eltrica
Qualquer leso causada, ou possivelmente causada, por corrente eltrica.
Inclui corrente alternada e corrente direta, bem como as fontes naturais e
artifciais.
Leso por inalao
Histria da pessoa ter estado confnado a um espao cheio de fumaa o
indicador mais seguro de inalao de fumaa. Podem ser observados depsitos
de carbono ao redor da boca e nariz e/ou rouquido. A histria tambm a
forma mais precisa para se diagnosticar inalao de substncias qumica ou
outros gases - no se observam, necessariamente, quaisquer sinais.
Leso por inalao de
substncia qumica
Histria de inalao de uma substncia qumica potencialmente perigosa.
Certos produtos qumicos deixam sinais especfcos enquanto outros podem
no o fazer. A natureza do perigo pode no ser imediatamente aparente.
Leso neurolgica
focal
Perda de funo limitada a uma determinada parte do corpo (membro, lado,
olho, etc.) ou uma perda de funo que vai piorando com o passar das horas.
Leso ocular
Traumatismo ocular recente.
Anexo
111
Leso ocular
penetrante
Um evento traumtico fsico recente que envolva a penetrao do globo
ocular.
Leso ocular qumica
Qualquer substncia que salpique ou seja colocada nos olhos que venha a
causar sensao de picadas, queimaduras ou reduza a viso deve presumir-se
capaz de causar leso qumica.
Leso recente
Leso ocorrida na ltima semana considerada como uma leso recente.
Leso torcica
Qualquer leso na rea inferior s clavculas e acima do nvel das costelas
inferiores. Uma leso na parte inferior do trax poder causar leses subja-
centes ao rgo abdominais.
Massa abdominal
visvel
Uma massa visvel observao do abdmen.
Mecanismo de leso
So signifcativas leses penetrantes (facada ou tiro) e leses com elevada
transferncia de energia, como por exemplo quedas de alturas e acidentes de
trfego em alta velocidade (velocidade > 60 km/hora).
Menstruao normal
A perda de sangue menstrual e a dor que ocorrem na data prevista pelo pero-
do de tempo esperado.
Mortalidade
Probabilidade de a substncia ingerida causar doena ou morte. Poder ser
necessrio pedir o aconselhamento ao centro de controle de informaes
toxicolgicas para receber orientaes. Em caso de dvida, presumir
alto risco.
Mortalidade moderada
Probabilidade da substncia ingerida causar doena grave ou morte. Poder
ser necessrio recorrer ao aconselhamento centro de controle de informaes
toxicolgicas para receber orientaes e estabelecer o nvel de
risco da pessoa/vtima. Em caso de dvida, presumir alto risco.
Muito quente
Se a pele se encontrar muito quente diz-se que a pessoa se encontra clinica-
mente muito quente. Uma temperatura 41 C muito quente no adulto. Na
criana 39C. Ver pgina 17.
No se alimenta
Crianas que no ingerem alimentos slidos ou lquidos (como se espera)
por via oral. Crianas que ingerem alimentos mas que em seguida vomitam
podero tambm preencher este critrio.
No urina
Falncia da produo de urina ou de apresentar mico espontnea. Isto pode
ser difcil de valorizar nas crianas (e nos idosos) podendo ser feita referncia
ao nmero de fraldas utilizadas.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
112
Novos sinais/sintomas
neurolgicos
Podem incluir alterao ou perda de sensibilidade, enfraquecimento dos
membros (transitrio ou permanente) ou alteraes funcionamento da bexiga
ou intestino (incontinncia).
Olho vermelho
Olhos que se apresentam colorao vermelha da esclera. Um olho vermelho
pode ser doloroso ou no e poder ser total ou parcialmente.
Parto ativo
Qualquer mulher grvida com contraes regulares, frequentemente doloro-
sas preenche este critrio.
PEFR baixo (Fluxo expi-
ratrio mximo)
PEFR de 50% ou PEFR inferior ao ideal.
PEFR muito baixo
Um PEFR de 33% ou Inferiror do PEFR ideal ou previsto.
PEFR previsto < 33%
O fuxo expiratrio mximo previsto aps ter conhecimento da idade e o sexo
do doente. Alguns doentes podem ter a noo do seu melhor PERF, podendo
este ser utilizado. Se a relao da medio prevista for menor que 33% ento
este critrio preenchido.
PEFR previsto < 50%
O fuxo expiratrio mximo previsto aps considerao da idade e o sexo do
doente. Alguns doentes podero ter noo do seu melhor PEFR, podendo ser
este utilizado. Se a relao da medio prevista for menor que 50% ento
este critrio encontra-se preenchido.
Pele crtica
Uma fratura ou deslocao poder deixar fragmentos ou pedaos de ossos a
pressionar to fortemente contra a pele que a viabilidade da mesma encontra-
-se ameaada. A pele encontrar-se- branca e sobre tenso.
Pequena hemorragia
incontrolvel
Quando impossvel controlar um sangramento rapidamente pela aplicao
de presso direta sustentvel e que continua a sangrar levemente ou a
escorrer.
Perda aguda de audio
A perda de audio num ou em ambos os ouvidos nas 24 horas anteriores.
Perda sbita da viso
Perda de viso num ou em ambos os olhos nas 24 horas anteriores.
Possvel gravidez
Qualquer mulher com amenorreia poder considerar a possibilidade de gra-
videz. Alm disso, qualquer mulher em idade de procriao que pratique sexo
no protegido deve considerar a possibilidade de gravidez.
Presso sangunea
elevada
Historia de presso sangunea elevada ou elevao da presso na observao.
Anexo
113
Priapismo
Ereo sustentada do pnis.
Prolapso do cordo
umbilical
Deslocamento de qualquer parte do cordo umbilical pelo do colo uterino.
Problema recente
Um problema que aparece no decorrer da ltima semana considerado como
um problema recente.
Prostrado
Os pais podero descrever seus flhos como molenges. O tnus em geral
reduzido - o sinal mais notvel o movimento da cabea.
Prurido grave
Sensao desagradvel que leva a pessoa/indivduo a se coar. Um prurido
insuportvel.
Pulso
Se o tempo de preenchimento capilar no for medido e o pulso for superior a
120bpm por min., a pessoa ser classifcado de cor vermelha.
Pulso anormal
Bradicardia (< 60 bpm), taquicardia (> 120bpm) ou ritmo irregular.
Prpura
Exantema em qualquer parte do corpo causado por pequenas hemorragias
subcutneas. Um exantema purpreo no fca esbranquiado (no se torna
branco) sob presso.
Queimadura qumica
Qualquer substncia que salpique, ou seja, colocada no corpo que cause
sensao de picada, queimaduras ou dor deve presumir-se ter sido causado
por queimadura qumica.
Quente
Se a pele estiver quente, diz-se que a pessoa se encontra clinicamente quente.
Diz se que a pessoa est quente quando apresenta temperatura 38,5 C. Ver
pgina 17.
Reao da dor
Reao ao estmulo da dor. Os estmulos perifricos normais devem ser
utilizados - usado um lpis ou uma caneta para aplicar presso no leito da
unha. Estes estmulos no devem ser aplicados nos dedos dos ps visto que
o refexo espinhal poder causar fexo mesmo na morte cerebral. No devem
ser utilizados os nervos supra orbitrios devido a possibilidade de ocorrerem
refexos faciais com contrao ou trejeito do rosto (careta).
Reao voz
Reao ao estmulo verbal. No necessrio gritar nomes. As crianas pode-
ro no reagir devido ao medo.
Reavaliar
Se no houve a certeza quanto existncia de grande traumatismo necess-
rio reavaliar e pesquisar uma vez mais antes de reclassifcar.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
114
Respirao aps
abertura da via area
Em situaes de incidentes importantes, a presena da respirao aps uma
simples manobra de abertura da via area resultar no retorno da respirao
espontnea e poder ser contada. A ausncia da respirao aps a manobra
de abertura da via area poder ser indicativo de parada cardiopulmonar ou
morte.
Respirao ineficaz
A pessoa/indivduo que no consegue respirar sufcientemente bem para
manter uma oxigenao adequada sofre de respirao inefcaz. Poder resul-
tar num esforo aumentado para respirar ou em exausto.
Reteno urinria
Incapacidade de urinar com distenso da bexiga.
Risco de agresso a
terceiros
A possibilidade de uma pessoa tentar agredir outros. Esta situao pode ser
avaliada considerando o estado mental, a postura corporal e o comportamen-
to. Quando em dvida, presumir alto risco.
Risco de auto-agresso
Uma viso inicial do risco de auto-agresso pode ser formada considerando o
comportamento da pessoa. As pessoas que apresentam histrias signifcativas
de auto-agresso, esto tentando auto-agredir-se ou que esto tendo a inten-
o de se auto agredir so doentes de alto risco.
Risco moderado de
agresso a terceiros
A presena de um risco potencial de agresso a terceiros poder ser medida
observando a postura (tensa e rgida), padres de conversao (voz alta e pala-
vras ameaadoras) e comportamento motor (nervosismo e andar sem parar).
Risco moderado de
auto-agresso
Uma viso inicial do risco de auto-agresso poder ser formada tendo em
conta o comportamento da pessoa/indivduo. As pessoas que no apresentam
histrias signifcativas de auto-agresso, que no tentam ativamente auto
agredir ou no tentam ativamente ter a inteno de se auto-agredir, mas que
confessam o desejo de se auto-agredir, so pessoas de risco moderado.
Risco de novas
auto-agresses
Pessoa que potencialmente tenta agredir-se mais. Quando em dvida, presu-
mir alto risco.
Sangue alterado
Mais escuro que o sangue vermelho vivo e frequentemente com um odor
parecido melena.
Sangue fresco
Sangue no alterado- prontamente identifcado pelas pessoas e profssionais
da sade.
SatO
2
baixo
Uma saturao <95% em ar atmosfrico.
SaO
2
muito baixo
Uma saturao <95% com a teraputica O2 ou 90% em ar atmosfrico.
Anexo
115
Sem reao
Pessoas que no respondem mais aos estmulos verbais ou dolorosos so
consideradas sem reao.
Sem reao em
relao aos pais
A falta de qualquer tipo de reao cara ou a voz dos pais. Reaes anormais
e uma aparente falta de reconhecimento dos pais so sinais preocupantes.
Sinais de desidratao
Incluindo secura da lngua, olhos afundados turgor cutneo aumentado e,
em bebs, a fontanela anterior afundada. Habitualmente associada a uma
diminuio do dbito urinrio.
Sinais de dor moderada
Jovens, crianas e bebs com dor moderada no sabem se queixar. Habi-
tualmente, choram contnua e intermitentemente e so ocasionalmente
consolveis.
Sinais de dor severa
Jovens, crianas e bebs com dores severas no sabem queixar. Habitualmen-
te, choram contnua ou inconsolavelmente podendo apresentar taquicardia.
Podero exibir sinais como palidez e sudorese.
Sinais de meningismo
Classicamente, pescoo rgido concomitante com cefalia e fotofobia.
Sinais neurolgicos
focais
Perda de funo limitada a uma parte especfca do corpo (membro, lado, olho,
etc.) ou perda de funo que piora com o decorrer das horas.
Sub-febril (Febrcula)
Diz-se que um adulto ou uma criana est sub-febril, quando a temperatura
a 37,5C. Ver pgina 17.
T.C.E. - Traumatismo
crnio-enceflico
Qualquer acontecimento traumtico envolvendo a cabea preenche este
critrio.
Taquicardia acentuada
Frequncia cardaca acima de 120bpm no adulto. Em crianas esta situao
dever ser relacionada com a idade da criana.
Tempo de preenchimen-
to capilar
O tempo de preenchimento capilar o tempo que leva para os capilares do
leito ungueal voltarem a encher aps ter sido aplicada uma presso de cinco
segundos. O tempo normal de dois segundo. Este sinal no to til se o
doente estiver frio.
Totalmente atribuvel
ao lcool
Uma histria clara de ingesto de lcool e a excluso completa de todas as
outras causas de sintomas e sinais.
Trabalho respiratrio
aumentado
O aumento do esforo para respirar demonstrado como frequncia respira-
tria aumentada, uso de msculos acessrios e ressonar.
Enfermagem em Urgncia e Emergncia
116
Trauma direto da
regio cervical
Poder ser vertical (carga), por exemplo quando algo cai sobre a cabea, por
fexo se dobra (para a frente, para trs, para os lados), por toro, distenso
(enforcamento).
Trauma escrotal
Qualquer evento recente fsicamente traumtico, envolvendo a bolsa escrotal.
Traumatismo direto da
regio lombar
Poder ser vertical (carga), por exemplo, quando algum cai de p, se dobra
(para a frente, para trs ou para os lados), ou por toro.
Traumatismo ocular
penetrante
Um evento recente fsicamente traumtico envolvendo penetrao do globo
ocular.
Traumatismo
penetrante
Um evento recente fsicamente traumtico que envolva uma penetrao dis-
creta de qualquer area corporal por meio de faca, bala ou outro objeto.
Traumatismo vaginal
Qualquer histria ou outras provas de traumatismo direto da vagina, preenche
este critrio.
TRTS
Escala Revista de Triagem no Trauma: calcula-se utilizando a frequncia
respiratria codifcada (0-4), presso sistlica (0-4) e a pontuao da Escala
de Coma Glasgow (0-4) para se obter uma pontuao de 0-12. Este sistema de
pontuao aparece na maioria das etiquetas de triagem.
Vertigem
Sensao aguda na qual a pessoa tem a sensao de uma tontura ou tontura
rotatria, possivelmente acompanhado de nuseas e vmitos.
Via area fechada
As pessoas fcam incapacitadas de respirar, com a via area fechada. Se
encontrarem apnicos, a nica forma de se verifcar se a via area se encontra
fechada abri-la e observar o resultado.
Via area insegura
As pessoas que no conseguem manter continuamente a sua prpria via
area prvea demonstram ter uma via area insegura.
Vmitos
a expulso do contedo gstrico pela boca. Qualquer vmito preenche este
critrio.
Vmitos persistentes
a expulso do contedo gstrico pela boca de maneira constantes.
Curso de Especializao em
Linhas de Cuidado em Enfermagem
mdULo v: Classificao de Risco e Acolhimento
urgncia e emergncia
Você também pode gostar
- GUIA SUPER MIX Prescrições Dia A DiaDocumento23 páginasGUIA SUPER MIX Prescrições Dia A DiaAlessandra Lopes100% (3)
- Plano de TrabalhoDocumento23 páginasPlano de TrabalhoGraciane FariaAinda não há avaliações
- História Da Ginecologia e Obstetrícia - UNIRDocumento39 páginasHistória Da Ginecologia e Obstetrícia - UNIRGabriela Toledo100% (2)
- Anamnese - Monitoria 2021.2Documento10 páginasAnamnese - Monitoria 2021.2fernandobatigolAinda não há avaliações
- CADERNO DE ATIVIDADES - 3º Ano - s11 vs2Documento31 páginasCADERNO DE ATIVIDADES - 3º Ano - s11 vs2poliana victorAinda não há avaliações
- Anexoi Cha Multi Uni Enare23Documento8 páginasAnexoi Cha Multi Uni Enare23Natalia AquinoAinda não há avaliações
- Revista Consulfarma2022 DigitalDocumento64 páginasRevista Consulfarma2022 Digitalsamiria oliveira cruzAinda não há avaliações
- Edital Betim 001 - 2011 Anexo IIIDocumento83 páginasEdital Betim 001 - 2011 Anexo IIIIsabella AmaralAinda não há avaliações
- Narguile e MaconhaDocumento30 páginasNarguile e MaconhaRita ArrudaAinda não há avaliações
- Exercícios - Determinação de Riscos 2024.1 PDFDocumento1 páginaExercícios - Determinação de Riscos 2024.1 PDFdinizmariaclara3010Ainda não há avaliações
- 517-Texto Do Artigo-3208-2963-10-20200403Documento8 páginas517-Texto Do Artigo-3208-2963-10-20200403analauraloAinda não há avaliações
- PcmsoDocumento25 páginasPcmsoTassiana Sousa100% (1)
- Cartilha ACS CerestDocumento20 páginasCartilha ACS Cerestjana souzaAinda não há avaliações
- Admisao Da Paciente Na Emergencia ObstetricaDocumento5 páginasAdmisao Da Paciente Na Emergencia ObstetricaElizangela Dias Sousa AntunesAinda não há avaliações
- Aleitamento Materno - TavinhoDocumento2 páginasAleitamento Materno - TavinhoOtávio DebruskAinda não há avaliações
- Educação Física Área Dos Conhecimentos 12º AnoDocumento35 páginasEducação Física Área Dos Conhecimentos 12º AnoIrina MarrachinhoAinda não há avaliações
- Protocolo 002 - Manejo Inicial Da Pancreatite AgudaDocumento20 páginasProtocolo 002 - Manejo Inicial Da Pancreatite AgudaBrendon Pereira Dos AnjosAinda não há avaliações
- Técnico A de Apoio À Gestão - ReferencialEFA PDFDocumento70 páginasTécnico A de Apoio À Gestão - ReferencialEFA PDFnmseixasAinda não há avaliações
- O Grande LivroDocumento46 páginasO Grande LivroitamartrairiAinda não há avaliações
- Inicial Violencia Obstetrica-1Documento18 páginasInicial Violencia Obstetrica-1Kjhohoh HohohjkAinda não há avaliações
- Fisioterapia Neonatal 01Documento19 páginasFisioterapia Neonatal 01Eduardo Vieira0% (1)
- NUTRIÇÃO ENTERAL-aula RemotaDocumento84 páginasNUTRIÇÃO ENTERAL-aula RemotaTainá D'AiutoAinda não há avaliações
- Artrite Reactiva Por Giardia Lambia Num Doente Com Défict de IgE Secretora PDFDocumento5 páginasArtrite Reactiva Por Giardia Lambia Num Doente Com Défict de IgE Secretora PDFEnzoAinda não há avaliações
- Aula Distúrbios Da Glândula TireóideDocumento20 páginasAula Distúrbios Da Glândula TireóideSamuel MorenoAinda não há avaliações
- Demanda e Demanda em Saúde: IV.1 - IntroduçãoDocumento25 páginasDemanda e Demanda em Saúde: IV.1 - IntroduçãoWarren SamuelsAinda não há avaliações
- Aula 08 - BALANÇO HÍDRICODocumento22 páginasAula 08 - BALANÇO HÍDRICOClaudio CruzAinda não há avaliações
- Aula8 ZoonosesDocumento30 páginasAula8 ZoonosesMichel JakesAinda não há avaliações
- Comunicação Na Interação Com A Pessoa Apoiada Cuidador Eou FamíliaDocumento24 páginasComunicação Na Interação Com A Pessoa Apoiada Cuidador Eou FamíliaSabrina Medeiros SáAinda não há avaliações
- Treinamento Integração Petrobras - Usar Definição Risco e Perigo PDFDocumento52 páginasTreinamento Integração Petrobras - Usar Definição Risco e Perigo PDFallinecustodio100% (7)
- A Prova Final Da FosfoetanolaminaDocumento8 páginasA Prova Final Da FosfoetanolaminaSab-win DamadAinda não há avaliações