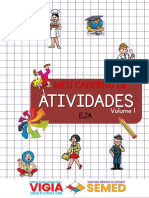Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Genese Do Clientelismo
Genese Do Clientelismo
Enviado por
kumashgorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Caderno EjaDocumento47 páginasCaderno EjaClaudia100% (1)
- Pe Gabriel de Sta M Madalena - Intimidade DivinaDocumento1.574 páginasPe Gabriel de Sta M Madalena - Intimidade DivinaPauloViníciusCostaOliveira100% (3)
- Hermenêutica LiteráriaDocumento7 páginasHermenêutica LiteráriaElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Coletânea de PoemasDocumento18 páginasColetânea de PoemasElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Literatura Comparada e GlobalizaçãoDocumento17 páginasLiteratura Comparada e GlobalizaçãoElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Conjecturas Sobre Literatura MundialDocumento10 páginasConjecturas Sobre Literatura MundialElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Entre Parentes Vizinhos AmigosDocumento174 páginasEntre Parentes Vizinhos AmigosElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Esteticas Visuais Seculo XXDocumento328 páginasEsteticas Visuais Seculo XXElielson Figueiredo100% (1)
- Mas Quem Criou Os ''Criadores''Documento12 páginasMas Quem Criou Os ''Criadores''ANDCAD123Ainda não há avaliações
- AGUIÃO, Silvia. 2014. T. Fazer-Se No 'Estado', Uma Etnografia Sobre o Processo de Constituição Dos 'LGBT' Como Sujeitos de Direitos No Brasil ContemporâneoDocumento340 páginasAGUIÃO, Silvia. 2014. T. Fazer-Se No 'Estado', Uma Etnografia Sobre o Processo de Constituição Dos 'LGBT' Como Sujeitos de Direitos No Brasil ContemporâneoronaldotrindadeAinda não há avaliações
- Charles HadjiDocumento4 páginasCharles Hadjigenfra35Ainda não há avaliações
- Árvore Natal4Documento10 páginasÁrvore Natal4marciamreinholz reinholzAinda não há avaliações
- Aula 3Documento7 páginasAula 3Maurício ZecãoAinda não há avaliações
- Os Tipos de Zumbido No OuvidoDocumento10 páginasOs Tipos de Zumbido No OuvidoDa Silva JoseAinda não há avaliações
- Projeto de Reestruturação e Reorganização EmpresarialDocumento7 páginasProjeto de Reestruturação e Reorganização EmpresarialAlessandra PrunzelAinda não há avaliações
- Apostila de HipnoseDocumento50 páginasApostila de HipnoseJuliana MagalhãesAinda não há avaliações
- Manual SOBRASA WDPD 2022Documento14 páginasManual SOBRASA WDPD 2022Diego BortolonAinda não há avaliações
- 99 Questões de português-CESPE PDFDocumento13 páginas99 Questões de português-CESPE PDFCLAIRTON SUPERPREPARADOAinda não há avaliações
- Memorex PÓS EDITAL INSS - Técnico - AMOSTRA 3Documento41 páginasMemorex PÓS EDITAL INSS - Técnico - AMOSTRA 3Monstro De HentaiAinda não há avaliações
- SEGURANÇA NO TRABALHO Riscos AmbientaisDocumento23 páginasSEGURANÇA NO TRABALHO Riscos AmbientaisLuanna MilantoniAinda não há avaliações
- APOSTILA Operadorguindauto NOVODocumento30 páginasAPOSTILA Operadorguindauto NOVOLCarlos Moreira da SilvaAinda não há avaliações
- 6 Dicas para Vendas Na OdontologiaDocumento7 páginas6 Dicas para Vendas Na OdontologiaFluke RanzaAinda não há avaliações
- O Termômetro de CristoDocumento7 páginasO Termômetro de CristoLuciano CastroAinda não há avaliações
- Manual de Instruções AIB GA18 - 37VSD+Documento94 páginasManual de Instruções AIB GA18 - 37VSD+Anderson Fernando Oles100% (1)
- 90 Anos de FDADocumento807 páginas90 Anos de FDAAlícia CarolineAinda não há avaliações
- BACKGROUND Estou Falando Com A MulaDocumento20 páginasBACKGROUND Estou Falando Com A MulaWesley MeloAinda não há avaliações
- Mayra-Resumo 224Documento4 páginasMayra-Resumo 224MAYRA ALINE SATURNINO DA SILVAAinda não há avaliações
- Prosódia MusicalDocumento48 páginasProsódia MusicalCarlos Eduardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Ação - Economia A 10.º Ano: Grupo IDocumento6 páginasAção - Economia A 10.º Ano: Grupo IAna Raquel PintoAinda não há avaliações
- Resumo2 - Elementos Químicos e A Sua OrganizaçãoDocumento10 páginasResumo2 - Elementos Químicos e A Sua OrganizaçãonmnicolauAinda não há avaliações
- (Artigo) Atendimento Domiciliar Ao Idoso - Problema Ou SolucaoDocumento9 páginas(Artigo) Atendimento Domiciliar Ao Idoso - Problema Ou SolucaoLeoni S CorreaAinda não há avaliações
- Formas Comparativas e Superlativas IrregularesDocumento2 páginasFormas Comparativas e Superlativas IrregularesLenine ReinaldoAinda não há avaliações
- Livro Earth Song Inside Michael Jackson'''s Mgnum OpusDocumento55 páginasLivro Earth Song Inside Michael Jackson'''s Mgnum OpusDaniela FerreiraAinda não há avaliações
- 03 - The Outlaw - Série Hayden Family - (Jennifer Millikin)Documento429 páginas03 - The Outlaw - Série Hayden Family - (Jennifer Millikin)wiirochahAinda não há avaliações
- CETESB QueroseneDocumento3 páginasCETESB QueroseneLuis Eduardo dos SantosAinda não há avaliações
- Racionais MC'sDocumento5 páginasRacionais MC'sMateus MarquesAinda não há avaliações
- Gestao Da Qualidade e ProdutivDocumento16 páginasGestao Da Qualidade e ProdutivRafael MartinezAinda não há avaliações
Genese Do Clientelismo
Genese Do Clientelismo
Enviado por
kumashgorDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Genese Do Clientelismo
Genese Do Clientelismo
Enviado por
kumashgorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gnese do clientelismo na organizao
poltica brasileira
Elsio Lenardo
*
. . . quando o t empo t r az bor r asca,
o mel hor mant er f i r me o l eme e
ol har par a t r s, assi m t emos
cer t eza de no per der a di r eo.
(Vouga, 1998)
Resumo:
Este artigo pretende contribuir para a elucidao das condies scio-histricas que
estimularam o aparecimento do fenmeno do clientelismo poltico no Brasil. D-se
ateno especial ao estudo de sua origem durante o perodo da Colnia, atravs da
organizao de observaes relevantes de uma srie de autores importantes da
historiografia brasileira sobre o perodo. O esforo para a compreenso do
clientelismo no Brasil justifica-se em razo de ele ter-se firmado como um atributo
recorrente da organizao poltica do pas,o que, por sua vez, acarreta
conseqncias polticas negativas do ponto de vista dos interesses das classes
populares, da gente pobre do Brasil.
Introduo
Este artigo pretende passar em revista as condies scio-histricas que
envolveram a gnese e a consolidao da prtica poltica de tipo clientelista na
organizao poltica brasileira. Partiu-se da hiptese de que a origem do
clientelismo no Brasil d-se no perodo colonial, no qual ele vai firmar aquelas
que sero suas principais prticas: o uso do favor como moeda de troca nas
relaes polticas; a instalao do controle poltico atravs do mecanismo da
cooptao; a negao s classes populares do seu direito participao poltica
direta e de maneira autnoma; o uso privado dos recursos pblicos e dos aparelhos
estatais.
Nota-se, ainda, a presena recorrente do clientelismo no quadro da poltica
brasileira, a despeito da crescente industrializao e urbanizao, da emergncia
de novos movimentos sociais e das alteraes legais que vm ampliando os canais
formais de participao da populao na gesto do Estado.
1
A expresso mais recente das prticas polticas caracterizadas como
clientelistas aquela dada pela ao dos polticos que baseiam sua carreira e
mquina eleitorais na capacidade de atender demandas de benefcios visveis e
imediatos em troca da garantia de votos (Dicionrio de Cincias sociais, 1987:
277). De fato, a impresso que se tem no a de que o fenmeno esteja de volta,
mas sim que ele nunca deixou de existir. Como aparece recorrentemente, bem
provvel que o correto seja consider-lo como um dos aspectos que compem a
vida poltica brasileira, um continuum, e no um adendo a ela.
*
Prof. do Depto. de Cincias Sociais da Universidade Estadual de Londrina e
doutorando em Cincias Sociais pela Unesp.
1
Exemplos de prticas clientelistas podem ser encontrados em jornais e revistas
atuais. Ver bibliografia.
A referncia ao clientelismo como mecanismo de poder comum
organizao poltica brasileira no significa dizer que ele simboliza a totalidade
desta organizao, nem que configura uma prtica poltica tpica e exclusivamente
brasileira. A prtica clientelista foi observada, tambm, em outras sociedades.
(Avelino Filho, 1994).
Neste texto as prticas clientelistas sero tratadas como mecanismos de
controle poltico baseados na troca de favores e barganhas entre sujeitos desiguais
e que miram a conquista da cooptao na relao social e poltica. medida que
tais prticas se consolidam, passam a ser um atributo da organizao poltica
brasileira juntamente com outros traos que a caracterizam. Dessa maneira que a
prtica do clientelismo ajudar a compor as vrias formas de domnio que a vida
poltica brasileira conheceu: o mandonismo, o patrimonialismo, o coronelismo, o
populismo. Tendo sido, at mesmo, componente relevante na forma de domnio
ditatorial-militar implantada em 1964. V-se, portanto, a importncia de se
aprofundar a compreenso desse fenmeno poltico para o entendimento da
realidade poltica brasileira atual.
A escolha da reviso de parte da trajetria do clientelismo brasileiro
justifica-se se for considerada a instigante reiterao deste atributo na organizao
poltica do pas. Ele permanece fortalecendo-se pelo uso de prticas conhecidas
desde a Colnia, e, ao mesmo tempo, transmuta-se alterando sua fonte de recursos,
incorporando novas prticas mais prprias da poca contempornea. De qualquer
modo, o clientelismo sobrevive como pea integrante das engrenagens de um
sistema global de explorao e dominao sobre as classes populares brasileiras,
ao qual recorrem, em certas circunstncias, grupos polticos ligados s classes
dominantes (Martins, Carlos Estevam. In: Diniz, 1982: 19). O recurso
compreenso da gnese e consolidao histrica do fenmeno faz-se importante
quando a sobrevivncia de atributos polticos antigos, tradicionais aceita como
uma possibilidade.
possvel tal abordagem, pois encontram-se nas vrias caractersticas de
base da formao econmico-social brasileira elementos que permitem
compreender as razes do aparecimento e desenvolvimento de algumas das
prticas singulares que se consolidaram e sobrevivem na organizao poltica
desta formao, entre as quais, a prtica do clientelismo como articulador
importante da estrutura poltica. Estas caractersticas de base seriam
especialmente aquelas ligadas ordem da imensa reserva de necessidades e
carncias que afligem os indivduos das classes populares desde o perodo
colonial.
A condio social das classes populares no Brasil est historicamente
assentada na dimenso da dependncia: em termos materiais (derivada da
condio de pobre, quando no, miservel); em termos polticos (dada a ausncia
de direitos e espaos de representao, o que caracteriza o trao autoritrio da
organizao poltica e do Estado brasileiro) (Schwarz, 1977: 15-6). O estado de
dependente sujeita os membros das classes populares, primeiro, ao poderio das
elites econmicas latifundirias e, depois, s elites polticas condutoras dos
aparelhos do Estado. De um modo geral, so as situaes sociais derivadas das
condies de dependncia as responsveis pelo desenvolvimento do clientelismo,
cujo elo de sustentao mais elementar o favor.
2
A sobrevivncia das prticas sociais do favor e do arbtrio na sociedade
brasileira refere-se a traos vinculados (...) eternidade das relaes sociais de
base (...). Dado que o arbtrio e o favor colocaram-se por muito tempo como
um fundo mais vasto sobre o qual apareceram e vicejaram as idias e prticas
polticas no Brasil. E, este fundo, este cho social de conseqncia para a
histria da cultura no Brasil, especialmente da cultura poltica brasileira
(Schwarz, 1977: 21-3).
3
Caractersticas essenciais das relaes sociais bsicas
__
referimo-nos s relaes sociais de produo
__
desenvolvidas no perodo colonial,
iro reproduzir-se nos perodos seguintes, e sero as responsveis pela gestao de
uma sociedade onde dominam relaes sociais profundamente marcadas pela
pessoalizao, afetividade, particularismo e clientelismo (Gomes,1990: 17).
4
A observao de que houve alguns padres sociais que teriam influenciado
significativamente a organizao poltica brasileira, dando-lhe uma conformao
particular mereceu tambm a ateno de Graham (1997: 27), para quem esses
padres teriam sido (...) o peso da famlia e da casa, a tenso latente entre pobres
e ricos, um agudo senso de hierarquia social e a prtica constante de prestar
favores em troca de obedincia.
Supe-se aqui que a experincia histrica de vivncia dos indivduos,
num dado territrio, submetido a determinado regime poltico, um dado
relevante na considerao das variveis que colaboram na composio do
contedo da cultura poltica de um povo. Trata-se de considerar a cultura poltica
como espao de fuso entre a tradio e a inovao. No se trata de ver o
fenmeno da cultura poltica como legado histrico, mas como prtica viva e
atuante. A interao permanente entre valores antigos (que persistem por meio das
tradies) e valores novos (que so agregados ao repertrio das pessoas...) faz com
que a cultura poltica seja resultado de um processo que a constri cotidianamente,
por meio de um jogo de reciprocidade (Gohn, 1999:52-57).
Defendendo tambm a possibilidade desse tipo de abordagem histrico-
sociolgica, Duarte (1939: 11) observa que, para refletir sobre a organizao
social e poltica do Brasil torna-se indispensvel comear pelas origens dessa
organizao, onde teriam sido imprimidas suas primeiras formas e ndole. Mesmo
que fossem se modificando desde o instante inicial de instalao, certos traos e
2
De acordo com Schwarz (1977), o favor tornou-se um elemento interno e ativo da
cultura brasileira, como um verdadeiro mecanismo de reproduo das relaes
sociais (p. 16). Em Martins (1994), o favor considerado um mecanismo de poder
responsvel por boa parte das mediaes nas relaes sociais e nas prticas polticas
no Brasil (p. 20-4).
3
Uma definio de cultura poltica que satisfatria aos propsitos desta pesquisa a
dada por Jacobi (1988): Por cultura poltica entendemos valores polticos que
configuram a base tanto do discurso e das ideologias polticas como da prtica
poltica a partir da configurao de valores formados historicamente [grifo
nosso] (p. 49; ver tambm Gohn,1999:61).
4
Em Razes do Brasil, Srgio Buarque de Holanda, embora ele no se guie pelo fator
preponderante das relaes sociais de produo, aponta inmeros argumentos a favor
do papel do processo histrico na consolidao de elementos singulares nas relaes
sociais.
atributos, a surgidos, contriburam definitivamente para o desdobramento daquela
organizao. Tal forma de abordagem privilegia a singularidade brasileira e as
conseqncias destas diferenas na estruturao de uma vida social prpria, nica.
Quer dizer que a sociedade brasileira seria tratada como uma sociedade
estruturalmente peculiar, cuja dinmica no se explica por processos polticos e
histricos dos modelos clssicos (Martins, 1994: 30).
Portanto, percorrer a histria da constituio e desenvolvimento da prtica
poltica do tipo clientelista fazer tambm o estudo histrico-sociolgico daquilo
que permanece, isto , a histria da constituio de mecanismos de poder (...)
(Martins, 1994: 24), especialmente no caso da prtica do clientelismo, com o favor
como contedo principal, que ainda um forte suporte da legitimidade poltica no
Brasil.
Sustenta-se, neste artigo, que uma experincia longa de acentuada
desigualdade social e excluso poltica das classes populares foi capaz de firmar
na organizao poltica e na cultura poltica brasileira, mecanismos sociais como o
favor e o arbtrio que, dada a freqncia com que aparecem, acabaram por se
tornarem marcas distintivas desta organizao e desta cultura. Na atualidade, a
presena freqente e historicamente consolidada destes mecanismos de relaes
sociais facilita e estimula a adoo do clientelismo como prtica poltica.
Sendo assim, a reconstruo da trajetria histrica do clientelismo revela,
tambm, o desenvolvimento das particularidades do processo de edificao do
Estado brasileiro, em cujo processo teve papel essencial a maneira prpria de
articulao entre poder privado e poder pblico. Tal propriedade recebeu certa
ateno diluda no texto. Observa-se que no h preocupao com os demais
aspectos da histria poltica do Brasil a no ser revelar aqueles que so bsicos
quanto presena do clientelismo.
O Clientelismo no Perodo Colonial
O clientelismo na poltica brasileira tem sua origem no perodo colonial.
possvel vislumbr-lo nas relaes estabelecidas entre os grandes senhores de
engenho e seus colonos livres, seus agregados e os agricultores pobres que
rodeavam os latifndios. sabido que o poder econmico, ou a ascendncia
econmica, desses grandes fazendeiros, era enorme. Eram homens de muitas
posses. Na primeira parte do perodo colonial eles eram at mesmo as nicas
autoridades de certas regies (Duarte, 1939: 169). A ausncia quase total do
Estado na primeira parte do perodo colonial levava ao reforo do privatismo dos
colonizadores, despontando o senhor de engenho como senhor absoluto, no s do
poder econmico como tambm do poder poltico.
Na poca, o poder econmico/privado e o poder poltico/pblico
habitavam o mesmo lugar: a Casa Grande. Dessa maneira, o ncleo familiar,
representado pela figura do pai/senhor, era o ncleo de poder econmico e de
domnio poltico, onde se centralizava a tomada das principais decises sociais.
Neste tempo, o espao pblico e o privado realizavam-se como indistintos. O
espao das relaes polticas e pblicas dava-se a partir e atravs do espao da
comunidade domstica. A Casa Grande era o lugar a partir de onde se
organizavam atividades potencialmente de carter pblico como as de governo, as
de trabalho e at as de religio. Esta ltima praticava-se nas capelas dos engenhos,
subordinando o poder espiritual do clero ao mandonismo senhorial.
Os grandes proprietrios de terras acabavam por cumprir tambm funes
pblicas de carter administrativo e at policial (Duarte, 1939: 169). A avantajada
concentrao de poder poltico nas mos dos senhores rurais era possvel porque
estes se colocavam como
(...) a vanguarda da Coroa na ocupao da terra nova, defendida pelo gentio
belicoso e ameaada por outras potncias europias, [portanto] no era muito
considervel a margem de conflito entre o poder privado da nobreza territorial e
o poder pblico, encarnado no Rei e em seus regentes. Por isso mesmo, a
Metrpole, no somente se resignava ante a prepotncia dos colonos, como
ainda lhes conferia prerrogativas especiais. Protegia, por exemplo, os grandes
fazendeiros contra a concorrncia dos pequenos produtores de aguardente,
mandando destruir as engenhocas; tornava as cmaras privativas dos
proprietrios de terras, vedando a eleio de mercadores; resguardava o
patrimnio dos senhores de engenho, proibindo que fossem executados por
dvidas etc. Por tudo isso, o latifndio monocultor e escravocrata representava,
a essa poca, o verdadeiro centro de poder da colnia: poder econmico, social
e poltico (Leal, 1975:67-68).
A privilegiada situao econmica e social do grande fazendeiro, dono das
terras e dos engenhos, permitia a construo em volta de si, de sua famlia, de uma
larga esfera de influncia, que ia at a jurisdio sobre seus dependentes,
permitindo-lhe arbitramento nas variadas rixas e desavenas havidas entre eles.
Tambm lhe competiam extensas funes policiais, muitas vezes exercidas apenas
com base em seu prestgio social, mas que no raro podiam tornar-se efetivas
atravs do auxlio de outros empregados, agregados e at de capangagem. Tal
ascendncia derivava portanto, quase que naturalmente, da sua posio de grande
proprietrio rural (Leal, 1975: 24).
5
Mesmo no sendo to rico quanto consta na mitologia sobre seu poder, no
era pequena a distncia entre sua riqueza e a de seus dependentes. A condio dos
segundos beirava a pobreza sem remdios, completamente sujeitos aos favores
que eventualmente recebiam do fazendeiro (Vianna, 1987: 146-7).
A dependncia especialmente material
__
era a marca das condies
subalternas a que estavam sujeitos os homens livres pobres, especialmente os
agregados e pequenos lavradores (Bosi, 1992: 24). Nem proprietrios [de fato]
nem proletrios, o acesso dos homens livres pobres vida social e a seus bens
depende materialmente do favor, indireto ou direto, de um grande (Schwarz,
1977: 16). O favor, neste caso, nasce da relao de desigualdade, geradora da
dependncia. Quanto s condies de dependncia nas quais viviam os lavradores
pobres no primeiro perodo da colnia, adianta-se o que disse Antonil (1982: 75):
Dos senhores dependem os lavradores que tm partidos arrendados em terras do
mesmo engenho, como os cidados dos fidalgos; e quanto os senhores so mais
possantes e bem aparelhados de todo o necessrio, afveis e verdadeiros, tanto
mais so procurados, ainda dos que no tm a cana cativa, ou por antiga
obrigao, ou por preo que para isso receberam [grifo nosso].
5
Observaes idnticas so feitas por Holanda (1988: 48).
Consolidada como prtica nas relaes sociais bsicas entre aquelas duas
classes sociais, a relao de clientela passava a recortar todas as demais atividades
sociais: E assim como o profissional dependia do favor para o exerccio de sua
profisso, o pequeno proprietrio depende dele para a segurana de sua
propriedade, e o funcionrio para o seu posto [grifo nosso] (Schwarz, 1977: 16).
Se por um lado a amizade, o mutualismo e o compadrio expressavam o
contedo de dependncia das relaes sociais de produo entre os homens livres
ricos e pobres, por outro lado, a rede de dependncia que amarrava os pequenos
lavradores aos latifundirios no deixava de ser tambm produto da violncia dos
ltimos sobre os primeiros. A luta entre essas duas classes derivava quase sempre
da sanha do fazendeiro que buscava permanentemente obstar as culturas
(...) e produes mais ao alcance dos minguados recursos dos modestos
lavradores. assim com a aguardente que se fabricava em simples molinetes ou
engenhocas de reduzido custo. Como tal produo desfalcasse os engenhos da
cana de que necessitavam, sofreu o fabrico da aguardente sucessivos golpes das
autoridades da metrpole e da colnia, at ser definitivamente proibido, sob
penas severas, que iam at o confisco dos bens dos transgressores. Caso
anlogo d-se com o algodo. Como o seu cultivo desviasse esforos do plantio
da cana em prejuzo dos engenhos, foi igualmente proibido. Mais tarde, quando
os ricos proprietrios o julgaram suficientemente remunerador, conseguem por
todos os meios e modos aambarcar toda a produo, obrigando os pequenos
lavradores a lhes venderem o seu produto (Prado Jr, 1966: 19).
Na ordem econmica da colnia o sucesso econmico estava ligado
capacidade de dispor de braos escravos em grande quantidade, que o que exigia
a produo em larga escala e extenso (Faoro, 1989: 125-6). Portanto, era uma
condio possvel a poucos. Aos demais restava a aproximao dependente e
subordinada, confirmada por Duarte (1939: 158):
O escravo que bastava ao senhor era a condio, ou melhor, o trunfo econmico
de que dispunha este para impor o estilo do domnio social e econmico que o
fez procurado e obedecido domnio que constrange e subordina os demais
homens livres, que no participam do senhorio, mas que, por sua vez, constitui
a nica fora de proteo e amparo a que o fraco era forado a recorrer. Alm
dos filhos e dos escravos, a pequena classe dos livres, sem especializao
profissional nem poder econmico autnomo em face da propriedade senhorial,
constitua o mundo dos agregados mais ou menos vinculados ao engenho ou
fazenda, lavradores de cana obrigada, numa incipiente forma de servido da
gleba, rendeiro, meeiros, sitiantes, vaqueiros de quarto ou tero, formado
pelos laos da sujeio econmica e da proteo moral e poltica, uma
verdadeira clientela para maior tipificao desse patronato.
Essa situao colocava os homens livres pobres numa condio de grande
dependncia em relao ao senhor de engenho. Dependiam dele para socorro
material em casos de calamidade climtica, de doena, etc.; para a compra de um
outro produto que produziam, ou para o arrendamento do plantio de cana; e,
muitas vezes para a proteo policial contra bandidos e outros posseiros que
ameaassem suas terras (Prado Jr, 1966: 25-6). Tamanho grau de dependncia
dava ao fazendeiro a oportunidade de ampliar seu poder econmico atravs da
ascendncia social e poltica. Para isso buscava transformar sua capacidade de
ajudar os dependentes em dvida e favor que estes ficariam lhe devendo.
Trocava seus favores por lealdade, transformando esses colonos, agregados
e camponeses pobres, em sua clientela, quer dizer, num grupo de homens
vinculados ao senhor, leais a ele, dispostos a servi-lo e a segui-lo, tanto em
contendas com outros senhores por disputa de novas terras, na defesa das terras do
senhor, como na prestao de inmeros servios no remunerados. Do lado dos
homens livres pobres, na ausncia de um poder pblico estatal que pudesse
socorr-los na misria e no abandono, restava-lhes encostar em algum grande
potentado, esperando ajuda nos piores momentos que no eram poucos, por certo
(Martins, 1994: 20-4; Schwarz, 1977: 15-6).
O quadro das posies sociais instaladas a partir da formao dos
engenhos no comeo da colonizao, isto , incio do sculo XVI, apresentava-se
da seguinte forma:
Um engenho era de montagem custosa; somente quem tivesse posses se
abalanava a mont-lo no Brasil. Os sesmeiros menos abastados,
impossibilitados de montar engenho, tornavam-se tributrios dos senhores
ricos, dando-lhes a cana para moer e pagando-os com uma parte da safra,
formando uma espcie de clientela dos grandes proprietrios. Em torno
destes grandes proprietrios e dos colonos simples, seus tributrios, havia a
turma dos agregados, gente de poucas posses que vinha do Reino e se
encostava noutro mais poderoso vivendo de pequenos servios, ou de um ofcio
remunerado, ou mesmo admitido a plantar em terras de um senhor [grifo nosso]
(Queiroz, 1969: 10).
6
Desenvolveram-se entre todos esses indivduos laos de servios mtuos
e de amizade, resultando no compadrio: o senhor do engenho era solicitado para
o apadrinhamento dos filhos dos colonos e agregados que, com a sano religiosa
do fato, reforava ainda mais os compromissos de amizade, dos quais se esperava
auxlio, defesa e lealdade. Joaquim Nabuco reitera esta interpretao quando
considera que havia uma relao de causalidade entre a escravido e o mando do
tipo patronato, com a centralizao do poder na pessoa, no chefe. Isto implica que
a escravido no teria sido s uma instituio econmica, mas tambm uma
instituio poltica, onde os que ocupam o poder pblico e se (...) alternam no
exerccio do patronato e na guarda do cofre das graas, distribuem empresas e
favores e por isso tm em torno de si, ou s suas ordens e sob seu mando num
pas que a escravido empobreceu e carcomeu todos os elementos dependentes e
necessitados da populao (Nabuco, 1988: 34) [Grifo nosso].
A presena do favor como mecanismo da relao social, instalado a partir
de uma estrutura social fundada na escravido, tem uma relevncia singular,
porque ao lado da violncia como meio principal de controle social sobre o
escravo,
7
ele fornece meios particulares de controle social sobre o homem livre
pobre. E o principal trao desse mecanismo circunscrever ao espao privado, sob
controle do grande senhor, uma srie de atividades, tarefas e aes de carter
pblico e estatal (oferta de servios, justia, de moradia, de apoio material
subsistncia, etc.).
6
Ver tambm Faoro (1989: 215-6).
7
Quanto ao uso da violncia para controle social ver Guimares (1989).
Por certo, conforme se viu, que tal situao resultava tambm da ausncia
do poder pblico, ou de sua fraca presena, que acabava por levar os grandes
senhores de terras a tornarem-se os nicos em condies de exercer, extra-
oficialmente, grande nmero de funes do Estado em relao aos seus
dependentes. Assim, o espao pblico que poderia colocar-se com suas aes e
servios, como espao de exerccio de direitos e deveres, substitudo pelo espao
privado ocupado pela influncia, favores e mando do senhor de terras. Como
observa Duarte (1939: 54), (...) o fenmeno que desejamos retraar e apontar
consiste menos nessa simples ocupao de todo o solo pela propriedade privada,
do que na circunstncia do proprietrio privado guardar e exercitar o governo,
precedendo ao poder poltico, propriamente dito, que s surge e vive, modificado
pela concorrncia e hostilidade daquele.
Dessa maneira, risca-se das alternativas sociais a possibilidade da
cidadania, s possvel na vigncia do espao pblico efetivamente realizado. A
organizao poltica, girando em torno do poderio absoluto privado, impede-a,
nega-a. a cultura poltica do cliente e no a do cidado. E, a relao de cliente
uma relao privada, no-pblica, ainda que possa ser realizada no espao pblico.
Portanto, ligada diretamente s desigualdades econmicas e sociais, que se
transformam em desigualdades polticas.
No caso, por exemplo, dos direitos dos camponeses que viviam como
agregados no perodo colonial, notava-se que seus direitos polticos, sociais e at
individuais, s eram reconhecidos na medida em que eram extenso dos direitos
do fazendeiro, enquanto concesso do mesmo. Dessa forma os direitos de foro
pblico inscreviam-se, articulavam-se a partir da esfera privada. Aqui j se
instalava a mistura, a confuso entre a questo pblica e a questo privada
(Martins, 1986: 32-37). A relao social colocada entre o fazendeiro e o agregado
(...) era essencialmente a relao de troca troca de servios e produtos por
favores, troca direta de coisas desiguais, controlada atravs de um complicado
balano de favores recebidos. Nesse plano, a natureza das coisas travadas sofria
mutaes pelo fato de viver e trabalhar autonomamente nas terras de um
fazendeiro, um agregado podia retribuir-lhe defendendo o seu direito de se
assenhorear de mais terras, de litigiar com fazendeiros vizinhos etc. Com isso, o
agregado defendia tambm o seu direito de estar na terra do fazendeiro. Mas
no podia defender o direito de estar na terra, sem fazer dessa terra propriedade
do seu fazendeiro. A sua luta era luta do outro (Martins,1986: 35-6).
No final do sculo XVI comeam a se firmar as vilas, que eram pequenos
povoados habitados pelos homens livres pobres (escravos libertos, pequenos
artesos), pelos comerciantes e financistas ligados ao comrcio da cana e de
escravos. Nas vilas funcionavam a incipiente administrao pblica e um certo
aparato policial. Sero os espaos da administrao da Colnia. O principal rgo
da administrao pblica na vila era a cmara municipal (Avellar, 1970: 101).
Com elas j se instalou tambm uma estrutura de poder pblico que, no entanto,
no permitia a incluso da participao dos setores pobres da populao (Silva
apud Linhares, 1996: 36-9). Por exemplo, para as cmaras s podiam ser eleitos os
homens bons, que na verdade eram os proprietrios de certas posses (Queiroz,
1969: 12).
Observa-se que j no primeiro espao pblico estatal construdo no Brasil
no havia lugar para a participao dos setores populares. As cmaras iro colocar
sua estrutura e autoridade pblica a servio dos potentados rurais e dos interesses
comerciais da metrpole. Ou seja, mesmo aparecendo um poder pblico estatal na
Colnia, este no se coloca como espao de poder que possa ser disputado
tambm pelos pobres. Estes continuaro a, necessariamente, depender dos chefes
locais, dos mandes locais. E quando buscam apoio junto s cmaras, recebem o
atendimento sua demanda como favor do chefo que manda na cmara e
representa um ou outro potentado local. Duarte (1939: 142) chegou a referir-se s
cmaras deste perodo como feudos municipais, quer dizer, elas seriam rgos,
no fundo, comandados pelos onipotentes senhores das Casas-Grandes.
Com as cmaras, aquele poderio privado isolado do grande proprietrio de
terra reparte-se com o poder pblico reinol instalado. Mesmo assim, a situao de
desamparo continua castigando os homens livres pobres. Aos olhos das classes
dominantes e do poder pblico estatal, por esse perodo, o povo no passava de
fico, j que a representao de seus interesses nunca coube nos aparelhos do
Estado. As cmaras vo reproduzir o esquema clientelista nascido em torno do
engenho, ao distribuir os servios e a autoridade pblica como doao, como
concesso dos mandes locais. Os ocupantes daquelas eram seus prepostos. As
decises da justia, ligada cmara, estavam na completa subordinao deciso
final do chefo local do momento. Por exemplo, para o homem livre pobre, fazer
parte da clientela do chefo podia ser a diferena entre ser bem tratado ou no pela
polcia local, caso se envolvesse em alguma contenda (Faoro, 1989: 202; ver por
exemplo, o caso citado por Graham, 1997: 39).
Portanto o poder poltico dos proprietrios rurais foi tambm exercido
atravs das administraes municipais, colocando-se estas como instrumento do
seu poder na ordem poltica (Leal, 1975: 66), ou seja, um mecanismo a mais no
domnio que essa classe de plantadores exercia sobre as classes populares locais.
Este singular sistema de supremacia poltica constituiu-se o antecedente colonial
do coronelismo.
Da Segunda metade do sculo XVII em diante inicia-se um processo de
fortalecimento do poder real, com a vitalizao da autoridade pblica e a
decadncia do poder privado (Leal, 1975: 70)
8
. Internamente, a consolidao da
economia colonial com o incremento do comrcio, a descoberta e explorao das
minas de ouro e diamante; e como fator externo, a decadncia do comrcio de
Portugal com as ndias, foram elementos fundamentais para a valorizao da
colnia por parte da metrpole, alterando, da para a frente, o exerccio da
autoridade metropolitana (Prado Jr, 1966: 30).
Ao mesmo tempo, a estrutura social brasileira se complexifica,
paralelamente ao seu desenvolvimento econmico, que inclui ao lado da atividade
agrcola, as ligadas ao comrcio e ao crdito, favorecendo o aparecimento e
8
A tese da mudana significativa na forma e contedo do mando poltico a partir de
meados do sculo XVII compartilhada tambm por Prado Jr (1966), Faoro (1989) e
Avellar (1970), por exemplo. H autores, no entanto, que vem mais continuidade do
que mudana na vida poltica que segue a esse perodo. Entre eles pode-se ver Queiroz
(1939) e Leal (1975).
consolidao de uma burguesia comercial e financeira. Seus membros so na
maioria reinis que detero, por um bom tempo, o monoplio dessas atividades,
excluindo os nativos de tal oportunidade, at meados do Imprio.
At o final do sculo XVII reconhecida a expressiva autonomia poltica
da qual gozavam os senhores rurais na colnia. Porm, da por diante conhecer-se-
uma srie de iniciativas da metrpole visando a diminuio dessa autonomia, j
que a Coroa via com grande preocupao o elevado grau de poder daqueles
senhores, que com insolncia enfrentavam o poder central, expresso nas figuras
dos governadores e nas leis rgias. Nota-se, porm, que o poder de fato, aquele
imediato e real, era dos colonos ricos. Sempre, na primeira linha, esto os
interesses dos grandes proprietrios rurais. destes portanto, e s destes, o poder
poltico da colnia (Prado Jr, 1966:28). Parece certo que (...) a formao
colonial no Brasil vinculou-se: economicamente, aos interesses dos mercadores de
escravos, de acar, de ouro; politicamente, ao absolutismo reinol e ao
mandonismo rural, que engendrou um estilo de convivncia patriarcal e
estamental entre os poderosos, escravista ou dependente entre os subalternos
(Bosi, 1992: 25) [Grifo nosso].
Concluso
Fica evidente que em sua origem o clientelismo aparece em funo da
especificidade das relaes sociais entre os potentados rurais e os homens livres
pobres, exatamente pela marca da desigualdade social havida entre os dois grupos
de sujeitos. O fato do 'mando', do potentado, controlar recursos estratgicos para
a poca, colocava em situao de dependncia, em relao a ele, a populao
pobre, o que lhe permitia, por conseqncia, exercer sobre essa ltima um
domnio pessoal e arbitrrio.
Neste contexto que se firma, nas relaes sociais, o mecanismo do favor,
que por sua vez, supe a instalao de uma barganha por obedincia e lealdade. A
troca, entre o favor e a lealdade, passa a ser atributo essencial nas relaes sociais.
Mas que, por certo, era uma troca entre desiguais, portanto eram barganhas
desiguais. De fato, a barganha servia como uma tcnica de dominao que
acabava por permear as relaes sociais como um todo. Dominao que
interessava aos potentados, que buscavam, atravs da poltica de clientela, uma
maneira singular de exerccio da autoridade, do mando.
Bibliografia
ANTONIL, A. J. (1982). Cultura e opulncia do Brasil. Belo Horizonte/So Paulo:
Itatiaia/EDUSP.
AVELINO FILHO, G. (1994). Clientelismo e poltica no Brasil. Revisitando velhos
problemas. Novos Estudos. So Paulo, n 38.
AVELLAR, H. de A. (1970). Histria administrativa e econmica do Brasil. Rio de
Janeiro:FENAME.
BOSI, A. (1992). Dialtica da colonizao. So Paulo:Cia. Das Letras.
BURSZTYN, M. (1985). O poder dos donos: planejamento e clientelismo no nordeste.
Petrpolis/RJ:Vozes.
DINIZ, E. (1982) Voto e mquina poltica: patronagem e clientelismo no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
DICIONRIO de cincias sociais. (1987). Rio de Janeiro, FGV/MEC.
DROULERS, M. (1989). Clientelismo e emprego pblico. Sociedade e Estado. Braslia,
vol.4.
DUARTE, N. (1939). A ordem privada e a organizao poltica nacional. So Paulo:Cia.
Ed. Nacional.
FAORO, R. (1989) Os donos do poder: formao do patronato poltico brasileiro. Rio de
Janeiro: Globo.
GAZETA do Povo PR (1999). 15 de maio.
GOMES, A de C. (1990) A dialtica da tradio. Revista Brasileira de Cincias Sociais.
So Paulo, n 12, vol. 5, fev.
GRAHAM, R. (1997). Clientelismo e poltica no Brasil do sc. XIX. Rio de Janeiro:Ed.
UFRJ.
GOHN, M. da G. (1999) Educao no formal e cultura poltica. So Paulo:Cortez.
HOLANDA, S. B. de. (1988) Razes do Brasil. Rio de Janeiro: Jos Olympio.
JACOBI, P. R. (1988) Ao coletiva, atores sociais e cultura poltica. Revista Servio
Social e Sociedade. So Paulo:Cortez, n 28, ano IX.
LEAL, V. N. (1975) Coronelismo, enxada e voto: o municpio e o regime representativo
no Brasil. So Paulo:Alfa-mega.
LINHARES, M. Y. (Org.) (1996) Histria geral do Brasil. 6 ed. Atualizada. Rio de
Janeiro:Campus.
MARTINS, J. S. (1994). O poder do atraso: ensaios de sociologia da histria lenta. So
Paulo: Hucitec.
NABUCO, J.. (1988) O abolicionismo. Petrpolis:Vozes.
O ESTADO de So Paulo (1999). 20 de maio.
PANDOLFY, M. L.. (1987). O trabalhador sertanejo e a sujeio. Cadernos de
Estudos Sociais. Recife:Ed. Massangana, v. 3, n 1.
PRADO JR., C. (1966). Evoluo poltica do Brasil e outros estudos. So Paulo:
Brasiliense.
QUEIROZ, M. I. P. de. (1969) O Mandonismo local na vida poltica brasileira. So
Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros/Universidade de So Paulo.
SCHWARZ, R. (1977). Ao Vencedor as batatas. So Paulo: Duas Cidades.
VIANNA, O. (1987). Populaes meridionais do Brasil. Belo Horizonte/Rio de
Janeiro:Ed. Itatiaia/UFF.
VOUGA, C.; QUIRINO, C. & BRANDO, G. (orgs.) (1998). Clssicos do pensamento
poltico. So Paulo:EDUSP.
Você também pode gostar
- Caderno EjaDocumento47 páginasCaderno EjaClaudia100% (1)
- Pe Gabriel de Sta M Madalena - Intimidade DivinaDocumento1.574 páginasPe Gabriel de Sta M Madalena - Intimidade DivinaPauloViníciusCostaOliveira100% (3)
- Hermenêutica LiteráriaDocumento7 páginasHermenêutica LiteráriaElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Coletânea de PoemasDocumento18 páginasColetânea de PoemasElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Literatura Comparada e GlobalizaçãoDocumento17 páginasLiteratura Comparada e GlobalizaçãoElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Conjecturas Sobre Literatura MundialDocumento10 páginasConjecturas Sobre Literatura MundialElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Entre Parentes Vizinhos AmigosDocumento174 páginasEntre Parentes Vizinhos AmigosElielson FigueiredoAinda não há avaliações
- Esteticas Visuais Seculo XXDocumento328 páginasEsteticas Visuais Seculo XXElielson Figueiredo100% (1)
- Mas Quem Criou Os ''Criadores''Documento12 páginasMas Quem Criou Os ''Criadores''ANDCAD123Ainda não há avaliações
- AGUIÃO, Silvia. 2014. T. Fazer-Se No 'Estado', Uma Etnografia Sobre o Processo de Constituição Dos 'LGBT' Como Sujeitos de Direitos No Brasil ContemporâneoDocumento340 páginasAGUIÃO, Silvia. 2014. T. Fazer-Se No 'Estado', Uma Etnografia Sobre o Processo de Constituição Dos 'LGBT' Como Sujeitos de Direitos No Brasil ContemporâneoronaldotrindadeAinda não há avaliações
- Charles HadjiDocumento4 páginasCharles Hadjigenfra35Ainda não há avaliações
- Árvore Natal4Documento10 páginasÁrvore Natal4marciamreinholz reinholzAinda não há avaliações
- Aula 3Documento7 páginasAula 3Maurício ZecãoAinda não há avaliações
- Os Tipos de Zumbido No OuvidoDocumento10 páginasOs Tipos de Zumbido No OuvidoDa Silva JoseAinda não há avaliações
- Projeto de Reestruturação e Reorganização EmpresarialDocumento7 páginasProjeto de Reestruturação e Reorganização EmpresarialAlessandra PrunzelAinda não há avaliações
- Apostila de HipnoseDocumento50 páginasApostila de HipnoseJuliana MagalhãesAinda não há avaliações
- Manual SOBRASA WDPD 2022Documento14 páginasManual SOBRASA WDPD 2022Diego BortolonAinda não há avaliações
- 99 Questões de português-CESPE PDFDocumento13 páginas99 Questões de português-CESPE PDFCLAIRTON SUPERPREPARADOAinda não há avaliações
- Memorex PÓS EDITAL INSS - Técnico - AMOSTRA 3Documento41 páginasMemorex PÓS EDITAL INSS - Técnico - AMOSTRA 3Monstro De HentaiAinda não há avaliações
- SEGURANÇA NO TRABALHO Riscos AmbientaisDocumento23 páginasSEGURANÇA NO TRABALHO Riscos AmbientaisLuanna MilantoniAinda não há avaliações
- APOSTILA Operadorguindauto NOVODocumento30 páginasAPOSTILA Operadorguindauto NOVOLCarlos Moreira da SilvaAinda não há avaliações
- 6 Dicas para Vendas Na OdontologiaDocumento7 páginas6 Dicas para Vendas Na OdontologiaFluke RanzaAinda não há avaliações
- O Termômetro de CristoDocumento7 páginasO Termômetro de CristoLuciano CastroAinda não há avaliações
- Manual de Instruções AIB GA18 - 37VSD+Documento94 páginasManual de Instruções AIB GA18 - 37VSD+Anderson Fernando Oles100% (1)
- 90 Anos de FDADocumento807 páginas90 Anos de FDAAlícia CarolineAinda não há avaliações
- BACKGROUND Estou Falando Com A MulaDocumento20 páginasBACKGROUND Estou Falando Com A MulaWesley MeloAinda não há avaliações
- Mayra-Resumo 224Documento4 páginasMayra-Resumo 224MAYRA ALINE SATURNINO DA SILVAAinda não há avaliações
- Prosódia MusicalDocumento48 páginasProsódia MusicalCarlos Eduardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Ação - Economia A 10.º Ano: Grupo IDocumento6 páginasAção - Economia A 10.º Ano: Grupo IAna Raquel PintoAinda não há avaliações
- Resumo2 - Elementos Químicos e A Sua OrganizaçãoDocumento10 páginasResumo2 - Elementos Químicos e A Sua OrganizaçãonmnicolauAinda não há avaliações
- (Artigo) Atendimento Domiciliar Ao Idoso - Problema Ou SolucaoDocumento9 páginas(Artigo) Atendimento Domiciliar Ao Idoso - Problema Ou SolucaoLeoni S CorreaAinda não há avaliações
- Formas Comparativas e Superlativas IrregularesDocumento2 páginasFormas Comparativas e Superlativas IrregularesLenine ReinaldoAinda não há avaliações
- Livro Earth Song Inside Michael Jackson'''s Mgnum OpusDocumento55 páginasLivro Earth Song Inside Michael Jackson'''s Mgnum OpusDaniela FerreiraAinda não há avaliações
- 03 - The Outlaw - Série Hayden Family - (Jennifer Millikin)Documento429 páginas03 - The Outlaw - Série Hayden Family - (Jennifer Millikin)wiirochahAinda não há avaliações
- CETESB QueroseneDocumento3 páginasCETESB QueroseneLuis Eduardo dos SantosAinda não há avaliações
- Racionais MC'sDocumento5 páginasRacionais MC'sMateus MarquesAinda não há avaliações
- Gestao Da Qualidade e ProdutivDocumento16 páginasGestao Da Qualidade e ProdutivRafael MartinezAinda não há avaliações