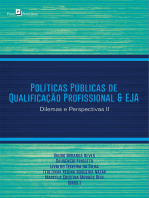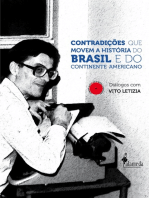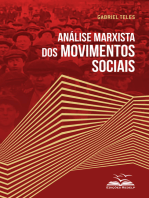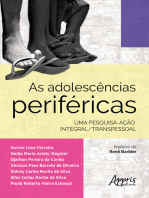Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CadCRH 2007 340
CadCRH 2007 340
Enviado por
Caio FeitosaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CadCRH 2007 340
CadCRH 2007 340
Enviado por
Caio FeitosaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
Pobreza e
cidadania
Dilemas do Brasil
contemporneo
Vera da Silva Telles *
Este artigo aborda o enigma da
persistncia e crescimento da po
breza no Brasil, que atinge at
mesmo os trabalhadores urba
nos integrados nos centros din
micos da economia do pas. Ao
analis-lo,destaca o
autoritarismo, a excludncia e a
incivilidade da sociedade brasi-
leira, mostrando como isto se re-
flete na vida dos trabalhadores e
de suas famlias.
A pobreza brasileira imensa. Pode
parecer que ao dizer isso no se
est mais do que reafirmando
obviedade. No entanto, h algo de
* Professora do Departamento de
Sociologia da Universidade de So Paulo.
enigmtico na persistncia de uma
pobreza to imensa e sempre cres-
cente em uma sociedade que pas-
sou por dcadas de industrializa-
o, urbanizao e modernizao
institucional, uma sociedade que
proclamou direitos, montou um
formidvel aparato de Previdncia
Social, que passou pela experin-
cia de conflitos e mobilizaes
populares e construiu mecanismos
factveis de negociao de interes-
ses. Na verdade, a pobreza con-
tempornea parece se constituir
numa espcie de ponto cego que
escapa ao j sabido e previsto por
teorias e paradigmas conhecidos
de explicao. Ponto cego instau-
rado no centro mesmo de um Brasil
moderno, a pobreza atual arma um
novo campo de questes ao trans-
bordar dos lugares nos quais esteve
"desde sempre" configurada: nas
franjas do mercado de trabalho, no
submundo do mercado informal,
nos confins do mundo rural, num
Nordeste de pesada herana
oligrquica, em tudo o mais, en-
fim, que fornecia (e ainda fornece)
as evidncias da lgica excludente
prpria das circunstncias histri-
cas que presidiram a entrada do
pas no mundo capitalista. De fato,
ao lado da persistncia de uma
pobreza de razes seculares, a face
moderna da pobreza aparece regis-
trada no empobrecimento dos tra-
balhadores urbanos integrados nos
centros dinmicos da economia do
pas.
certo que em tudo isso se tem os
efeitos mais evidentes de uma in-
flao que corri salrios, de uma
crise prolongada e de polticas eco-
nmicas que provocaram recesso
e desemprego, que induziram a um
arrocho salarial sem propores
em outros perodos da nossa hist-
ria, que levaram reduo dos
gastos sociais e provocaram a dete-
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
riorao de j precrios e insufici-
entes servios pblicos. No entan-
to, se isso explica muito dos dile-
mas atuais, no suficiente para
explicar as dimenses da pobreza
contempornea. A chamada dvida
social aumentou muito nesses anos,
mas suas origens vm de mais lon-
ge. E precisamente nisso que
comea a se armar o enigma da
pobreza brasileira. Nos ltimos 30
anos, e isso consenso entre ana-
listas, o pas construiu base econ-
mica e institucional para melhorar
as condies de vida da populao
brasileira, diminuir a escala das
desigualdades sociais e viabilizar
programas de erradicao da po-
breza. Se nos anos de crescimento
econmico as chances no foram
aproveitadas, isso no se deveu,
portanto, lgica cega da econo-
mia, mas a um jogo poltico muito
excludente, que repe velhos pri-
vilgios, cria outros tantos e exclui
as maiorias. Se a pobreza contem-
pornea diz respeito aos impasses
do crescimento econmico num
pas situado na periferia do mundo
capitalista, pe em foco sobretudo
a tradio conservadora e autorit-
ria dessa sociedade.
Porm, ainda assim o enigma per
manece. Pois, conservadora e au
toritria, a sociedade brasileira sem
pre teve, para o bem ou para o mal,
a questo social no seu horizonte
poltico. uma sociedade na qual
sempre existiu uma conscincia
pblica de uma pobreza persisten
te - a pobreza sempre apareceu no
discurso oficial, mas tambm nas
falas pblicas de representantes
polticos e at mesmo de lideran
as empresariais, como sinal de
desigualdades sociais
indefensveis num pas que se quer
altura das naes do Primeiro
Mundo. Tema do debate pblico e
alvo privilegiado do discurso pol-
tico, a pobreza e sempre foi nota-
da, registrada e documentada.
Poder-se-ia mesmo dizer que, tal
como uma sombra, a pobreza acom-
panha a histria brasileira, com-
pondo o elenco dos problemas,
impasses e tambm virtualidades
de um pas que fez e ainda faz do
progresso um projeto nacional.
isso propriamente que especifica o
enigma da pobreza brasileira. Pois
espanta que essa pobreza persis-
tente, conhecida, registrada e alvo
do discurso poltico, no tenha sido
suficiente para constituir uma opi-
nio pblica crtica capaz de mobi-
lizar vontades polticas na defesa
de padres mnimos de vida para
que esse pas merea ser chamado
de civilizado. Sobretudo espanta
que o aumento visvel da pobreza
no correr do anos nunca tenha sus-
citado um debate pblico sobre a
justia e a igualdade, pondo em
foco as iniquidades inscritas na
trama social.
Como problema que inquieta e
choca a sociedade, a pobreza
percebida como o efeito indesejado
de uma histria sem autores e res-
ponsabilidades. Nesse registro,
aparece como chaga aberta a lem-
brar a todos o atraso que envergo-
nha um pas que se acostumou a se
pensar como o "pas do futuro", de
tal modo que a eliminao das de-
sigualdades projetada para a
ao esclarecida de um Estado
capaz de promover crescimento e
progresso que havero de
absorver os que foram at agora
deles excludos. Como
espetculo, visvel por todos os
lados, a pobreza aparece, no
entanto, no registro da patologia,
seja nas evidncias da destituio
dos miserveis, que clamam pela
ao protetora e assistencial do
Estado, seja nas imagens da vio-
lncia associadas pobreza des-
mesurada e que apelam para a in-
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
terveno estatal preventiva, mas
sobretudo repressiva. Num regis-
tro e no outro, a pobreza transfor-
mada em natureza, resduo que
escapou potncia civilizadora da
modernizao e que ainda tem que
ser capturado e transformado pelo
progresso. Nas suas mltiplas evi-
dncias, fixada como paisagem.
Paisagem que rememora as ori-
gens e que projeta no futuro as
possibilidades de sua redeno, a
pobreza no se atualiza como pre-
sente, ou seja, nas imagens do atra-
so, aparece como sinal de uma
ausncia. E esse o ponto: entre a
imagem do atraso e o horizonte
idealizado do progresso, a pobreza
encenada como algo externo a
um mundo propriamente social,
como algo que no diz respeito aos
parmetros que regem as relaes
sociais.
As figuras de uma pobreza despo-
jada de dimenso tica e transfor-
mada em natureza fornecem, tal-
vez, uma chave para elucidar a
persistncia de uma pobreza em
um pas que, afinal de contas, dei-
xou para trs o estreito figurino da
Republica oligrquica. Seria pos-
svel dizer que essa figurao p-
blica da pobreza diz algo de uma
sociedade na qual as distncias
sociais so to grandes e brutais
que parece no ser plausvel uma
medida comum que permita que a
questo da justia se coloque como
problema e critrio de julgamento
nas relaes sociais. Diz algo de
uma sociedade em que vigoram as
regras culturais de uma tradio
hierrquica, plasmadas em um pa-
dro de sociabilidade que obsta a
construo de um princpio de re-
ciprocidade que confira ao outro o
estatuto de sujeito de interesses
vlidos e direitos legtimos. Essa
a matriz da incivilidade que atra-
vessa de ponta a ponta a vida social
brasileira. A explorao selvagem
nas relaes de trabalho o seu
exemplo paradigmtico. Mas tam-
bm o so a prepotncia e o
autoritarismo nas relaes de man-
do, para no falar do reiterado des-
respeito aos direitos civis das po-
pulaes trabalhadoras. Incivilida-
de que se ancora num imaginrio
persistente que fixa a pobreza como
marca da inferioridade, modo de
ser que descredencia indivduos
para o exerccio de seus direitos, j
que percebidos numa diferena in-
comensurvel, aqum das regras
da equivalncia que a formalidade
da lei supe e o exerccio dos direi-
tos deveriam concretizar, do que
prova evidente a violncia policial
que declara publicamente que nem
todos so iguais perante a lei e que
os mais elementares direitos civis
s valem para os que detm os
atributos de respeitabilidade, per-
cebidos como monoplio das "clas-
ses superiores", reservando s "clas-
ses baixas" a imposio autoritria
da ordem.
Seria um equvoco creditar tudo
isso a persistncia de
tradicionalismo de tempos passa-
dos, resduos de um Brasil arcaico.
Pois so esses termos que constro-
em a peculiaridade do Brasil mo-
derno. certo que a sociedade
brasileira carrega todo o peso da
tradio de um pas com passado
escravagista e que fez sua entrada
na modernidade capitalista no in-
terior de uma concepo patriarcal
de mando e autoridade, concepo
esta que traduz diferenas e desi-
gualdades no registro de hierarqui-
as que criam a figura do inferior
que tem o dever da obedincia, que
merece o favor e proteo, mas
jamais os direitos. No entanto, se
tradies persistem, isso no
independe do modo como, aqui, a
cidadania foi formulada e
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
institucionalizada. E nisso que se
aloja todo o paradoxo da sociedade
brasileira. Paradoxo de um projeto
de modernidade que desfez as re-
gras da Repblica oligrquica, que
desencadeou um vigoroso proces-
so de modernizao econmica,
social e institucional, mas que re-
ps a incivilidade nas relaes so-
ciais. Pois, nos anos 30, a conces-
so de direitos trabalhistas e a mon-
tagem de um formidvel sistema
de proteo social tiraram a popu-
lao trabalhadora do arbtrio, at
ento sem limites, do poder patro-
nal, para jog-la por inteiro sob a
tutela estatal. Trata-se de um pecu-
liar modelo de cidadania,
dissociado dos direitos polticos e
tambm das regra da equivalncia
jurdica, tendo sido definida estri-
tamente nos termos de um igual
direito proteo do Estado, atra-
vs dos direitos sociais, como re-
compensa ao cumprimento com o
dever do trabalho.
Se possvel falar de um paradoxo
da sociedade brasileira, este no
est propriamente no descompasso
entre a existncia formal de direi-
tos e a realidade da destituio das
maiorias, mas no que esse
descompasso revela da lgica que
preside a atribuio de direitos. O
paradoxo est nesse modelo de ci-
dadania que proclama a justia
como dever do Estado, mas desfaz
os efeitos igualitrios dos direitos e
repe na esfera social desigualda-
des, hierarquias e excluses. nes-
sa trama de que so feitos os direi-
tos que tambm se explicita o pon-
to cego de nossa ainda recente de-
mocracia. Pois essa uma experi-
ncia de cidadania que no cons-
truiu um vnculo propriamente ci-
vil entre indivduos, grupos e clas-
ses. Sob o risco do exagero, se
poderia dizer que a essa concepo
de justia desvinculada das moder-
nas noes de igualdade e projeta-
da como tarefa exclusiva do Esta-
do, corresponde uma sociedade que
no consegue se constituir plena-
mente como sociedade civil, se por
isso entendermos no apenas uma
sociedade que se estrutura nas re-
gras que organizam interesses pri-
vados, mas uma sociedade na qual
as relaes sociais sejam mediadas
pelo reconhecimento de direitos e
representao de interesses, de tal
modo que se torne factvel a cons-
truo de espaos pblicos que con-
firam legitimidade aos conflitos e
nos quais a medida do justo e do
injusto venha a ser objeto do deba-
te e de uma permanente negocia-
o.
certo que no transcorrer dos anos
80, avanos notveis ocorreram
nesse sentido. O fortalecimento de
organizaes sindicais e associa-
es populares, a multiplicao de
greves e movimentos sociais, con-
formaram os termos de uma expe-
rincia indita na histria brasilei-
ra, em que a cidadania buscada
como luta e conquista e a reivindi-
cao interpela a sociedade na exi-
gncia de uma negociao poss-
vel, aberta ao reconhecimento dos
interesses e das razes que do
plausibilidade s aspiraes por um
trabalho mais digno, por uma vida
mais decente e por uma sociedade
mais civilizada nas suas formas de
sociabilidade. No entanto, preci-
so que se diga que os avanos so
frgeis e as conquistas so difceis
numa sociedade regida por uma
gramtica social muito excludente,
em que o eventual atendimento de
reivindicaes est longe de con-
solidar direitos como referncia
normativa nas relaes sociais, em
que, por isso mesmo, prticas de
representao e negociao se ge-
neralizam com dificuldade para
alm dos grupos mais organizados.
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
E disso, as tendncias em curso no
mercado de trabalho so provam ais
do que evidente. No incio dos anos
80, o fortalecimento dos sindicatos
e das organizaes operrias, num
contexto de democratizao da
sociedade brasileira, tornaram
invivel a manuteno de um pa-
dro desptico de organizao do
trabalho, de tal modo que as em-
presas se viram constrangidas a se
abrirem s grfica de negociao.
Mas isso no foi suficiente para
atingir trabalhadores fora da rea
de atuao dos sindicatos mais ati-
vos, trabalhadores que experimen-
tam perifrica ou intermitentemen-
te a mobilizao operria e que
vivem circunstncias de trabalho e
de vida subtradas do poder de in-
terpelao da reivindicao sindi-
cal. E tampouco foi suficiente para
democratizar o espao fabril. O
autoritarismo permanece, o arb-
trio patronal e mais do que fre-
quente e as prticas de negociao
no chegaram a redefinir um pa-
dro de gesto da fora de trabalho,
regido pelo controle disciplinar,
pela conteno dos salrios em es-
calas sempre muito baixas e pela
prtica rotineira da rotatividade
(Carvalho, Schimith, 1990; Gui-
mares, Castro, 1990). Com o
aprofundamento da crise econmi-
ca, h exemplos conhecidos de
empresas que retrocederam na aber-
tura s negociaes e h indicaes
de que para se ajustar s circuns-
tancias adversas da economia, o
desemprego ainda , como sempre
foi, a estratgia que predomina,
mas com a peculiaridade de que
vem se associando, cada vez mais,
ao uso crescente de mo de obra
fora dos padres convencionais de
contrato, seja pelo emprego sem
vnculo legal de trabalho, seja pela
prtica da subcontratao, seja ain-
da pelo uso do trabalho temporrio
em atividades ligadas produo.
So esses os termos pelos quais
vem sendo aplicada a chamada
flexibilizao do trabalho, modo
de escapar da presso sindical, de
se liberar dos custos trabalhistas e
ampliar ainda mais a autonomia
nas prticas de demisso (Cf.
Troyanno, 1991.
E isso j nos introduz ao ncleo
mesmo da questo. Pois essa soci-
edade civil por assim dizer
inacabada, se projeta por inteiro na
pauperizao que define o hori-
zonte mais do que provvel de
parcelas majoritrias aos trabalha-
dores integrados no mercado de
trabalho. Com exceo talvez de
um segmento mais qualificado,
mais valorizado e mais preservado
em seus empregos, uma ampla
maioria dos trabalhadores tem uma
trajetria regida pela insegurana,
pela instabilidade e mesmo preca-
riedade nos vnculos que chegam a
estabelecer com o trabalho
1
. So
trabalhadores que transitam o tem-
po todo entre empresas diferentes,
que permanecem muito pouco tem-
po nos empregos que conseguem,
que tm, por isso mesmo, poucas
chances de se fixar em profisses
ou ocupaes definidas e que esto
sempre, real ou virtualmente,
tangenciando o mercado informal
atravs do trabalho irregular e pre-
crio como alternativa de sobrevi-
vncia nas circunstncias de de-
semprego prolongado. O que cha-
ma a ateno nisso tudo a vign-
cia de um padro de funcionamen-
to do mercado de trabalho que no
1. As questes apresentadas a seguir, bem
como a base emprica que as sustenta, foram
apresentadas e desenvolvidas in: TELLES,
Vera da Silva. A cidadania inexistente: inci-
vilidade e pobreza. So Paulo: Tese (Douto-
rado) Universidade de So Paulo, 1992.
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
preserva, expulsa e, no limite,
dilapida o potencial produtivo da
fora de trabalho. isso certamen-
te a contrapartida de um capitalis-
mo que construiu um padro hist-
rico de acumulao sustentado
numa fora de trabalho barata,
abundante e facilmente
substituvel. Mas isso sobretudo
revelador de uma trama social que
se abre com dificuldades para a
mediao representativa de inte-
resses. E isso importante de se
notar. aqui que se especifica a
pobreza como algo que diz respei-
to no apenas legio dos miser-
veis, esses que j ultrapassaram o
que se convencionou definir como
linha da pobreza. A pobreza no
simplesmente fruto de circunstn-
cias que afetam determinados indi-
vduos (ou famlias) desprovidos
de recursos que o qualifiquem para
o mercado de trabalho. O
pauperismo est inscrito nas regras
que organizam a vida social. isso
que permite dizer que a pobreza
no e apenas uma condio de ca-
rncia, passvel de ser medida por
indicadores sociais. antes de mais
nada uma condio de privao de
direitos, que define formas de exis-
tncia e modos de sociabilidade.
Parece claro que salrios baixos,
instabilidade, desemprego e
subemprego so circunstncias
geradoras de pauperizao. Porm
esta no significa apenas degrada-
o de condies materiais de vida.
Pois esses trabalhadores que pas-
sam de um emprego a outro, que
tm trajetrias descontnuas, mar-
cadas pelo desemprego e pelas al-
ternativas de trabalho fora das re-
gras formais de contrato, no limite,
perdem o estatuto mesmo de traba-
lhador, em funo desse perma-
nente curto-circuito que o mercado
produz no vnculo que chegam a
estabelecer com o trabalho. Pre-
sentes no mercado de trabalho, suas
identidades no se completam in-
teiramente, j que privados dessa
espcie de acabamento simblico
implicado no exerccio de direitos
e na prtica da representao sindi-
cal, acabamento simblico que
constri parmetros de semelhan-
a, identificao e reconhecimen-
to. Sem essa mediao representa-
tiva - representativa no duplo sen-
tido - em um mercado que desfaz,
o tempo todo, a trama por onde
identidades se completam ou po-
deriam se completar nas formas de
seu reconhecimento, esses traba-
lhadores, se j no esto efetiva-
mente, esto sempre no limiar des-
sa fronteira alm da qual ganham
forma as figuras de uma pobreza
incivil. Figuras estas que acionam
um imaginrio coletivo que asso-
cia desordem, violncia e crime a
essa gente percebida sem lugar na
sociedade.
Nisso se explicita o sentido mais
perverso de uma tradio de cida-
dania fundada no trabalho regular
e regulamentado por lei, como con-
dio de acesso aos direitos soci-
ais. A posse de uma carteira de
trabalho, mais do que uma evidn-
cia trabalhista, opera como uma
espcie de rito de passagem para a
existncia civil. Rito de passagem
que revela o que Bourdieu define
como poder simblico de nomea-
o, que cria identidades sociais,
que faz indivduos, grupos ou clas-
ses existirem socialmente, que lhes
atribui um modo de ser em socie-
dade, mas que no mesmo ato, joga
para uma existncia bastarda,
indiferenciada, todos os que no
foram ungidos pelo poder do nome.
Na tradio brasileira, a regra for-
mal que prescreve o acesso aos
direitos sociais desdobra-se em algo
como uma lei moral que julga a
pertinncia do indivduo na vida
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
em sociedade, o seu direito a exis-
tir socialmente e a ser reconhecido
como cidado: para ter direitos e
acesso a uma existncia legtima, o
indivduo tem que provar ser um
trabalhador responsvel, com uma
trajetria ocupacional identificvel
em seus registros, persistente na
vida laboriosa e cumpridor de seus
deveres. De que isso seja
consubstanciai a essa espcie de
"ritual de instituio", criador de
identidades sociais legtimas e re-
conhecidas, prova a suspeita que
recai sobre todos os que no apre-
sentam os credenciais de reconhe-
cimento e que tm, por isso mes-
mo, uma existncia social
indiferenciada na sua ilegitimida-
de, sempre sujeitos represso
policial. De que isso fornea os
critrios e categorias atravs dos
quais as diferenas sociais so per-
cebidas e julgadas na vida social
prova a aceitao tcita na socie-
dade brasileira da carteira de traba-
lho como sinal de uma respeitabi-
lidade e honestidade que redime o
trabalhador do estigma da pobreza.
De que isso, ainda, componha os
horizontes simblicos do mundo
social, prova essa curiosa expres-
so popular do "procurar os direi-
tos". No universo cultural popular,
os direitos so percebidos como
prerrogativa exclusiva daqueles
que, por oposio aos que "no so
direitos", se sabem bons cidados
porque trabalham honestamente,
cumprem suas obrigaes, tm fi-
cha limpa na polcia e carteira de
trabalhado assinada (Cf. Caldeira,
1984).
Singular percepo dos direitos essa
que no traduz uma conscincia
cidad, mas que formulada nos
termos do dever e da prescrio
moral, no que se explicita uma
experincia histrica de cidadania
que foi escrita em negativo, que
define o cidado pela ordem de
suas obrigaes e que contm na
prpria enunciao dos direitos, o
princpio da criminalizao.
A perda do estatuto de trabalhador
significa a perda do estatuto de
cidadania. Aqui, se faz notar a ou-
tra ponta em que uma experincia
de cidadania que no conjugada
com direitos civis, mostra seus efei-
tos. curioso perceber como os
avanos das lutas sociais no pas
no corresponderam a movimen-
tos pela defesa dos direitos civis. J
se notou que no imaginrio coleti-
vo, os direitos sociais so especial-
mente valorizados, sem que o mes-
mo ocorra com os direitos indivi-
duais. Estes, quando no so sim-
plesmente desconhecidos, so per-
cebidos numa lgica muito peculi-
ar, no registro do privilgio dos que
detm posies de poder na socie-
dade. Da essa expresso - "a justi-
a coisa de rico" - to corriqueira
no universo popular. Mas da tam-
bm o espantoso deslizamento que
sofre o discurso dos direitos huma-
nos quando este ganha a cena p-
blica, entrando em um terreno mi-
nado em que experincia, tradi-
es e o imaginrio se encontram
para decodificar os direitos civis
nos termos de uma defesa do crime
e dos criminosos, na percepo de
que esses direitos nada mais ser-
vem do que para acobertar a impu-
nidade e defender aqueles que no
merecem mais do que a represso
aberta e a punio exemplar (Cf.
Caldeira, 1991). Certamente, isso
tem a ver com uma experincia
histrica que se fez ao revs da
tradio liberal da equivalncia
jurdica formal e que construiu a
figura do indivduo, base da mo-
derna concepo de direitos. A ri-
gor, este no tem lugar na socieda-
de brasileira, j que sua identidade
atribuda pelo vnculo profissio-
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
nal sacramentado pela lei e que o
qualifica para o exerccio dos di-
reitos. Porm, talvez o mais impor-
tante, que isso traduz a matriz
histrica de uma sociedade que
no foi submetida revoluo igua-
litria de que falava Tocqueville e
na qual as leis, ao contrrio dos
modelos clssicos conhecidos, no
foram feitas para dissolver, mas
para preservar privilgios dos "do-
nos do poder" (Cf. Da Matta, 1987;
Chau, 1987). Essa matriz histri-
ca, sempre reatualizada na histria
brasileira e isso ainda hoje, se tra-
duz numa experincia da legalida-
de que se faz como experincia do
arbtrio, nos usos autoritrios da lei
que, ao invs de igualar e garantir
direitos, utilizada freqentemente
como instrumento de sujeio, re-
pondo hierarquias onde deveriam
prevalecer os valores modernos da
igualdade e da justia.
Numa sociedade que instituiu a
experincia inslita do arbtrio le-
gal (Cf. Chau, 1987), obstruda a
construo da lei como referncia
- referncia real, referncia simb-
lica - de uma igualdade prometida
para todos, alimentando a crena
na capacidade da legalidade de di-
rimir conflitos, impor limites ao
arbtrio do poder e garantir as reci-
procidades que a noo de igualda-
de supe. Sem isso, difcil
imagi-nar o surgimento de uma
cultura cvica e de movimentos
pela defesa de direitos civis.
Poder-se-ia dizer que nessa
equao entre cidadania e civismo
que no se realiza, se aloja boa
parte das dificuldades de
enraizamento da democracia
brasileira nas prticas sociais, nas
dificuldades que isso introduz para
a generalizao de uma conscin-
cia de direitos.
Mas aqui tambm que se esclare-
ce o drama desse trabalhador que,
perdendo o vnculo formal com o
trabalho, perde seu lugar na socie-
dade: no trabalhador, no cida-
do e no tem existncia civil. Se-
ria possvel argumentar que, ape-
sar de representarem uma parcela
considervel - e crescente, nesses
anos de recesso - da populao
trabalhadora, esto longe de cons-
titurem uma maioria, ao menos
numa cidade como So Paulo, ca-
racterizada por um mercado de tra-
balho estruturado e onde o vnculo
formal de trabalho predomina (ain-
da predomina) de modo inequvo-
co. Porm, se a referncia a esses
trabalhadores interessa, porque,
no seu paroxismo, pem em foco a
dinmica de uma sociedade que,
no limite, joga as maiorias numa
espcie de estado de natureza. Ao
contrrio, portanto, da imagem -
imagem recorrente na tradio bra-
sileira - de uma oposio entre
Brasil legal e Brasil real, no se
trata de leis que no funcionam e
que so como que revogadas soci-
ologicamente por uma realidade
que no se ajusta racionalidade
abstrata das regras formais. Pois
excluses e hierarquias so repos-
tas no modo mesmo como a legali-
dade se institui na sociedade brasi-
leira. Em outros termos, na pr-
pria experincia do mundo pblico
da lei, que o trabalhador destitu-
do dos credenciais de reconheci-
mento, transfigurado nas ima-
gens do pobre inferior - e, para
muitos, do pobre incivil.
Se possvel falar de um estado de
natureza, no porque aqui vigo-
ram a violncia e a desordem, sen-
do estas, nunca demais enfatizar,
imagens que se desenham num
horizonte simblico que atualiza a
persistente tradio de
criminalizao da pobreza e, por
essa via, produz as evidncias que
alimentam a certeza de que o "po-
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
bre" no est credenciado para a
vida civilizada. Esse estado de na-
tureza diz respeito a um mundo
social no qual os direitos no exis-
tem como regra de sociabilidade;
um mundo no qual a Justia no
existe como instncia conhecida e
reconhecida na sua capacidade de
dirimir conflitos e garantir direitos
nas circunstncias de quebra das
regras da equidade; um mundo so-
cial no qual a lei no existe como
referncia a partir da qual os sofri-
mentos cotidianos possam ser tra-
duzidos (e desprivatizados) na lin-
guagem pblica da igualdade e da
justia. Um mundo no qual a sobre-
vivncia cotidiana depende intei-
ramente dos recursos materiais, das
energias morais e das solidarieda-
des que cada qual capaz de mobi-
lizar e que se organiza em torno de
princpios inteiramente projetados
da vida privada, com suas lealda-
des e fidelidades pessoais, com
seus vnculos afetivos e sua teia
multifacetada de identificaes e
sociabilidade.
aqui que se determina toda a
importncia que a famlia, ainda
hoje no Brasil moderno, ocupa nas
formas de vida das classes traba-
lhadoras. Numa sociedade que no
abre lugar para o indivduo e o
cidado, uma sociedade na qual a
insegurana, a violncia e a incivi-
lidade so a regra da vida social,
em torno da famlia que homens e
mulheres constroem uma ordem
plausvel de vida: espao que a
viabiliza a sobrevivncia cotidiana
atravs do esforo coletivo de to-
dos os seus membros; espao no
qual constroem os sinais de uma
respeitabilidade que neutraliza o
estigma da pobreza; espao ainda
no qual elaboram um sentido de
dignidade que compensa moral-
mente as adversidades impostas
pelos salrios baixos, pelo trabalho
instvel e pelo desemprego peri-
dico.
No ponto em que os imperativos da
sobrevivncia se encontram com
as regras culturais que organizam
modos de vida, se estrutura um
universo moral que faz da famlia
algo como uma garantia tica num
mundo em que tudo parece amea-
ar as possibilidades de uma vida
digna. A valorizao da "famlia
unida", to presente no universo
popular, pode ser tomado como
indicao nesse sentido. O material
etnogrfico hoje disponvel mostra
que a casa limpa e bem cuidada,
atributos associados a uma famlia
organizada em suas hierarquias
internas, constroem as referncias
tangveis a partir dos quais homens
e mulheres se reconhecem como
sujeitos morais, capazes de fazer
frente s adversidades da vida e,
"apesar da pobreza", garantir uma
dignidade e respeitabilidade, que
os diferenciam moralmente dos que
foram pegos pela "maldio da
pobreza", que sucumbiram diante
dos azares do destino, que vivem
deriva dos acasos da vida, sem
conseguir estruturar suas vidas em
torno do trabalho regular e da fam-
lia organizada (Cf. Caldeira, 1984;
Zaluar, 1985). nesse jogo ambi-
valente de identificaes e diferen-
ciaes que so construdas as fi-
guras do "pobre porm honesto" e
do "trabalhador responsvel" por-
que cumpridor de seus deveres e
compromissos familiares. Mais do
que a incorporao evidente dos
estigmas da pobreza, chama aten-
o nisso tudo a construo de uma
ordem de vida inteiramente proje-
tada das reciprocidades morais da
vida privada. nisso que se faz ver
os sinais de uma privatizao de
experincias que no conseguem
ser formuladas na linguagem p-
blica dos direitos. Aqui, a privao
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
de direitos transparece por inteiro
num horizonte simblico de causa-
lidades e responsabilidades que
transfere para a ordem moral pri-
vada as condies de possibilidade
de uma vida "bem sucedida".
A importncia da famlia como
ordem de vida coloca algumas
questes para serem discutidas.
Mostra que direitos, lei e cidadania
dizem respeito a algo mais do que
os problemas da engenharia
institucional da qual depende uma
forma de governo. Inscrevem-se
por inteiro nos modos de existn-
cia, nas formas de vida e nas regras
da sociabilidade, no modo como
identidades so construdas e per-
cebidos os lugares simblicos de
pertinncia na vida social. por
esse ngulo que se faz notar os
efeitos dessa peculiar experincia
de cidadania que no generaliza
direitos, que no chega a plasmar
as regras da civilidade e os termos
de identidades cidads. preciso
que se diga, tambm, que por esse
ngulo que se pode identificar o
ineditismo das lutas sociais recen-
tes, ineditismo pelo que rompem
ou prometem romper com o peso
dessa tradio enraizada na din-
mica mesmo da sociedade, mon-
tando referncias identificatrias e
construindo uma teia representati-
va por onde circulam reivindica-
es e por onde homens e mulheres
podem virtualmente se reconhe-
cer, para usar os termos de Hannah
Arendt, no seu direito a ter direitos.
por esse ngulo, enfim, que a
sociedade brasileira contempor-
nea se abre percepo de todas as
suas ambivalncias, numa promes-
sa de modernidade capaz de rede-
finir direitos, lei e justia como
parmetro nas relaes sociais e
que convive, numa combinao por
vezes desconcertante, com privil-
gios, excluses e discriminaes
que carregam o peso de toda uma
tradio histrica. Seja como for,
na dinmica mesmo da sociedade,
dinmica feita na interseo entre
a lei e a cultura, a norma e as
tradies, a experincia e o imagi-
nrio, que se circunscreve a pobre-
za como condio de existncia.
Para retomar as questes aqui dis-
cutidas, nesse ponto em que direi-
tos (ou melhor, a inexistncia de-
les) afetam formas de vida, a ques-
to da famlia pode esclarecer algo
do drama da pobreza, para alm
das referncias genricas aos sal-
rios baixos, ao desemprego e ao
trabalho instvel.
Em primeiro lugar, no que se refere
s condies materiais de vida, a
importncia da famlia pe em foco
o frgil equilbrio em que esto
estruturadas as condies da vida
familiar. Qualquer "acaso", seja o
desemprego ou a deteriorao das
condies de salrio e trabalho,
seja a doena, a invalidez ou a
morte dos provedores principais,
pode jogar as famlias nas frontei-
ras da misria. Em outras palavras,
se a sobrevivncia cotidiana de-
pende de um esforo coletivo, as
condies vigentes no mercado (e
na sociedade) terminam por desfa-
zer - real ou virtualmente - a efic-
cia possvel das estratgias famili-
ares. isso que permite dizer que
a insegurana elemento definidor
de formas de vida. isso sobretudo
que permite dizer que as histrias
familiares transcorrem nessa
liminaridade, em que a ameaa da
misria no significa apenas de-
gradao de condies de vida,
mas se projeta no horizonte dessa
pobreza incivil que fornece a or-
dem das razes para toda a suspeita
que recai sobre suas vidas, de tal
forma que a batalha pela sobrevi-
vncia e tambm esforo, sempre
reiterado, para garantir uma digni-
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
dade ameaada. Talvez por a se
tenha uma chave para compreen-
der a valorizao da famlia unida,
bem como as figuras do "pobre
honesto" e do "trabalhador respon-
svel" que povoam o universo po-
pular. So valores e representaes
que prescrevem as fronteiras do
que homens e mulheres percebem
como uma ordem legtima de vida.
Mas que tambm podem ser toma-
dos como sinais de uma experin-
cia de insegurana e de ameaa
constante de pauperizao que fi-
cam sem palavras para serem no-
meadas fora de um sentido de des-
tino construdo na dimenso priva-
da da vida social.
E isso j nos introduz a uma segun-
da questo. Sabe-se que as necessi-
dades da sobrevivncia terminam
por mobilizar todos os membros
familiares para o mercado de tra-
balho. Isso pode parecer uma
obviedade, tal a evidncia dos fa-
tos. Mas h nisso algo mais do que
uma simples trivialidade. Pois na
ausncia de direitos que garantam
poder de barganha no mercado de
trabalho, ou seja, salrios decentes
e garantias de emprego, na ausn-
cia de polticas sociais que garan-
tam a sobrevivncia nas situaes
de desemprego, mas tambm de
doena, de invalidez e de velhice,
nessas circunstncias todos - ho-
mens e mulheres, adultos, crianas
e velhos - so virtualmente trans-
formados em fora de trabalho ati-
va no mercado. certo que para a
entrada no mercado de trabalho
no h a compulso cega e muda
das necessidades. Alm dos limi-
tes prprios ao ciclo vital de cada
um, atuam disposies normativas,
normas culturais e valores morais
que definem a disponibilidade de
cada um para o mercado. Seja
como for, o processo de
proletarizao mobiliza a famlia
como coletivo,
sem que haja regras que definam as
condies de entrada e sada do
mercado. Os nicos limites so
dados por essa esfera em que natu
reza e cultura se encontram na cons
tituio da famlia como espao de
sobrevivncia, mas tambm de so-
ciabilidade e construo de identi
dades. Limites, portanto, fora, de
um espao propriamente civil, es
pao construdo pelo "artifcio hu
mano" que so as leis e os direitos
que regem - ou deveriam reger - a
vida social, fornecendo ao mesmo
tempo os parmetros e a medida a
partir da qual situaes de vida e
trabalho possam ser
problematizadas e julgadas nas suas
exigncias de equidade. E esse o
ponto sobre o qual valeria se deter.
Sabemos que a teia de desigualda-
des e excluses plasmadas no mer-
cado afeta diferenciadamente ho-
mens e mulheres, adultos, jovens e
crianas, numa lgica em que a
privao de direitos se articula com
estigmas de sexo e idade (e outros,
como os de cor e origem) que
sedimentam diferenas em discri-
minaes diversas. Sabemos tam-
bm que so inmeras as clivagens
de qualificao e salrio produzi-
das por um processo de trabalho
que diferencia e hierarquiza a fora
de trabalho sob critrios no mais
das vezes arbitrrios, mas regidos
por uma razo disciplinadora. No
entanto, na ausncia de uma medi-
da possvel de equivalncia entre
situaes diversas, medida esta que
s poderia ser dada pelos direitos,
medida portanto que s poderia
existir por referncia aos valores
de justia e igualdade, as desigual-
dades e discriminaes se pulveri-
zam em diferenciaes que pare-
cem nada mais do que corresponder
aos azares de cada um e s diferen-
as naturais de vocao, talento,
capacidade e disposio para o tra-
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
balho. Nesse caso, o chamado mer-
cado informal elucidativo: esse
um mundo que parece flutuar ao
acaso de circunstncias sem
explicitar suas relaes com as es-
truturas de poder e dominao na
sociedade, um mundo onde no
existe contrato formal de trabalho,
direitos sociais e representao pro-
fissional, um mundo, portanto, sem
medida por onde necessidades e
interesses possam se universalizar
como demandas e reivindicaes
coletivas.
Porm, nem por isso a experincia
que esses homens e mulheres fa-
zem da sociedade se fecha per-
cepo de uma injustia inscrita
em suas vidas. Num certo sentido,
a importncia da famlia e dos c-
digos morais que estruturam suas
vidas, podem ser tomados como
sinal de uma privatizao que pa-
rece fix-los no mundo das dife-
renas e hierarquias naturais. No
entanto, esse um mundo que no
se fecha inteiramente como natu-
reza. Diante do destino comum do
"ser pobre", h a percepo de um
espao de autonomia no qual atra-
vs da ao, deliberao e
discernimento podem se afirmar e
se reconhecer como sujeitos que,
pelas suas qualidades e virtudes
morais, so capazes de contornar
as adversidades da vida. Se a tica
moral predomina, isso no seria
possvel sem uma noo de indiv-
duo capaz de deliberao e esco-
lha. nesse modo de se perceber
nas virtualidades de um sujeito
moral que a experincia da pobre-
za se abre a percepo de uma
injustia instalada no mundo. Mas
uma injustia percebida do ponto
de vista da moralidade pessoal.
Aparece como ruptura das recipro-
cidades morais que se espera numa
vida em sociedade, ruptura vivida
no esforo no recompensado, no
trabalho que no valorizado, na
remunerao que no corresponde
dignidade de um chefe de fam-
lia, nas autoridades que tratam o
trabalhador honesto como margi-
nal, no desrespeito e descaso que
recebem em troca do "dever cum-
prido", na polcia que confunde o
trabalhador com o bandido, na lei
que penaliza os fracos e protege os
poderosos, na justia que no fun-
ciona, que condena os desgraados
da sorte e deixa impunes os crimi-
nosos.
Impossvel, aqui, deixar de comen-
tar que, se existe alguma relao
entre pobreza e criminalidade, esta
relao est configurada em uma
sociedade que rompe, o tempo todo,
com o que se poderia chamar, tal-
vez com alguma impreciso, de
um pacto social implcito que cons-
tri um sentido de pertinncia e d
uma medida de plausibilidade
vida em sociedade. Essa uma
questo que se coloca abertamente
para os mais jovens, que se lanam
no mercado de trabalho sem en-
contrar muitas alternativas alm
do trabalho desqualificado, inst-
vel e precrio, que so duramente
atingidos pelo desemprego, que so
vistos com suspeita, sendo alvo
privilegiado da violncia policial,
precisamente porque no carregam
os sinais de respeitabilidade asso-
ciados ao "trabalhador honesto" e
"chefe de famlia responsvel". As
pesquisas mostram, de fato, que
nessa difcil passagem para a mai-
oridade que a delinqncia se colo-
ca no horizonte desses jovens que
no enxergam muitas possibilida-
des de organizar suas vidas em
torno de um trabalho promissor e
para os quais, ainda, a famlia est
distante de se constituir nessa esp-
cie de recompensa moral aos "tem-
pos difceis" (Cf. Zaluar, 1985).
No interior da famlia, a
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
ambivalncia inscrita na trajetria
desses jovens transparece, por in-
teiro, no temor que homens e mu-
lheres manifestam quanto ao de-
semprego e subemprego de seus
filhos, situaes percebidas como
fonte de ameaa de desestruturao
de um projeto de vida que se orga-
niza quase que exclusivamente nes-
sa frgil - e difcil - relao entre o
trabalho regular e a famlia organi-
zada.
Seja como for, se a experincia que
fazem da sociedade existe como
insegurana, quando no de vio-
lncia, aqui, nesse registro, da rup-
tura das reciprocidades esperadas
na vida social, aparece como de-
sordem. Desordem que desestrutura
estratgias de vida atravs das quais
buscam conferir dignidade s suas
vidas. Desordem, tambm e sobre-
tudo, que rompe com os equilbrios
morais projetados da vida privada
e por onde imaginam uma ordem
social justa que retribua a cada um
conforme o seu valor e o seu esfor-
o. O problema aqui no a exis-
tncia de uma noo de justia
pensada nos termos das reciproci-
dades morais, mesmo porque esse
o substrato de toda reivindicao
por igualdade e justia. O proble-
ma est na dificuldade de investir a
esperana de justia na esfera mun-
dana das leis e traduzi-las na lin-
guagem pblica dos direitos, como
exigncia coletiva que cobra da
sociedade suas responsabilidades
nas circunstncias que afetam suas
vidas. No de estranhar, portanto,
que no imaginrio popular as ex-
pectativas de justia sejam
transferidas para a idia de um
governo forte e onisciente, capaz
de ouvir as necessidades dos mais
fracos e restaurar os equilbrios
desfeitos pela ganncia dos ricos e
abuso dos poderosos. As pesquisas
mostram que as imagens de um
governo justiceiro traduzem uma
noo de justia que se elabora no
interior de um universo moral e se
articula com as esperanas de re-
deno alimentadas na crena em
uma Providncia, instrumento do
Bem e da Justia no mundo dos
homens. nessa articulao que se
ergue a expectativa de que surja
uma vontade generosa, capaz de
resolver o paradoxo tico da virtu-
de no recompensada e da vitria
da injustia, restaurando os equil-
brios morais desfeitos pela malda-
de, avareza e ganncia dos homens
(Cf. Montes, 1983). Como parece
claro, a tradio tutelar brasileira
encontra ressonncia nesse univer-
so cultural, de tal modo que no
deveria causar estranheza o
surgimento peridico na nossa his-
tria, incluindo os anos mais re-
centes, de figuras pblicas trans-
formadas em "heris salvadores",
da mesma forma que no deveria
causar espanto o apelo popular que,
ainda hoje, no Brasil moderno, tem
o discurso populista.
Arcasmos da sociedade brasilei-
ra? Talvez. Porm, seria mais pro-
dutivo pensar que o problema no
est num suposto atraso e
tradicionalismo das classes popu-
lares, que esse arcasmo, se que
faz sentido colocar nesses termos,
est alojado no interior de uma
modernidade incompleta, travada,
que no se realiza plenamente, no
sentido da constituio de uma so-
ciedade na qual homens e mulhe-
res pudessem descobrir o sentido
do espao pblico como espao no
qual a igualdade e a justia se
realizam na prtica democrtica da
permanente e reiterada negocia-
o.
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
Referncias
bibliogrficas
CALDEIRA, Teresa.
1984 A poltica dos outros. O cotidiano
dos moradores da periferia e o que
pensam do poder e dos poderosos. So
Paulo: Brasiliense.
TROYANNO, Annez Andraus.
1991 Flexibilidade do emprego
assalariado. So Paulo em Perspectiva,
So Paulo, n.5, p.84-95, abr./jun.
ZALUAR.Alba.
1985 A mquina e a revolta: as
organizaes populares e o significado da
pobreza. So Paulo: Brasiliense.
21
1991 Direitos humanos ou "privilgio"
de bandidos? Novos Estudos CEBRAP.
So Paulo, n.30, p.162-174, jul.
CHAU, Marilena. 1987 Conformismo e
resistncia: aspectos da cultura popular
no Brasil. 2.ed. So Paulo: Brasiliense.
CARVALHO, Rui Castro, SCHMIT,
Hubert.
1990 O fordismo est vivo no Brasil.
Novos Estudos CEBRAP, So Paulo,
n.27,p.l48-156, jul.
DA MATTA, Roberto.
1987 A casa e a rua: espao,
cidadania, mulher e morte no Brasil. So
Paulo: Brasiliense.
GUIMARES, Antonio Sergio, CASTRO,
Nadya Araujo.
1990 Trabalho, sindicalismo e
reconverso industrial no Brasil dos anos
90. Lua Nova. Revista de Cultura e
Poltica, So Paulo, n.22, p.207-228,
dez.
MONTES, Maria Lcia. 1983 Lazer e
ideologia: a representa-o do social e do
poltico na cultura popular. So Paulo:
Tese (Doutorado) Universidade de So
Paulo.
TELLES, Vera da Silva. 1992 A
cidadania inexistente:
incivilidade e pobreza. So
Paulo: Tese (Doutorado)
Universidade de So Paulo.
Você também pode gostar
- Sociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instanteNo EverandSociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instanteAinda não há avaliações
- Ganchos, Tachos e Biscates: jovens, trabalho e futuroNo EverandGanchos, Tachos e Biscates: jovens, trabalho e futuroAinda não há avaliações
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Direitos humanos em tempos de barbárie: Questionar o presente para garantir o futuroNo EverandDireitos humanos em tempos de barbárie: Questionar o presente para garantir o futuroAinda não há avaliações
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- Teoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990No EverandTeoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990Ainda não há avaliações
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- Direitos Humanos no Contexto Atual: Desafios em efetivar o positivadoNo EverandDireitos Humanos no Contexto Atual: Desafios em efetivar o positivadoAinda não há avaliações
- Juventudes: violência, biocultura, biorresistênciaNo EverandJuventudes: violência, biocultura, biorresistênciaSilvia Helena Simões BorelliAinda não há avaliações
- Quando Arte e Cultura falam em Desenvolvimento:: Atores Sociais e Experiências do Mundo Rural no Noroeste MineiroNo EverandQuando Arte e Cultura falam em Desenvolvimento:: Atores Sociais e Experiências do Mundo Rural no Noroeste MineiroAinda não há avaliações
- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresNo EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresAinda não há avaliações
- Deslocamentos: desafios, territórios e tensões: (passado e presente nas Tecituras das Cidades)No EverandDeslocamentos: desafios, territórios e tensões: (passado e presente nas Tecituras das Cidades)Ainda não há avaliações
- O Indivíduo Urbano: cotidiano, resistência e políticas públicas em pequenas cidadesNo EverandO Indivíduo Urbano: cotidiano, resistência e políticas públicas em pequenas cidadesAinda não há avaliações
- A formação da agricultura familiar no país da grande lavoura: as mãos que alimentam a naçãoNo EverandA formação da agricultura familiar no país da grande lavoura: as mãos que alimentam a naçãoAinda não há avaliações
- BNCC e influências neoliberais: Base Nacional Comum Curricular e as influências neoliberais na sua construçãoNo EverandBNCC e influências neoliberais: Base Nacional Comum Curricular e as influências neoliberais na sua construçãoAinda não há avaliações
- Políticas Públicas de Qualificação Profissional & EJA: Dilemas e Perspectivas IINo EverandPolíticas Públicas de Qualificação Profissional & EJA: Dilemas e Perspectivas IIAinda não há avaliações
- Políticas públicas e transformações sociais contemporâneasNo EverandPolíticas públicas e transformações sociais contemporâneasAinda não há avaliações
- Justiça, prisão e criminalização midiática no BrasilNo EverandJustiça, prisão e criminalização midiática no BrasilAinda não há avaliações
- Empresariamento da Vida: A Função do Discurso Gerencialista nos Processos de Subjetivação Inerentes à Governamentalidade NeoliberalNo EverandEmpresariamento da Vida: A Função do Discurso Gerencialista nos Processos de Subjetivação Inerentes à Governamentalidade NeoliberalAinda não há avaliações
- O Infiltrado: Benedicto Galvão: A Trajetória do Primeiro Presidente Negro da OAB/SP (1881 – 1943)No EverandO Infiltrado: Benedicto Galvão: A Trajetória do Primeiro Presidente Negro da OAB/SP (1881 – 1943)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Educação em perspectiva crítica: inquietudes, análises e experiênciasNo EverandEducação em perspectiva crítica: inquietudes, análises e experiênciasAinda não há avaliações
- Repercussões das políticas de inclusão na formação docenteNo EverandRepercussões das políticas de inclusão na formação docenteAinda não há avaliações
- Mulheres e política no Brasil: um manual prático de enfrentamento à desigualdade de gêneroNo EverandMulheres e política no Brasil: um manual prático de enfrentamento à desigualdade de gêneroAinda não há avaliações
- História, educação e transformação: tendências e perspectivas para a educação pública no BrasilNo EverandHistória, educação e transformação: tendências e perspectivas para a educação pública no BrasilAinda não há avaliações
- Técnicas e políticas de si nas margens, seus monstros e heróis, seus corpos e declarações de amorNo EverandTécnicas e políticas de si nas margens, seus monstros e heróis, seus corpos e declarações de amorAinda não há avaliações
- Êxito Escolar e Ascensão Social de Pessoas de Origem Popular: Narrativas, Estudos de Caso e Aportes Teórico-MetodológicosNo EverandÊxito Escolar e Ascensão Social de Pessoas de Origem Popular: Narrativas, Estudos de Caso e Aportes Teórico-MetodológicosAinda não há avaliações
- 30 Anos Do Estatuto Da Criança E Do AdolescenteNo Everand30 Anos Do Estatuto Da Criança E Do AdolescenteAinda não há avaliações
- Rito, poder e socialização: Um trabalho com meninos de ruaNo EverandRito, poder e socialização: Um trabalho com meninos de ruaAinda não há avaliações
- Do perigo ao risco: A gestão e o controle da juventude no sistema socioeducativo de São PauloNo EverandDo perigo ao risco: A gestão e o controle da juventude no sistema socioeducativo de São PauloAinda não há avaliações
- Triângulo rosa: Um homossexual no campo de concentração nazistaNo EverandTriângulo rosa: Um homossexual no campo de concentração nazistaAinda não há avaliações
- Desigualdade, Diferença, Política: Análises Interdisciplinares em Tempos de PandemiasNo EverandDesigualdade, Diferença, Política: Análises Interdisciplinares em Tempos de PandemiasAinda não há avaliações
- BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais Da CiênciaDocumento43 páginasBOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais Da CiênciaDenise EldochyAinda não há avaliações
- A Revista Brasileira e a História da Divulgação da Ciência no Brasil OitocentistaNo EverandA Revista Brasileira e a História da Divulgação da Ciência no Brasil OitocentistaAinda não há avaliações
- 100 Anos da Revolução de Outubro (1917 – 2017): Balanços e PerspectivasNo Everand100 Anos da Revolução de Outubro (1917 – 2017): Balanços e PerspectivasAinda não há avaliações
- Manifestações e protestos no Brasil: Correntes e contracorrentes na atualidadeNo EverandManifestações e protestos no Brasil: Correntes e contracorrentes na atualidadeAinda não há avaliações
- Metamorfoses do mundo contemporâneoNo EverandMetamorfoses do mundo contemporâneoCecília Pescatore AlvesAinda não há avaliações
- Contradições que movem a História do Brasil e do Continente Americano: Diálogos com Vito LetíziaNo EverandContradições que movem a História do Brasil e do Continente Americano: Diálogos com Vito LetíziaAinda não há avaliações
- A poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoNo EverandA poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoAinda não há avaliações
- Fernando de Azevedo em releituras: Sobre lutas travadas, investigações realizadas e documentos guardadosNo EverandFernando de Azevedo em releituras: Sobre lutas travadas, investigações realizadas e documentos guardadosAinda não há avaliações
- O Federalismo Fiscal a partir da Análise do Sistema Financeiro Nacional: e sua Relação com a Eficiência na Gestão Pública MunicipalNo EverandO Federalismo Fiscal a partir da Análise do Sistema Financeiro Nacional: e sua Relação com a Eficiência na Gestão Pública MunicipalAinda não há avaliações
- Um diagnóstico da educação brasileira e de seu financiamentoNo EverandUm diagnóstico da educação brasileira e de seu financiamentoAinda não há avaliações
- Esportes, lazer e vigilância: entre discursos e segurança públicaNo EverandEsportes, lazer e vigilância: entre discursos e segurança públicaAinda não há avaliações
- Relações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais da Diferença: Diálogos InterdisciplinaresNo EverandRelações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais da Diferença: Diálogos InterdisciplinaresAinda não há avaliações
- As Adolescências Periféricas:: Uma Pesquisa-Ação Integral/TranspessoalNo EverandAs Adolescências Periféricas:: Uma Pesquisa-Ação Integral/TranspessoalAinda não há avaliações
- TRS 50 AnosDocumento899 páginasTRS 50 AnosRaíssa Lopes100% (1)
- Economia de RondôniaDocumento7 páginasEconomia de RondôniaVINICIUS DANTAS SILVEIRAAinda não há avaliações
- Separacao Dos PoderesDocumento10 páginasSeparacao Dos PoderesrodolfoarrudaAinda não há avaliações
- Notas Modernidade Holocausto Bauman ResenhaDocumento20 páginasNotas Modernidade Holocausto Bauman ResenharodolfoarrudaAinda não há avaliações
- Antropologia Urbana Sociologia Urbana Aula 03Documento10 páginasAntropologia Urbana Sociologia Urbana Aula 03rodolfoarrudaAinda não há avaliações
- Educacao Mulheres Genero EbookDocumento334 páginasEducacao Mulheres Genero EbookrodolfoarrudaAinda não há avaliações
- Avaliação Aplicador - II Bimestre - PortuguêsDocumento6 páginasAvaliação Aplicador - II Bimestre - PortuguêsJucelia Costa100% (1)
- Ecologia No ENEMDocumento36 páginasEcologia No ENEMpauloAinda não há avaliações
- Como Abrir Uma Empresa JúniorDocumento17 páginasComo Abrir Uma Empresa JúniorRoselir RibeiroAinda não há avaliações
- Despesas Com TiDocumento6 páginasDespesas Com TiTúlio Marcel FigueiredoAinda não há avaliações
- PL de Reestruturação Das Forças ArmadasDocumento33 páginasPL de Reestruturação Das Forças ArmadasMetropoles100% (3)
- Estatuto Santo AndreDocumento37 páginasEstatuto Santo AndrewilliamfigueiredoAinda não há avaliações
- Rousseau e A Reforma AgráriaDocumento6 páginasRousseau e A Reforma AgráriaEduardo AmaralAinda não há avaliações
- Atrividade 1 Direitos HumanosDocumento2 páginasAtrividade 1 Direitos HumanosFabiana SeveriAinda não há avaliações
- Trabalho Fabricacao Botijao de Gas PDFDocumento9 páginasTrabalho Fabricacao Botijao de Gas PDFleandromcsAinda não há avaliações
- Trabalho Contração Muscular FinalDocumento37 páginasTrabalho Contração Muscular FinalNaillyne GalvãoAinda não há avaliações
- Análise e Simulação Da Recuperação de Energia em Sistemas de Frenagem Regenerativa de Motores de Indução Trifásicos Aplicados A Sistemas de Pontes RolantesDocumento25 páginasAnálise e Simulação Da Recuperação de Energia em Sistemas de Frenagem Regenerativa de Motores de Indução Trifásicos Aplicados A Sistemas de Pontes RolantesJean CarlosAinda não há avaliações
- Milton Bezerra Das Chagas Filho - Tese Ppgep 2005.Documento189 páginasMilton Bezerra Das Chagas Filho - Tese Ppgep 2005.Lucas RamisAinda não há avaliações
- A Pedagogia Social Na Revalorização Do Estatuto Antropológico Do SujeitoDocumento14 páginasA Pedagogia Social Na Revalorização Do Estatuto Antropológico Do Sujeitofreddy211391Ainda não há avaliações
- Avaliação de Geografia: Geovani LimaDocumento2 páginasAvaliação de Geografia: Geovani LimaGEOVANI DA SILVA LIMAAinda não há avaliações
- Deep WebDocumento4 páginasDeep WebLuis CarlosAinda não há avaliações
- Formatacao Padrao TCC UNEMAT 14000Documento31 páginasFormatacao Padrao TCC UNEMAT 14000Esther VicenteAinda não há avaliações
- Trabalho de Português 8 AnoDocumento5 páginasTrabalho de Português 8 AnoCarlos Alberto Saucedo LeguizamonAinda não há avaliações
- 1º Ano Simulado de FilosofiaDocumento17 páginas1º Ano Simulado de FilosofiaJose CastroAinda não há avaliações
- 63861983e12aa02b8c010f78 - Ebook Medidas Ergonômicas NovoDocumento30 páginas63861983e12aa02b8c010f78 - Ebook Medidas Ergonômicas NovoJéssica SouzaAinda não há avaliações
- 2-Critérios de DepartamentalizaçãoDocumento4 páginas2-Critérios de DepartamentalizaçãoLetícia BeckerAinda não há avaliações
- Programa de Assistencia Ao TrabalhadorDocumento5 páginasPrograma de Assistencia Ao Trabalhadorvguerra7086Ainda não há avaliações
- INQUERITODocumento1 páginaINQUERITOaplicaçoes informaticasAinda não há avaliações
- Curiosida e Dúvida Com Inputbox - Fórum DevMediaDocumento11 páginasCuriosida e Dúvida Com Inputbox - Fórum DevMediasantos8santos-2Ainda não há avaliações
- Kryon 03 PDFDocumento144 páginasKryon 03 PDFJoão Rafael Lopes100% (3)
- Matriz Teste2Documento1 páginaMatriz Teste2Sandra SemedoAinda não há avaliações
- LARISSA PELUCIO Abjeção e DesejoDocumento264 páginasLARISSA PELUCIO Abjeção e DesejoLarissa PelucioAinda não há avaliações
- Teste7a Relevolitoral FajoesDocumento5 páginasTeste7a Relevolitoral FajoesAlexandra RibeiroAinda não há avaliações
- Estudando NumerologiaDocumento18 páginasEstudando NumerologiaAdriana QueirozAinda não há avaliações
- Torre de ResfriamentoDocumento11 páginasTorre de ResfriamentoTuane MendesAinda não há avaliações