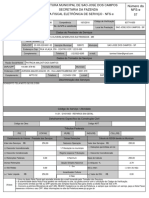Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Olhar Sobre As Cidades Dormitório
Olhar Sobre As Cidades Dormitório
Enviado por
RonaldoVitor0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações24 páginasTítulo original
Olhar Sobre as Cidades Dormitório
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações24 páginasOlhar Sobre As Cidades Dormitório
Olhar Sobre As Cidades Dormitório
Enviado por
RonaldoVitorDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 24
A Mobilidade Pendular na Definio das Cidades-Dormitrio:
caracterizao sociodemogrfica e novas territorialidades no
contexto da urbanizao brasileira
Ricardo Ojima
Robson Bonifcio da Silva
Rafael H. Moraes Pereira
Resumo: O uso do termo cidade-dormitrio muitas vezes est associado a um conjunto de
percepes que no baseado em dados formais e, dessa forma, considera um conjunto de
situaes muito distintas. O seu uso normalmente est associado quelas cidades nas quais
uma parcela significativa da sua populao trabalha ou estuda em uma outra cidade, alm
de tambm apresentarem uma economia pouco dinmica. Serve - como o nome sugere -
apenas como local de residncia. Este artigo prope um resgate terico do que poderia ser
considerado como o conceito de cidade-dormitrio e, a partir de dados censitrios, explora
as suas principais caractersticas. Trata-se de uma primeira abordagem que incorpora a
informao de deslocamento pendular no intuito de avaliar os consensos em torno deste
termo.
Palavras-Chave: Cidade-dormitrio; Rede Urbana; Pendularidade
Este estudo foi desenvolvido no mbito do projeto "Dinmica intrametropolitana e
vulnerabilidade scio-demogrfica nas metrpoles do interior paulista", desenvolvido no Ncleo de
Estudos de Populao (NEPO/Unicamp) com o financiamento da Fapesp e Cnpq.
Doutor em Demografia; Pesquisador Colaborador do Ncleo de Estudos de Populao
(NEPO/Unicamp) e Departamento de Demografia (DD/IFCH/Unicamp).
Gegrafo; Mestrando em Demografia - Departamento de Demografia (DD/IFCH/Unicamp);
Bolsista da Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES).
Socilogo; Mestrando em Demografia - Departamento de Demografia (DD/IFCH/Unicamp);
Bolsista da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (FAPESP).
A Mobilidade Pendular na Definio das Cidades-Dormitrio:
caracterizao sociodemogrfica e novas territorialidades no
contexto da urbanizao brasileira
Ricardo Ojima
Robson Bonifcio da Silva
Rafael H. Moraes Pereira
Introduo
O termo cidade-dormitrio recorrente na literatura brasileira, sobretudo
quando se trata de analisar os processos sociais e demogrficos que se desenham
dentro dos contextos metropolitanos. Sendo assim, no raro encontrar referncias
a cidades que so classificadas dentro deste ambguo termo, sempre associadas s
situaes de desvantagem econmica e social em relao a uma cidade que
polariza os fluxos regionais tanto pelos aspectos econmicos quanto populacionais.
Mas embora esse termo seja muito presente tanto nos meios acadmicos
como no senso comum, no h um consenso objetivo sobre o que define uma
cidade-dormitrio. Segundo Faria (1991), os caminhos percorridos pela pesquisa da
sociedade urbana no Brasil assumiu uma postura especfica onde termos como
urbano, cidade, espao e at regio metropolitana, assumem sentidos e significados
meramente convencionais sob uma base extensa e plural de temas e perspectivas
tericas.
Este estudo foi desenvolvido no mbito do projeto "Dinmica intrametropolitana e
vulnerabilidade scio-demogrfica nas metrpoles do interior paulista", desenvolvido no Ncleo de
Estudos de Populao (NEPO/Unicamp) com o financiamento da Fapesp e Cnpq.
Doutor em Demografia; Pesquisador Colaborador do Ncleo de Estudos de Populao
(NEPO/Unicamp) e Departamento de Demografia (DD/IFCH/Unicamp).
Gegrafo; Mestrando em Demografia - Departamento de Demografia (DD/IFCH/Unicamp);
Bolsista da Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES).
Socilogo; Mestrando em Demografia - Departamento de Demografia (DD/IFCH/Unicamp);
Bolsista da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (FAPESP).
3
Assim, o termo cidade-dormitrio se vinculou aos processos de
marginalizao e periferizao da pobreza nos contextos metropolitanos,
especialmente a partir de anlises na Regio Metropolitana de So Paulo ao longo
das dcadas de maior crescimento econmico e populacional dessa regio.
Conseqentemente, o termo passou a ser empregado em um sentido pejorativo em
diversos contextos regionais, como o caso de Diadema (SP), Jaboato dos
Guararapes (PE), Viamo (RS), Biguau (SC) Valinhos (SP) ou Hortolndia (SP),
entre outros inmeros casos facilmente encontrados atravs de uma rpida pesquisa
na mdia impressa e digital.
Os governos locais tendem a se proteger do rtulo de ser uma cidade-
dormitrio devido a esta carga ideolgica negativa que permeia essa classificao.
Trata-se de cidades que se constituem sob um significativo crescimento
populacional devido imigrao das camadas de mdia e alta renda que procuram
residir em municpios mais distantes do seu local de trabalho na busca de melhor
qualidade ambiental, menos violncia, etc. Surge, portanto, um novo cenrio no qual
o termo cidade-dormitrio necessita ser melhor detalhado. Nesse cenrio,
compreender em escala regional o papel dos deslocamentos populacionais
cotidianos (entre o local de residncia e de trabalho e/ou estudo) traz novos
contornos para se pensar o que se poderia chamar de cidade-dormitrio.
O objetivo do trabalho realizar uma anlise das informaes censitrias
disponveis para o ano de 2000 no sentido de captar os fluxos de deslocamentos
populacionais para trabalho e/ou estudo (deslocamentos pendulares) considerando
os municpios de residncia onde a parcela populacional mais significativa,
sobretudo, nos contextos regionais urbanos mais dinmicos do Brasil.
Na primeira parte do trabalho, faremos um breve resgate do emprego do termo
cidade-dormitrio no contexto da urbanizao brasileira. A seguir apresentamos a
informao censitria de deslocamento pendular como uma ferramenta de anlise
imprescindvel para investigar o bom uso do termo cidade-dormitrio e suas
interfaces sociais, econmicas e demogrficas; neste sentido, apresenta-se tambm
uma breve caracterizao sociodemogrfica dessa parcela da populao
considerando para isso os dados existentes para 1980 e 2000, buscando apontar as
possveis alteraes nos padres de pendularidade e, consequentemente, das
cidades-dormitrio. Por fim, realizado um mapeamento das cidades-dormitrio de
4
modo a apontar contextos e hipteses sobre as suas principais caractersticas.
Enfim, mais do que resolver os dilemas, procurar-se- encontrar subsdios para
identificar e confirmar algumas verdades e mitos sobre o bom uso desse
controvertido consenso que a cidade-dormitrio.
Cidades-dormitrio: conceitos e usos
Bastante utilizado, o termo cidade-dormitrio apresenta ntima relao com
processos demogrficos e sociais, principalmente em regies metropolitanas. Ojima
(2007; p.83) aponta que o surgimento da noo de cidade-dormitrio queles
estudos urbanos que trabalhavam sobre a perspectiva dicotmica centro-periferia.
Porm, ainda seria necessria uma discusso mais ampla para seu enquadramento
categoria de conceito. Aps a Segunda Guerra Mundial e, principalmente, com a
globalizao da economia, a cidade se transforma em um instrumento para
obteno e expanso do lucro de um macro-poder constitudo. Alm disso, muitas
mudanas ocorrem na esfera econmica, poltica, e tambm na reestruturao da
hierarquia das cidades e da rede urbana.
Segundo Freitag (2002), tais mudanas nos permitem detectar cinco tipos de
cidades na contemporaneidade: as cidades globais; as mega-cidades ou
megalpoles; as metrpoles; as cidades perifricas; e as cidades-dormitrio. Em
linhas gerais, a tipificao dessas cidades considera, principalmente, aspectos de
infra-estrutura de suporte para participao e efetiva participao econmica em
diferentes escalas (local, regional, nacional, internacional e global); condies de
vida da populao, implementao de direitos humanos, volume e disperso
populacional, etc.
O que mais nos interessa so as cidades-dormitrio, frutos da conurbao e da
formao de metrpoles que deram um carter mais complexo ao processo de
urbanizao. Freitag (2002) considera cidade-dormitrio o mesmo que cidade
satlite. Em sua anlise, o morador desse tipo de cidade no se reconheceria como
cidado da mesma, pois na medida em que ali no se encontra seu local de trabalho
e s serve como dormitrio e residncia, ele no teriam compromisso efetivo com a
cidade. Alm disso, a cidade-dormitrio no teria sua independncia administrativa
nem econmica prpria sendo, portanto, altamente dependente da sede regional a
quem se vincularia com grande intensidade. Outra caracterstica que Freitag destaca
5
a ausncia dos direitos humanos e da cidadania na cidade-dormitrio, implicando
em precrias condies de vida para seus moradores que vivenciam altos ndices de
violncia, insalubridade, epidemias, problemas de trnsito e transportes, agresso
ao meio ambiente, entre outros.
Em geral, o termo cidade dormitrio costumam ser relacionado a algumas
caractersticas como baixo dinamismo econmico, elevado crescimento populacional
(JARDIM & BARCELLOS, 2006) e expanso urbana em assentamentos precrios de
populao de baixa renda (CAIADO, 2005). Alm disso, Miglioranza (2005, p.3)
afirma que cidade dormitrio aquela cidade cujos habitantes saem, na maioria,
para trabalhar em outra cidade, voltando apenas para dormir, sendo, portanto, a
mobilidade pendular um elemento caracterstico tambm importante para o melhor
entendimento do objeto de estudo.
Aranha (2005), apesar de fazer muitas referncias ao termo, no chega a
definir cidade-dormitrio, mas confirma a maior intensidade da mobilidade pendular
nesse tipo de cidade. Segundo ele, a Regio Metropolitana de So Paulo possui
cerca de 1 milho de pessoas que trabalham ou estudam em municpios diferentes
daqueles em que vivem e a capital, So Paulo, surge como o principal receptor da
pendularidade metropolitana. Nesse contexto, muitos municpios apresentam saldo
negativo no fluxo de pessoas e alguns, como Carapicuba onde entram cerca de 6
mil indivduos e saem 64 mil (Aranha, 2005: p. 99), so considerados cidades-
dormitrio por conta do expressivo saldo negativo e por no apresentarem uma
economia dinmica.
Cano (1988) relaciona a origem das cidades-dormitrio ao processo de
urbanizao. A periferizao dos assentamentos humanos e industriais e a
especulao imobiliria teriam provocado importantes mudanas no processo de
urbanizao como a conurbao e a conseqente metropolizao, fazendo surgir a
as cidades-dormitrio.
Santos (1990) tambm destaca a significativa importncia da especulao
imobiliria que, por conseqncia, contribuiu para o crescimento fragmentado da
metrpole paulistana. Trata-se da concretizao do espao urbano alienado que
aumenta o abismo entre a estruturao desse espao urbano e as necessidades
6
sociais da populao. Assim, a periferizao se acentuou na medida em que houve
um aumento da especulao imobiliria e do custo de vida.
Entretanto, a causa desse processo pode no ser uma exclusividade da
concentrao industrial, pois mesmo as regies metropolitanas com menor
concentrao tambm vivenciam a situao. O baixo dinamismo econmico, a
pouca diversidade das atividades de comrcio e servios, e o uso
predominantemente residencial de alguns municpios so os elementos destacados
por Caiado (2005) na caracterizao das cidades-dormitrio em sua anlise sobre a
estruturao intra-urbana na regio do Distrito Federal e seu entorno. A
pesquisadora ainda menciona as elevadas taxas de crescimento populacional da
regio devido intensidade do processo de periferizao.
Nas ltimas dcadas pode-se destacar, no Brasil, algumas cidades cujas
caractersticas, diferentes das mencionadas anteriormente, trazem novos contornos
discusso do tema e problematizam essa categoria das cidades-dormitrio. Esses
novos contornos podem ser exemplificados pelo municpio de Valinhos (SP).
Valinhos um municpio pertencente Regio Metropolitana de Campinas que
apresenta baixos ndices de criminalidade e violncia e alta proliferao de
condomnios e loteamentos fechados criados na dcada de 1990, principalmente,
pela justificativa de uma busca por segurana e qualidade de vida (Miglioranza,
2005).
O exemplo de Valinhos
1
imprime novos contornos para a categoria de cidades-
dormitrio. Se antes a expulso das pessoas de baixa renda para as reas
distantes dos centros pelo processo de periferizao da populao era uma
caracterstica, hoje verificamos tambm a ocupao de reas perifricas por
pessoas de mais alta renda que procuram essas reas em busca de um nvel de
vida requerido pelas classes mdia e alta da populao (Cunha e Miglioranza,
2006).
1
A peculiaridade das caractersticas de Valinhos enquanto cidade-dormitrio tambm
apontada nos trabalhos de Cunha et all (2005) e de Jakob & Sobreira (2005).
7
A informao de deslocamento pendular: uma aproximao
metodolgica
Como vimos, uma das evidncias empricas que caracterizam as cidades-
dormitrio o fato que essas, como o nome sugere, so cidades essencialmente
utilizadas como local de residncia e as demais atividades cotidianas, sobretudo o
trabalho, so realizadas em outros municpios. Esta relao, normalmente percebida
como parasitria dentro do contexto das redes urbanas brasileiras assume
conotao negativa pelas razes expostas na seo anterior.
Uma das maneiras de captar empiricamente a dinmica populacional que
configura as cidades-dormitrio a utilizao da informao censitria que registra o
municpio que a pessoa trabalha ou estuda. Assim, possvel captar a mobilidade
das pessoas em um contexto regional quando o municpio de residncia diferente
daquele no qual a pessoa informa como local de trabalho ou estudo. Essa
modalidade normalmente denominada como deslocamento pendular por se
considerar que trabalhando ou estudando em municpios distintos este movimento
possui uma regularidade cotidiana.
Mas, embora no seja uma abordagem nova tanto na rea de geografia como
na demografia, s recentemente essa varivel passou a ser utilizada com mais
freqncia do ponto de vista analtico. Isso pode ser explicado por, pelo menos,
duas razes principais: uma delas, de cunho metodolgico, a retomada do quesito
no Censo Demogrfico 2000 com abrangncia e representatividade em todo o
territrio nacional
2
; e outra, de ordem emprica, o significativo crescimento do peso
relativo deste de movimento.
Assim, embora tenha sido objeto de investigao no Brasil desde a delimitao
oficial das primeiras nove Regies Metropolitanas
3
, no se configurou como
2
Com abrangncia territorial nacional os Censos Demogrficos so realizados decenalmente
pela Fundao IBGE. A pesquisa do Censo, contudo, s tratou dessa questo nos de 1970, 1980 e
2000.
3
As Regies Metropolitanas (RM) no Brasil foram institudas atravs da lei complementar no
14, em 8 de junho de 1973, com o objetivo de promover o planejamento integrado e a prestao de
servios comuns de interesse metropolitano, com comando da Unidade da Federao e sob o
financiamento da Unio. Primeiramente, oito RMs foram criadas: Belm, Belo Horizonte, Curitiba,
Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e So Paulo, sendo criada no ano seguinte a RM do Rio de
Janeiro pela lei complementar no 20, totalizando nove RMs at o final do ano de 1974.
8
preocupao em muitas anlises. At ento, os movimentos populacionais mais
evidentes eram as migraes de longa distncia, sendo exemplar os fluxos
Nordeste-Sudeste, alm dos fluxos rural-urbano. Assim, s quando arrefecem os
mpetos de tais fluxos que os movimentos pendulares passam a receber maior
ateno (HOGAN, 2005).
O uso da informao de deslocamento pendular com objetivo de trabalho ou
estudo uma importante ferramenta para entender os processos de metropolizao,
pois permitem verificar o grau de extenso da circularidade de pessoas em uma
determinada regio. Nos Estados Unidos da Amrica, por exemplo, o Census
Bureau define a abrangncia e a extenso das reas Metropolitanas a partir da
atualizao regular, a cada levantamento censitrio, com o uso dos dados de
deslocamento pendular para trabalho (FEDERAL REGISTER, 1998).
De modo geral, mesmo que a informao censitria no capte movimentos que
no sejam motivados por trabalho ou estudo (JARDIM e HERVATTI, 2006), pode ser
considerado suficiente para caracterizar, principalmente, as aglomeraes urbanas
devido aos efeitos indiretos que podem ser supostos a partir dela. Ou seja, mesmo
que a informao no contemple os movimentos para lazer, compras e atendimento
de servios possvel entender com relativa confiabilidade os principais fluxos
populacionais em uma regio, pois os deslocamentos para trabalho possuem uma
regularidade maior na vida cotidiana, sobretudo em relao aos deslocamentos para
lazer e compras.
Em verdade, pesquisas mais especficas, como a Pesquisa Origem-Destino,
trazem elementos mais detalhados sobre os fluxos de pessoas dentro de uma
mesma aglomerao e permitem com isso identificar as espacializaes locais que
configuram a complexidade da rede urbana nos principais centros urbanos
brasileiros contemporneos
4
. Entretanto, estas pesquisas ainda so reduzidas a
algumas poucas Regies Metropolitanas brasileiras e, alm disso, no possuem
uma continuidade temporal que permita uma avaliao do desenvolvimento deste
processo.
4
Realizadas de forma descentralizada por rgos municipais ligados ao planejamento urbano e
de transportes, as pesquisas Origem-Destino so relativamente recentes e se restringem apenas a
algumas Regies Metropolitanas do Brasil.
9
Branco, Firkowski e Moura (2005a; 2005b), realizam uma reviso sobre o
conceito e o quesito censitrio de movimentos pendulares e apontam para a
importncia desse critrio para a identificao dos processos de metropolizao.
Confirmam, portanto, a idia de que as fronteiras poltico-administrativas escondem
importantes fluxos que podem ser apreciados luz dos movimentos pendulares.
Entretanto, embora em termos absolutos o movimento pendular seja um fenmeno
urbano concentrado em grandes cidades (ANTICO, 2004 e ARANHA, 2005), em
termos relativos estes movimentos assumem grande importncia nas dinmicas
intra-urbanas de diversas regies do pas.
Segundo Hogan (1990, 1993 e 2005), os movimentos pendulares jogam um
importante papel na diluio dos riscos enfrentados pelo desenvolvimento
sustentvel; analisando o perfil das pessoas que fazem movimentos pendulares em
Cubato (SP), pde-se observar que essa dinmica populacional refletiu impactos
relevantes no desenvolvimento econmico da regio. Assim, apesar de Cubato, em
termos absolutos, no ter a expressividade de movimentos pendulares como
encontrados em So Paulo ou Rio de Janeiro, em termos relativos esses processos
se constituem em peas fundamentais na estruturao da dinmica regional.
Assim, considerando o pas como um todo, os movimentos pendulares somam
7,4 milhes de pessoas; ou seja, 4,4% da populao brasileira em 2000 trabalhava
ou estudava fora do municpio de residncia. Deste total, 38% so movimentos
originados em municpios que se localizam nas Regies Metropolitanas de So
Paulo e Rio de Janeiro que, respectivamente, correspondem a cerca de 6,5% e
7,5% da populao residente nestas regies.
Observando as principais caractersticas sociodemogrficas, a populao que
realiza este tipo de movimentos se diferencia do conjunto da populao, ilustrando a
seletividade que este grupo assume. Como podemos perceber na Erro! A origem
da referncia no foi encontrada., trata-se de uma caracterstica que possui maior
concentrao entre os homens embora tenha diminudo significativa quando
comparado aos dados de 1980. Assim, se em 1980 os homens correspondiam a
cerca de 75% das pessoas com mais de 10 anos que faziam movimentos
pendulares, em 2000 essa proporo diminui para cerca de 60% dos movimentos
pendulares.
10
A participao mais expressiva se d em uma faixa especfica de idade: a
Populao em Idade Ativa (PIA, populao entre 15 e 64 anos) que responsvel
por cerca de 92% do total de pessoas que trabalhavam ou estudavam em municpio
diferente daquele onde residiam em 2000. A proporo sobre a populao total que
de 4,4%, passa para 6,2% quando se considera a populao em idade ativa; e se
torna mais expressiva se considerarmos a populao ocupada
5
(POC), passando
para 9%. perceptvel ainda, atravs do Grfico 1, que houve um envelhecimento
relativo da populao que realiza movimentos pendulares entre 1980 e 2000. O
principal grupo etrio se manteve entre 20 e 24 anos, mas perceptvel que em
relao com os demais grupos de idade, passou a ser menos destacado. Neste
contexto, pode-se dizer que houve uma relativa desconcentrao da pendularidade
em termos de estrutura etria e sexo, estendendo para uma parcela maior da
populao essa condio.
Grfico 1
Distribuio etria por sexo da populao (%) que realiza movimentos
pendulares, Brasil 1980 e 2000
6
1980
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 ou mais
2000
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 ou mais
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000 (microdados); Tabulaes Especiais dos Autores
Conforme Cunha et all (2005) os processos de migrao, em especial as
migraes intra-metropolitanas, possuem importante papel no processo de
5
Para fins desta anlise da pendularidade, considerou-se como populao ocupada como
sendo a populao entre 15 e 64 anos que trabalhava ou estudava no momento do Censo.
6
Para fins de comparao, embora a informao censitria para 2000 seja para o total da
populao, optou-se por utilizar o mesmo recorte utilizado no Censo 1980 que abrange apenas a
populao com 10 anos e mais.
11
periferizao da populao e formao de cidades-dormitrio. De acordo com o
Censo 2000, pouco mais de 10% da POC que realiza movimentos pendulares no
natural do municpio em que residem. Considerando o total do pas em 2000, cerca
de 50% dos migrantes que fazem movimentos pendulares esto residindo no
municpio h 10 anos ou mais, valor superior ao encontrado em 1980. A partir disso
podemos supor que o componente migratrio da populao que realiza movimentos
pendulares reduziu entre 1980 e 2000. Isso porque, considerando os migrantes que
residem a menos de cinco anos no municpio, a proporo passa de 41% em 1980
para 35% em 2000. O Grfico 2 ilustra a mudana sutil ocorrida entre 1980 e 2000,
com destaque para a situao dos grupos de 0 a 2 e de 10 e mais anos de
residncia no municpio.
Grfico 2
Distribuio da populao ocupada que realiza movimentos pendulares por
tempo de residncia no municpio (em anos), Brasil 1980 e 2000
25,2
16,0
13,8
45,1
19,4
15,7
14,2
50,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0 a 2 3 a 5 6 a 9 10 e mais
Anos
%
1980 2000
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000 (microdados); Tabulaes Especiais dos Autores
De certo modo estes migrantes possuem uma relativa adaptao ao local de
destino e a mobilidade pendular se torna uma estratgia importante para a
reproduo social nestes contextos regionais, situao que se torna mais visvel em
2000. Este indicativo pode ser confirmado a partir do Grfico 3, que ilustra a
distribuio da populao por faixas de renda (em salrios mnimos) para aqueles
que realizam movimentos pendulares em 1980 e 2000.
possvel perceber que h uma participao maior daqueles que realizam
movimentos pendulares em grupo de renda mais elevados no ano de 2000 (acima
12
de trs salrios mnimos). Alm disso, destaca-se a mudana no grupo sem
rendimentos, que em 1980 representava 8,1% e em 2000 passa a ser de apenas
1,6% daqueles que fazem movimentos pendulares. Claro que essa informao deve
ser observada com cuidado devido aos problemas inerentes informao de renda
nos Censos Demogrficos.
Deve ser considerada ainda a relao estreita que essa situao pode conter
com a mudana na estrutura etria desse grupo populacional. Pois, como vimos
anteriormente a partir do Grfico 1, as pirmides etrias sugerem uma mudana
importante no ciclo de vida. Uma alternativa para a confirmao desta hiptese seria
uma anlise mais detalhada dos arranjos domiciliares que do suporte s pessoas
que precisam/conseguem se valer da mobilidade pendular.
Grfico 3
Distribuio da populao ocupada que realiza movimentos pendulares por
faixas de renda (em salrios mnimos) segundo tipo de deslocamento para
trabalho, Brasil 1980 e 2000
7
8,1
12,5
47,0
16,4
10,3
5,7 1,6
11,3
42,1
19,0
16,4
9,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sem renda At 1 Mais de 1
at 3
Mais de 3
at 5
Mais de 5
at 10
Mais de 10
Faixas de Renda (em S.M.)
%
1980 2000
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000 (microdados); Tabulaes Especiais dos Autores
Essa caracterstica pode ser percebida mais claramente no caso de Cubato
(SP), pois em razo das evidncias da poluio, sobretudo na dcada de 1980, h
uma concentrao maior da populao de baixa renda no municpio. Assim, a
parcela da populao que realiza movimentos pendulares aquela que possui
recursos financeiros para residir em reas mais distantes dos plos industriais
7
Populao ocupada, desconsiderando o grupo sem declarao de rendimentos.
13
(HOGAN, 1990) e, portanto, coloca municpios como Santos ou Guaruj na condio
de cidades-dormitrio do plo petroqumico de Cubato.
Portanto, os dados confirmam que esta parcela da populao possui uma
seletividade muito clara em diversos aspectos. Mas, diferentemente do que se
encontra no senso comum, trata-se de um grupo de pessoas com melhor renda e
escolaridade se comparadas com as pessoas que residem e trabalham no mesmo
municpio. Claro que essa a situao para a mdia da populao brasileira e, com
certeza, a partir de uma anlise direcionada para casos especficos, encontraremos
uma diversidade de situaes. A anlise das relaes entre os fluxos migratrios
intermunicipais e os fluxos de mobilidade pendular pode trazer pistas importantes
para a anlise de processos de expanso das fronteiras metropolitanas apontando
para novos contornos nas dinmicas demogrficas em contextos regionais.
Assim, apesar da tentativa de se compreender tendncias e padres nos
movimentos pendulares, a funo regional das cidades no um fator que garante
resultados. Segundo Aranha (2005),
(...) as trajetrias de entradas e as de sadas podem ser
compostas por grupos sociais distintos, e que devem ocupar
tambm postos distintos no mercado de trabalho o que
conformaria um carter bastante seletivo dos deslocamentos
pendulares metropolitanos (p. 107).
No que se refere ao objeto central desta anlise, a saber: as cidades-
dormitrio, h uma diversidade de situaes no qual o termo mais ou menos
adequado, embora os contextos possam ser muito distintos. De toda forma, a
utilizao dos fluxos de mobilidade pendular uma importante ferramenta para
avaliar os processos de metropolizao no pas, sobretudo, quando o objetivo
entender a expanso das cidades em contextos regionais no apenas pela
delimitao institucional-legal de Regies Metropolitanas.
Um panorama das cidades-dormitrio no Brasil
Retomando a discusso do termo cidade-dormitrio, em uma rpida leitura
pelos noticirios e reportagens locais, no raro encontrar referncias do termo
como um adjetivo. De certa forma, um termo muito comum e que sempre est
14
associado a uma conotao pejorativa. Mas quais so as suas principais
caractersticas? possvel dizer que o termo cidade-dormitrio um sinnimo para
as cidades perifricas com grande concentrao de pobreza? Elas esto sempre
envolvidas nos contextos de Regies Metropolitanas?
Esta seo tenta resgatar algumas destas perguntas, procurando colocar em
debate o consenso das cidades-dormitrio a partir dos dados de movimentos
pendulares. Assim, prope-se um critrio fundamental para delimitao de uma
cidade-dormitrio e avaliar-se- o peso relativo dessa populao que realiza tais
movimentos sobre total da Populao Ocupada no municpio de residncia
buscando, ainda, consensos nos casos de maior relevncia. Mas para iniciar, a
primeira dvida :
Se a mobilidade pendular um indicador fundamental para a identificao
de uma cidade-dormitrio, quantas pessoas (ou proporo de pessoas) so
necessrias para configurar uma tpico-ideal?
Em primeiro lugar, no se trata apenas de volumes absolutos, pois se assim
fosse, a RM de So Paulo seria a nica a conter cidades-dormitrio no Brasil. Isso
porque os volumes absolutos no expressam, por si s, a representatividade desse
grupo de pessoas no contexto local ou regional. importante verificar o peso relativo
(proporo) de pessoas que, morando em um municpio, se deslocam diariamente
para realizar suas atividades de trabalho (ou estudo) em outro municpio.
Mas o que uma proporo significativa para um municpio?
Comparando os dados de 1980 e 2000, podemos observar que houve tambm
uma mudana significativa da mobilidade pendular em termos municipais. O valor
mdio da relao entre a populao que realiza movimentos pendulares pela
populao ocupada
8
passa de 5,6% para 7,7% entre 1980 e 2000, indicando uma
mudana no perfil dos municpios brasileiros. Os valores mximos encontrados para
os municpios em 1980 e 2000 tambm mostram mudanas, pois enquanto em 1980
o municpio onde a proporo era mais expressiva atingia a marca de 72%
(municpio de Alvorada na RM de Porto Alegre) da populao ocupada realizando
8
Populao que trabalha ou estuda entre 15 e 64 anos de idade.
15
movimentos pendulares, em 2000 esse valor mximo chegou a 62% (guas Lindas
de Gois, na RIDE do DF e Entorno).
Em termos gerais, as cidades-dormitrio a partir desse indicador devem ser
entendidas como uma evidncia comparativa, ou seja, no basta apenas que se
tenha uma proporo de movimentos pendulares, mas que essa proporo seja
distintiva em relao a outros municpios. claro que um municpio que no possui
pessoas realizando movimentos pendulares no poder ser caracterizado como uma
cidade-dormitrio, mas da mesma forma, possuir 10% de pessoas fazendo
movimentos pendulares pode ou no configurar uma cidade-dormitrio dependendo
dos parmetros em relao aos outros municpios. Ademais, a pendularidade no
a nica associao freqente na literatura que se vale do termo cidade-dormitrio.
Grfico 4
Distribuio percentual dos municpios por proporo de pessoas ocupadas
que realizam movimentos pendulares segundo Unidade da Federao, Brasil
1980 e 2000
1980
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Rondonia
Acre
Amazonas
Roraima
Par
Amap
Tocantins
Maranho
Piau
Cear
Rio Grande do Norte
Paraba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Esprito Santo
Rio de Janeiro
So Paulo
Paran
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Gois
Distrito Federal
% de municpios Mais de 20% at 30%
Mais de 30% at 40%
Mais de 40%
(0)
(6)
(1)
(1)
(11)
(21)
(7)
(59)
(16)
(6)
(38)
(6)
(5)
(3)
(5)
(5)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(1)
(2)
(Nmero de Municpios)
2000
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Rondonia
Acre
Amazonas
Roraima
Par
Amap
Tocantins
Maranho
Piau
Cear
Rio Grande do Norte
Paraba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Esprito Santo
Rio de Janeiro
So Paulo
Paran
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Gois
Distrito Federal
% de municpios Mais de 20% at 30%
Mais de 30% at 40%
Mais de 40%
(0)
(20)
(3)
(0)
(28)
(28)
(26)
(142)
(25)
(5)
(64)
(5)
(7)
(5)
(15)
(11)
(7)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(4)
(2)
(3)
(Nmero de Municpios)
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000 (microdados); Tabulaes Especiais dos Autores
16
O Grfico 4 mostra a distribuio dos municpios brasileiros em 1980 e 2000
por Unidade da Federao e segundo a proporo de movimentos pendulares sobre
a populao ocupada, a partir desta informao podemos perceber que h um
aumento dos municpios que se encontram em nveis de pendularidade mais
elevadas. Destaca-se, entre outros, o caso de So Paulo, onde houve um aumento
significativo na proporo de municpios que possuam entre 20% e 30% de
pendularidade, passando de 4% para 13% dos municpios desta UF entre 1980 e
2000. Os casos de Gois e Sergipe tambm merecem destaque por terem mostrado
um aumento da proporo de municpios que se enquadram nas classes de
pendularidade mais elevada, sobretudo, entre aqueles que possuem mais de 40%
da populao ocupada realizando estes movimentos.
Em termos dos nmeros absolutos, importante destacar que os municpios
com proporo de movimentos pendulares acima de 20% aumentou
expressivamente entre 1980 e 2000, passando de 198 para 404 municpios. S o
estado de So Paulo contribuiu com 40% deste aumento, pois dos 59 municpios
com mais de 20% de pendularidade em 1980 passou para um total de 142, em
2000. Em seguida, Minas Gerais, Paran e Rio Grande do Sul foram os que mais
contriburam para o aumento no nmero de municpios; 26, 19 e 17,
respectivamente.
A literatura que se vale do termo cidade-dormitrio frequentemente associa sua
formao a partir dos processos de metropolizao. Essa relao claramente
percebida a partir dos dados de 1980, quando 51% dos municpios com mais de
20% de pendularidade faziam parte de regies metropolitanas
9
. Entretanto, h uma
mudana importante entre os dois perodos, pois em 2000 a participao dos
municpios integrantes de Regies Metropolitanas diminui para 40%. Desta forma, a
maior parte dos municpios que possuam proporo de pessoas ocupadas
realizando movimentos pendulares est localizada fora de regies metropolitanas
(ver Grfico 5).
9
Para fins desta anlise comparativa, foram consideradas as Regies Metropolitanas
existentes em 2000 e os municpios que vieram a constitu-los em 1980, sobretudo nos casos das
Regies Metropolitanas criadas aps a Constituio Federal de 1988.
17
Grfico 5
Nmero de municpios e peso relativo sobre o total de municpios com mais de
20% de pessoas ocupadas em movimentos pendulares por Regio
Metropolitana, Brasil 1980 e 2000
N % N %
Baixada Santista 2 1,0 2 0,5
Belm 2 1,0 3 0,7
Belo Horizonte 9 4,5 19 4,7
Campinas 5 2,5 7 1,7
Curitiba 4 2,0 12 3,0
Florianpolis 6 3,0 7 1,7
Fortaleza 1 0,5 4 1,0
Foz do Rio Itaja 3 1,5 2 0,5
Goinia 1 0,5 6 1,5
Londrina 1 0,5 3 0,7
Macei 3 1,5 4 1,0
Maring 1 0,5 3 0,7
Natal 1 0,5 4 1,0
Norte/Nordeste Catarinense 0 0,0 1 0,2
Porto Alegre 9 4,5 15 3,7
Recife 5 2,5 10 2,5
Regio Carbonfera 2 1,0 4 1,0
RIDE DF e Entorno 2 1,0 7 1,7
Rio de Janeiro 9 4,5 14 3,5
Salvador 2 1,0 1 0,2
So Lus 1 0,5 2 0,5
So Paulo 26 13,1 28 6,9
Vale do Ao 1 0,5 1 0,2
Vale do Itaja 1 0,5 2 0,5
Vitria 5 2,5 4 1,0
Total das RMs 102 51,5 165 40,8
Fora de RMs 96 48,5 239 59,2
Total 198 100,0 404 100,0
2000
Regio Metropolitana
1980
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000 (microdados); Tabulaes Especiais dos Autores
Tal constatao confirma a tendncia de desacelerao do crescimento
populacional metropolitano a partir da perda da participao relativa dessas
metrpoles no total da populao do pas. Alm disso, permite afirmar que a
metropolizao enquanto processo social, econmico e poltico no deve ser focado
apenas no desenvolvimento das Regies Metropolitanas institucionalizadas, mas no
18
processo de metropolizao enquanto um macro-processo. Portanto, a consolidao
de redes de interao intermunicipal se desconcentra e aponta para novos desafios
para o planejamento urbano e regional.
As cidades-regio, apontadas, entre outros, por Scott et al.
(2001), constituem ndulos de expresso de uma nova ordem
social, econmica e poltica, mostrando que - ao contrrio de
uma dissoluo da importncia regional decorrente da diluio
do tempo-espao propiciado pela globalizao - as formas
espaciais regionais se tornam cada vez mais centrais vida
moderna (OJIMA, 2007: p.48).
Em vista dessa desconcentrao populacional, as cidades-dormitrio so
enfatizadas como locais de elevado crescimento populacional. Essa afirmao
parece ser verdadeira, pois quando considerados os municpios com taxa de
crescimento positiva no ano de 1980, h uma correlao positiva
10
. Isto , quanto
maior a taxa de crescimento populacional (em % a.a.), maior a proporo de
movimentos pendulares. Por outro lado, quando as taxas de crescimento so
negativas, embora continue sendo significativa, esta correlao apresenta baixa
correlao (0,096)
11
. Para o ano 2000, a correlao positiva se mantm
significativa
12
para as taxas de crescimento positivas. Entretanto, no se mantm
significativa para as taxas de crescimento negativas.
Grfico 6
Distribuio dos municpios segundo a proporo de movimentos pendulares
e a taxa de crescimento populacional (em % a.a.), Brasil 1980 e 2000
10
Correlao estatisticamente significativa (0,316), ao nvel de 0,01.
11
Correlao significativa ao nvel de 0,01.
12
Correlao estatisticamente significativa (0,142), ao nvel de 0,01.
19
-20 -10 0 10 20 30 40
Taxa de Crescimento Populacional (em % a.a.)
0
20
40
60
80
%
d
e
m
o
v
i
m
e
n
t
o
s
p
e
n
d
u
l
a
r
e
s
-10 0 10 20
Taxa de Crescimento Populacional (em % a.a)
0
20
40
60
80
%
d
e
m
o
v
i
m
e
n
t
o
s
p
e
n
d
u
l
a
r
e
s
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000 (microdados); Tabulaes Especiais dos Autores
Mas a relao que parece se a mais freqentemente associada ao termo
cidade-dormitrio so as condies socioeconmicas do municpio, entre elas o
dinamismo econmico e a qualidade de vida do municpio. Para verificar esta
hiptese, utilizamos os dados de Produto Interno Bruto (PIB) municipal
13
per capita
(em R$ de 2000) como proxy do dinamismo econmico e o ndice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) para os anos de 1980 e 2000 na
tentativa de encontrar padres nestes municpios segundo o peso relativo que os
movimentos pendulares possuem no total da populao ocupada dos municpios.
Em relao ao PIB municipal per capita no parece haver uma correlao
estatisticamente significativa entre as duas variveis. Uma correlao negativa, ou
seja, menor PIB per capita para maiores propores de movimentos pendulares s
se configura quando filtramos pelo grupo de municpios que possuem maiores
propores de movimentos pendulares (acima de 40% da populao ocupada). Isso
ocorre tanto em 1980 como em 2000, sendo que para o ano 2000 a correlao se
torna estatisticamente significativa neste patamar. A partir disso, possvel supor
que o padro de cidades-dormitrio com baixo dinamismo econmico s passa a
existir quando a proporo de movimentos pendulares so mais elevadas, em torno
de 40% da populao ocupada.
Uma anlise mais detalhada para identificar um critrio-limite para classificao
de uma cidade-dormitrio poderia tornar essa correlao mais robusta em termos
das anlises. De toda forma, isso significa que, pelo menos em relao ao fator de
13
Fonte: IpeaData; Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA), Metodologia PIB
Municipal 1970 a 1996, Deflacionado pelo Deflator Implcito do PIB nacional
1980 2000
20
PIB per capita, existem muito menos cidades-dormitrio do que se podemos
encontrar nas referncias encontradas.
Considerando o ndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) como
parmetro de qualidade de vida, h uma aparente contradio no que se refere
proporo de movimentos pendulares. Segundo estes dados, embora encontremos
uma correlao pouco significativa, h uma tendncia positiva na relao entre
proporo de pessoas ocupadas que realizam movimentos pendulares melhoria
em relao sua posio no ranking de IDH-M.
O Grfico 7 ilustra a disperso dos casos segundo esse cruzamento. Contudo,
a utilizao deste indicador como forma de mensurao da qualidade de vida
controversa e seria importante avaliar com mais detalhes outras variveis que
permitam comparar os casos em termos de acesso a servios pblicos (sade,
educao, transporte) ou ainda em termos de infra-estrutura domiciliar. Para fins
dessa primeira aproximao, este indicador permitiu verificar que, pelo menos em
termos agregados do municpio e a partir de uma medida sinttica como o IDH-M,
no existe uma correlao negativa, como era esperado pelo que se costuma
encontrar nas referncias a respeito das cidades-dormitrio.
Grfico 7
Distribuio dos municpios segundo a proporo de movimentos pendulares
e o ndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Brasil 1980 e 2000
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
IDH-M
0
20
40
60
80
%
d
e
M
o
v
i
m
e
n
t
o
s
p
e
n
d
u
l
a
r
e
s
R Sq Linear = 0,062
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
IDH-M
0
20
40
60
80
%
d
e
M
o
v
i
m
e
n
t
o
s
p
e
n
d
u
l
a
r
e
s
R Sq Linear = 0,075
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000 (microdados); Tabulaes Especiais dos Autores
1980 2000
21
Consensos e Contradies: algumas consideraes finais
Como proposto, o trabalho buscou apresentar um perfil geral do que se
entende por cidade-dormitrio no Brasil a partir de uma abordagem demogrfica.
Essa abordagem considerou a proporo de pessoas que realizam movimentos
pendulares pelo total da populao que trabalhava ou estudava em 1980 e 2000. A
partir dessa perspectiva, explorou-se os dados de forma a verificar padres que
permitissem categorizar o termo cidades-dormitrio. Para isso, foram utilizadas
ainda informaes relativas ao PIB municipal per capita e o IDH-M para buscar
evidncias empricas das condies socioeconmicas das cidades-dormitrio.
O que podemos concluir a partir dessa anlise que o critrio de identificao
de uma cidade-dormitrio deveria ser o quanto mais restritivo possvel para obter
resultados mais prximos do que normalmente so utilizados quando se pensa em
um caso tpico. Isso nos coloca frente a uma evidncia importante: a afirmao de
que a cidade dormitrio possui baixo dinamismo econmico e baixa qualidade de
vida , no mnimo, uma questo que merece maior aprofundamento, pois essa
relao no foi encontrada para a maior parte dos municpios que potencialmente
poderiam ser chamados de cidades-dormitrio.
Apesar do que se supunha antes dessa anlise e com base no IDH-M, a
qualidade de vida nestas cidades-dormitrio melhor do que em municpios com
baixa proporo de movimentos pendulares. Como j mencionado, este indicador
no suficiente para medir a qualidade de vida da populao, sendo necessrio
avanar em outros indicadores que permitam mensurar com maior robustez a
situao em que vive essa populao.
A identificao de uma cidade-dormitrio a partir de evidncias empricas
uma tarefa complexa e envolve um conjunto grande de fatores. Assim, mesmo que
seja uma expresso comum tanto nos meios acadmicos como na mdia impressa e
digital, mereceria maior cuidado no seu emprego. A alcunha de cidade-dormitrio
frequentemente evitada, sobretudo, pelas cidades que hoje buscam se consolidar
como eixos de expanso residencial de mdia e alta renda em contextos
metropolitanos. Alm disso, por ser um fenmeno que ocorre cada vez mais fora das
Regies Metropolitanas Oficiais, emerge mais ainda como uma questo a ser
investigada dentro do processo de constituio de cidades-regies.
22
Referncias Bibliogrficas
ANTICO, C. (2004) Deslocamentos pendulares nos espaos sub-regionais da
Regio Metropolitana de So Paulo. XIV Encontro Nacional de Estudos
Populacionais, ABEP, Caxambu, 20 a 24 de setembro de 2004, ABEP:
Campinas.
ARANHA, V. (2005) Mobilidade pendular na metrpole paulista. Revista So Paulo
em Perspectiva, v.19, n.4, p.96-109, out./dez.2005.
BRANCO, M.L.C.; FIRKOWSKI, O.L.C.F. e MOURA, R. (2005a) Movimento
pendular: abordagem terica e reflexes sobre o uso do indicador. Anais do XI
Encontro Nacional da Associao Nacional de Ps-graduao e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional ANPUR, Salvador, 23 a 27 de maio de
2005. ANPUR: Salvador.
BRANCO, M.L.C.; FIRKOWSKI, O.L.C.F. e MOURA, R. (2005b) Movimento
Pendular e Perspectivas de Pesquisas em Aglomerados Urbanos. In So Paulo
em Perspectiva, v.19, n.4, p.121-133, out/dez 2005.
CAIADO, Maria Clia Silva. Estruturao intra-urbana na regio do Distrito Federal e
entorno: a mobilidade e a segregao socioespacial da populao. Revista
Brasileira de Estudos Populacionais, v.22, n.1, p.55-88, jan/jun. 2005.
CANO, Wilson. Questo Regional e Urbanizao no desenvolvimento econmico
brasileiro ps 1930. Anais do VI Encontro ABEP, 1988, p.67-99
CUNHA, J. M.P. ; JAKOB, A. A. E. ; JIMNEZ, M.A. ; Trad., Isabela Luhr. Expanso
metropolitana, mobilidade espacial e segregao nos anos 90: o caso da RM
de Campinas. In: XI Encontro da Associao Nacional de Ps-Graduao e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 2005, Salvador (BA). Anais...
ANPUR, 2005.
CUNHA, J. M. P.; MIGLIORANZA, E. (2006) "Valinhos: um novo padro de cidade-
dormitrio?", "Novas Metrpoles Paulistas - Populao, vulnerabilidade e
segregao", ed. 1, NEPO/UNICAMP, p.539-560.
FARIA, V. (1991), Cinqenta anos de urbanizao no Brasil, Revista Novos Estudos
CEBRAP, n.29, So Paulo, p. 98-119.
23
FEDERAL REGISTER (1998) OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET (OMB),
Part III: Alternative approaches to defining Metropolitan and Nonmetropolitan
Areas; notice. vol. 63, n.244, December, Washington, DC.
FREITAG, B. (2002). Cidade e Cidadania. Em: _______. Cidade dos Homens. Rio
de Janeiro: Edies Tempo Brasileiro LTDA;
HOGAN, D.J. (1990). Quem paga o preo da poluio? Uma anlise de residentes e
migrantes pendulares em Cubato. VII Encontro da Associao Brasileira de
Estudos Populacionais, Caxambu-MG, 1990. Anais... ABEP: Campinas, v.3, p.
177-196.
HOGAN, D. J. (1993). Populao, pobreza e poluio em Cubato, So Paulo.
Pg. 101-131 in G. Martine (org.), Populao, Meio Ambiente e
Desenvolvimento, Ed. Unicamp, Campinas.
HOGAN, D. J. (2005). Mobilidade populacional, sustentabilidade ambiental e
vulnerabilidade social. Revista Brasileira de Estudos de Populao, vol. 22, n.2,
jul./dez. 2005, So Paulo.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Malha
Municipal do Brasil, 1997, Rio de Janeiro.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Base
Cartogrfica Digital Integrada do Brasil ao Milionsimo, 2003, Rio de Janeiro.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo
Demogrfico 2000 Microdados da Amostra, 2000, Rio de Janeiro.
JAKOB, Alberto Augusto Eichman ; SOBREIRA, Daniel Pessini . A Mobilidade
Populacional Diria na RM de Campinas: quem so e para onde vo?. In: IV
Encontro do Grupo de Trabalho de Migrao, 2005, Rio de Janeiro. Anais do IV
Encontro do Grupo de Trabalho de Migrao, 2005.
JARDIM, M. de L.; BARCELLOS, T.M. de. (2005) Mobilidade populacional na RMPA
nos anos 90. In So Paulo em Perspectiva. v.19/ n.4/ Movimentos Migratrios
Nas Metrpoles. Fundao SEADE. Out-Dez 2005. In
http://www.seade.gov.br/produtos/spp/index.php?men=rev&cod=5071
JARDIM, A.P. e ERVATTI, L. R. (2006) Migrao Pendular Intrametropolitana no Rio
de Janeiro: a condio de renda das pessoas que trabalham ou estudam fora
24
do municpio de residncia em 1980 e 2000. in XV Encontro Nacional de
Estudos Populacionais, Caxambu, Anais... Campinas: ABEP.
MIGLIORANZA, Eliana. (2005) Condomnios Fechados: Localizaes de
pendularidade. Um estudo de caso no municpio de Valinhos, SP. 2005. 113p.
Dissertao (Mestrado em Demografia) Unicamp. Campinas.
OJIMA, Ricardo. (2007) Anlise comparativa da disperso urbana nas aglomeraes
urbanas brasileiras: elementos tericos e metodolgicos para o planejamento
urbano e ambiental. Campinas, SP: [s.n.], 2007.
SANTOS, Milton (1990). Metrpole corporativa e fragmentada. O caso de So Paulo.
So Paulo, Nobel, 1990.
________ . (2004) Espao dividido, O. Os dois circuitos da economia urbana dos
pases subdesenvolvidos. Coleo Milton Santos, So Paulo: Edusp, 2.a
Edio.
SCOTT, A.J.; AGNEW, J.; SOJA, E.W. e STORPER, M. (2001) Cidades-regies
globais. Espao e Debates, n 41, p.11-25.
Você também pode gostar
- Ciap - Parametrizacao Pis Cofins - V01Documento44 páginasCiap - Parametrizacao Pis Cofins - V01cunha_aristeu100% (2)
- MM03 - Recebimento Físico e FiscalDocumento33 páginasMM03 - Recebimento Físico e FiscalIvan_NasciAinda não há avaliações
- 1.03.0 Laudo Tecnico - Os 120.0139 - Tambor 15464514 - NF 12969Documento16 páginas1.03.0 Laudo Tecnico - Os 120.0139 - Tambor 15464514 - NF 12969Sidnei RodriguesAinda não há avaliações
- Estudo de Caso SeleçãoDocumento4 páginasEstudo de Caso SeleçãoKarine Nunes de BritoAinda não há avaliações
- A Estética RealistaDocumento13 páginasA Estética RealistajoaobenseAinda não há avaliações
- NR 26Documento86 páginasNR 26Elton AlvarengaAinda não há avaliações
- Project CharterDocumento2 páginasProject Charteranapaulacosta29Ainda não há avaliações
- Avaliação de Geografia 3a. SérieDocumento4 páginasAvaliação de Geografia 3a. SérieMeida SoaresAinda não há avaliações
- Gix Pyxis - Muito Mais Que Um ErpDocumento12 páginasGix Pyxis - Muito Mais Que Um ErpshxinformaticaAinda não há avaliações
- Carta de Proposta 1 Kardeny Sales - Execução Completa+InterioresDocumento3 páginasCarta de Proposta 1 Kardeny Sales - Execução Completa+InterioresvictorAinda não há avaliações
- Apresentação - Rodrigo - Selo Arte ALERJDocumento6 páginasApresentação - Rodrigo - Selo Arte ALERJFórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do RJAinda não há avaliações
- Lista IV - Juro Simples - MAT FINAN IDocumento3 páginasLista IV - Juro Simples - MAT FINAN IfisicousAinda não há avaliações
- G C S Comercio de Pneus Ltda DanfeDocumento1 páginaG C S Comercio de Pneus Ltda DanfeErli santosAinda não há avaliações
- Industrialização Do Caranguejo Uçá Do Delta Do ParnaíbaDocumento176 páginasIndustrialização Do Caranguejo Uçá Do Delta Do ParnaíbaRuth Helena Cristo AlmeidaAinda não há avaliações
- Lavra Por Frente Longa WordDocumento20 páginasLavra Por Frente Longa Wordsheila evaAinda não há avaliações
- Matriz de Insumo e Produto Uma Aplicacao para Economia GoianaDocumento45 páginasMatriz de Insumo e Produto Uma Aplicacao para Economia Goianapabloluck8Ainda não há avaliações
- Informações e Análieses Da Economia MineralDocumento28 páginasInformações e Análieses Da Economia Mineralbicalho743Ainda não há avaliações
- História 9º AnoDocumento11 páginasHistória 9º AnoDiogoAinda não há avaliações
- A Assertividade Como Instrumento para o Processo de Liderança - Uma Análise Dos Seus Reflexos No Comportamento Do Líder PDFDocumento20 páginasA Assertividade Como Instrumento para o Processo de Liderança - Uma Análise Dos Seus Reflexos No Comportamento Do Líder PDFSebastien0% (1)
- Nota FiscalDocumento1 páginaNota FiscalBruno MalostiAinda não há avaliações
- Furukawa Catalogo GeralDocumento226 páginasFurukawa Catalogo GeralRafael Rocha100% (1)
- E Book Ativos Intangíveis - Primeiro Capitulo Desmistificando Os Intangíveis - A Prova Dos NoveDocumento29 páginasE Book Ativos Intangíveis - Primeiro Capitulo Desmistificando Os Intangíveis - A Prova Dos NoveDOM Strategy PartnersAinda não há avaliações
- Cadeira de Escritório Presidente Giratória Finland Preta PDFDocumento6 páginasCadeira de Escritório Presidente Giratória Finland Preta PDFquasemanobrasAinda não há avaliações
- Código de Ética FarmaceuticaDocumento6 páginasCódigo de Ética FarmaceuticaAndre LuizAinda não há avaliações
- 1956B (EXECUTIVO) : CabuçuDocumento6 páginas1956B (EXECUTIVO) : CabuçuSandro Mendonça VasquesAinda não há avaliações
- 387 - 8º Ano HistóriaDocumento12 páginas387 - 8º Ano HistóriaAline Silva100% (2)
- O Homem e A Mulher Na Intimidade Alemanha Oriental SexualidadeDocumento1 páginaO Homem e A Mulher Na Intimidade Alemanha Oriental Sexualidadeesquerdista13iAinda não há avaliações
- Wallet 2.0Documento52 páginasWallet 2.0Almeida JuniorAinda não há avaliações
- Frentistas de Postos de CombustiveisDocumento19 páginasFrentistas de Postos de CombustiveisFlavio MarceloAinda não há avaliações
- Análise Das Estratégias de Marca, Design e Produção Da Empresa VolkswagenDocumento25 páginasAnálise Das Estratégias de Marca, Design e Produção Da Empresa VolkswagenNeto AndradeAinda não há avaliações