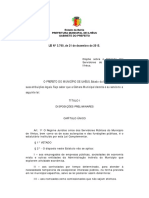Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Autonomia Econômica
Autonomia Econômica
Enviado por
geleia2012Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Autonomia Econômica
Autonomia Econômica
Enviado por
geleia2012Direitos autorais:
Formatos disponíveis
ndice
ARTIGOS
A hora da Igualdade
por Alicia Brcena
A autonomia econmica das mulheres e
a reproduo social: o papel das polticas
pblicas
por Graciela Rodriguez
Comrcio e Desenvolvimento na Amrica
Latina: A ordem dos fatores altera o produto.
Propostas de polticas pblicas para encaminhar
o comrcio internacional equidade social e de
gnero
por Nicole Bidegain Ponte
Trabalho domstico remunerado na Amrica
Latina
por Maria Elena Valenzuela
ndices de Desenvolvimento de Gnero: uma
anlise do avano social das mulheres no Brasil e
nas Unidades da Federao
por Cristiane Soares
Mulheres em Dados: o que informa a PNAD/
IBGE, 2008
por Lourdes Bandeira, Hildete Pereira de Melo
e Luana Simes Pinheiro
Observatrios de gnero na Amrica
Latina: uma anlise comparada os casos
do Observatrio de Igualdade de Gnero da
Amrica Latina e do Caribe e do Observatrio
Brasil da Igualdade de Gnero
por Nina Madsen e Marcela Rezende
Apresentao
Entrevista com
Sonia Montao
Entrevista com
Maria da Conceio Tavares
7
4
3
18
31
41
49
64
107
120
Apresentao
com satisfao que a Secretaria de Polticas para
Mulheres da Presidncia da Repblica do Brasil
(SPM/PR) apresenta essa edio especial da Revista
do Observatrio Brasil da Igualdade de Gnero, lanada
em homenagem XI Conferncia Regional sobre a Mu-
lher da Amrica Latina e do Caribe.
Essa conferncia, cujo tema Que tipo de Es-
tado? Que tipo de Igualdade?, tem como objetivo
examinar os resultados j obtidos pelos governos da
regio e os desaos que permanecem a serem enfren-
tados para a promoo da igualdade de gnero. Para
isso, a XI Conferncia levar em conta as interaes
entre o Estado, o mercado e as famlias, considerando
que essas trs instncias so instituies sociais cons-
trudas a partir de polticas pblicas, leis, usos e cos-
tumes que, em conjunto, estabelecem as condies
para a renovao ou a perpetuao das hierarquias so-
ciais e de gnero. Nesse sentido, sero discutidos dois
temas-chave para a promoo da igualdade de gnero:
a autonomia econmica da mulher e a ampliao de
oportunidades para as mulheres.
A edio especial que ora lanamos contm
artigos relacionados aos temas da XI Conferncia. Ini-
cialmente, apresentam-se duas entrevistas, seguidas
por sete artigos. A primeira entrevista foi concedida
equipe da SPM/PR por Sonia Montao, atual diretora
da Diviso de Assuntos de Gnero da CEPAL. Nessa
conversa, Montao traa uma breve retrospectiva das
conferncias regionais anteriores, fazendo um balano
dos resultados at aqui alcanados. Discorre, tambm,
sobre suas expectativas para a XI Conferncia.
Na sequncia, apresenta-se a conversa com a
professora Maria da Conceio Tavares, uma das mais
renomadas economistas brasileiras. A equipe da SPM/
PR entrevistou a professora em sua casa, no Rio de
Janeiro, em maio passado. Durante o encontro, a eco-
nomista falou sobre a crise nanceira global que aba-
lou o mundo em 2008, e reetiu sobre seus impactos
em especial, sobre a vida das mulheres. Ela analisou,
ademais, o contexto atual das relaes internacionais
contemporneas, deixando antever suas expectativas
sobre o futuro prximo.
Dando incio seo de artigos da revista,
apresentamos o texto A Hora da Igualdade, de Ali-
cia Brcena. Ao longo do trabalho, a autora traa um
retrospecto da situao econmica da Amrica Latina,
fazendo um balano dos avanos j conquistados e dos
desaos que ainda permanecem a serem enfrentados.
Brcena defende a tese de que necessria a criao
de um novo paradigma de desenvolvimento econmi-
co, capaz de incluir os setores segregados da socieda-
de a m de que se funde uma globalizao mais justa
e equitativa. A autora menciona as transformaes
estruturais que esto ocorrendo na Amrica Latina e
destaca que, em relao questo de gnero, preci-
so investir nos servios voltados para a economia dos
cuidados, em funo da mudana que a regio est
vivenciando em sua estrutura etria h uma tendn-
cia ao envelhecimento populacional. Brcena arma
que apoiar a economia do cuidado signica fomentar a
participao feminina no mercado de trabalho.
O trabalho seguinte, A autonomia econmi-
ca das mulheres e a reproduo social: o papel das
polticas pblicas assinado por Graciela Rodriguez,
diretora da ONG feminista Ser Mulher. Nesse artigo,
Graciela reete sobre o tema da autonomia econmi-
ca das mulheres, lembrando que para bem compre-
ender a questo, preciso levar em considerao as
transformaes scioeconmicas ocorridas na regio
latino-americana nas duas ltimas dcadas. A autora
enfatiza o preponderante papel do Estado, por meio
da formulao e implantao de polticas pblicas, na
garantia da autonomia econmica das mulheres e na
reduo das desigualdades de gnero.
Na sequncia, apresentamos o trabalho de Ni-
cole Bidegain Ponte, intitulado Comrcio e Desen-
volvimento na Amrica Latina: A ordem dos fatores
altera o produto. Propostas de polticas pblicas para
encaminhar o comrcio internacional equidade so-
cial e de gnero. O objetivo do trabalho apresentar
elementos para que os governos da regio possam es-
timular polticas pblicas que encaminhem o comrcio
internacional no sentido da equidade e de um desen-
volvimento genuno. Ao longo do texto, a autora de- 3
monstra que o crescimento do comrcio internacional
na regio latino-americana no contribuiu para a cria-
o de melhores oportunidades de trabalho, alm de
no ter aproveitado as condies de qualicao da
oferta de trabalho feminina. Ela defende que Estados
devem desenvolver polticas pblicas que supram as
necessidades da chamada economia dos cuidados,
por exemplo, por meio da oferta de servios pblicos
de qualidade que visem a diminuir a sobrecarga de tra-
balho das mulheres inseridas no mercado de trabalho.
O texto seguinte, Trabalho domstico remune-
rado na Amrica Latina, de Maria Elena Valenzuela,
aborda a questo da precariedade do trabalho doms-
tico na regio. A autora demonstra que esse tipo de
atividade a principal porta de entrada para o merca-
do de trabalho no caso das mulheres mais pobres, com
menor nvel escolar e que vivem em um entorno de
maior excluso social. Ela destaca que o trabalho do-
mstico, a desigualdade social e de gnero e a pobreza
so fatores fortemente relacionados, que devem ser
enfrentados por meio do aumento do grau de escolari-
dade das trabalhadoras, da melhora de suas condies
de trabalho, e da promoo, em todos os mbitos, da
igualdade de direitos entre homens e mulheres.
O prximo texto, ndices de Desenvolvimento
de Gnero: uma anlise do avano social das mulheres
no Brasil e nas Unidades da Federao, de Cristiane
Soares, apresenta uma anlise de diversos indicadores
relacionados temtica de gnero. O objetivo do tra-
balho elaborar dois tipos de ndices: um relacionado
s necessidades bsicas, sensvel questo de gnero
e de cor; e o outro relacionado a aspectos caractersti-
cos da desigualdade de gnero. Ela parte da anlise de
dados da realidade brasileira para propor esses novos
ndices e conclui que, por mais que o pas esteja avan-
ando no seu processo de desenvolvimento, principal-
mente nos aspectos considerados bsicos, ele ainda
apresenta fortes desigualdades no mbito regional, de
gnero e de cor.
Mantendo o foco da anlise no contexto brasi-
leiro, o texto seguinte, Mulheres em Dados: o que in-
forma a PNAD/IBGE, 2008, assinado por trs autoras,
Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo e Lua-
na Simes Pinheiro, traz uma anlise, com perspectiva
de gnero, dos dados produzidos, em 2008, pela Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD), do
Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (IBGE).
O texto d nfase reexo acerca da rea de atuao
da Secretaria de Polticas para as Mulheres da Presi-
dncia da Repblica (SPM/PR) no mbito das polti-
cas sociais. Estas informaes possibilitam identicar
as mudanas em curso na diviso sexual do trabalho,
com repercusses nos papis femininos e masculinos
no contexto da famlia.
Finalmente, encerrando a publicao, apre-
sentado o artigo Observatrios de gnero na Amrica
Latina: uma anlise comparada os casos do Obser-
vatrio de Igualdade de Gnero da Amrica Latina e
do Caribe e do Observatrio Brasil de Igualdade de
Gnero, assinado por Nina Madsen e Marcela Rezen-
de. O texto apresenta uma reexo comparada acerca
do contexto de surgimento e da importncia poltica e
social de observatrios de gnero na Amrica Latina,
focando a anlise em dois casos especcos: o Obser-
vatrio da Igualdade de Gnero da Amrica Latina e do
Caribe, produzido pela CEPAL; e o Observatrio Brasil
da Igualdade de Gnero, que resulta de uma iniciativa
da Secretaria de Polticas para as Mulheres da Presi-
dncia da Repblica do Brasil. As autoras apontam, na
concluso, uma tendncia de surgimento de novos ob-
servatrios de gnero no contexto latino-americano, o
que reete no s o fortalecimento e a incorporao
pela sociedade da temtica de gnero, como tambm
a democratizao desse mecanismo de controle social.
Boa leitura!
Nilca Freire
Ministra de Estado Chefe da Secretaria
de Polticas para as Mulheres
4
E
N
T
R
E
V
I
S
T
A
C
O
M
S
o
n
i
a
M
o
n
t
a
o
1. Quando e de que forma surgiu a ideia de criar
a Conferncia Regional sobre a Mulher da
Amrica Latina e do Caribe da CEPAL?
A Conferncia Regional sobre a Mulher tem
suas origens em Havana, em 1977, devido d-
cima primeira reunio extraordinria do Comit
Plenrio da Comisso Econmica para a Amrica
Latina (o Caribe ainda no participava).
2. Qual a importncia poltica desse
espao para a promoo dos direitos
das mulheres na regio?
Desde a primeira Conferncia Regional so-
bre a Integrao da Mulher no Desenvolvimento
Econmico e Social da Amrica Latina (Havana,
Cuba, 13 a 17 de junho de 1977), que adotou o
Plano de Ao Regional sobre a Integrao da
Mulher no Desenvolvimento Econmico e Social
da Amrica Latina e do Caribe
1
, passando pela
sexta Conferncia Regional na qual se adota
o Programa de Ao Regional para as Mulheres
da Amrica Latina e do Caribe, 1995-2001, que
foi raticado no Consenso de Santiago (CEPAL,
1997) durante a stima Conferncia Regional so-
bre a mulher da Amrica Latina e do Caribe ,
at o Consenso de Quito, adotado pela dcima
Sonia Montao nasceu em dezembro de 1955, na cidade de Cochabamba, na Bol-
via. Obteve bacharelado em Humanidades em 1973 e licenciou-se em Trabalho Social
pela Universidade Mayor de San Andrs, em 1979, e em Sociologia, em 1982. Em 1986,
obteve o diploma de mestre em Economia Rural. Foi Secretria Acadmica da Universi-
dade Mayor de San Andrs em 1992 e docente titular, entre 1982 e 1996, da Faculdade
de Cincias Sociais, na rea de trabalho social. Atualmente, ocupa o cargo de diretora
da Diviso de Assuntos de Gnero da CEPAL.
Em junho passado, concedeu entrevista equipe da Secretaria de Polticas para
as Mulheres da Presidncia da Repblica do Brasil (SPM/PR), na qual elabora reexes
sobre a trajetria das conferncias regionais sobre as mulheres da Amrica Latina e do
Caribe, o impacto dessas instncias para a vida das mulheres da regio e sua inuncia
no cenrio poltico do continente latino-americano.
Conferncia Regional em 2007, os pases da Am-
rica Latina e do Caribe deram grandes passos no
processo de institucionalizao das polticas de
igualdade de gnero.
A principal contribuio da Conferncia foi
o apoio fornecido criao dos mecanismos para
o avano da mulher, sua hierarquizao e aplica-
o da transversalizao da perspectiva de gne-
ro nas polticas pblicas.
Tambm foi importante o trabalho de pes-
quisa e documentao dos principais desaos,
como a pobreza das mulheres, a violncia e o
acesso ao emprego. Nos ltimos anos, a Confe-
rncia deu lugar a um importante desenvolvimen-
to dos mecanismos de gnero no mbito social,
estatstico e jurdico, facilitando a colaborao
regional e o intercmbio de boas prticas em
temas to importantes como as polticas traba-
lhistas, a reforma da previdncia e a valorizao
do trabalho no remunerado.
3. Qual a sua avaliao sobre os
processos na Conferncia?
Positiva. A Conferncia ganhou legitimida-
de, por seu enraizamento entre as Ministras e au-
toridades dos mecanismos para o avano da mu-
1
Em 1975, por ocasio da realizao da Conferncia Mundial do ano Internacional da Mulher no Mxico, aprova-se o primeiro instrumento internacional destinado a
promover sistematicamente a integrao das mulheres no Desenvolvimento: o Plano de Ao Mundial. Os Estados-membros das Naes Unidas, conscientes das dife-
renas existentes entre as distintas regies, decidem nessa oportunidade que tal instrumento se complementar com diretrizes regionais. Em 1977, os pases-membros da
CEPAL elaboram e aprovam em Havana o Plano de Ao Regional sobre a Integrao da Mulher no Desenvolvimento Econmico e Social da Amrica Latina. Decidem,
ainda, estabelecer um frum governamental permanente que se ocupe desse tema; a Conferncia Regional sobre a Integrao da Mulher no Desenvolvimento Econmi-
co e Social da Amrica Latina e do Caribe, que se reuniria a cada trs anos para avaliar os avanos obtidos na aplicao do Plano de ao regional, e recomendar
futuras vias de ao. Em 1980 e 1985 se realizam novamente Conferncias mundiais sobre a mulher, nas quais se formulam o Programa de Ao para a Segunda
Metade do Decnio das Naes Unidas para a Mulher (Copenhague), e as Estratgias de Nairobi, orientadas para o futuro, para o avano da mulher (Nairobi).
Essas ltimas, baseadas no Plano de 1975, e no Programa de 1980, se convertem de fato no principal instrumento mundial, enriquecendo o Plano de Ao para a
Amrica Latina e o Caribe aprovado em 1977, que cumpre a mesma funo regionalmente. Em 1991, a Quinta Conferncia Regional sobre a Integrao da Mulher
no Desenvolvimento Econmico e Social da Amrica Latina e do Caribe (Curaao) recomenda a elaborao de um programa de ao regional para 1995-2001, que
complemente os instrumentos anteriores, levando em conta as mudanas registradas na regio durante a dcada de 1980 e a necessidade de aes complementares
para acelerar os processos em curso. Nas resolues 45/129 da Assembleia Geral, 1990/12 do Conselho Econmico e Social, e 36/8A da Comisso da Condio
Jurdica e Social da Mulher, os Estados-membros das Naes Unidas recomendam celebrar a Quarta Conferncia Mundial sobre a Mulher em Pequim, em 1995, e
elaborar uma plataforma de ao para o perodo 1995-2001. Portanto, o Programa de Ao Regional 1995-2001 constitui, ao mesmo tempo, um produto da Sexta
Conferncia Regional sobre a Integrao da Mulher no Desenvolvimento Econmico e Social da Amrica Latina e do Caribe (Mar del Plata, 1994), e uma contribuio
Quarta Conferncia Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995), e reflete as prioridades dos pases membros da Amrica Latina e do Caribe para os prximos cinco
anos. 5
E
N
T
R
E
V
I
S
T
A
C
O
M
S
o
n
i
a
M
o
n
t
a
o
lher, pela importante presena de representantes
da sociedade civil, porque oferece um espao de
colaborao interagencial aos organismos das
Naes Unidas que podem responder coordenada-
mente s necessidades dos pases e porque seus
consensos inspiraram importantes mudanas.
4. Quais so os avanos mais importantes
conquistados a partir da Conferncia?
Alm da institucionalidade de gnero, h
importantes conquistas, como o avano em edu-
cao das mulheres, sua entrada no mercado de
trabalho, a presena poltica nos parlamentos e
a presena mais frequente de mulheres na toma-
da de decises, como vem ocorrendo nos ltimos
anos na Jamaica, Chile, Argentina, Costa Rica e
Trinidad e Tobago. A paridade tambm foi reco-
nhecida em vrias constituies e praticamente
todos os pases melhoraram a ateno s vtimas
de violncia. As atividades de recolhimento de
informao, pesquisas apropriadas e visibilidade
das desigualdades, tudo isso faz parte do contex-
to em que atuaram as Ministras e as organizaes
de mulheres e em que foi fortalecido o papel da
Conferncia.
5. Quais desaos permanecem para
ser enfrentados?
A plena igualdade no foi conquistada, os
direitos trabalhistas das mulheres no so res-
peitados e ainda estamos longe de reconhecer
a contribuio delas na vida cotidiana, no cui-
dado e na reproduo. Preocupa a situao de
muitas mulheres que se mantm na pobreza (h
mais mulheres pobres do que homens nessa si-
tuao), preocupa a situao das mulheres dos
povos indgenas, a quem no se reconhece direi-
tos coletivos e culturais, e preocupa a situao
das mulheres afrodescendentes, que em muitos
pases sofrem uma dupla discriminao. Outro se-
tor que merece ateno o das empregadas do-
msticas. Os direitos reprodutivos so um desao
que se expressa na gravidez na adolescncia, na
feminizao do HIV em alguns pases e em uma
persistente e alta mortalidade materna.
6. O que se espera da XI Conferncia,
considerando-se o marco de Pequim + 15?
Espera-se uma grande participao que
permita fortalecer as alianas entre as organi-
zaes de mulheres, os governos e os organismos
internacionais para acelerar o cumprimento dos
compromissos internacionais, especialmente em
relao ao empoderamento econmico das mu-
lheres, ao reconhecimento de seu trabalho no
remunerado e ao acesso ao mercado de trabalho
em condies dignas.
7. Como acontece a participao das
diferentes naes latino-americanas
nas Conferncias? Quais so as
principais diferenas entre elas com
relao ao compromisso no processo
dessas Conferncias?
Existem diferentes formas de participao,
mas a tendncia atual de um maior dilogo en-
tre mecanismos para o avano da mulher e das
organizaes sociais. Isso acontece felizmente
em muitos pases, e precisamente neles onde
se veem maiores progressos.
8. De que forma as polticas pblicas
implementadas no mbito internacional
podem ser complementadas pelas
resolues validadas nas Conferncias?
Porque oferecem argumentos, evidncia em-
prica e reforam a vontade poltica. A experin-
cia com o Consenso de Quito, de 2007, de que
os pases o levaram realmente a srio e responde-
ram dando a conhecer as mudanas legislativas,
os programas contra a violncia, a adoo de leis
de proteo social, a criao de Observatrios,
a adoo de leis de igualdade e de proteo s
trabalhadoras do lar.
9. De que maneira acontece o dilogo
entre essa instncia internacional
e os pases participantes?
A Conferncia elege uma Mesa Diretiva que
se rene duas vezes por ano e da qual participam,
alm dos pases eleitos, todos os interessados.
A experincia mostra que h um alto interesse,
posto que em cada reunio participam, em m-
dia, 15 pases.
6
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
No ltimo dia 29 de maio, a professora Maria da Conceio Tavares recebeu em sua
casa, no Rio de Janeiro, a equipe da Secretaria de Polticas para as Mulheres da Pre-
sidncia da Repblica (SPM/PR), para um bate-papo informal sobre a crise econmica
global, seus impactos sobre as mulheres e o futuro das relaes internacionais.
Nascida em Portugal, em 24 de abril de 1930, solicitou a nacionalidade brasileira
em 1957. Diplomada em Matemtica pela Universidade de Lisboa, em 1953; em Cincias
Econmicas, em 1960, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Doutora
em Economia pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Na graduao em Cincias
Econmicas (UFRJ), foi assistente do professor Otvio Gouveia de Bulhes, ministro da
Fazenda e eminente economista brasileiro. Essa experincia iniciou-a na carreira docen-
te, continuada at os dias atuais. Foi professora de vrias geraes de economistas na
UFRJ e na UNICAMP, funo de que muito se orgulha. uma das pessoas responsveis
pela implantao da ps-graduao em Economia no Brasil. Ainda nos anos 1960, foi
diretora do Escritrio Regional da CEPAL no Rio de Janeiro e, nos anos 1980, do Insti-
tuto de Economia da UFRJ.
Intelectual com slida e vasta formao histrica, losca e literria, professora,
militante e deputada federal, na dcada de 1990, pelo Partido dos Trabalhadores. Maria
da Conceio se transformou, nos ltimos 50 anos, em uma gura pblica emblemtica,
e numa referncia decisiva dentro da vida econmica, cultural e intelectual brasileira.
Seus livros e artigos escritos ao longo desses 50 anos de atividade intelectual de-
monstram preocupao permanente em pensar o Brasil e o desenvolvimento econmico.
Trs de seus livros so leitura obrigatria nas faculdades de Economia: Auge e Declnio
do processo de substituio de importaes (1972), Ciclo e Crise: o movimento recente
da economia brasileira (tese de doutorado, de 1978 e 1998), Acumulao de capital e
industrializao no Brasil (1985 e 3 ed. 1998).
Conra, abaixo, o contedo da conversa.
1. Professora, em sua opinio, como car
a ordem econmica mundial fundada na
moeda norte-americana, como moeda de
reserva, diante da crise de 2008 e seu
recrudescimento em 2010?
No vai ter nenhuma ordem mundial. Vai ter
uma desordem mundial, porque, objetivamente, o
dlar continua sendo a moeda dominante. Na ver-
dade, a Europa tambm est muito mal, o Japo
teve uma crise feroz e a China, apesar de estar
em crescimento, tem uma moeda que ainda no
disputa posio internacional. Ento, no temos
mais nenhum sistema internacional digno desse
nome. As moedas utuam muito e tambm no
h nenhum acordo para substituir o dlar por ou-
tras moedas. Os Estados Unidos vetam qualquer
acordo. Por exemplo, no ltimo dia 20 de maio,
houve uma nova demanda por controle bancrio,
mas nada mudou, nada est sendo feito neste
sentido. No se tem ordem, tem-se desordem.
2. Nesse caso, dessa desordem internacional
do mercado nanceiro, como caria a
mobilidade de capitais para os pases
perifricos, para a Amrica Latina, a
frica? Sero muito afetados? Pouco
afetados? O que se pode pensar?
Na verdade, a mobilidade de capitais
vai continuar. Apenas ser mais instvel. Em
pases que tm oportunidade de investimento,
como, por exemplo, o Brasil, est entrando
muito capital. No apenas investimento direto,
mas tambm especulativo, para o mercado de
ativos. A frica tambm receptora de capitais
por causa das perspectivas do petrleo. Tanto
os americanos quanto os chineses esto
disputando esse mercado. Na verdade, para
onde no dever haver grande entrada de
capitais para os pases desenvolvidos, que
foram os mais afetados pela crise.
7
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s3. E no caso da Amrica Latina?
Tem o Mxico que complicado, pois esse
foi um dos pases mais afetados pela crise, por-
que periferia imediata dos Estados Unidos. Em
todo o caso, o Mxico depende muito de os Es-
tados Unidos se recuperarem mais rmemente,
porque l basicamente as indstrias so liais
americanas.
4. E quando ao Caribe e Amrica Central?
So sempre economias um pouco atrapa-
lhadas. Nunca so fontes importantes de re-
cepo de capitais.
5. E a Venezuela?
A Venezuela no tinha entrada de capitais.
O dinheiro o do petrleo, que eles gastaram
de maneira pouco sbia, porque no mudaram a
estrutura produtiva. No mudaram nada, por isso
so muito dependentes de importaes. Mas o
resto da Amrica do Sul no tem muito que ver
com isso.
6. E a Argentina, passou ao largo da crise?
Passou, sim. Foi um dos nicos pases que
no teve recesso na Amrica Latina. Ela passou
ao largo da crise porque no est ligada ao siste-
ma nanceiro internacional, desde a questo da
dvida. Como eles ainda no resolveram a ques-
to da dvida externa, j que vrios dos pases
credores no estiveram de acordo em fazer a re-
estruturao da dvida argentina, eles no foram
afetados pela crise, porque j tinham entrado em
crise antes.
7. Quer dizer, eles esto saindo
do fundo do poo?
No exatamente, porque eles j saram do fundo
do poo h uns dois anos.
8. Ento, j esto na fase de recuperao.
Esto na fase de recuperao, mas depen-
dem dos fatores internos, um dos quais a ener-
gia. A Argentina tem problemas de energia s-
rios, de gs, de petrleo. Esse aspecto da ener-
gia no est legal. Por outro lado, a economia
argentina est praticamente ligada sia. No
esto exportando nem para os Estados Unidos
e nem para a Europa. Esto exportando basica-
mente para a sia.
9. a China que est l, professora?
A China e todo mundo. Mas, basicamente, a
China.
10. Basicamente, no caso da China, a
senhora v futuro para o Mercosul nessa
questo da mobilidade de capitais?
Mas a mobilidade de capitais no tem que
ver com o futuro do Mercosul.
11. Mas o Mercosul ainda tem futuro?
Sim, mas no por causa disso. Por conta da
integrao dos seus mercados internos e da sua
proteo externa. Porque, na verdade, nem o Pa-
raguai, nem o Uruguai e nem a Argentina atraem
o capital estrangeiro. Somos ns. o Brasil, um
dos maiores pases do mundo, depois da China.
12. No sua opinio, qual a perspectiva
para o nanciamento dos elevados
dcits em transaes correntes,
sem constrangimentos para a poltica
macroeconmica norte-americana, na
relao com os pases asiticos? A
senhora acha que EUA e China tendem a
continuar essa relao to fraternal?
Inicialmente, eu achava que no, porque
tem uma contradio. Mas at agora a China,
apesar de reclamar contra a dominao do dlar,
no se viu livre das reservas em dlar. Nem ela
e nem o Japo. Ento, a China e o Japo sozi-
nhos tm mais de dois trilhes de dvida pblica
americana em reservas. E no devem saber o que
fazer. Tambm no d para trocar pelo euro, que
est em crise. No d para trocar por nada. Essa
a verdade. Ento, eles tm que ir se afastando
lentamente na margem. As novas reservas, eles
podem acumular em outras moedas, mas as que
estavam l, em dlar, continuaro!
13. Ento, nesse caso, a senhora acha
que h futuro para o dlar? Qual o
destino da moeda norte-americana
como moeda de reserva?
A curto prazo, continuar como moeda im-
portante de reserva. Continuar porque, como
agora o euro se desvalorizou, quem tinha reser-
vas em dlar, no perdeu nada. Quem tinha reser-
vas em euros que perdeu. Ento, o impulso para
o euro teve uma desacelerao pesada com esta
nova crise, e a crise europeia ajudou os Estados
Unidos a manterem sua posio dominante.
8
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
14. A perspectiva de se pensar que a crise
de 2010 enfraqueceu a moeda dos
Estados Unidos no tem sentido?
No tem sentido. Em 2010, enfraqueceu a
moeda europeia. Os Estados Unidos, pelo contr-
rio, valorizaram sua moeda. S o real valorizou
mais, porque entra tanto capital no Brasil que
ns valorizamos mais que o prprio dlar.
15. E a Amrica Latina, como cou?
Acompanha essa valorizao e a China tam-
bm. Ento, no aconteceu nada. O fato que
o euro deixou de ser candidato, a curto prazo, a
tornar-se uma moeda de reserva importante na
economia mundial com essa desvalorizao.
16. Isso coloca um freio na perspectiva
europeia de criar uma hegemonia mundial?
Na verdade a economia europeia nunca
teve nenhuma chance, eu diria. Se algum vai
disputar a hegemonia, a longo prazo, vai ser a
sia ou a China, em particular. A Europa um
continente muito envelhecido, muito deprimi-
do, com desemprego, em crise scal. A Europa
est mal. Para ela, a crise no passou comple-
tamente, pelo contrrio, se agravou agora com
a crise da Grcia. Primeiro, em 2008, bateu
direto na periferia do Leste Europeu. E essa,
agora, bateu no Mediterrneo. A Grcia prati-
camente explodiu e Portugal e Espanha esto
abalados. E ainda tem o norte da Europa, que
no zona do euro, mas tambm sofreu com a
crise. A prpria Inglaterra no est bem.
17. No pensamento latino-americano,
os seus escritos da dcada de oitenta
so pioneiros nessa discusso da
hegemonia norte-americana.
verdade. E eu acho que difcil derrub-la.
uma hegemonia ruim, no consegue congregar
foras do sistema. No uma hegemonia con-
sentida, como foi a do ps-guerra, mas continua
dominante. No tem nenhum candidato vista,
no curto prazo.
18. Ento, o que a senhora escreveu no
nal dos anos setenta e incio dos
oitenta nunca esteve to atual?
Houve um estremecimento. Mas a crise
bateu muito mais no Japo e na Europa. Mes-
mo a de 2008. O mais prejudicado dos pases
desenvolvidos foi o Japo, que ganhou uma
trombada; e a Alemanha, em seguida. Ento,
na verdade, se voc olhar a queda da produo
industrial, os outros pases desenvolvidos fo-
ram os mais prejudicados, mas no os Estados
Unidos.
19. Apesar do que a imprensa noticiava!
Nos Estados Unidos, a questo foi nancei-
ra, o resto conversa. Crise nanceira de endi-
vidamento e de crdito, mas o governo socorreu
logo o sistema nanceiro e at agora este conti-
nua protegido. No se sabe o que vai acontecer.
20. Portanto, a crise de 2010 abala o sistema
internacional monetrio, mas o dlar
continua como moeda reserva.
No abala o sistema monetrio internacio-
nal porque no tem sistema nenhum. Abala o
euro, especicamente. A crise de 2010 no tem
que ver com o sistema monetrio internacional
porque o euro no era a moeda dominante ainda.
E agora nem candidato . Continua o imprio do
dlar.
21. Esta crise pode trazer consequncias
pesadas para as mulheres? Para as
mulheres trabalhadoras, em especial?
O que a professora pensa sobre o assunto?
A crise de 2008 trouxe consequncia basi-
camente para os homens, porque foi uma crise
industrial e da construo civil, onde o empre-
go majoritariamente masculino. Mas agora,
com essa estagnao geral, particularmente na
Europa, as mulheres vo ser atingidas, porque
servios e comrcios, atividades que ocupam um
enorme contingente feminino, sero provavel-
mente atingidas. E tambm o salrio. Os salrios
na Europa esto praticamente congelados. Como
j havia diferenas salariais entre mulheres e ho-
mens, obviamente a pancada sempre maior nos
mais fracos.
22. Tanto o dlar norte-americano quanto os
ttulos emitidos pelo mercado nanceiro
norte-americano vo continuar sendo a
ncora do sistema nanceiro global.
Eu no sei se os ttulos emitidos pelo mer-
cado nanceiro, mas os ttulos da dvida pblica,
seguramente. Os Estados Unidos esto com um
dcit scal cavalar e, portanto, emitindo dvida
pblica, mas esta tem aceitao. O dlar conti-
nua sendo aceito como moeda de reserva e como
ncora. Todos correm para a dvida pblica ameri- 9
cana. Consideram que esse um estado soberano
e que tem poder e ningum se engana muito a
respeito do poder americano.
23. Poder militar e econmico?
Econmico mas, sobretudo, nanceiro. Se
o sistema est ancorado na dvida pblica ame-
ricana, quanto mais ela cresce, mais o mercado
nanceiro internacional continua em dlar. O
continente europeu est mal, o Japo est mal e
a economia chinesa no mercado nanceiro in-
ternacional ainda. Seus ttulos e moeda no so
aceitos como ncora do sistema. A China vai ter
que resolver esse problema da moeda internacio-
nal deles, mas, por enquanto, no est resolvido.
24. Em sua opinio, a crise da Europa
perturba denitivamente a possibilidade
de crescimento dos sistemas nanceiros
domsticos europeus?
Eu acho que sim. Porque o que vem depois
da crise scal a crise dos bancos, no tem jeito.
Sobretudo os bancos alemes, que tinham em-
prestado mais dinheiro e que no esto dispostos
a aceitar a reestruturao das dvidas. Ficam na
carteira com ttulos podres que, na verdade, no
valem nada. Esse um dos problemas. O Banco
Central Europeu talvez esteja disposto, eventual-
mente. Mas o Banco Central Europeu no manda
nos bancos. Os bancos so globais, internacio-
nais. Londres tambm no est disposta a acei-
tar. Ento, na verdade, se os alemes e os ingle-
ses no esto dispostos a aceitar, ningum est
disposto.
25. E a Frana?
A Frana no tem um sistema nanceiro pri-
vado internacional forte.
26. A Frana tem um sistema nanceiro pblico
mais avanado?
Mais desenvolvido que os outros. E esse
tambm no vai aceitar. Ningum vai aceitar
nada. Esse que o problema. Em princpio o que
eles zeram foi ajudar. Deram um pacote de aju-
da gigantesco. Mas voltando, como os pases em
crise no podem desvalorizar a moeda, porque
esto presos Europa do euro, e por outro lado
como no tm poltica scal compensatria e
unicada, eles cam sem margem de manobra.
Esto obrigados a fazer um ajuste para baixo, um
ajuste de renda e de salrio para baixo. E isso
depresso.
27. Isso pode fazer com se questione
o euro como moeda comum?
Eu acho que pode. Acho que as franjas dos
sistemas provavelmente quebraro. o que tem
acontecido. Mas, no momento, eles expandiram
demais o sistema, expandiram o euro para muitos
pases. Como no tm uma poltica scal comum
e nem social, s unicaram a moeda e o capital
nanceiro. Mais nada. Unicaram o capital, mas
o povo, coitado, no tem nada que ver com o
capital, a no ser para levar pancada.
28. Por isso os tumultos.
Por isso os tumultos, claro. Fazer um ajuste
de Fundo Monetrio Internacional em cima de um
pas que j est com enorme taxa de desemprego
e no est crescendo nada! Imagina na Espanha,
que j tem uma taxa de desemprego selvagem. E
mesmo Portugal. E sem falar na Grcia, porque
aquilo foi uma desgraceira. Ento, realmente, a
Europa no est legal e a crise deles pode se pro-
longar por muito tempo. O que assusta, porque a
Europa o bero do comrcio internacional.
29. E a Europa sempre foi um barril
de plvora, de disputas.
Sim. Mas eu no associo imediatamente a
crise econmica crise militar. Porque no existe
mais Unio Sovitica, qualquer enfrentamento na
Rssia por outras razes. A Rssia pode aprovei-
tar a situao, mas no creio. No ainda por a.
30. Mas toda essa crise no pode colocar em
questo o discurso da globalizao? Quer
dizer, h uma instabilidade latente?
No discurso at pode, no processo de globa-
lizao que no pode. Porque como a globaliza-
o feita em dlar e o dlar ainda no sumiu,
muito pelo contrrio, no h nenhuma relao.
S haveria crise de globalizao se o dlar en-
trasse em crise. A sim, porque no tem nenhuma
moeda substituta. Todos os pases voltariam s
polticas monetrias nacionais, mas no o caso.
Justamente, essa crise europeia, ao conrmar o
dlar como moeda internacional, ajuda a manter
a posio hegemnica americana.
31. E a Escandinvia?
Esto fora do sistema. Eles no tm euro.
32. E a posio deles foi reforada?
Reforada eu no diria, porque ningum
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
10
quer ser periferia europeia. Quer dizer, a Europa
continental um mercado preferencial para todos
os pases europeus da periferia. Com a Europa
diminuindo o crescimento e entrando em estag-
nao, o comrcio diminui. Na verdade afeta at
a ns, um pouco, porque exportvamos para eles
matrias-primas importantes. No afetar muito
o Mxico, porque o Mxico no era cliente de-
les, mas dos Estados Unidos. A Argentina j est
mandando basicamente para a sia. Mas o Brasil,
por exemplo, no. Atinge o comrcio brasileiro.
Nem sei se afetar a prpria Rssia, que expor-
tadora importante de gs para a Europa. De um
modo geral, o continente europeu ser todo afe-
tado. Independentemente de estar ou no estar
no euro, via comrcio e via crdito. E na perife-
ria, ns somos um pas multilateral em matria
de comrcio, tnhamos uma participao relati-
vamente importante na Europa.
33. O que a professora pensa sobre a frica?
A frica outra coisa.
34. E a sia?
A sia no tem nada que ver, tambm.
35. So outros sistemas?
Sim, so outros sistemas.
36. Pode a crise europeia enterrar o euro?
Ah, no sei. Isso tambm no d para dizer.
O euro um fenmeno poltico, a menos que a
Alemanha e a Frana, que foraram o acordo e
so os pases mais fortes, sofram uma crise to
grande, capaz de afetar toda a zona do euro. En-
terrar mais complicado. Vai voltar ao sistema
de utuao europeia que deu um bode em 1990.
Enterrar, no creio. Mas pode encolher, a perife-
ria pode saltar fora, porque ela no aguenta.
37. O futuro da Europa seria esse?
O futuro europeu est muito incerto. O
euro, para desaparecer, precisa que a Alemanha
e a Frana, que so seus fundadores, estejam
de acordo com isso. A sim, a Europa levaria um
tombo complicado. Voc teria que desestruturar
o sistema todo e fazer polticas nacionais com-
pensatrias que, do ponto de vista cambial, do
ponto de vista da taxa unicada, vai ser uma per-
turbao colossal.
38. E a Inglaterra?
Ela no tem nada que ver porque a libra
sempre foi uma moeda internacional. Londres
uma praa nanceira global, no tem nada que
ver com os fenmenos regionais. A libra, na ver-
dade, depois do dlar, a moeda mais internacio-
nalizada.
39. Professora, e em relao s polticas
scais? No h nenhuma possibilidade
de cooperao?
Nenhuma. Porque as polticas scais, para
serem mais leves, tinham que ter algum outro
mecanismo de ajuste e no tm, porque no po-
dem desvalorizar. Quando aprovaram o Tratado de
Maastricht
1
, tinham que ter coordenado as duas
polticas, a monetria e a scal. No coordena-
ram, e agora a coordenao est sendo recessiva,
com a Alemanha puxando o prprio ajuste scal.
40. Ento, essa a origem da crise.
Origem remota da crise. Fizeram uma moeda
nica sem ter uma poltica scal coordenada. E
isso foi uma besteira, evidente. Voc no pode
fazer uma poltica sem a outra. Fazer poltica
monetria e no fazer poltica scal junto no
d certo. No pode ir cada uma em uma direo.
Isso foi a origem. Na verdade, se a crise for mui-
to intensa e eles tiverem que refazer o acordo,
nesse caso tem que fazer uma nova conferncia
de Estado; no um negcio que venha esponta-
neamente pelo mercado. Teria que ter um acordo
poltico pesado. Eu no vejo nada, de onde vai
surgir essa poltica.
41. E no caso da sia, quer dizer, Japo, China
e ndia tem futuro?
Claro. O Japo, coitado, como j um pas
gordo, digamos, rico, est meio jiboiando, mas
a crise os afetou muito. Inclusive porque o Japo
tambm tinha um comrcio diversicado. No en-
tanto, os Estados Unidos j esto colocando bar-
reiras para todo mundo. O Japo agora, na verda-
de, depende muito do destino da prpria China.
A China puxando, o Japo vai junto. o contrrio
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
1
O Tratado de Maastricht foi aprovado em 7 de fevereiro de 1992 e entrou em vigor em 1 de novembro de 1993. Este tratado representa uma etapa determinante na
construo europeia, com a instituio da Unio Europeia, criao de uma Unio Econmica e Monetria e alargamento da integrao europeia (nota da editora).
11
2
O termo Bretton Woods I nome pelo qual conhecido o Acordo de Bretton Woods, firmado em 1944, nos Estados Unidos, pelos 45 pases que estiveram presentes
ao encontro ocorrido na cidade de Bretton Woods e que tinha como objetivo estabelecer regras para a poltica econmica mundial. Segundo esse acordo, as moedas
dos pases-membros passariam a estar ligadas ao dlar norte-americano ancorado no ouro que passou a ser a moeda forte do sistema financeiro mundial e, portanto,
moeda de reserva. Nesta mesma reunio foram criados o Fundo Monetrio Internacional (FMI) e o Banco Mundial para supervisionar este sistema. Durante vinte anos,
esse sistema funcionou, mas com a degradao das contas norte-americanas, este acerto acabou deteriorando-se e, em 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon
desvinculou o dlar do ouro. Em 1973, o desmantelamento do Acordo culminou com a flutuao das moedas [conhecido como Bretton Woods II], (nota da editora).
de antes. Porque, na verdade, a China est coo-
perando na sia. como se fosse a Alemanha da
sia. Faz dcit com os pases asiticos, puxa o
comrcio dos asiticos, a Alemanha da sia.
42. E a ndia?
A ndia vai sozinha. uma economia mais fecha-
da que vai mais pelo mercado interno e pela tecnolo-
gia mais do que propriamente pelas exportaes.
43. A senhora acredita que existe algum
destino na relao Amrica Latina, China
e Japo? Essa seria uma possvel sada?
No caso japons, j houve. Agora j no
adianta. O Brasil j teve uma relao muito in-
tensa com o Japo. Esto querendo voltar. Mas
acontece que os chineses no esto querendo,
esto desembarcando. E os chineses, claro, dis-
putaro a Amrica Latina a tapa. J esto dispu-
tando a frica e agora esto disputando o Brasil.
Esto comprando at terra. E a Argentina, idem.
Como eles so carentes de matria-prima, claro,
eles vo querer investir para que as empresas se-
jam deles. Eles tm fundos. Tm aqueles fundos
soberanos gigantescos e esto aplicando em toda
parte da periferia.
44. correto dizer que a China, nessa corrida
Sul-Sul, concorre com o Japo?
O Japo no tem nada que ver com isso. O
Japo j era.
45. A China tem vantagem cambial?
Claro. sobre isso que os Estados Unidos
protestam. A China acompanha o dlar. Tem van-
tagem cambial, no h a menor dvida. Todo
mundo protestou. Alm de ter custo de mo-de-
obra muito baixo, no tem custos sociais altos.
No tem previdncia pblica, ao contrrio da Eu-
ropa e do Japo.
46. Na realidade, professora, para esclarecer
aos leitores da revista, os economistas
costumam armar que as mudanas no
sistema nanceiro internacional passaram
por duas grandes transformaes, do sculo
XX para o XXI. o que eles chamam de
Bretton Woods I, da fundao, e Bretton
Woods II, que de 1973
2
. Qual o sentido
dessas mudanas na perspectiva desse
novo traado geogrco da economia
e das nanas mundiais?
O que teve muita importncia no traado
das nanas mundiais foi o chamado Bretton
Woods II. Na verdade, foi a passagem unilate-
ral do dlar xo para o dlar exvel. E, com o
dlar exvel, o dlar utua. Ao utuar, acompa-
nha mais as medidas de liberalizao, de desre-
gulao da conta de capitais que deram lugar
globalizao nanceira. Isso foi o que unicou
o mercado nanceiro em primeira instncia, se-
guido pela unicao comercial e produtiva, que
provocaram uma mudana enorme da diviso in-
ternacional do trabalho. Porque a China no era
uma produtora e exportadora de manufaturas,
eram o Japo e os Tigres Asiticos que faziam
esse papel. Esses se armaram no Bretton Woods
I, mas quem se armou no Breton Woods II foi a
China. E ela , hoje, uma grande exportadora de
manufaturas baratas para todo o mundo. Isso faz
com que ela reverta as relaes de troca. Como
ela importadora de matria-prima, cujo preo
ainda est relativamente alto, e exportadora de
manufaturas, cujos preos esto baixos, ento,
as relaes de troca so mais favorveis a ns,
por exemplo.
Essa nossa integrao internacional no tem
nada que ver com o sculo XIX ou XX. outra in-
tegrao. uma integrao que depende muito,
insisto, do destino da prpria China e da sia.
Ns estamos cada vez mais nos dirigindo para a
sia. A China j o maior importador do Brasil.
J no so os Estados Unidos. Quer dizer, isso j
aconteceu h uns trs anos.
47. A crise pode provocar, na opinio da
professora, uma recongurao na diviso
sexual do trabalho?
Sexual eu no sei, porque eu no sei o que
est acontecendo com a composio do mercado
de trabalho na China. Como o que est aconte-
cendo na China dominante, isso importante.
No tenho a menor ideia se a economia chinesa
usa mais mulheres ou no. Imagino que s usam
as mulheres para a produo de artefatos eletr-
nicos, como zeram anteriormente os japoneses
e os Tigres. No resto das coisas, eu no creio, por
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
12
exemplo no setor de bens de capital, ou na enge-
nharia. Seguramente no h nenhuma possibili-
dade de ascenso social das mulheres para postos
dirigentes nos sistemas bancrios, nos sistemas
polticos, etc. Ela levou um tempo no Japo.
Imagina o tempo que vai levar na China.
48. Voltando historia da globalizao,
no nal dos anos 1990, a professora j
armava que as grandes instituies
nanceiras vivem e operam em um
mundo global e sem fronteiras, mas
morrem nacionalmente.
Ah, pois . Morrem nacionalmente desde
que os governos as deixem morrer. No caso ame-
ricano, se o governo tivesse deixado os bancos
morrerem, o que teria acontecido? Lembram de
setembro de 2008? Imediatamente, o governo fez
a interveno e no deixou quebrarem os demais
bancos. Gastaram mais de dois trilhes de d-
lares para socorr-los e incorporaram os ttulos
podres dos bancos. Ento, o que vai acontecer
com os bancos nacionais americanos depende do
governo americano, sem dvida nenhuma.
49. Nesse caso, quem tem grandes bancos
pblicos, j tem meio caminho andado
para evitar a quebradeira?
Bancos pblicos s tm a China e o Brasil.
50. Na Amrica Latina ningum mais tem?
A Argentina eu posso dizer, porque o siste-
ma bancrio l foi muito afetado. Ficaram o Ban-
co da Nao e o Banco de Buenos Aires. Mas um
mercado nanceiro muito restrito. Privatizaram
todos os bancos durante o neoliberalismo.
51. Mesmo os europeus perderam o controle de
capital, professora?
Todo mundo perdeu o controle de capital.
Isso aconteceu na dcada de 1990. A conta de
capital abriu para todo mundo, inclusive para o
Japo, que no tinha aberto nunca. At deva-
garzinho, a China est abrindo, apesar de terem
um bom controle de capital. Mas como eles tm
liais de bancos internacionais no seu territrio,
devagar o andor vai caminhando. A menos que
haja uma segunda crise nanceira pesada nos
bancos, que arrebente com o sistema nanceiro
global, no vejo nenhuma evidncia de que vai
acabar a globalizao.
52. Quer dizer, no h nenhuma possibilidade
de se repetir a crise de 1930?
No, nenhuma, porque 1930 no tem nada
que ver com essa crise, no sentido de que, em
1930, eles eram ultraliberais at na poltica. Quer
dizer, deixaram quebrar. E no zeram polticas
anticclicas. Em 2008, todo mundo fez poltica
anticclica, razo pela qual esto todos com d-
cits scais gigantescos. No foi o caso de 1930,
em que houve um ajuste scal que precipitou
uma recesso prolongada.
Eu no acho que estamos beira de uma re-
cesso prolongada. Acho que estamos beira de
utuaes no mercado de ativos, utuaes na
inao, utuaes no balano de pagamento.
Estamos dentro de um perodo de grande instabi-
lidade, com tendncia estagnao relativa. Mas
no a depresso de 1930, est claro?
53. A professora no tem uma viso
pessimista do futuro?
No, nem os Estados Unidos esto dando lu-
gar a isso e muito menos a sia. A nica viso
pessimista da Europa, por razes bvias, por-
que eles esto mal. A Europa pode enfrentar uma
depresso.
54. O FMI liberou recentemente uma previso
de 3% de crescimento para a economia
norte-americana. Para a economia europeia,
o Fundo prev pouco mais de 1% agora em
2010. O que a senhora acha disso?
otimismo deles, porque eu no sei da onde
vo tirar 1,10%. Porque, na verdade, a Inglaterra
no est crescendo, a Alemanha tampouco. S se
tiraram da Frana e da Itlia. Eu no vi a base de
clculo do FMI.
55. O que a professora pensa que signica
administrar as necessidades de
desenvolvimento da populao mundial,
em especial das mulheres, em termos
de, por exemplo, acesso educao e
capacitao econmica, em um cenrio
que deve envolver diferentes estilos
de vida e um comportamento
ecologicamente sustentvel?
No h a menor possibilidade de adminis-
trar globalmente uma agenda dessas. Essa a
agenda mundial que est vigente. Est tudo a.
No falta nada. Tem tudo, at as questes am-
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
13
bientais. Nenhum dos fruns mundiais sobre o
assunto est de acordo. O Frum de Copenhague
sobre o ecossistema foi um fracasso. Os fruns
sobre o nanceiro, idem. Mesmo que faam leis,
na prtica, no funcionam. Isso vai depender das
polticas nacionais. Se os pases zerem uma po-
ltica ativista com grande interveno do Estado
nessa direo, cada pas tem chance de melhorar.
Mas o mundo inteiro no pode administrar uma
agenda desse porte. Se o dinheiro ningum con-
segue, quanto mais uma coisa dessas. Essa
uma agenda complexa, muito complexa.
O capitalismo nunca foi administrado glo-
balmente. O que administrvel, no mximo,
o dinheiro, que a nica coisa que importa para
eles. E assim mesmo, isso s depois do sculo
XIX. At ento, no se administrava nada.
56. uma participao tipo
capitalismo de Estado?
No. At mesmo porque o objetivo dos gran-
des pases no o capitalismo de Estado. Quem
tem hoje esse objetivo a China, que regrediu
do socialismo para o capitalismo de Estado. Na
Rssia eu no creio que se poderia falar que
impera um capitalismo de Estado. Tem muito li-
beralismo e virou um pas primrio-exportador.
Hoje, capitalismo de Estado s na China. Se ns
avanarmos mais nessa direo, talvez o Brasil,
no futuro, tenha um capitalismo desse tipo. Mas
tambm no provvel, porque os nossos capi-
talistas no gostam muito da ideia. Eles gostam
que o Estado intervenha a favor dos ricos, como
os Estados Unidos. Para socializar os prejuzos
e deixar privatizar os lucros. Continua a mesma
histria. Nada mudou.
57. Voltando para anlise da crise, esta
incide sobre as mulheres, considerando
que sobre os ombros delas est a
responsabilidade familiar, tanto no Brasil
como na Amrica Latina e no mundo todo.
O que a senhora pensa disso?
No plalquida diferente, veja voc. No
caso, insisto, no caso americano, talvez tenha
incidido mais sobre as mulheres da classe alta.
Porque os postos altos que foram eliminados, fo-
ram seguramente os das mulheres. verdade que
havia poucas mulheres, mas eram as que ocupa-
vam os postos de tomada de decises e as que
estavam nas classes dominantes. Apesar de que
ainda tem mulher nas tomadas de decises pol-
ticas. J no nosso caso, no. Tnhamos poucas
mulheres nas decises econmicas, embora algu-
mas notrias na parte poltica. Portanto, na parte
econmica, a sim, so as de baixo, as que levam
muita pancada. Como elas so administradoras
do oramento familiar e o crdito foi o que sofreu
mais, um aperto de crdito bate pesado nas mu-
lheres que esto exercendo atividades informais.
O crdito muito importante, porque bate muito
pesado nos oramentos familiares e, portanto,
nas mulheres, que so, em geral, as responsveis
pela administrao dos oramentos domsticos.
E bateu tambm, do ponto de vista do emprego,
pesado nas mulheres que, porventura, tivessem
acesso aos postos altos no mercado de trabalho.
58. Ainda pensando nas mulheres e no acesso
delas ao sistema de previdncia social, a
professora acha que esses sistemas vo
ser muito afetados por essa crise ou pelo
reordenamento do acesso a esses sistemas?
Vo. Todo mundo est criticando o sistema
de previdncia social, porque tem muito dcit
scal. Cada vez que o dcit scal aumenta, vai
todo mundo em cima da Previdncia, dizendo que
a culpa dela. Na verdade, as discusses, em prin-
cpio, no discriminam entre homens e mulheres.
Na prtica, outra coisa. Na verdade, como a
maior parte dos trabalhadores que no tm car-
teira assinada composta por mulheres, difcil
para elas entrar no sistema da previdncia social.
Mas, de um modo geral, todos os pases desenvol-
vidos esto criticando o sistema. O nico que eu
acho dos desenvolvidos que aguenta, porque tem
mais tradio, o francs. Toda vez que falam que
vo mudar, a turma l protesta, entra em greve.
sempre assim.
Na Frana complicado, porque eles tm
muita tradio no estado do Bem-Estar Social,
sobretudo na previdncia social, na sade e na
educao. Ento, qualquer coisa que implique em
desuniversalizar o sistema, tem grande reao.
Aqui no Brasil, se ganhar a direita, o que prova-
velmente vai ocorrer. Mas se ns ganharmos, isso
no vai ocorrer de forma nenhuma, porque evi-
dentemente o nosso sistema de previdncia so-
cial, justamente por ter uma cobertura muito am-
pla, que no descrimina entre homens e mulheres
e nem requer carteira assinada, distribuidor de
renda. Ento, para o Brasil importante, para
melhorar a distribuio de renda, que o sistema
se mantenha. Mas tem grandes objees. Toda a
direita defende o aumento da idade da aposen-
tadoria e est contra um sistema universal, que
tenha cobertura ampla.
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
14
59. A professora pensa que o
capitalismo aposta nos sistemas
previdencirios privados?
No o que eu penso, o que esto fa-
zendo. At de sade. Essa reforma da sade do
presidente Obama para as pessoas se liarem
ao sistema de sade privado. No sade p-
blica. Ele quer fazer universal, mas j perdeu.
No tem jeito. Imagina! Os Estados Unidos no
tm a menor hiptese de voltar atrs. A gran-
de fonte de resistncia, no caso da sade, a
Inglaterra e, no caso dos demais sistemas de
Bem-Estar Social, a Frana e o norte da Europa,
claro. A Sucia, a Noruega e a Dinamarca,
porque so os pais da criana. O Brasil, se Deus
quiser, deve manter ou at avanar um pouco,
no que diz respeito sade e educao. A
sade universal, mas os padres so bem bai-
xos. Mas universal. o nico sistema univer-
sal da Amrica Latina. No podemos esquecer
isso. O pessoal tende a esquecer.
60. Nem a Argentina tem?
Ningum tem mais nada, porque todo mun-
do privatizou na dcada de 1990.
61. E a educao tambm universal,
embora ela seja praticada
de forma pblica-privada?
Mas tambm s ns temos. S o Brasil tem
um mini-estado de Bem-Estar Social que anda
mal das pernas, mas existe. E os outros, nem mal
e nem bem. No existe. O Peru um desastre. S
tem ONGs tomando conta das pessoas. A Argen-
tina e o Chile, que eram os melhores da Amrica
Latina, tiveram seus sistemas desestruturados
com o neoliberalismo.
62. No caso das mulheres, do acesso delas
ao mercado de trabalho, a professora
muito pessimista em relao aos pases
ditos centrais? No caso dos pases
europeus, a situao das mulheres
est muito comprometida?
Sim. Por um lado, est comprometida pelo
desemprego nos postos baixos. E, por outro lado,
est comprometida pelo desemprego dos de cima
ou pelo no acesso aos empregos dos de cima.
Tem menos posies no mercado de trabalho e
este disputado no tapa. E eles tinham avan-
ado mais. Ento, ruim, porque justamente o
sistema central, que tinha avanado mais, est
recuando. Tanto no estado do Bem-Estar Social
quanto na questo das mulheres. No boa a
perspectiva nos pases centrais, nesse sentido.
Mas espero que a sia compense de alguma ma-
neira, que eles melhorem os sistemas. Por en-
quanto, no zeram grandes coisas.
63. E a Amrica Latina?
Na Amrica Latina, eu espero que se mante-
nha, pelo menos no Brasil. E os outros dependem
muito do governo. No Chile, por exemplo, vai
complicar porque ganhou o governo conservador.
E a presidenta Bachelet tinha feito uma reforma
da sade, em direo sade pblica. E ele ca-
paz de recuar. O que est mais vulnervel, nessa
crise, so os sistemas do Bem-Estar Social e, no
caso dos Estados Unidos, substitudo o Welfare
State pelo Warfare State, estado de guerra. No
caso dos demais pases, o dcit scal amplia-
se e a equipe econmica vem logo em cima das
polticas sociais.
64. O dcit scal tem alguma soluo?
Soluo sempre tem, resta saber em que pra-
zo. preciso recuperar a economia. Para comeo
de conversa, dcit scal s consegue ser resolvi-
do quando a economia est crescendo. Como ela
no est crescendo brilhantemente, a curto prazo,
no vejo uma soluo.
65. Baixo crescimento, desemprego e recesso?
Mas isso no melhora o dcit scal, piora.
O problema que, dessa vez, a soluo de que o
povo paga no resolve o assunto. O dcit scal
no se resolve custa do povo, s se resolve
custa do capitalismo retomar seu crescimento.
Alis, diga-se de passagem que o presidente
do Fundo Monetrio Internacional declarou que
no estamos com problema scal nenhum. Para
o Fundo Monetrio, que bastante ortodoxo, o
Brasil no est com problema. Mesma coisa na
balana de pagamentos, que sempre nos preocu-
pa, porque a fragilidade externa uma ameaa
permanente nesse pas. Mesmo assim eles no
esto preocupados. O Fundo Monetrio acha que
o Brasil est bem. a primeira vez que ouvimos o
Fundo Monetrio dizer que estamos bem. Espero
que tenham razo dessa vez.
66. E a Amrica Latina no uma preocupao?
A Amrica Latina toda, assim como todo o
mundo, muito diferenciada. Eu acabei de fazer
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
15
um seminrio no Chile sobre a Amrica Latina. Se
olhar os dados da CEPAL, voc ver que vai desde
o Mxico, que cai 8%, at a Argentina, que sobe
3%. A Bolvia cresceu, veja voc. Ento, uma
espcie de sanfona. Hoje, no d para falar de
Amrica Latina. A Amrica Latina realmente um
continente muito heterogneo. Tem que ver pas
por pas. No uma coisa fcil.
67. E o Caribe?
O Caribe ca sempre mal. Esses pases so
economias muito pequenas. No chegam a ser
pases propriamente ditos. So naes, diga-
mos, e que dependem muito de como anda a
economia americana, de quanto eles ajudam ou
no ajudam. Ali sim, uma periferia imediata.
Eles e o Mxico so periferias imediatas dos
Estados Unidos. Ento, o destino deles muito
dependente do que vai acontecer com a econo-
mia americana.
68. E Cuba?
Cuba no depende de ningum. E no ti-
veram recesso. Tiveram crescimento baixinho,
mas no tiveram recesso. Esto isolados, de-
pendem da poltica nacional deles e sua eco-
nomia est h muito tempo em crise. E esto
saindo fora devagarzinho. Esto liberalizando
algumas contas, tais como o turismo, etc.
69. E tem entrada de capitais?
Capitais chins e indiano?
Tem, por causa do turismo, porque eles so
um centro turstico importante. J foram e conti-
nuam sendo.
70. Professora, falando ainda desse pedao,
Amrica do Sul e Amrica Central, qual
a origem dessa fala to conservadora
brasileira? contra o papel que o Brasil
vem fazendo na cooperao com os pases
mais pobres da Amrica Central? Voc abre
o jornal e, cada vez que o Brasil faz uma
poltica especica, nos deparamos com
crticas severas. Qual a origem desse
comportamento?
A origem que a direita muito conser-
vadora em poltica internacional, razo pela
qual, se ganhar a direita no Brasil, teremos um
interrupo na poltica internacional. De novo.
E um recuo, porque avanamos muito nesses
ltimos oito anos. difcil que a direita recue
no Bolsa Famlia, etc. Eles tm que manter mi-
nimamente. Mas, na poltica exterior, outra
coisa. Coisas dos pobres a doutrina do Banco
Mundial, e eles no vo mudar isso. Mas se
depender deles a poltica externa, seguramente
mudar. A elite brasileira histrica.
71. Caso acontea outro problema, a
exemplo do que ocorreu com o Haiti,
por causa do terremoto do incio do
ano seguramente, em outro governo,
no teramos encaminhado as
solues que foram realizadas.
Eu no tenho a menor ideia do que ns te-
ramos feito. Como, na verdade, eu no sei que
governo seria alternativo ao nosso, ca difcil
falar. Sei que, se ganhar a outra banda, seguro
que vai mudar a poltica. Tudo. Mercosul, integra-
o da Amrica Latina, participao nos fruns
mundiais, acordos com pases, como o que foi
recentemente feito com o Ir, e com a Turquia,
isso no haver nada. Eles so muito submissos
ideia da poltica dos Estados Unidos.
72. Professora, o que signica a questo do
meio ambiente, da Amaznia?
Essa questo no depende da poltica
internacional, que no est indo a lugar ne-
nhum. Eles esto sempre ameaando interna-
cionalizar a Amaznia, mas no tm condies
de fazer. Ento, depende do que for feito pelo
Brasil. Por enquanto, estamos atacando a coi-
sa do desmatamento. Ainda falta o tal modelo
de desenvolvimento sustentvel na Amaznia.
Como deve ser feito esse desenvolvimento sem
depredar o meio ambiente? Ento, agora, as
grandes discusses so em torno das centrais
eltricas, energias, por a. O desmatamento j
est sendo controlado minimamente.
73. Ento, professora, voltando um pouco
para a rea social, o Programa de
Acelerao do Crescimento (PAC), que surge
inicialmente como um projeto mais voltado
para a infraestrutura, foi se ramicando e
o tomou um desenho interessante. Agora,
ele at se volta para a recomposio
do patrimnio histrico e, em reas
especcas, trouxe tambm uma discusso
do que qualicao de mo-de-obra.
Qualicao de mo-de-obra?
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
16
74. Qualicao de mo-de-obra local nessas
atividades mais voltadas para o urbanismo.
No foi o que eu prestei ateno. O que eu
prestei ateno foi a guinada da infraestrutura
econmica simples para a infraestrutura social,
saneamento, transporte urbano, a questo das
favelas, a questo do patrimnio. Isso eu vi. Mas
basicamente um programa de investimento.
75. Em termos de educao, faz sentido termos
uma educao mais tcnica e intermediria
para essas novas reas?
Acho, no s para as novas reas, mas de
um modo geral, que foi feito um avano universi-
trio, foram criadas universidades novas na fron-
teira, nas zonas atrasadas, foi uma boa poltica.
muito interessante, agora resta o ensino tc-
nico e depois, claro, resta que a universidade
apoie a melhora dos professores dos secundrios,
porque o ensino secundrio, no geral, no vai
muito bem. Esse assunto tem que ser tratado glo-
balmente, tanto do ponto de vista educacional
quanto de todos os pontos de vista. Eu acho que
a coisa da educao seguramente a coisa mais
importante para o governo. Os mapas que esto
no gabinete do Lula so os da educao. Ele est
muito entusiasmado com a meta educacional,
considera a educao um dos problemas mais
difceis. Regionalizou o mapa com os problemas
todos. Ento, provavelmente, a prxima dcada
vai ser uma dcada muito importante para a edu-
cao.
76. Estamos chegando ao nal, a professora
quer fazer uma concluso?
Concluso eu no tenho. No que diz respeito
ao mundo, h uma incerteza muito grande. No
d para prever o que vai acontecer e no prov-
vel que a era de incerteza diminua subitamente,
por milagre de Deus ou por milagre chins. in-
certo. Est desequilibrado. No h convergncias
nem no crescimento, nem no emprego e nem nos
programas sociais.
77. Denitivamente, a era de
ouro do capitalismo se foi?
J tinha ido nos anos 1990. O problema
que, mesmo desequilibrados, a mquina do cres-
cimento eram os Estados Unidos, via comrcio.
Ento, esses anos foram expansivos via comrcio,
via internacionalizao das nanas, via investi-
mento direto. Mas isso tudo agora est em tela de
juzo. Ento, se eles no so mais a locomotiva,
no tem mquina de crescimento global, porque
a China no locomotiva da economia mundial.
Isso por um lado. Por outro lado, como a Amrica
Latina se saiu relativamente bem nessa crise, de-
pendendo dos governos nacionais e da poltica de
unio e de apoio recproco da Amrica do Sul con-
tinuar, temos chances de uma integrao maior
em infraestrutura, por exemplo. Espero que no
a monetria, porque a monetria, como se viu,
deprimente. Mas avanou na questo de no usar
o dlar como moeda em certas transaes bilate-
rais, fazer acerto de contas nos bancos centrais.
Est sendo feito com a Argentina, em particular
no Mercosul. Ento, eu no estou pessimista, nem
com o Brasil, pelo contrrio. Uma das crises que
me pegou mais otimista foi essa, porque as de-
mais, eu no estava nada otimista. Mas nessa eu
estou. Acho que temos chances de sair dela bem.
Dada essa diviso internacional do trabalho
ser diferente da anterior, e dado que quem puxa
as matrias-primas no a Europa e nem os Es-
tados Unidos, acho que o fato de a sia puxar
bom. O problema maior que eu vejo do chins
virar subimperialista. Vir para c, investir direto,
comprar tudo. A eu vejo problema. Receio que
a China possa nos prejudicar na concorrncia in-
ternacional de manufaturas e nos tomar recursos
naturais e patrimoniais. Mas isso um risco que
todos correm, porque eles, evidentemente, no
vo car s para dentro e tambm no vo -
car dependendo das exportaes americanas, que
eles sabem que no vo se reativar como antes.
A China tem o mercado interno prprio, tem uma
indstria que foi montada para exportar. Ento,
como no pode exportar, pode fazer como os Es-
tados Unidos zeram antes. Quando no podiam
exportar, faziam o investimento direto. Tendem
a repetir a performance americana no que diz
respeito insero internacional deles. Assim, a
China capitalista, sobretudo no que diz respeito
sua insero internacional.
78. Obrigada, professora.
C
o
n
v
e
r
s
a
n
d
o
c
o
m
M
a
r
i
a
d
a
C
o
n
c
e
i
o
T
a
v
a
r
e
s
17
Artigo
I. O SENTIDO DO DESENVOLVIMENTO
OLHANDO PARA O FUTURO
A inexo histrica
Diz-se que o sculo XX no terminou em 2000, e
sim em 1989, com a queda do muro de Berlim. Essa mu-
dana teve lugar no marco da consolidao de um novo
paradigma produtivo, em cuja base estava a acelerao
do conhecimento cientco-tecnolgico, uma progressi-
va globalizao dos mercados e das comunicaes, assim
como a exacerbao da competitividade pelo efeito com-
binado das anteriores.
Em todo esse tempo, imperou um modelo de desen-
volvimento que nos disse que para termos sociedades
mais justas e igualitrias bastava apenas que a econo-
mia crescesse, que para isso era importante deixar que os
mercados funcionassem livremente e sem regulaes, e
que o Estado um obstculo ao crescimento e igualdade.
Resumindo, a tese de crescer para igualar.
Sustentamos com muita responsabilidade que essa
tese equivocada. E junto com a crise econmica global
esse modelo de desenvolvimento parece ter colapsado.
O crescimento condio necessria para igualar,
verdade, mas no o suciente. preciso uma ao forte
e decidida do Estado, baseada no princpio da igualdade
de direitos. Por outro lado, deixar o crescimento da eco-
nomia nas mos apenas do mercado demonstrou ser um
erro, j que necessria uma ao do Estado na macroe-
conomia, na poltica industrial, em pesquisa e desenvol-
vimento, em educao, em inovao, aes necessrias
para o crescimento da economia na era da informao e
do conhecimento. E to importante quanto crescer para
igualar, o igualar para crescer.
A atual crise nanceira, considerada a mais profunda
desde a Grande Depresso, marca o m de um ciclo de
crescimento e bonana, e impulsiona uma nova maneira
de pensar o desenvolvimento. A crise que explodiu em
2008 no s teve um impacto econmico signicativo a
curto prazo, como ainda gerou um profundo debate so-
bre o devir da lgica de acumulao econmica, sobre as
regras de funcionamento do sistema econmico mundial
e o papel das polticas pblicas e do Estado na dinmica
econmica e social.
Com relao ao ciclo econmico, a crise ps m a
um perodo de bonana da economia mundial sustenta-
A HORA DA IGUALDADE
1
Alicia Brcena *
* Secretria Executiva da Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe das Naes Unidas
1 Artigo baseado no documento de posio do Trigsimo terceiro perodo de sesses da CEPAL, La hora de la igualdad Brechas por cerrar, caminos por abrir, LC/G.2432
(SES.33/3), Maio de 2010, Naes Unidas, Santiago
do em uma bolha nanceira sem precedentes. Essa crise
teve origem devido a uma combinao de fatores, entre
os quais encontram-se profundos desequilbrios globais,
nveis de liquidez internacional muito elevados junto com
polticas monetrias pro-cclicas e um processo de globa-
lizao e inovao nanceira inadequadamente regulado.
Esses elementos permitem explicar a dinmica da crise e
as enormes diculdades para super-la.
Em sntese, a equao entre mercado, Estado e socie-
dade que prevaleceu nas ltimas trs dcadas, mostrou-se
incapaz de responder aos desaos globais de hoje e de
amanh. O desao ento colocar o Estado no lugar que
lhe cabe de frente para o futuro.
A hora da igualdade
A desigualdade na Amrica Latina e no Caribe per-
corre cinco sculos de discriminao racial, tnica e de
gnero, com cidados de primeira e segunda categoria e a
pior distribuio de renda do mundo. Percorre dcadas re-
centes em que se exacerbou a heterogeneidade em quanto
s oportunidades produtivas da sociedade, deteriorou-se
o mundo do trabalho e segmentou-se o acesso proteo
social. Percorre as desigualdades frente globalizao. A
crise iniciada em 2008 em escala global um momento
em que a igualdade aparece novamente como valor intrn-
seco do desenvolvimento que buscamos. Ao confrontar as
brechas, a sociedade migra do individual ao coletivo, e
busca superar os vcios e esquecimentos da desigualdade
costurando o o da coeso social.
A igualdade de direitos brinda o marco normativo
e serve de base para pactos sociais que se traduzam em
mais oportunidades para aqueles que tm menos. Um pac-
to scal que procure uma estrutura e uma carga tributria
com maior impacto re-distributivo, capaz de fortalecer o
papel do Estado e a poltica pblica para garantir umbrais
de bem-estar parte dessa agenda da igualdade, assim
como tambm o uma institucionalidade trabalhista que
proteja a segurana do trabalho.
Igualdade social e dinamismo econmico no deve-
riam ser caminhos divergentes no caminho das naes,
no devem ser objetivos subordinados um ao outro. O
grande desao encontrar as sinergias entre ambos. O
que propomos vai nesta direo: deve-se crescer para
igualar e igualar para crescer. No horizonte estratgico do
longo prazo, igualdade, crescimento econmico e susten-
tabilidade ambiental devem caminhar de mos dadas.
18
Na considerao do valor da igualdade, e na maneira
como se conjuga com o crescimento, no se pode deixar de
lado a mudana climtica, um fator que determina marca-
damente o futuro de todos. Igualdade signica, nesse sen-
tido, solidariedade com as geraes futuras que vivero em
um cenrio mais incerto e com maior escassez de recursos
naturais. Signica, alm do mais, interceder pela celebra-
o de acordos internacionais para mitigar os efeitos da
mudana climtica de tal modo que se respeite o princpio
de responsabilidades comuns porm diferenadas, e que
no sejam os pobres nem os pases pobres os que termi-
nem assumindo os maiores custos desta mudana.
O Estado e a poltica
Uma sociedade que no se educa, que no investe em
coeso social, que no inova, que no constri acordos
nem instituies slidas e estveis tem poucas possibilida-
des de prosperar. Ante esses desaos, o Estado deve ser ca-
paz de prover uma gesto estratgica com vistas ao longo
prazo, e intervir no desenho do desenvolvimento nacional.
O Estado deve ter a capacidade de promover um di-
logo que lhe garanta maior legitimidade para arbitrar nos
diferentes interesses com claridade de objetivos scioe-
conmicos mediante a regulao, o que implica melhorar
as competncias reguladoras do prprio Estado.
No mbito poltico, o Estado tem um papel de prota-
gonista ao qual no pode renunciar. Trata-se de velar por
mais democracia e igualdade, duas caras da moeda da po-
ltica. Com relao democracia, o Estado deve procurar
melhorar a qualidade da poltica em seus procedimentos,
promover agendas estratgicas que reitam a deliberao
de um amplo espectro de atores e velar para que a vonta-
de popular se traduza em pactos que deem legitimidade
poltica e garantam polticas de mdio e longo prazo.
Em matria de igualdade, o Estado deve se ocupar
em aumentar a participao dos setores excludos e vul-
nerveis nos benefcios do crescimento. O exerccio pleno
dos direitos e de uma voz pblica que constitua o vnculo
entre a poltica e a igualdade social.
preciso contar com polticas de Estado que somem
a dinamizar o crescimento, promover a produtividade,
fomentar uma maior articulao territorial, impulsionar
melhores condies de emprego e de institucionalidade
de trabalho e prover bens pblicos e proteo social com
clara vocao universalista e re-distributiva.
II. A AGENDA DE UM DESENVOLVIMENTO COM
IGUALDADE: SEIS REAS ESTRATGICAS
2. Uma poltica macroeconmica para
o desenvolvimento inclusivo
A Amrica Latina e o Caribe podem e devem crescer
mais e melhor. Para isso, o papel das polticas macroeco-
nmicas no um assunto trivial nem indiferente.
De fato, o entorno macroeconmico surte diversos
efeitos no desenvolvimento. Entre eles, encontram-se os
impactos sobre a taxa de investimento, a estabilidade de
preos, a intensidade do valor agregado gerado nas expor-
taes e sua inter-relao com o resto da produo inter-
na (PIB), a inovao e sua distribuio entre diferentes
setores da economia, o desenvolvimento das pequenas
e mdias empresas e a formalidade ou precariedade do
mercado de trabalho.
A experincia latino-americana e caribenha mostra
um elevado grau de vulnerabilidade s condies exter-
nas, tanto por movimentos cclicos de uxos nanceiros,
que afetam com freqncia e relevncia os tipos de mu-
dana, como por variaes nos termos do intercmbio;
deste modo, a demanda agregada nas economias nacio-
nais experimentou contnuos altibaixos cclicos associa-
dos aos ajustes econmicos a choques provocados por va-
riaes nessas variveis de magnitude considervel, que
provocaram intensas utuaes da atividade econmica e
do emprego (ver o grco 1).
Grco 1
AMRICA LATINA E CARIBE (19 PASES): TAXA ANUAL
DE VARIAO DOS CHOQUES EXTERNOS E CRESCIMENTO
DA DEMANDA AGREGADA, 1990-2009
a
(Em porcentagem do PIB)
Fonte: Comisso Econmica para Amrica Latina e Caribe (CEPAL), sobre a base de
cifras ociais e de Ffrench-Davis (2005).
a
Os choques externos representam a transferncia lquida de recursos provenien-
tes do exterior, mais o efeito da relao de intercmbio, ambos medidos como
porcentagens do PIB. A transferncia lquida de recursos inclui o uxo lquido
de capitais (incluindo erros e omisses) menos o balano lquido de rendas (pa-
gamento lquido de fatores) mais o balano lquido de transferncias correntes,
excluindo porm as remessas de trabalhadores emigrados.
Na Amrica Latina e no Caribe observou-se uma es-
treita associao entre a brecha recessiva e a taxa de
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
19
investimento em capital xo, que reete a subutilizao
dos fatores produtivos. A persistncia das brechas reces-
sivas se traduz, assim, em um decisivo desalento para o
investimento produtivo e um vis regressivo ou de iniqui-
dade por seu efeito negativo sobre o emprego e sobre as
empresas de menor tamanho.
Esses efeitos negativos explicam, em grande parte,
o modesto crescimento das economias da regio nas duas
dcadas de hegemonia do assim chamado modelo neoli-
beral. Os xitos, sem dvida muito importantes, em ter-
mos de controle da inao, a conquista de certa discipli-
na scal e o impulso exportador no foram acompanhados
de um crescimento vigoroso do PIB. Em mdia, entre 1990
e 2009, a regio cresceu, em termos do PIB per capita,
aproximadamente 1,7% ao ano, enquanto que no mundo
a mdia girou em torno de 2,0% anual e na sia oriental
2
o crescimento do PIB per capita nesse perodo foi de 4,1%
anual.
Diante de cenrios de grande volatilidade, o Estado
tem a obrigao de proporcionar um entorno macroeco-
nmico estimulante para o investimento produtivo, a ino-
vao e a gerao de emprego decente. Requer-se, por-
tanto, uma coordenao estrita entre as polticas mone-
trias, cambiais, scais e de conta nanceira da balana
de pagamentos. Nesses mbitos, essencial um conjunto
coerente de polticas macroeconmicas para aproximar
as economias de sua fronteira potencial, proteg-las da
volatilidade externa e fortalec-las mediante o uso pr-
ativo dos instrumentos disponveis (nanceiros, scais,
cambiais).
Em primeiro lugar, conseguir economias menos vo-
lteis e mais prximas de seu potencial de crescimento
requer que se avance no controle da conta nanceira da
balana de pagamentos. Isso no sinnimo de medidas
protecionistas genricas, nem do fechamento dos uxos
nanceiros transnacionais. O capital estrangeiro pode ter
um papel valioso caso gere nova capacidade produtiva.
Em segundo lugar, a necessria solidez e autonomia
tcnica dos bancos centrais no deve ser entendida como
algo excludente de uma necessria coordenao macroe-
conmica com os governos e com estruturas institucio-
nais permeveis aos indicadores que provm da economia
no nanceira. A inao importa, mas no a nica
coisa importante.
Em terceiro lugar, existe uma estreita relao entre
a desigualdade medida por rendimentos e capital educa-
tivo e trs variveis macroeconmicas: volatilidade scal,
pr-ciclicidade scal e baixas taxas de crescimento eco-
nmico. Para desamarrar este n, preciso aplicar regras
scais claras e contra-cclicas que apontem no sentido de
reduzir a volatilidade agregada e expandir a base scal
para aumentar o gasto e imprimir ao investimento social
um trao a favor da igualdade. A reduo da pobreza e a
distribuio da renda no melhoraro signicativa e sus-
tentavelmente na Amrica Latina e no Caribe sem polti-
cas scais ativas que incidam na ecincia e no potencial
distributivo dos mercados.
Em quarto lugar, as polticas monetria e cambial de-
veriam se alinhar com esses objetivos gerais, procurando
preos macroeconmicos que incentivem investimentos
dos agentes, que tendam a diminuir a heterogeneidade
estrutural, isto , que difundam capacidades trabalhistas
para o conjunto do sistema produtivo.
Em quinto lugar, o desenho e a construo de um
sistema nanceiro inclusivo e orientado ao fomento pro-
dutivo requer que se expanda e desenvolva o instrumental
disponvel para administrar riscos, diversicar o acesso e
esticar os prazos de nanciamento. Esforo especial deve-
se fazer nesse sentido para apoiar as pymes e potencia-
lizar o papel das micro-nanas, em diferentes escalas e
mediante diversas instituies. Este um ingrediente es-
sencial para crescer com igualdade. A reforma do mercado
de capitais nessa direo signica fortalecer a banca p-
blica, e especialmente a banca de desenvolvimento, como
um instrumento que permita potencializar e democratizar
o acesso ao crdito, sobre tudo a longo prazo e orientado
para o nanciamento do investimento.
Finalmente, evitar que se acumulem desequilbrios
na demanda agregada, na conta corrente ou no tipo de
cmbio, com oportunas polticas contra-cclicas, requer
contnuos mini-ajustes das variveis macroeconmicas,
que permitem evitar a necessidade de maxi-ajustes trau-
mticos, que costumam envolver sobre-ajustes dos preos
macroeconmicos e recesses regressivas em termos de
igualdade.
A sustentabilidade do desenvolvimento exige pol-
ticas pblicas consistentes com a incluso social, quer
dizer, que apontem no sentido de um padro de insero
internacional onde se reduzam, complementariamente, as
brechas internas e externas. A maneira como se aborda a
reforma dos mercados de capitais nacionais e a conexo
com os mercados de capitais nanceiros internacionais
representam um desao crucial para conseguir uma ma-
croeconomia orientada para o desenvolvimento econmi-
co e social sustentvel.
3. A convergncia produtiva
Dois traos distinguem claramente as economias
latino-americanas e caribenhas das desenvolvidas em ma-
tria de produtividade. O primeiro a brecha externa,
2
Mdia de seis pases.
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
20
quer dizer, o atraso relativo da regio em relao a suas
prprias capacidades tecnolgicas com relao fronteira
internacional (ver o grco 2). A velocidade com que as
economias desenvolvidas inovam e difundem tecnologias
em seu tecido produtivo supera a velocidade com que
os pases da Amrica Latina e do Caribe so capazes de
absorver, imitar, adaptar e inovar a partir das melhores
prticas internacionais. O segundo aspecto distintivo
a brecha interna, denida pelas elevadas diferenas de
produtividade que existem entre setores, dentro dos seto-
res, e entre empresas nos pases, muito superiores s que
existem nos pases desenvolvidos. Isso conhecido como
heterogeneidade estrutural, e denota marcadas desigual-
dades entre segmentos de empresas e trabalhadores, com-
binadas com a concentrao do emprego em estratos de
muito baixa produtividade relativa.
Grco 2
AMRICA LATINA E OS ESTADOS UNIDOS:
PRODUTIVIDADE RELATIVA E
COEFICIENTE DE VARIAO
(ndice 1990=100)
Fonte: Comisso econmica para a Amrica Latina e o Caribe (CEPAL), sobre a base
de cifras ociais dos pases e da OIT, Laborsta (http://laborsta.ilo.org/).
Nota: A linha azul mede a brecha externa, pois mede a distncia entre a produti-
vidade do trabalho da regio e a produtividade do trabalho dos Estados Unidos. A
linha vermelha mede a brecha interna, pois mede a disperso do cociente entre a
produtividade do trabalho de cada um dos nove grandes setores de atividade eco-
nmica considerados dos pases da Amrica Latina e a produtividade do trabalho
do mesmo setor nos Estados Unidos.
A heterogeneidade estrutural contribui para explicar,
em grande parte, a aguda desigualdade social latino-ame-
ricana. De fato, as brechas na produtividade reetem e ao
mesmo tempo reforam as brechas em quanto a capacida-
des, a incorporao do progresso tcnico, a poder de ne-
gociao, a acesso a redes de proteo social e s opes
de mobilidade ocupacional ascendente ao longo da vida
prossional. Ao mesmo tempo, a maior brecha interna re-
fora a brecha externa, e se alimenta parcialmente dela.
Na medida em que os setores de baixa produtividade tm
enormes diculdades para inovar, adotar tecnologia e im-
pulsionar processos de aprendizagem, a heterogeneidade
interna aprofunda os problemas de competitividade sist-
mica. Dessa forma, so gerados crculos viciosos no s
de pobreza e baixo crescimento, como tambm de apren-
dizagem lenta e frgil mudana estrutural.
As maiores brechas internas de produtividade na
regio signicam maiores brechas salariais e uma pior
distribuio da renda. Desse modo, a convergncia nos
nveis de produtividade setoriais (convergncia interna)
deveria levar a uma melhor distribuio da renda e a uma
menor excluso social. Por outro lado, a reduo da bre-
cha externa de produtividade com relao aos Estados
Unidos (convergncia externa) supe maiores nveis de
competitividade e a possibilidade de reduzir diferenas de
renda por habitante com os pases desenvolvidos.
Os setores de alta produtividade da regio (mine-
rao, eletricidade e setor nanceiro) representam uma
porcentagem bastante reduzida da ocupao formal que
se mantm praticamente estvel entre 1990 e 2008 (de
7,9% para 8,1%); pelo contrrio, reduz-se a participao
no emprego formal dos setores de produtividade mediana
(indstria e transporte), de 23,1% em 1990 para 20,0%
em 2008 e, ao mesmo tempo, aumenta a dos setores de
baixa produtividade (agricultura, construo, comrcio e
servios comunais e pessoais), de 69,0% em 1990 para
71,9% em 2008.
A evoluo da produtividade relativa da Amrica
Latina com relao dos Estados Unidos mostra que os
setores de alta produtividade da Amrica Latina fecham a
brecha externa entre 1990-2008. J na maioria dos seto-
res de mdia e baixa produtividade, como a agricultura, a
indstria, o transporte e o comrcio, a brecha se amplia,
o que levou a um considervel aumento da disperso da
produtividade relativa. Dito de outra forma, uma pequena
porcentagem de empresas e trabalhadores se aproxima da
fronteira internacional. O resto se distancia dela, o que
refora as profundas desigualdades.
Na Amrica Latina, os agentes de menor tamanho
relativo constituem um conjunto muito heterogneo, que
vai desde micro-empresas de subsistncia at empresas
medianas exportadoras relativamente dinmicas. Se com-
pararmos o desempenho dessas empresas na regio com
o que se registra em pases desenvolvidos, ressaltam dois
aspectos importantes. Em primeiro lugar, as diferenas
na produtividade relativa de cada pas (entre as grandes
empresas e o resto) so muito maiores na Amrica Latina
que nos pases desenvolvidos. Enquanto a produtividade
de uma micro-empresa no Chile equivale a apenas 3% da
de uma grande empresa no mesmo pas, na Frana, as
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
21
empresas de tamanho mais reduzido mostram uma pro-
dutividade equivalente a 71% com relao das grandes
empresas. Em segundo lugar, as diferenas entre micro-
empresas, por um lado, e pequenas e mdias empresas,
por outro, tambm so maiores na regio em comparao
aos pases desenvolvidos considerados. Enquanto no Bra-
sil a produtividade de uma micro-empresa equivale a 25%
da de uma empresa mediana e a 37% da de uma pequena
empresa, na Espanha essas mesmas relaes so de 60%
e 73%, respectivamente.
Por outro lado, enquanto na regio os setores inten-
sivos em recursos naturais da regio adquiriram crescente
importncia desde a dcada de 1980, os pases desenvol-
vidos modicaram sua estrutura produtiva e suas modali-
dades de produo para setores intensivos em tecnologia,
como consequncia de uma maior incorporao das tec-
nologias da informao e das comunicaes.
Do ponto de vista das polticas, um enfoque macro-
econmico orientado estritamente para as metas de in-
ao claramente insuciente. Prope-se, nesse marco,
transformar a estrutura produtiva a partir de trs eixos
integrados de poltica: i) o industrial, com um vis incli-
nado a setores com maior contedo de inovao (fecha-
mento das brechas internas entre setores); ii) o tecnol-
gico, centrado no fortalecimento da oferta e sua articu-
lao com a demanda para criar e difundir conhecimento
(fechamento da brecha externa em relao a da fronteira
internacional) e iii) o apoio s pymes, em que se reco-
nheam as desigualdades das empresas para responder a
sinais de preo (fechamento das brechas entre agentes).
Priorizar o desenvolvimento de setores com alto
contedo de conhecimento e romper o crculo vicioso
em relao dotao de fatores, centrado nos recursos
naturais, supe que os Estados desenvolvam uma nova
institucionalidade, tributao e estratgia em relao
ao tecido produtivo e seus agentes. Uma robusta banca
de desenvolvimento, com capacidade de nanciamento
e planicao a longo prazo algo essencial. De outra
parte, existem instrumentos que procuram o avano das
fronteiras produtivas de nossas sociedades: fundos tec-
nolgicos setoriais, sistemas de propriedade pblica ou
renda que tributem as atividades extrativas associadas a
recursos estratgicos, combinao de instrumentos co-
merciais e scais (tarifas, renncias scais seletivas e
impostos) orientados para apoiar setores exportadores
chave ou que integram cadeias em plataformas transna-
cionais. Finalmente, no se pode eludir o compromisso de
mdio e longo prazo de um forte aumento do investimen-
to pblico orientado pesquisa e ao desenvolvimento e
infra-estrutura. Sem capacidades produtivas articuladas
com a produo, e sem uma logstica que transforme as
possibilidades em plataformas reais de criao de riqueza
e comunicaes, os gargalos do crescimento no sero
superados.
4. A convergncia territorial
As brechas de produtividade e sociais se reetem na
segmentao territorial e por sua vez se nutrem dela. A
desigualdade espacial a outra face que expressa e re-
fora as brechas internas e externas de produtividade, e
a segmentao territorial inibe encadeamentos nos pa-
ses dados os problemas de infra-estrutura. Nos pases, os
contrastes entre distintos territrios quanto aos nveis de
renda, pobreza, produtividade e acesso ao bem-estar con-
tribuem para os contrastes agregados que tais indicadores
exibem nacionalmente.
Um indicador ilustrativo a brecha de PIB per capita
entre a regio mais rica e a mais pobre de um pas. Ao
comparar alguns pases da Amrica Latina com alguns da
Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmi-
cos (OCDE), vemos que nos ltimos, o indicador pratica-
mente no supera as duas vezes (em mdia localiza-se
cerca de 1,76), enquanto que nos pases da regio chega
a superar as oito vezes. Da a importncia das polticas
que contemplem no apenas a convergncia produtiva,
como tambm a convergncia espacial.
Em termos de macrorregies, no caso da Amrica do
Sul, observa-se uma concentrao de populao menor
de 18 anos com graves privaes nas regies andina e
amaznica, em cujos territrios mais de 88,8% da popu-
lao encontra-se nessa situao. No Mxico e na Amrica
Central, observa-se que as zonas mais crticas tendem a
localizar-se onde h uma alta incidncia de populao in-
dgena (sul de Mxico e Guatemala). A populao infantil
com maior vulnerabilidade nutricional se concentra nas
zonas altas da Amrica Central e na serra e no altipla-
no dos Andes, com maior populao de origem indgena,
onde as mes so analfabetas absolutas ou no chegaram
a terminar a educao primria e vivem em condio de
pobreza extrema (condio que alm do mais inclui um
limitado acesso a gua potvel e servios de sade).
Nas cidades, sobretudo nas grandes, a heterogenei-
dade territorial adota a forma de segregao residencial
intra-urbana, onde se d um vnculo claro entre hetero-
geneidade estrutural e segmentao do mercado de tra-
balho, dados os custos do transporte e as diculdades de
acesso a lugares e redes. A segregao residencial signi-
ca que os diferentes grupos scioeconmicos de uma
cidade ou metrpole vivem de maneira separada, com es-
cassa ou nula convivncia residencial.
Essa a base territorial do crculo vicioso de repro-
duo da pobreza e da marginalidade nas cidades, onde
se concentra grande parte da populao latino-americana
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
22
e caribenha. Remediar a desigualdade territorial , tam-
bm, abordar a desigualdade geral partindo pela articula-
o dos espaos mais marginalizados com os setores mais
dinmicos.
Cabe ao Estado um papel central se a criao de
fundos de coeso territorial se colocar como eixo estra-
tgico de uma maior igualdade territorial. Um fundo de
coeso territorial tem ao menos um triplo objetivo. Em
primeiro lugar, transferir fundos do nvel central para os
nveis sub-nacionais, mas ao mesmo tempo comprometer
seu uso para gerar sinergias entre o mbito produtivo, o
desenvolvimento de capacidades e a ateno de carncias
bsicas. Um segundo objetivo, do tipo re-distributivo,
pois opera sob a forma de transferncias ou subsdios cru-
zados, do mesmo modo que o uso dos impostos de renda,
para transferir recursos ou a prestao de servios queles
que no podem pag-los. Em terceiro lugar, um fundo
de coeso territorial serve de instrumento para coorde-
nar polticas setoriais com polticas espaciais, a m de
evitar a duplicao de esforos e promover formas mais
integradas de interveno. Constitui, pois, uma ferramen-
ta de planicao inter-setorial limitada a espaos onde
habitualmente a descentralizao setorial deixa muitos
vazios.
5. Mais e melhores empregos
Parte signicativa da desigualdade da regio se deve
aos resultados do mercado de trabalho. A quantidade e
qualidade do emprego, especicamente os rendimentos
do trabalho e o acesso segmentado a mecanismos de pro-
teo social, determinam, em grande parte, o bem-estar
material da grande maioria dos lares da regio. As desi-
gualdades com relao s capacidades trabalhistas de que
a populao em idade de trabalhar dispe, e das oportu-
nidades de insero produtiva proporcionadas por essas
capacidades de trabalho inuenciam em grande medida
no bem-estar e na coeso social.
As brechas salariais entre os mais e menos quali-
cados so muito amplas, e na ltima dcada do sculo
passado se acirraram ainda mais. Nesse contexto, os fa-
tores causadores citados so a mudana tecnolgica, o
comrcio internacional, as polticas macroeconmicas e
os fatores institucionais do mercado de trabalho, como
a queda ou conteno do salrio mnimo e o enfraqueci-
mento dos sindicatos.
Essas brechas se devem, em parte, s elevadas di-
ferenas de produtividade entre os diversos setores pro-
dutivos, mas tambm ao fato de que a institucionalidade
social e do trabalho formal abarcam apenas uma parte da
fora de trabalho. A outra composta pelo setor informal,
que representa uma proporo muito alta da populao
ativa, com relao ao da que esta institucionalidade no
se aplica e se caracteriza por uma elevada precariedade,
baixos rendimentos e escassa proteo social.
Durante os anos noventa, a participao dos seto-
res de baixa produtividade no emprego urbano subiu de
47,2% em torno de 1990 para 50,8% por volta de 2002
e voltou a cair para 47,4% at em torno de 2007. Os
dados preliminares indicam que a contrao econmica
de 2009 interrompeu esse processo de moderada me-
lhoria.
A relativa debilidade na gerao de emprego produti-
vo durante os anos noventa tambm se expressou em uma
ampliao da brecha de rendimentos entre os segmentos
produtivos. Entre incios dos anos noventa at mais ou
menos 2002, os salrios mdios das microempresas ca-
ram com relao aos salrios mdios da pequena, mdia
e grande empresas, de 73% para 62%; ainda maior foi a
deteriorao dos rendimentos dos trabalhadores por conta
prpria (nem trabalhadores prossionais nem tcnicos),
que tiveram queda em relao aos salrios mdios da pe-
quena, mdia e grande empresas, de 99% para 73%. Nos
anos seguintes, perodo em que se dinamizou a gerao
de emprego assalariado em empresas formais, essas bre-
chas deixaram de crescer e se fecharam levemente, para
66% no caso das microempresas e para 75% no caso dos
trabalhadores por conta prpria.
As condies para as mulheres, as minorias tnicas
e os/as jovens so, claramente, mais desvantajosas e
menos reguladas. Formas seculares de discriminao se
somam na segmentao ocupacional, tanto horizontal
quanto vertical, o que faz com que trabalhadores com
capacidades ou responsabilidades similares recebam um
trato e um salrio diferente.
Adaptar a institucionalidade de trabalho a um con-
texto econmico e social mutante, de maneira que possa
cumprir com seus objetivos de forma sustentvel um
grande desao. Uma maior exibilidade do mercado de
trabalho fortalece a capacidade de ajuste a curto pra-
zo, mas tende a incidir na celebrao de contratos de
curta durao e uma maior instabilidade nos postos de
trabalho. Alm do mais, o desenvolvimento de novos co-
nhecimentos e habilidades e a orientao ao crescimen-
to da produtividade requerem uma maior estabilidade no
emprego. Deve-se considerar a grande importncia dos
conhecimentos e habilidades especcos que um traba-
lhador adquire enquanto trabalha em uma empresa, que
reita a correlao positiva entre estabilidade no empre-
go e investimento das empresas nos conhecimentos e
habilidades gerais de seus trabalhadores. A ecincia do
mercado de trabalho requer adaptabilidade a curto prazo
e produtividade a longo.
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
23
No momento de questionar polticas em matria de
institucionalidade do trabalho devem se considerar as
evidncias histricas, entre as quais cabe destacar as se-
guintes: i) no existe nenhum caso de crescimento sus-
tentado com igualdade que tenha ocorrido por efeito das
reformas trabalhistas pr-exibilizao, ii) o processo
de acumulao de capital pode requerer mudanas ins-
titucionais no mercado de trabalho depois do retorno de
investimentos sustentados, e essa sequncia causal tem
como resultado reformas em um ambiente mais favorvel
aos trabalhadores, iii) o dinamismo dos investimentos
determina o dinamismo do mercado de trabalho e no o
inverso, e iv) um reformismo excessivo pode atrasar os
investimentos e ter efeitos negativos na economia, pois
se os empresrios esperam ter custos menores no futuro,
postergaro seus projetos.
No existe um caminho nico para reforar a inclu-
so no trabalho e combater a desigualdade relacionada
com o mercado de trabalho. As seguintes reas marcam,
em geral, caminhos pelos quais os pases da regio deve-
riam centrar sua ateno.
i) Devem-se reforar os instrumentos de formao
prossional e capacitao, ajustados s neces-
sidades dos diferentes grupos de trabalhado-
res. A cobertura dos sistemas de capacitao
dever ser ampliada, tanto na formao para
o trabalho daqueles que entram pela primeira
vez no mercado de trabalho, como na capaci-
tao contnua ou re-capacitao das pessoas
economicamente ativas. Devem-se ampliar os
incentivos para a capacitao para as pequenas
empresas, brindar mais benefcios aos trabalha-
dores de produo e ampliar o acesso dos gru-
pos vulnerveis aos programas de capacitao.
Por ltimo, os sistemas de capacitao devem
se inserir numa estratgia de desenvolvimento
a longo prazo centrada no aumento contnuo da
competitividade sistmica.
ii) Deve-se reforar a negociao coletiva no s
para lograr uma melhor distribuio de renda,
mas tambm como mecanismo para construir
acordos scio-laborais sustentveis e com am-
plos benefcios. A ampliao dos espaos para
a organizao sindical e a negociao coletiva
condio necessria para ajustar a regulao
trabalhista diante de novas condies econmi-
cas, o que deve fazer-se num marco de acordo
entre atores e com base em uma regulao ju-
rdica com o m de garantir os espaos ade-
quados de negociao, e estabelecer os pisos
mnimos de benefcios e direitos.
iii) O salrio mnimo tem um importante potencial
distributivo que deve ser aproveitado levando
em conta as caractersticas especcas da estru-
tura salarial de cada pas.
iv) Deve-se acelerar a institucionalizao das rela-
es de trabalho no setor formal que sem moti-
vo legtimo se caracterizam pela falta de acesso
aos direitos trabalhistas generais. Em vrios
pases da regio zeram-se avanos a respeito,
ao regular as condies da subcontratao e do
trabalho em domiclio.
v) Por meio de instrumentos de desenvolvimento
produtivo e de mecanismos no contributivos
de proteo social, deve-se mitigar a vulnerabi-
lidade dos trabalhadores do setor informal.
vi) Devem-se reforar os instrumentos de fomento
da insero no trabalho de qualidade para co-
letivos que enfrentam obstculos especiais a
respeito. No caso das mulheres, so indispen-
sveis as polticas de conciliao entre a vida
prossional e familiar para reduzir as brechas de
acesso ao mercado de trabalho e com relao
s condies desta insero. So requeridos, em
consequncia, servios de cuidado (comunais,
do setor solidrio, comerciais ou da rede estatal)
que permitam surtir um duplo efeito, de socia-
lizao ampliada de meninos e meninas e maior
disponibilidade de tempo por parte das mes.
vii) Devem-se criar e fortalecer os mecanismos de
proteo ao desemprego em mercados de tra-
balho muito volteis, que possam por sua vez
contribuir com uma maior ecincia na busca
de emprego, sobretudo se os servios pblicos
de emprego integram essas polticas passivas
com polticas ativas do mercado de trabalho.
So poucos os pases da regio que contam com
um seguro -desemprego.
Nesse contexto, o desao fundamental consiste em
calibrar os diferentes componentes da segurana econ-
mica dos trabalhadores (de rendimentos, de mercado de
trabalho, emprego, capacidades, posto de trabalho e da
representao) de maneira coerente e ajustada segundo
as caractersticas polticas, sociais e culturais de cada
pas no contexto da estratgia de desenvolvimento a lon-
go prazo.
6. O fechamento das brechas sociais
1. A desigualdade e o Estado social
Uma agenda pblica a favor da igualdade no se
restringe a nivelar as oportunidades. Estende-se tambm
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
24
a procurar maior igualdade de resultados e de nveis de
bem-estar. Ao Estado e s polticas pblicas cabe, por-
tanto, um papel decisivo na reverso da fora inercial
da desigualdade que se reproduz no seio dos mercados
e das famlias. Isso implica um aumento sustentado do
gasto social, avanos em matria de institucionalidade
social para melhorar a gesto pblica e sistemas de trans-
ferncias de rendimentos que derivam em claros efeitos
re-distributivos.
Grco 3
AMRICA LATINA: TAXA DE POBREZA, 1980-2008
(Em porcentagem da populao)
Fonte: Comisso econmica para a Amrica Latina e o Caribe (CEPAL), sobre a base
de tabulaes especiais das pesquisas de lares dos respectivos pases.
O caminho das polticas sociais entre 1980 e 1990
no contribuiu para abordar este desao ao desmantelar
os dispositivos de proteo social e colocar em seu lugar
um modelo residual com uma considervel limitao dos
recursos scais (ver o grco 3).
Somente no m da dcada de 90, a poltica pblica
comea a se redenir no sentido de um maior compromis-
so pblico na proteo frente a eventos de perda de ren-
das familiares, pobreza de rendimentos e excluso. Cabe
destacar nesse sentido cinco linhas de poltica que vieram
sendo produzidas desde meados dos anos noventa.
i) Transferncias diretas de renda aos setores mais
pobres, nanciadas mediante os fundos de ren-
das gerais, cuja cobertura e qualidade se ex-
pandiram, baseadas no princpio de direitos de
cidadania.
ii) Redes de proteo social e de ativao de capaci-
dades e capital social coordenadas pelo Estado.
iii) Pilares estatais no contributivos ou subsdio
s contribuies nos sistemas de previdncia
(previdncia social e sade).
iv) Papel mais pr-ativo do Estado frente s assi-
metrias e desigualdades exacerbadas por pro-
cessos de descentralizao e delegao de res-
ponsabilidades em quase-mercados ou provedo-
res privados.
v) Novas reas de ao e redistribuio na agen-
da pblica referidas ao trabalho de cuidado e
articulao e redistribuio do trabalho remu-
nerado e no remunerado com perspectiva de
gnero.
Os pases com menores brechas de bem-estar tm
um PIB mais alto, menores taxas de dependncia demo-
grca, mercados de trabalho menos informais, maior co-
bertura pblica de sade (menor proporo de gastos de
bolso), menores nveis de pobreza e um gasto pblico so-
cial no apenas superior em termos de montante total per
capita, como ainda como porcentagem do PIB. Nos pases
com menor desenvolvimento relativo, todos esses par-
metros se deslocam para situaes mais crticas. Desse
modo, as brechas de bem-estar variam substancialmente
em termos de necessidades sociais e de capacidades s-
cais. A partir de um menor desenvolvimento existem mer-
cados de trabalho mais precrios, maior peso nas famlias
para prover-se servios, maior dependncia demogrca
infantil, mais pobreza e uma institucionalidade pblica
com menos recursos monetrios e menores capacidades
de gesto e execuo.
2. Transferncias de rendimentos: redistribuio
direta e segurana bsica
A estrutura de desigualdade profunda e a baixa pro-
dutividade mdia explicam, em grande medida, que na
maioria dos pases persista uma alta proporo da popu-
lao que no gera rendimentos mnimos adequados.
necessrio enfrentar essa situao, entre outras
coisas, mediante a redistribuio direta de renda a par-
tir de sistemas no contributivos. Existem boas razes
para defender um sistema bsico de rendas parciais ga-
rantidas, acautelando a responsabilidade scal e evitando
incentivos perversos. Os lares que enfrentam situaes
de choques exgenos ou biogrcos (como as doenas
catastrcas) e que se encontram em situao de pobreza
e vulnerabilidade tendem a se descapitalizar para alm
do efeito desse choque, precisamente por carecer de m-
nimos garantidos ou, pelo menos, de instrumentos que
suavizem o uxo de rendimentos diante de situaes ad-
versas. to necessrio em termos prticos, e tanto mais
imperativo em termos ticos, evitar o colapso das econo-
mias nacionais que representam a boa parte da populao
e produo latino-americana, como evitar o colapso dos
sistemas nanceiros (subsidiando suas inecincias). Por
outro lado, a regio frgil quanto a estabilizadores au-
tomticos frente a crise e choques, e por isso os sistemas
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
25
bsicos de garantia de renda constituem mecanismos para
sustentar a demanda interna em contextos adversos. Por
ltimo, o desenho e as populaes eleitas nas propostas
que aqui se realizam apostam em minimizar a permann-
cia dos lares com lhos menores na pobreza, favorecendo
assim a formao de capacidades humanas de uma regio
em plena transio demogrca, que necessita consider-
veis saltos para o futuro em matria de produtividade do
trabalho para seu desenvolvimento.
Foi feito um exerccio de simulao mediante o qual
se destinaram recursos equivalentes a uma linha de po-
breza (ou uma mdia em alguns casos) i) designao de
uma linha de pobreza s crianas menores de cinco anos;
ii) designao de meia linha de pobreza s crianas entre
5 e 14 anos; iii) designao de uma linha de pobreza
queles com 65 anos ou mais e iv) designao de uma
linha de pobreza aos desempregados. Essas prestaes se
simularam para dois universos: todos aqueles que pos-
suem as caractersticas apresentadas (universal) e todos
aqueles que, contando com tais caractersticas, encon-
tram-se, alm do mais, em lares que esto abaixo de 1,8
linha de pobreza (focalizada).
Nos pases com menores brechas de bem-estar, os
valores requeridos para as diferentes transferncias foca-
lizadas e inclusive para o total signicam um importante
esforo que no est fora da franja de metas alcanveis,
se estas se projetam no tempo. Como exemplo, se se ajus-
ta no sentido de menores nveis de cobertura ou menores
nveis de prestao (por exemplo, metade das prestaes
originalmente denidas, linha inferior) em nenhum dos
casos o esforo supera 1,5% do PIB. Na medida em que
nos encaminhamos para os pases com brecha intermdia,
os valores oscilam na modalidade mais econmica entre
2% e 5% do PIB. J nos pases com uma brecha alta de
bem-estar, os desaos so mais complexos e alcanam em
sua verso bsica entre os 6 e 9 pontos do PIB.
3. A alavanca da educao
No mbito da igualdade, a educao tem um papel
decisivo. Uma menor segmentao do aprendizado e dos
logros permite reduzir a desigualdade de uma gerao
para a prxima e predispe as novas geraes para se
incorporar ao mercado de trabalho, facilita o acesso ao
capital social e diminui os riscos de desnutrio infantil e
de gravidez na adolescncia, fenmenos que reproduzem
a excluso intergeracional.
Uma agenda pr-igualdade em matria de educao
deve apontar prioritariamente no sentido de ampliar a
cobertura da educao pr-escolar e a jornada escolar na
educao pblica, avanar na concluso da educao de
segundo grau em setores socioeconmicos com menores
xitos (considerando que na educao bsica j estamos
muito perto da cobertura universal e o egresso majorit-
rio) e reduzir brechas nos aprendizados e conhecimentos
adquiridos durante o ciclo educativo (desde o pr-escolar
at o nal do segundo grau).
A assistncia educao pr-escolar tem um duplo
propsito. Por um lado, nivela capacidades de aprendiza-
gem ao incio da trajetria educativa, o que determi-
nante das trajetrias nos nveis posteriores de educao.
Garantir a educao pr-escolar no sistema pblico com-
pensa as diferenas de origem familiar em prol de uma
maior igualdade de oportunidades para o aprendizado.
Alm do que, a maior cobertura pr-escolar, assim como a
extenso da jornada escolar, permite reduzir as horas que
os adultos, sobretudo as mulheres, dedicam ao cuidado
dos menores, o que promove um maior acesso das mu-
lheres ao mercado de trabalho e um aumento dos valores
monetrios nos lares, inclusive com impactos positivos na
igualdade de gnero.
A concluso do ensino mdio decisiva para a inclu-
so social. Porm, na Amrica Latina, a taxa de egresso
muito baixa (51%), o que reproduz os baixos nveis de
produtividade das economias. Tambm, a brecha de con-
cluso do ensino mdio por quintiis drstica, j que um
de cada cinco jovens do primeiro quintil conclui a escola
de segundo grau, enquanto no quinto quintil a concluem
quatro de cada cinco.
Finalmente, as brechas educativas tambm se perce-
bem na aprendizagem efetiva, sendo os alunos de escolas
privadas mais favorecidos em comparao aos de escolas
pblicas. Isto signica que a estraticao da qualidade da
oferta se d segundo as capacidades do bolso para custear
a educao por parte das famlias. Alm do mais, o nvel
educativo dos pais tem um papel importante para o suces-
so educativo de crianas e jovens, que tambm se correla-
ciona com a renda familiar. Desse modo, tanto do ponto de
vista da oferta como da demanda se fecha um status quo
que reproduz as brechas de conhecimentos e destrezas.
7. O pacto scal como chave no vnculo entre
o Estado e a igualdade
1. Igualdade, transferncias e impostos:
contrastes entre a regio e a Europa
Resolver com sucesso os desaos da igualdade e do
crescimento, das brechas de produtividade e as desigual-
dades territoriais, dos mercados de trabalho e a proteo
social signica o investimento de muitos recursos.
A tributao constitui, nesse sentido, o espao deci-
sivo para aumentar a capacidade nanceira do Estado para
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
26
que este possa cumprir um papel relevante e pr-ativo na
promoo do desenvolvimento e da igualdade social.
Na Amrica Latina e no Caribe, a tributao no tem
o impacto progressivo na igualdade que tem nos pases
da OCDE, e isso explica, em parte, a aguda iniquidade da
regio em relao distribuio de renda e qualidade dos
bens pblicos (ver o grco 4). Tanto do ponto de vista
dos salrios como do ponto de vista do gasto pblico, a
funo redistributiva do Estado uma tarefa pendente.
Grco 4
AMRICA LATINA E OCDE: IMPOSTO DE RENDA
E COEFICIENTE DE GINI
a
Fonte: Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe (CEPAL), sobre a base
de entrevistas em domiclios dos respectivos pases.
a
Trabalhadores ocupados de 15 anos ou mais que declararam rendimentos do
trabalho. No caso da Argentina e da Repblica Bolivariana da Venezuela, so
assalariados. Mdia simples.
Na OCDE, o ndice de Gini estimado antes do pa-
gamento de impostos e transferncias se reduz, depois
do pagamento destes, em torno de 0,15%, entretanto na
Amrica Latina somente se reduz por volta de 0,02%. Ou-
tra maneira de ilustrar esse efeito distributivo estiman-
do diretamente o impacto das variveis que afetam signi-
cativamente o ndice de Gini, entre as quais se destacam
o gasto social e a composio de impostos: existe uma
sincronia muito marcada entre pases mais igualitrios e
onde o componente de transferncias e subsdios muito
mais alto como percentual do PIB.
2. Para uma estrutura tributria
progressiva e eciente
So trs os fatores que incidem na capacidade de
arrecadao scal e na forma como se distribui a capta-
o desses recursos na sociedade: a carga tributria, sua
estrutura, e o controle da evaso de impostos. Na regio,
existem pases que enfrentam problemas srios em rela-
o a um ou mais destes fatores.
Em mdia, a presso tributria da Amrica Latina
em torno de 18% do PIB, e esse nvel muito baixo, tanto
em relao ao grau de desenvolvimento relativo da regio
como, sobretudo, em comparao com as necessidades de
recursos que esto implcitos nas demandas de polticas
pblicas que enfrentam os Estados latino-americanos s
quais zemos referncia nos pargrafos precedentes. Con-
tudo, a evoluo da carga tributria (incluindo previdn-
cia social) entre 1990 e 2008 mostra que a presso mdia
na regio cresceu notadamente: de 12,8% em 1990 para
18,4% em 2008.
A regio no s arrecada pouco, como tambm ar-
recada mal: na Amrica Latina e no Caribe, menos de um
tero da arrecadao corresponde a impostos diretos, en-
quanto o grosso da carga recai sobre os impostos sobre
o consumo e outros impostos indiretos (ver o grco 5).
Por isso no surpreende que a distribuio dos rendimen-
tos depois do pagamento de impostos seja mais inequita-
tiva ainda que a distribuio primria. Assim, a diferena
nos nveis de presso tributria entre os pases da OCDE
e os da Amrica Latina pode-se explicar principalmente
pela baixa carga tributria sobre a renda e o patrimnio
na regio, j que a carga sobre o consumo apresenta um
nvel bastante similar. Se bem a arrecadao do imposto
s sociedades parecida (algo mais de trs pontos do
PIB na OCDE), as diferenas so signicativas no impos-
to de renda (0,9 pontos do PIB na Amrica Latina em
comparao com quase nove pontos do PIB na OCDE).
Como o imposto de renda pessoal o mais progressivo,
pode-se inferir que a estrutura tributria dos pases lati-
no-americanos mais regressiva que a correspondente s
economias desenvolvidas, o que afeta negativamente a
distribuio dos rendimentos e constitui um dos fatores
que faz da Amrica Latina e do Caribe uma das regies
mais desiguais do mundo.
Grco 5
AMRICA LATINA E CARIBE:
ESTRUTURA FISCAL COMPARADA
(Em percentuais do PIB)
Fonte: Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe (CEPAL), com base
em dados ociais e da OCDE.
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
27
16,4 16,8
7,0
6,3 5,6
11,3
11,9
4,7
7,2
12,2
9,7
9,2
11,1
6,8
3,0
0,8
1,7
36,2
39,8
28,2
15,0
20,1
18,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
OCDE (30 pases) Unio Europia
(15 pases)
Estados Unidos Sudeste Asitico
(6 pases)
frica (12 pases) Amrica Latina
(19 pases)
Cargo tributria direta Cargo tributria indireta Cargo de segurana social
15,3
3. O pacto scal e o pacto social
para a equidade distributiva
Neste contexto, necessrio um pacto scal para
dotar o Estado de maior capacidade para captar recursos e
desempenhar um papel mais ativo na promoo da igual-
dade.
Um pacto scal tem implicaes polticas que vo
alm de uma reforma tributria ou oramentria conven-
cional. Requer a rediscusso da concepo do papel do
Estado e das estratgias que as autoridades tentam pro-
mover. A ideia de pacto scal se associa estreitamente
recuperao da noo de planicao do desenvolvimen-
to, que expressa por sua vez a ambio de um desenho
integral das polticas pblicas.
A ideia de um pacto fiscal encontra hoje um
ambiente propcio na regio, porque foram ganhan-
do adeses nos organismos internacionais e no di-
logo poltico nacional, seja de maneira setorial ou
integral. Pelo menos duas razes explicam esta maior
disponibilidade para avanar em matria de pactos
fiscais. Em primeiro lugar, a evidncia de que o gasto
pblico constitui uma poderosa ferramenta de con-
teno frente aos efeitos mais corrosivos da volatili-
dade externa (baixa no emprego, nos rendimentos e
no consumo). Em segundo lugar, o reconhecimento de
que uma boa tributao, calcada em instituies s-
lidas e capacidade de gesto pblica, contribui com-
plementariamente equidade, coeso social, e ao
desenvolvimento produtivo.
O pacto scal, na medida em que requer acordo en-
tre distintos agentes pblicos e privados, deve incluir ao
menos as seguintes consideraes:
i) um compromisso gradual de aumento da carga
tributria que equilibre uma maior tributao
com adequados incentivos ao investimento pro-
dutivo.
ii) um caminho claro do Estado para melhorar a
arrecadao por meio da reduo e do controle
progressivo da evaso scal, e mediante a su-
presso paulatina de isenes no imposto dire-
to, em prol de uma maior equidade e ecincia.
iii) uma reforma da estrutura tributria por etapas
previamente acordadas, elevando principalmen-
te o imposto de renda.
iv) uma plataforma compartilhada que correlacione
mudanas na carga e estrutura tributria com o
destino que a maior tributao ter nas polti-
cas pblicas.
v) uma agenda pblica clara e acordada para me-
lhorar a transparncia do gasto pblico, a insti-
tucionalidade pblica por conta desse gasto, e
a ecincia e eccia do mesmo.
vi) uma rota de reprogramao gradual do gasto so-
cial onde a recomposio intra e inter-setorial
mostre, luz da evidncia disponvel, um maior
impacto redistributivo e maiores externalidades
em matria de equidade e produtividade.
vii) uma estrutura tributria e uma institucionalida-
de do gasto que d conta das desigualdades ter-
ritoriais e procure ativamente sua convergn-
cia. Por exemplo, fundos de coeso territorial
ou mecanismos que procurem a progressividade
da carga impositiva com perspectiva territorial.
A agenda regional deve estar sujeita ao escrutnio
da maioria dos seus cidados. Deve implementar proces-
sos de tomada de decises a partir de uma agenda com
probidade, onde os diferentes interesses transpaream e
o dilogo, a negociao e o consenso constituam ferra-
mentas fundamentais nas decises que sejam tomadas.
Trata-se de construir uma agenda pblica onde caibam um
setor privado pujante e uma cidadania robusta, dotada de
direitos e possibilidades e com a certeza de exerc-los.
A CEPAL tem colocado, neste sentido, a importncia
dos pactos para a coeso social que propem a consoli-
dao de sistemas de proteo social baseados em prin-
cpios de universalidade, solidariedade e ecincia, com
regras claras e durveis, gesto ecaz, capacidade de arti-
cular instituies, participao e reclamao dos direitos
por parte da populao, com atribuies descentralizadas
e em que se combine o pblico e o privado. Em termos
substantivos, seu alcance muito amplo, e inclui, entre
outros, a gerao de recursos pblicos, a maior produti-
vidade do gasto scal, a transparncia do gasto pblico,
o resguardo da equidade, o fortalecimento de instituies
democrticas, a gerao de emprego, a proteo social e
a educao e capacitao.
Um pacto pela igualdade , fundamentalmente, um
pacto pela redistribuio de rendimentos e outros ativos,
assim como pela superao da heterogeneidade estrutu-
ral. De outro lado, a maior convergncia produtiva a
base para conseguir uma maior igualdade em forma sus-
tentvel na sociedade, e as ferramentas redistributivas
mais imediatas e disponveis para o Estado continuam
sendo a reforma tributria ou o sistema de impostos e a
orientao do gasto social.
Para avanar em relao celebrao de pactos so-
ciais, imprescindvel construir o apoio de atores polti-
cos e sociais. Dado que um pacto social dene relaes
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
28
entre contribuintes e benecirios da poltica pblica
(por meio da tributao, por um lado, e prestaes e
transferncias, por outro), o papel das classes mdias,
setor chave para as alianas entre classes, fundamental.
A combinao de um olhar estratgico e a construo de
alianas entre agentes a chave para entender o processo
de pases bem sucedidos em matria de desenvolvimento
nas ltimas dcadas.
O pacto, mais que resultado, processo. Neste pro-
cesso so necessrios os debates e acordos sobre projetos
de convivncia de longo prazo, os sacrifcios de interes-
ses imediatos em prol do bem comum e da dinmica do
desenvolvimento, e o compromisso de todos de construir
uma sociedade melhor e uma poltica de melhor qualida-
de. fundamental, neste contexto, legitimar novamente a
poltica, dado que o que est em jogo a democracia nos
pases e tambm a insero numa ordem cada vez mais
globalizada.
III. A VISO DA CEPAL E OS DESAFIOS A LONGO PRAZO
O desenvolvimento enfrenta hoje desaos e ine-
xes que emergem no s do calor da conjuntura da crise,
mas tambm da conscincia de estar em um novo cenrio
global e regional.
Atualmente, no nvel regional, se reconhece que no
existem modelos e solues nicas que se apliquem a
todos os pases por igual. A diversidade ganhou espao
quanto maneira de enfrentar os problemas e o que nos
une , diante de tudo, o valor da democracia e o desejo
de reinventar espaos prprios de convergncia no mbi-
to poltico, como o Grupo do Rio e a Cpula da Amrica
Latina e do Caribe sobre integrao e desenvolvimento
(CALC), sendo os objetivos cada vez mais convergentes
entre pases.
Em matria comercial, por exemplo, a Amrica Latina
e o Caribe tm criado novas perspectivas e modalidades
mais pragmticas para fortalecer o comrcio intra-regio-
nal, enlaando as cadeias de valor a partir dos bens inter-
medirios e no s competindo pela comercializao de
bens nais. Do mesmo modo, respondemos como entida-
des nacionais diante dos mercados globais. Da a impor-
tncia das instncias multilaterais e de cooperao para
fazer frente de maneira rme s ameaas da volatilidade,
instabilidade e insegurana climtica, nossos grandes
males pblicos globais.
Fizemos referncia, no comeo deste documento, s
mudanas estruturais necessrias por conta do colapso do
modelo de autoregulao dos mercados. Tambm neces-
srio levar em conta a profundidade das tendncias es-
truturais, que supem uma verdadeira mudana de poca,
entre as quais cabe mencionar as quatro que seguem.
A primeira a mudana climtica, que se relaciona
estreitamente com uma longa historia de industrializa-
o, padres produtivos de grande emisso de carbono
e consumo de energias fsseis e, alm do mais, com um
modo especco de relao estabelecida entre o ser hu-
mano e a natureza para procurar sua reproduo coletiva.
Os efeitos so profundos, sistmicos e, no caso de no
haver mudanas decisivas e acordos globais relacionados,
catastrcos. Nestes acordos, o multilateralismo bsi-
co; se requer a vontade dos Estados, mas tambm deve
imperar uma nova justia global para que os esforos e
acordos no condenem o mundo em desenvolvimento a
car ancorado no subdesenvolvimento.
Deste modo, a mudana climtica impe limites,
obriga a reorientar o paradigma produtivo e os padres de
consumo, coloca a solidariedade inter-geracional no cen-
tro da agenda da igualdade e, inclusive, questiona nossa
relao com o mundo. Dito de outro modo, sob a ameaa
da mudana climtica, o futuro de cada pessoa est indis-
soluvelmente amarrado ao futuro de todas. Nunca como
agora, de frente para o aquecimento global, a destruio
do meio ambiente e a crise nas fontes de energia, a in-
terdependncia tem sido to forte. Neste contexto, temos
que denir as alternativas e as restries que enfrenta a
regio para transitar para economias com menos emisses
de carbono e menos uso de energias fsseis.
Para a Amrica Latina e o Caribe, a mudana clim-
tica pode se transformar numa nova restrio ao cresci-
mento econmico ou, se assumida de maneira oportuna e
integrada, numa oportunidade para a renovao e melho-
ria da infraestrutura, o avano dos processos produtivos,
a criao de meios de transporte mais ecientes e com
menos emisses, e a promoo da mudana progressiva
para padres de desenvolvimento com menor contedo
de carbono. Esse trnsito pode ter efeitos importantes do
ponto de vista da igualdade e da convergncia produtiva,
na medida em que signique a proviso de servios p-
blicos de melhor qualidade, que so fundamentais para o
bem-estar dos estratos menos favorecidos.
A segunda tendncia a mudana tecnolgica e a
chamada sociedade em rede, ou sociedade da informao
ou sociedade do conhecimento. No fazemos referncia
ao progresso tcnico somente como um requerimento da
competitividade global. O que est se gestando com as
inovaes nas tecnologias da informao e das comuni-
caes uma sociedade muito diferente, que modica
padres econmicos e produtivos, modos de trabalhar
e se organizar, sistemas de comunicao, dinmicas de
aprendizagem e informao, vnculos sociais, formas de
governar e exercer a democracia e o controle social.
O sistema rede empurra a desregulao e a autore-
gulao. O problema surge quando isto projetado para
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
29
reas da vida global onde a desregulao tem se mostrado
nociva e perigosa, como o mbito nanceiro, do trco
de armas, a organizao do trabalho e o uso do meio
ambiente, entre outros. Pelos mesmos motivos, a prpria
rede deve constituir um meio para potencializar a regu-
lao daqueles mbitos da vida global que, precisamente
por sua falta de controle, ameaam com crises globais nos
setores econmico, produtivo, ambiental e da segurana
mundial. Aqui tem sido colocada, por exemplo, a impor-
tncia de regular o sistema nanceiro e a institucionali-
dade do trabalho.
Uma terceira tendncia a transio demogrca,
processo pelo qual o peso relativo de diversos grupos de
idade da populao mudar no decorrer das prximas d-
cadas. Em relao a isso, tem-se falado que na Amrica
Latina e no Caribe, com diferenas importantes de um
pas para outro, existe um fenmeno de bnus demogr-
co, dado que a diminuio da populao infantil e o
envelhecimento ainda incipiente da populao adulta se
traduz numa proporo maior de populao em idade de
trabalhar com relao populao em idade de depen-
dncia. O benefcio que signica o bnus deve ser apro-
veitado nas prximas dcadas, em que o maior peso da
populao idosa colocar outra equao entre populao
produtiva e dependente, e requerer altos nveis de pro-
dutividade da sociedade para gerar os recursos para cobrir
as necessidades de sade e previdncia social.
A transio demogrca leva, por ltimo, a re-
questionar-se o equilbrio na equao Estado-mercado-
famlia para resolver as necessidades de bem-estar e
desenvolvimento de capacidades. medida que o peso
das idades muda, necessrio reavaliar a maneira como
intervm esses trs agentes para a proviso de servios,
desembolsos monetrios e redes de apoio. Nesse marco,
localizam-se de maneira estratgica as transferncias e
os servios de cuidado. Apoiar, hoje, a economia do cui-
dado signica fomentar uma maior participao femini-
na no emprego, ampliando-se assim a base da populao
produtiva frente transio demogrca. Tambm su-
pe, junto com o esforo de progressividade no sistema
educacional desde a primeira infncia at, pelo menos,
o nal do ensino mdio , investir nas capacidades pro-
dutivas da prxima gerao ativa. Essa gerao ter um
maior peso sobre suas costas, na medida em que aumen-
te a dependncia da populao idosa e, portanto, ne-
cessita preparar-se desde agora para ser mais produtiva.
Donde tambm a proposta de avanar com relao a um
pilar solidrio da previdncia social, dado que o papel
das transferncias pblicas para penses no contributi-
vas ter que ir sendo ampliado a medida que envelhea
uma populao que, em grande medida, no conseguiu
inserir-se de maneira contnua em sistemas contributi-
vos ou de capitalizao individual.
Uma quarta tendncia a mudana cultural. Um
maior intercmbio global cria maior conscincia da di-
versidade de gostos, valores e crenas, mas tambm gera
profundas intolerncias culturais e religiosas, algumas
das quais cristalizam em formas virulentas que cons-
tituem novas ameaas para a segurana global. Com a
queda do muro de Berlim, cresce o imaginrio da demo-
cracia como parte do patrimnio cultural global, mas os
conitos intertnicos revivem os fantasmas da violncia
coletiva. A expanso mundial do consumo e o nancia-
mento transformam o mercado em um eixo privilegiado
em que se denem sentidos, identidades e smbolos. A
globalizao das comunicaes e da informao, assim
como o uso massivo das tecnologias da informao e das
comunicaes, muda as referncias espao-temporais de
muitas pessoas, a representao e imagem do mundo, ao
mesmo tempo que abre questes sobre o ritmo e profundi-
dade com que mudam as preferncias, os projetos de vida
e as pautas de convivncia.
De frente para o futuro, preciso que o novo pa-
radigma do desenvolvimento d o melhor de si em prol
de uma globalizao que seja mais justa, que propicie
uma maior conscincia coletiva sobre os bens pblicos
globais, permita a pblicos muito diversos ter voz na go-
vernabilidade global, que faa chegar aos setores exclu-
dos as ferramentas necessrias para reduzir as brechas
em matria de capacidade, direitos cidados e acesso ao
bem-estar, e se antecipe com polticas de longo prazo
mas de urgente implementao aos cenrios que pro-
jetam as tendncias, tanto em termos climticos quanto
demogrca, tecnolgica e culturalmente.
A HORA DA IGUALDADE / Alicia Brcena
30
Artigo
A AUTONOMIA ECONMICA DAS
MULHERES E A REPRODUO SOCIAL:
O PAPEL DAS POLTICAS PBLICAS
Graciela Rodriguez*
Introduo
H mais de uma dcada que reetimos sobre a au-
tonomia econmica das mulheres e j comprovamos que
ela no est determinada somente pela insero das mu-
lheres nos processos microeconmicos, mas, sobretudo,
pelos impactos das polticas macroeconmicas sobre sua
insero na sociedade. Nesse sentido, sabemos que essa
autonomia econmica depende da contribuio das mu-
lheres criao de riquezas a partir de sua insero no
mercado de trabalho, por meio do chamado trabalho pro-
dutivo, ainda que, ao mesmo tempo, do invisvel trabalho
reprodutivo realizado no mbito domstico.
Tambm consideramos que impossvel pensar a
autonomia das mulheres sem analisar o contexto eco-
nmico e social, especialmente na regio da Amrica
Latina, onde mudanas importantes tm se operado
nas ltimas dcadas.
Os ltimos 20 anos na regio tm sido marcados por
tendncias econmicas e momentos polticos de signos
extremamente contraditrios, inclusive convivendo si-
multaneamente, formando um mosaico muito interessan-
te para anlise e para a disputa de avanos polticos e
sociais. Tais tendncias no mbito econmico foram em
alguns momentos e pases, desde a implementao risca
das recomendaes do chamado Consenso de Washington
at a aplicao mais recente de polticas que caminharam
no sentido contrrio, para o afastamento de tal receitu-
rio e suas condicionalidades.
Ao mesmo tempo, no embate entre esses dois cami-
nhos poltico-econmicos, uma batalha considervel tem
se livrado nos diversos pases da regio entre a dinmica
econmica e de acumulao do capital, por um lado, e a
superao das desigualdades, campo este onde tem se lo-
grado fortes sinais de avano, apesar, ainda, de reconhe-
cermos a persistncia do desao da superao. Tambm
dentro do campo das polticas sociais, temos observado
essa mesma dissociao, j que tais polticas tomaram
rumos diversos entre a focalizao e os avanos distri-
butivos at a continuidade das polticas assistencialistas
tradicionais.
Entretanto, combinar os aspectos do crescimento
econmico com as polticas distributivas continua sendo
fundamental. Para isso, o papel do Estado chave, como
amplamente tem sido comprovado nos chamados Estados
de bem-estar social.
Este artigo busca, dessa forma, aproximar a anlise
do contexto socioeconmico com a perspectiva da auto-
nomia das mulheres e das desigualdades de gnero, duas
esferas da mesma problemtica. Tentaremos, ento, re-
lacionar a anlise feminista da chamada economia do
cuidado, envolvendo a perspectiva do conjunto do tra-
balho realizado pelas mulheres aos debates e impactos do
modelo econmico neoliberal globalizante e hegemnico
que, apesar da profundidade da crise internacional atual e
de seus escassos resultados em termos de desenvolvimen-
to econmico global, arremete, talvez justamente pela
situao de crise em que se encontra atualmente, com
uma nova ofensiva e o mesmo receiturio.
Assim, em um primeiro momento deste trabalho,
iremos descrever brevemente a economia feminista e
suas contribuies anlise da autonomia econmica
das mulheres e das categorias de trabalho produtivo e
reprodutivo.
Incluiremos uma seo relativa economia dos cui-
dados e necessidade de visibilizao e, sobretudo, de
valorizao do enorme trabalho reprodutivo no remune-
rado das mulheres, para a manuteno da vida e da fora
de trabalho, mostrando o enorme peso que o mbito eco-
nmico domstico e o trabalho realizado no seu interior
esto exercendo no mundo globalizado, com a ampliao
das cadeias do cuidado, especialmente atravs das migra-
es.
Repassaremos, depois, o contexto econmico neoli-
beral e da liberalizao comercial e de investimentos que
tem pautado as polticas internacionais e nacionais nas
ltimas dcadas, buscando analisar seus impactos sobre
o trabalho produtivo e reprodutivo realizado pelas mu-
lheres, j que estas e seu trabalho gratuito nos mbitos
domsticos, ou de menor valor quando remunerado em
relao aos homens, tem sido base fundamental para a
expanso capitalista global. 31
* Graciela S. Rodriguez: mestre em Sociologia Rural pela Universidade Nacional de Crdoba (UNC), Diretora do Ser Mulher (Ong feminista), membro da Secretaria Estadual de
Mulheres do PT /RJ e Conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher /RJ (CEDIM).
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
Finalmente, analisaremos as relaes entre o mode-
lo neoliberal e a economia dos cuidados, enfatizando o
papel do Estado e das polticas publicas para avanar na
autonomia econmica das mulheres e na superao das
desigualdades de gnero.
1. As mulheres e sua autonomia econmica
O tema da autonomia econmica das mulheres foi
incorporado ao debate do movimento de mulheres nos l-
timos anos, ainda que este assunto parea ser quase uma
tautologia, uma repetio viciada na sua origem.
As mulheres trabalham para seu prprio sustento e o
de outros faz j muito tempo e no somente desde sua in-
corporao massiva no mercado de trabalho, este sim um
processo relativamente recente. Isto ocorre fundamental-
mente porque todas as tarefas realizadas pelas mulheres
no mbito domstico, s quais corresponde uma enorme
magnitude de trabalho que cria riqueza e que sustenta
e reproduz a vida em sociedade, foram durante sculos
invisibilizadas e desconsideradas do ponto de vista eco-
nmico.
Tais trabalhos, que incluem atividades como preparar
os alimentos, buscar lenha ou levar gua para dentro de
casa, manter a limpeza da moradia e cuidar da higiene
familiar, cuidar de crianas e idosos, ensinar as crianas a
falar e a se comportar socialmente, assistir os decientes
fsicos e doentes, entre outras das muitas tarefas doms-
ticas, so imprescindveis para a vida e a socializao dos
seres humanos, aspectos os quais no seriam possveis
sem todo esse esforo naturalizado e destinado respon-
sabilidade fundamental das mulheres.
As mulheres tm desenvolvido historicamente os tra-
balhos associados com a reproduo da vida e o cuidado
das pessoas, ainda que estas tarefas nunca recebessem
valor no mercado e por tanto resultarem totalmente invi-
sveis na perspectiva da economia.
O que atualmente se denomina economia feminista
tem incorporado a noo desta contribuio para a cria-
o de riqueza pelas sociedades, trazendo a construo
de novas perspectivas de anlises e redenio de novos
conceitos e categorias a partir da prpria experincia das
mulheres
1
e dos debates surgidos no seio dos movimen-
tos feministas. Entretanto, at agora a cincia econmi-
ca dominante tem se mantido insensvel a tais mudanas
conceituais, e continua sendo difcil a incluso do tra-
balho domstico no remunerado das mulheres nas an-
lises econmicas tradicionais. Com isto, evidentemente,
impede-se a incorporao de uma perspectiva que busca
acrescentar anlise econmica reexes mais amplas
sobre a sustentabilidade da vida e a reproduo dos seres
humanos e da prpria fora de trabalho.
Justamente por esse trabalho domstico no ser con-
siderado parte do mundo econmico dentro do sistema
capitalista centrado na lgica do mercado, torna-se sem
nenhuma transcendncia para os intercmbios de valor,
fazendo-se assim invisvel, como tambm sem presena
nas contas nacionais e na contabilidade domstica.
Esta construo social da invisibilidade do trabalho
das mulheres, ligada ao seu papel na reproduo da vida,
realizada no cotidiano por meio do controle de sua fertili-
dade e por meio de seu connamento nos mbitos priva-
dos est justamente na base da consolidao dos papeis
diferenciados por gnero nas sociedades patriarcais.
O construto histrico de sua naturalizao e invisibi-
lidade, dentro da lgica capitalista, resultam consequen-
temente em ausncia de remunerao, a qual redunda
evidentemente em ausncia nos balanos da riqueza na-
cional e portanto no PIB (Produto Interno Bruto) como
medida da mesma.
Por tudo isto e ainda que no se trate de dimensio-
nar para mercantilizar este trabalho fundamental para a
vida, trata-se sim de valoriz-lo para deixar de lado sua
secundarizao, e sobretudo para entender a dupla lgica
mercantil de um lado e da dominao pelo outro. De fato,
esta estruturao e controle social tm permitido histo-
ricamente a subordinao das mulheres e sua domesti-
cao em diversos modos de produo das sociedades
patriarcais, baseadas no connamento das mulheres aos
mbitos privados e ao usufruto do trabalho de reproduo
da vida.
Trabalho produtivo e trabalho reprodutivo
O conceito de trabalho histrico e muito tem sido
debatido sobre as maneiras como ele se encontra na base
da organizao das sociedades. Inclusive, nas teorias
econmicas modernas e mais amplamente divulgadas, ele
est por trs do preo das mercadorias e do prprio de-
senvolvimento da humanidade.
Entretanto, todas as consideraes econmicas, so-
ciolgicas, antropolgicas e at loscas sobre o papel
do trabalho e sobre suas possibilidades de gerar as con-
dies de sobrevivncia e existncia dos seres humanos
atravs do suprimento de suas necessidades diversas no
tempo e no espao no tm levado em considerao o
bvio valor do trabalho domstico para justamente satis-
fazer as necessidades e carncias do cotidiano da vida.
1
Carrasco, Cristina. La economa feminista: una apuesta por otra economa. 2002. Espaa. Mimeo. 32
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
Foi o surgimento recente da economia feminista
(sem depreciar a importante contribuio de algumas mu-
lheres que criticaram a viso da economia neoliberal cls-
sica desde nais do Sculo XVIII) que trouxe a luz poltica
e tambm acadmica, para esta dimenso do trabalho,
colocando o foco da anlise justamente nessa realizao
das tarefas do cuidado da vida e sua reproduo fsica e
social.
Para isto a economia feminista tem enfatizado o es-
tudo e a classicao do trabalho em suas esferas produ-
tiva e reprodutiva, que conformam a chamada diviso pri-
mria do trabalho, justamente baseada na diviso sexual
do trabalho.
O trabalho produtivo se refere quele que gera mer-
cadorias e renda, ou seja, aquele destinado s trocas
de mercado, e que tendo legitimao e valorizao nesse
mercado, remunerado.
O trabalho reprodutivo, por sua vez, o conjunto
das atividades que se realizam para o cuidado das pessoas
e seu desenvolvimento, inclusive a produo de produ-
tores
2
ou reposio da fora de trabalho. A maior parte
dessas atividades realizada por mulheres de forma gra-
tuita e, ainda que tambm sejam necessrias para cobrir
necessidades humanas, quando no passam pela valoriza-
o do mercado no so remuneradas.
Assim, enquanto as tarefas do cuidado se efetuam
geralmente no mbito domstico, onde prevalecem as
mulheres, de forma predominante os homens se especia-
lizam nas chamadas atividades produtivas pelas quais
recebem um salrio no mercado de trabalho.
A partir desta outra forma de classicao do tra-
balho, na qual se inclui a remunerao, mas tambm a
gratuidade elemento no considerado tradicionalmente
pela economia um novo olhar pode ser desvelado em
torno da natureza e forma que pode assumir o trabalho.
O lcus de realizao do trabalho, no mbito do pri-
vado, tambm tem importncia porque forma parte dos
mecanismos sociais da dominao e subordinao que to
ecientemente tm funcionado, contribuindo para o capi-
tal conseguir a fora de trabalho barata que precisa para
sua manuteno e sustentabilidade.
Assim, a considerao do trabalho produtivo e do
trabalho reprodutivo como partes necessrias e indissol-
veis da produo de bens e riquezas permite, desde pouco
tempo atrs, reconsiderar alguns dos princpios que tm
pautado a economia em uma perspectiva de incorporar
novas atribuies de valor ao trabalho. Desta forma, o
sistema capitalista conta para o seu funcionamento com
as mulheres como provedoras do bsico para o cuidado
e a manuteno da famlia e a qualidade da reproduo
social. Tais aspectos da vida, embora fundamentais para o
funcionamento da sociedade, no tm sido considerados
pelas polticas macroeconmicas como algo intrnseco ao
funcionamento do sistema e sim como parte dos aspectos
que devem ser cuidados atravs das polticas sociais.
E este trabalho reprodutivo no remunerado assu-
mido pelas mulheres que as sobrecarrega com a respon-
sabilidade familiar impedindo muitas vezes, inclusive, sua
participao no mercado de trabalho formal ou provocan-
do a dupla jornada de trabalho. Como bem assinala Ca-
gatay a responsabilidade pela reproduo social das mu-
lheres chega inclusive a inuenciar o lugar que ocupam
no mercado laboral, como trabalhadoras assalariadas. A
participao das mulheres na fora de trabalho mais
baixa que a dos homens [..]. Frequentemente tambm, as
mulheres tm empregos mais inseguros que os homens,
como sucede com os trabalhos de tempo parcial ou do se-
tor informal, devido as suas responsabilidades domsticas
no remuneradas
3
.
Apesar de esta separao ser amplamente entendi-
da, a correlao entre trabalho produtivo e assalariado
e trabalho reprodutivo e gratuito no pode ser feita de
modo estrito, porque em diversas modalidades e em par-
ticular para os servios de educao e sade, o Estado e o
setor privado, ambos atravs do mercado, atuam para se
responsabilizar pela sua realizao com uso de trabalho
remunerado.
Por este motivo, e dada a diversidade das tarefas
com o cuidado da vida e a reproduo dos trabalhadores,
que as feministas vm procurando denir e aprofundar
o debate da chamada economia dos cuidados, a qual
rene justamente a produo de riquezas ligada tanto ao
trabalho domstico quanto aos servios prestados pelo
Estado e pelo setor privado, e que buscam suprir as ne-
cessidades cotidianas das famlias e das comunidades.
A economia feminista, o cuidado
e suas contribuies
A economia feminista tem trazido muitas contribui-
es para esses debates, pois veio justamente jogar luz,
tanto para a cincia econmica como para diversas cin-
cias humanas e sociais, acerca da necessidade de valorizar
o trabalho necessrio para a manuteno e a reproduo
da vida em sociedade.
2
Meillassoux, Claude. Mujeres, Graneros y capitales. Siglo XXI Editores. Mxico. 1977.
3
Cagatay Nilufer. Gnero, Pobreza y Desarrollo. Universidad de Utah. 2002. Mimeo; 33
De fato, a economia tradicional enfocou-se histori-
camente na produo orientada ao mercado e relegou ao
esquecimento a produo domstica destinada ao auto-
consumo familiar, consolidando essa perspectiva no modo
de produo capitalista generalizado nos ltimos sculos.
Desse modo, nem nas diversas correntes da economia,
nem na economia poltica, fez-se um esforo exitoso para
articular as atividades no mercantis realizadas nos mbi-
tos privados com a produo capitalista realizada nos m-
bitos pblicos,. Dessa forma foi sendo consolidada a viso
que ignora a diviso do trabalho por sexo, invisibilizando
a riqueza criada pelo trabalho familiar domstico, que
majoritariamente realizado pelas mulheres. Inicia-se,
assim, uma perspectiva de anlise que mantm uma rgida
separao entre diversas dicotomias: pblico e privado,
razo e sentimentos, trabalho mercantil e trabalho do-
mstico, empresa e famlia. Aproximao epistemolgica
que ainda hoje perdura e que considera objeto de estudo
da economia somente aquilo que tem a ver com o mundo
publico
4
ao qual agregaria: e que passe pelo mercado,
que parece legitimar seu valor.
Dessa forma foi-se consolidando a naturalizao
do trabalho das mulheres no mbito domstico, dado que
se produz margem do mercado, resultando na invisibi-
lidade econmica do trabalho feminino, da o paradoxo
de falar em autonomia das mulheres. Isso s poderia
suceder a partir de uma viso centrada no mercado e que,
por isso mesmo, acaba sendo estreita e excludente das
perspectivas que incorporam a riqueza produzida pelas
atividades no mercantis, focalizadas pelas economistas
feministas.
Muitas estudiosas argumentaram nesse sentido, e
desde o sculo XIX, Sheppard argumentava em favor do
reconhecimento e valorizao do trabalho domstico
5
,
discutindo inclusive a classicao de dependentes das
mulheres sem emprego, j que igualava a importncia das
atividades realizadas por elas em suas casas, para cobrir
as necessidades dos membros da famlia, com as ativida-
des masculinas realizadas nos mbitos pblicos.
importante enfatizar aqui que essa perspectiva que
enfoca o valor do trabalho no remunerado das mulheres
em seus lares e comunidades, embora tenha buscado dar-
lhe visibilidade e com isso rever conceitos e at mesmo
a prpria viso paradigmtica do mundo econmico, no
centrou esforos na sua valorizao no sentido de tornar
esse trabalho mais uma mercadoria. No se trata, assim, de
forma alguma, de mercantilizar o trabalho domstico, mas
sim de, a partir de uma perspectiva feminista, fazer sua
diviso de forma mais igualitria entre homens e mulheres.
Continuando a pensar nas contribuies da economia
feminista, ainda que sem termos a pretenso de sermos
exaustivas nessa anlise, importante ao menos men-
cionar a relevncia de alguns estudos que construram o
devir histrico da viso econmica feminista, tais como
os estudos sobre o uso do tempo familiar, as anlises
sobre os motivos e formas de superao da desigualdade
salarial entre homens e mulheres, e especialmente das
novas e diversas perspectivas que somaram o cuidado (do
ingls care) com os seres humanos e sua reproduo
fsica e social, o que se acordou chamar de a economia
do cuidado.
Tambm possvel mencionar e somar os aportes
6
que foram realizadas desde uma perspectiva feminista
e que questionam a estrutura dualista universalizante e
hierrquica, ou a partir de um enfoque conceitual base-
ado no gnero, com crticas ao androcentrismo, mas a
partir de um marco terico em comum com a economia
mais tradicional, ainda que agregando a perspectiva das
mulheres. Seguramente, ainda h muito em que avanar,
incorporando inclusive as perspectivas eco-feministas,
at agora muito pouco desenvolvidas e at menospreza-
das por diversos setores do feminismo que, frente aos
desaos impostos pelas mudanas climticas e seus im-
pactos sobre a pobreza das mulheres especialmente, tero
que utiliz-las em busca de novas anlises mais integrais.
Finalmente, fundamental apontar outra contri-
buio realizada pela perspectiva feminista nos ltimos
anos. o que se refere desconstruo da tendncia pre-
dominante na economia tradicional sobre a neutralidade
de gnero dos instrumentos e das polticas macroecon-
micos. Os estudos pioneiros nesta rea foram realizados
por Boserup e foram referidos ao papel das mulheres no
desenvolvimento. Esta anlise marcou o caminho pos-
terior e algumas estudiosas deram continuidade a essa
perspectiva, focalizando cada vez mais as anlises sobre
a aplicao das polticas de corte neoliberal dominantes
nos ltimos anos e seus efeitos na vida das mulheres.
Se o reconhecimento das desigualdades de gnero
podia ser encontrado j alguns anos atrs com alguma
facilidade nas anlises microeconmicas, esta perspec-
tiva no tem sido to facilmente aceita em termos das
anlises polticas comerciais, nanceiras ou das macro-
polticas. No entanto, desde o ponto de vista feminista, e
dada sua intrnseca relao com a formao do valor e a
criao de riquezas em uma sociedade, o tema de gnero
no poderia continuar sendo visto separadamente das po-
lticas e instrumentos econmicos. De fato, as desigual-
dades de gnero esto no cerne das polticas neoliberais
4
Carrasco, Cristina Ob cit.
5
Carrasco, Cristina Ob cit.
6
Picchio, Antonella. La economa poltica y la investigacin sobre las condiciones de vida en Por una economa sobre la vida. Icaria. 2005.
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
34
e, em particular, do processo de globalizao econmica.
Assim sendo, nos propomos agora a vericar alguns dos
seus impactos para a vida das mulheres.
2.1 O contexto da globalizao
Um dos elementos mais importantes para desvendar
as razes que explicam a atual crise est justamente no
processo de liberalizao do comrcio e dos investimen-
tos, coluna fundamental da chamada globalizao das l-
timas dcadas.
Os principais pilares sobre os quais diversos autores
consideram que esto assentadas as profundas mudanas
produtivas das ltimas trs dcadas, com uma expanso
sem precedentes da produo global, foram fundamental-
mente: 1 - o aproveitamento dos recursos naturais e da
biodiversidade; e 2 a explorao da mo-de-obra dos
pases perifricos, ambos baratos pela falta de legislao
e proteo, seja ambiental ou trabalhista.
A busca por mo-de-obra barata, que chegou junto
com a legislao de exibilizao da legislao tra-
balhista, encontrou em muitos pases e regies um
incentivo nas desigualdades sociais, em particular as
de gnero, para atrair os investimentos diretos. Desse
modo, resultou evidente a funcionalidade das desigual-
dades, especialmente as de gnero, para a produo
globalizada.
No contexto da globalizao, e dentro das polticas
impulsionadas em particular para os pases em desenvol-
vimento pelas instituies de Bretton Woods
7
, a libera-
lizao do comrcio e dos investimentos foi parte das
chamadas condicionalidades exigidas como parte das po-
lticas de ajuste estrutural. Em funo dessas polticas,
os acordos regionais de livre comrcio e especialmente as
negociaes na Organizao Mundial de Comrcio (OMC)
no mbito multilateral aumentaram consideravelmente
sua relevncia internacional. Os acordos negociados em
tal entidade e tambm nos Tratados de Livre Comrcio
TLCs baseiam-se na idia da liberalizao progressiva do
comrcio internacional, a qual supe a eliminao das
barreiras e protees comerciais, ampliando o acesso aos
mercados especialmente dos pases do Norte, apesar das
restries e dos subsdios que eles mesmos aplicam.
Dentro desse modelo econmico atualmente hege-
mnico, e nas chamadas polticas de coerncia entre o BM
Banco Mundial, FMI Fundo Monetrio Internacional
e a OMC, o papel do comrcio internacional como mo-
tor do desenvolvimento foi fortemente promovido, ainda
que simultaneamente desde o incio se reconhecesse que
a liberalizao comercial produzira perdedores alm de
ganhadores.
Entretanto, depois de vrios anos de receitas libe-
ralizantes que no deram os resultados esperados em
termos de superao da pobreza e de desenvolvimento
da periferia mundial, ainda assim continua-se insistindo
nessa perspectiva. Inclusive, nas atuais negociaes no
G20 nanceiro
8
() a liberalizao comercial e de investi-
mentos continua sendo uma das propostas centrais como
sada para a crise econmica global, apesar das infrut-
feras buscas de acordo nos ltimos anos, as quais no
permitiram sequer fechar as negociaes da Rodada de
Doha na OMC.
Dentro dessas perspectivas, justamente por sua con-
dio desigual nas sociedades, as mulheres, em particular
as pobres, enfrentaram com maiores diculdades os pro-
cessos de globalizao e de liberalizao econmica e,
por isso, em muitos pases elas esto entre os principais
perdedores. Nos ltimos anos, diversos estudos reali-
zaram esforos considerveis para desenvolver anlises,
vinculando as polticas comerciais, o combate pobreza
e a equidade de gnero. Os resultados apontam para uma
vinculao negativa de tais variveis.
A vinculao crescente da mo-de-obra feminina
fabricao de produtos destinados exportao uma
constatao na produo globalizada. J em 1981 Elson
e Pearson mencionavam o aumento do trabalho feminino
nas fbricas do mercado mundial
9
, baseado na presena
de mulheres contratadas por salrios muito baixos e em
condies precrias.
Desde ento, alguns estudos buscaram relacionar o
emprego de mulheres nos sectores exportadores, em espe-
cial no setor industrial, ainda que tambm na agricultura
e nos servios, muitos nos mbitos nacionais e outros, um
pouco mais escassos, utilizando dados internacionais. Em
geral, tais estudos tm apoiado a tese de que a produ-
o para a exportao nos pases em desenvolvimento se
produz em tandem com a feminizao do trabalho remu-
nerado.
10
Inclusive, algumas autoras, entre elas Joekes, ar-
maram de uma maneira muito contundente que Na poca
contempornea, no se registraram grandes performances
de exportao em pases em desenvolvimento que no
estejam vinculadas ao trabalho das mulheres
11
.
7
Refere-se as instituies financeiras internacionais (FMI e Banco Mundial) criadas a partir da reunio realizada em Bretton Woods nos EUA, de onde surge o nome da declarao
final.
8
O chamado G-20 financeiro o grupo de pases formado a partir da ampliao para legitimao do G8 e que busca solues para a crise.
9
Elson,D e R. Pearson The subordination of Women and the Internationalization of Factory Production. 1981.
10
Cagatay, N. Gnero, Pobreza e comrcio. Departamento de Economa. Universidad de Utah. 2001. Mimeo.
11
Joekes, S. Trade Related Employment for Women in Industry and services in Developing Countries. UNSRID. 1991
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
35
Por outro lado, se essas polticas de liberalizao
so potencialmente bencas ao criarem oportunidades
de empregos para as mulheres, podemos nos perguntar
se o papel reprodutivo das mulheres e as desigualdades
de gnero as impedem de aceder a esses benefcios, ou
seja, at onde podem aproveitar as oportunidades que
um acordo comercial oferece ou enfrentar a crescente
competio, se ao mesmo tempo carregam a responsa-
bilidade do lar
12
. Tambm preciso analisar a qualidade
dos empregos gerados, que nem sempre contribuem para
melhorar as relaes de gnero e de segregao trabalhis-
ta, as desigualdades salariais entre homens e mulheres ou
a prpria qualidade de vida das mulheres.
Levando em considerao alguns desses resultados
da pesquisa realizada, e reconhecendo ainda os vazios
e diculdades dos estudos que precisam aprofundar as
anlises, podemos avanar em algumas consideraes
sobre as formas pelas quais as polticas econmicas e
comerciais de liberalizao progressiva tm atuado e,
em muitas ocasies, tm feito mais notveis e inclusive
colaborado para aprofundar as desigualdades de gnero.
Parece fundamental ento reetir sobre de que manei-
ra as polticas macroeconmicas interatuam que agora
passaremos a analisar com as tarefas do cuidado das
pessoas nos domiclios e a insero feminina no mercado
de trabalho remunerado. O sentido desse esforo visi-
bilizar justamente os impactos articulados das polticas
econmicas, particularmente a liberalizao comercial e
dos investimentos, sobre o trabalho produtivo, mas tam-
bm sobre as tarefas reprodutivas das mulheres, ou sej,
sobre o conjunto de sua insero de trabalho que tem
histrica e socialmente uma poro invisvel.
2.2 A liberalizao do comrcio e dos investimentos
na regio: ou de como as desigualdades de gnero
no Mercado de Trabalho atraem os investimentos
Inicialmente, e considerando a participao das mu-
lheres no mercado de trabalho, podemos reetir sobre o
impacto dos investimentos nas economias nacionais e,
em especial, sobre as desigualdades entre homens e mu-
lheres.
A liberalizao comercial progressiva, premissa fun-
damental do sistema mundial de comrcio impulsionado
pelo modelo neoliberal, veio acompanhada da liberaliza-
o dos investimentos, atravs de diversos mecanismos
de regulao para facilitar o trnsito de capitais entre os
pases. De fato, as medidas para facilitar a livre circulao
dos capitais e a segurana para os investimentos foram e
ainda so o centro neurlgico das polticas macroecon-
micas hegemnicas.
Os acordos de liberalizao dos investimentos outor-
garam grandes facilidades de instalao s empresas tran-
sacionais sem a contrapartida dos chamados requisitos
de desempenho exigidos tradicionalmente aos capitais
de investidores. A exibilizao das leis e dos padres
laborais com o objetivo de atrair investimentos estran-
geiros permitiu reduzir os custos da mo-de-obra, e tem
facilitado o avano da precariedade e das ms condies
de trabalho na economia globalizada, ao mesmo tempo
em que a capacidade dos Estados para controlar essas
condies de trabalho foi reduzida por anos de polticas
de ajuste estrutural tendentes a minimizar o papel dos
Estados e tambm em muitos casos pela prpria cumpli-
cidade dos governos com as empresas que se instalaram
nos pases perifricos.
Nesse contexto, uma das vantagens comparativas
oferecidas aos investidores estrangeiros por diversos
governos dos pases em desenvolvimento foi a disponi-
bilizao de contingentes de mo-de-obra barata, espe-
cialmente de mulheres, para empresas que produzem, na
maioria dos casos, bens intensivos em trabalhos de baixa
qualicao. As facilidades oferecidas para a instalao
de capitais nas zonas francas de processamento de
exportaes ou nas fbricas de montagem de produtos
tem sido a forma encontrada para reunir os interesses de
muitos governos e de um grande nmero de corporaes
transnacionais. Tambm se encontra muito estendido um
tipo de produo as chamadas maquiadoras que so
fbricas de montagem de peas que chegam prontas e que
destinam sua produo exclusivamente exportao. Esta
forma de produo utiliza especialmente mo-de-obra fe-
minina em condies de trabalho de extrema precariedade
e teve impactos enormes na vida social e familiar nas re-
gies onde se instalou, mostrando claramente o impacto
sobre as mulheres de tais processos de abertura comercial
e de investimentos em nossos pases. em espaos como
esses que as mulheres, como componente central da mo-
de-obra, se encontram submetidas a trabalhos inseguros,
baixos salrios, pssimas condies sanitrias, entre ou-
tras diculdades
13
. Isso sem analisar profundamente os
violentos processos de desagregao social, imposio de
novos valores e desvirtuao das culturas locais impostos
por tais instalaes produtivas globalizadas, que levam
muitas vezes comunidades inteiras a perderem suas iden-
tidades culturais, acarretando graves problemas sociais.
De fato, tambm possvel analisar de que maneiras
a incorporao massiva de mulheres aos mercados de tra-
12
Sanchis, N; Baracat,V. e Jimenez, MC El comercio Internacional en la agenda de las mujeres: la incidencia poltica en los acuerdos comerciales en Amrica Latina. IGTN. Buenos
Aires. 2004.
13
Rodrguez, Graciela Gnero, comercio internacional y desarrollo: una relacin conflictiva. Nueva Sociedad. Buenos Aires. 2009.
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
36
balho em algumas regies tem tido impactos nos valores
salariais, deprimindo inclusive a taxa salarial da regio
ou pas, inuenciando dessa forma a prpria deteriorao
dos salrios masculinos e do conjunto de trabalhadores e
trabalhadoras.
Assim, essas modalidades se transformaram em for-
mas predominantes da organizao produtiva para uti-
lizao da mo-de-obra feminina em diversos setores e
pases da Amrica do Sul (na Colmbia na produo de
ores, no Chile na agroindstria de exportao de frutas e
pescado, na produo de eletro-eletrnicos na Zona Fran-
ca de Manaus, no Brasil etc.), da Amrica Central (Mxi-
co, Honduras, El Salvador, entre outros nas conhecidas
maqueadoras precrias fabricas de montagem txtil,
especialmente) e igualmente no Caribe. Essas modalida-
des de trabalho, que continuam sendo alentadas ou ao
menos mantidas em diversos pases da Amrica Latina,
contriburam para a deteriorao da situao salarial e
para a perpetuao das desigualdades de gnero.
Desse modo, a vigncia e extenso de tais formas
de contratao da fora de trabalho feminina permitem
armar a funcionalidade das desigualdades de gnero para
os investimentos. De fato, temos visto que em inme-
ras ocasies os investimentos no s se aproveitam das
desigualdades de gnero existentes como muitas vezes
parecem inclusive sentir-se atradas por elas
14
.
Dessa forma, os investimentos realizados pelas gran-
des empresas transnacionais, especialmente nos setores
manufatureiros, aprofundaram as desigualdades de gne-
ro em diversos pases e regies, assentando nelas parte
substancial de seus lucros.
Ento, caso avance o processo de liberalizao via os
acordos de comrcio atualmente em negociao, especial-
mente se forem fechados aqueles acordos que buscam fa-
cilitar e aumentar o investimento estrangeiro direto sem
requisitos nos pases em desenvolvimento, podem-se es-
perar impactos signicativos sobre as condies de traba-
lho para as mulheres. Dado que as negociaes comerciais
incluem a liberalizao dos produtos industriais atravs
das negociaes em NAMA (acesso a mercados de produ-
tos no-agrcolas), as mesmas teriam um efeito conside-
rvel sobre as mulheres, por elas terem maior participao
nos setores de menor competitividade na indstria, j que
sero esses os setores mais afetados, ao mesmo tempo
em que, apesar da desigualdade salarial existente entre
homens e mulheres na indstria, justamente esse setor
industrial o que vem empurrando, ainda que modesta e
contraditoriamente, o crescimento dos salrios femininos.
As polticas econmicas, os servios pblicos e o tra-
balho invisvel dentro dos lares
Os programas de ajuste estrutural em marcha desde a
dcada de 90, somados liberalizao dos servios dentro
do GATS (Acordo Geral do Comrcio de Servios) na OMC e
nos tratados comerciais tambm promoveram em diversos
pases um processo de reduo muitas vezes drstica dos
servios pblicos, alguns deles essenciais. A herana dos
chamados Estados mnimos ainda sentida nos pases
da regio, no desmantelamento das estruturas de governo
que perderam, em grande parte, sua capacidade de pres-
tar os servios pblicos necessrios. Isso conduziu nos
ltimos anos a uma perda do apoio com que as mulheres
contariam atravs dos servios pblicos para a proviso
dos servios do cuidado nos mbitos domsticos e comu-
nitrios.
De fato, a privatizao dos servios essenciais e a
reduo de diversos benefcios sociais ainda repercutem
fortemente no aumento do trabalho domstico, na medida
em que vrios desses servios e amparos vindos do setor
pblico tendem a substituir ou a apoiar a realizao das
tarefas do cuidado, especialmente nos lares mais caren-
tes. Por outro lado, est largamente provada a relao
entre o acesso a tais servios e a melhoria das condies
de vida e superao das vulnerabilidades e da pobreza. A
prestao eciente de servios um fator preponderan-
te com relao aos esforos para a reduo da pobreza
segundo o enfoque de capacidades de Amartya Sen. A
partir da reformulao do conceito de pobreza que Sen
desenvolveu de forma nova, esta se pode analisar a partir
de uma perspectiva mais ampla, multidimensional e din-
mica que a utilizada pela denio tradicional, centrada
quase exclusivamente nos baixos nveis de rendimentos
dos lares pobres. A anlise de Sen permitiu de forma en-
ftica a incluso da prestao de servios gratuitos pelo
Estado e as possibilidades de acesso a eles como uma das
dimenses mais importantes em tal viso multidimensio-
nal da pobreza.
A garantia de prestao de servios pblicos de edu-
cao, sade, abastecimento de gua e saneamento, ele-
tricidade, entre outros que afetam a qualidade de vida
das famlias, de fundamental importncia para o alvio
da pobreza e tambm uma poderosa aliada das mulheres
que, diante da sua falta ou de uma prestao deciente,
se veem obrigadas a estender suas jornadas de trabalho
para substitu-los. Em alguns casos, ampliando suas du-
plas jornadas com maiores responsabilidades para suprir
14
Rodrguez, G. Estratgias das mulheres para a OMC. Inst. Eqit / IGTN International Gender and Trade Network. Brasil. 2003.
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
37
as carncias dos servios pblicos com uma compensao
de trabalho; e, em outros casos, inclusive obstaculizando
ou impedindo o prprio acesso ao mercado de trabalho
pelo tempo que lhes necessrio destinar s tarefas do
cuidado domstico.
Dessa forma, podemos armar que a privatizao dos
servios negociada nos acordos de comrcio que buscam
a liberalizao progressiva dos servios, entre eles os p-
blicos e essenciais, um elemento das polticas macroe-
conmicas que contribuiu para reforar as desigualdades
de gnero, especialmente nas camadas mais pobres da
populao.
Mencionar o caso da privatizao dos servios de
distribuio de gua potvel pode ser emblemtico nes-
se sentido. Nas diversas situaes onde analisamos essa
privatizao, justicada sempre na melhoria da prestao
do servio, encontramos que para a maioria das mulheres
o resultado continua sendo o trabalho de carregar a gua
para dentro de casa e a gesto cotidiana da escassez, em
penosas condies que aumentam nalmente o trabalho
domstico
15
. Em um dos casos estudados, na cidade de
Manaus, em plena Amaznia brasileira, vimos que as es-
tratgias de expanso da empresa francesa Suez, que pri-
vatizara os servios de distribuio da gua e saneamen-
to, signicaram uma srie de impactos negativos sobre a
populao da periferia urbana e, especialmente, sobre as
mulheres. evidente que uma das razes para estes resul-
tados negativos surge da diferena na responsabilizao
dos provedores de servios pblicos e privados, j que s
os primeiros tm obrigao de assegurar que os servios
cheguem a todos os cidados.
Assim, torna-se fundamental valorizar a contribuio
das polticas pblicas e, em particular, da prestao de
servios pblicos de qualidade, tanto para o enfrentamen-
to da pobreza e das desigualdades como tambm para
melhorar a qualidade de vida das mulheres.
Finalmente, cabe assinalar outro aspecto ligado
liberalizao dos servios e que com a crise nanceira
global ca ainda mais atual: trata-se do aspecto que
se refere aos efeitos da liberalizao dos servios nan-
ceiros, em termos do acesso das mulheres aos recursos
nanceiros, diculdade que pode acabar aprofundando
as desigualdades de gnero nos mercados globalizados.
Sabemos que tradicionalmente os bancos, supostamente
neutros ao gnero, no favorecem o acesso da mulher aos
mercados nanceiros, principalmente atravs do crdito,
elemento fundamental para a sustentabilidade mercantil
da produo. Assim, este ser seguramente outro elemen-
to que reforar os possveis impactos negativos da atual
crise sobre as mulheres.
Podemos ento concluir que a privatizao dos ser-
vios e sua liberalizao serviram para reforar os efeitos
assimtricos de gnero em nossas sociedades e podem
ter contribudo ao mesmo tempo para frear os impactos
dos programas de combate pobreza e de distribuio de
renda.
3.1 Relaes entre a economia do cuidado
e o modelo econmico
Para visibilizar a forte interao existente entre as
polticas macroeconmicas do modelo hegemnico e as
tarefas domsticas invisibilizadas do ponto de vista eco-
nmico, temos considerado dois enfoques particulares: o
mercado de trabalho remunerado, mas tambm os servi-
os pblicos, para enfatizar a relao, e os efeitos das
polticas econmicas sobre o reforamento das desigual-
dades de gnero.
Evidentemente poder-se-iam citar outros exemplos
ou elementos que reforariam tal concluso, como a im-
portncia das polticas comerciais sobre a agricultura fa-
miliar, mbito de enorme peso para a subsistncia e a
produo de alimentos, no qual as mulheres geralmente
desempenham um papel crucial, tanto na produo para o
mercado como, especialmente, para a proviso familiar de
alimentos.
Contudo, o importante desta inter-relao entre a
economia tradicionalmente entendida e a perspectiva fe-
minista que inclui a economia do cuidado que ela nos
permite entender de forma mais qualicada no s a pr-
pria produo de riquezas nacionais e sua articulao com
o PIB Produto Interno Bruto como o funcionamento
do sistema econmico em si, que se beneciou durante
sculos e continua aproveitando esse trabalho gratuito e
essencial para a vida.
Mas alm de deixar explcita essa correlao e suas
vantagens para o sistema econmico hegemnico, o fato
de relacionar as polticas econmicas com o duplo papel
econmico das mulheres, j que realizam contribuies
ao trabalho produtivo e tambm reprodutivo, nos permite
visibilizar e entender melhor o papel do Estado como in-
dutor do desenvolvimento e do bem-estar das pessoas e
populaes.
Assim tambm, vinculando os servios do cuidado e
a participao feminina no mercado de trabalho, podemos
enfatizar os desaos que os movimentos de mulheres e
feministas tm em relao aos Estados e seu papel como
implementadores de polticas pblicas que contribuam
para transformar as desigualdades, entre elas especica-
mente as de gnero.
15
Rodrguez, G. et all. A privatizao da gua na cidade de Manaus e seu impacto sobre as mulheres. 2006. Rio de Janeiro.
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
38
A responsabilidade do Estado, ento, tem que apon-
tar no s no sentido do mercado de trabalho, buscando
superar a discriminao trabalhista e as brechas que se
mantm estrutural e persistentemente nesse mercado.
Alm disso, o Estado precisa assumir uma responsabili-
dade redobrada na prestao de servios do cuidado que
facilitem as tarefas do cotidiano, incluindo a perspectiva
de superao da diviso sexual do trabalho nos mbitos
domsticos.
3.2 Impactos da crise nanceira
Desde nais de 2008, o mundo vem se deparando
com uma profunda crise nanceira, que eclodiu no co-
rao mesmo do sistema, em um dos mais poderosos
bancos estadunidenses, e foi da contaminando diversas
economias, em especial as europeias. A partir de ento,
fala-se da recuperao dos mercados nanceiros, que
precisaram no s do socorro realizado com enormes va-
lores oferecidos pelos governos para realizar o salvamen-
to dos bancos, como tambm se retomam os conhecidos
discursos e receitas do FMI. Os pases afetados pela crise
devem aplicar polticas de austeridade scal, diminuin-
do seus gastos e o dcit pblico, com a nalidade de
recuperar a conana dos mercados, condio neces-
sria para alcanar a recuperao econmica. Entretan-
to, a realidade pode ser lida de forma muito diferente.
Essas medidas de austeridade esto de fato criando uma
grande deteriorao da qualidade de vida das populaes
dos pases contaminados pela crise, pois esto afetando
negativamente sua proteo social, destruindo empregos
e, ainda, dicultando a prpria recuperao econmica.
Segundo declaraes recentes de Jean-Claude Trichet,
presidente do Banco Central Europeu: A condio para
a recuperao econmica a disciplina scal, sem a qual
os mercados nanceiros no certicam a credibilidade dos
Estados (Financial Times, 15-05-10).
Contudo, e apesar de toda essa linguagem de apa-
rncia neutra, ca evidente que na crise, tanto nos EUA
como mais recentemente na Europa, os bancos tm sido
os beneciados, ao no assumir as perdas milionrias que
causaram. Isso se deve no s falta de regulao de
tais mercados nanceiros como tambm proteo ex-
plcita das instituies bancrias, inclusive por parte das
IFIs Instituies Financeiras Internacionais que tm
sado em auxlio dos pases com fortes emprstimos com
elevados juros, para que os Estados salvem os bancos com
recursos pblicos.
Assim, os que perdem com a crise so evidentemente
os setores populares, j que o FMI exige aos governos
que extraiam o dinheiro para pagar os bancos dos servi-
os pblicos de tais classes populares. O que o FMI faz
a transferncia de fundos das classes populares para os
bancos. Isto o que se chama conseguir a credibilidade
dos estados frente aos mercados
16
.
Aqui claramente podemos ver a conexo entre a cri-
se do sistema com o que temos denominado crise dos
cuidados, j que a perda de servios pblicos ter de ser
compensada nos mbitos domsticos com mais carga de
trabalho, especialmente das mulheres.
Por outro lado, a quebra dos sistemas tradicionais
de cuidado, que esto cada vez mais guiados e denidos
pelos mercados, j que grande parte das mulheres antes
cuidadoras fazem agora parte do mercado de trabalho e
dos mbitos pblicos, faz parte tambm dessa crise dos
cuidados. Se as mulheres antigamente eram cuidadas e
depois cuidavam dos outros durante seu ciclo de vida
(ainda que os homens fossem em geral receptores de cui-
dados), agora, esse crculo tem sido parcialmente que-
brado, deixando o cotidiano e a reproduo da vida em
situao crtica.
No marco da globalizao, a estrutura dos cuidados
vai-se precarizando, com a mercantilizao crescente dos
servios. Isso tem signicado, por um lado, o encareci-
mento de tais servios para quem pode pag-los e, por
outro, o aumento do nmero de mulheres em empregos
precrios em tais servios domsticos,. Tais mulheres, por
sua vez, precisam de outras mulheres mais desfavorecidas
para realizar o cuidado de seus lhos e dependentes em
seus prprios domiclios. Assim tambm se formam as co-
nhecidas cadeias globais de cuidados, quando as mulheres
migrantes abandonam suas famlias nos pases de origem
onde so substitudas por outras mulheres, geralmente
as mes ou avs, para buscar emprego nos pases mais
desenvolvidos, assumindo as tarefas do cuidado (tanto
material quanto emocional) que deixaram de realizar em
seus prprios mbitos domsticos.
Assim, a crise econmica atual, que golpeia os pa-
ses do Norte e que no se tem expressado com igual fora
na Amrica Latina, pode ser um chamado de ateno e
ainda mais, um alerta contra o ressurgimento das conhe-
cidas polticas de ajuste scal. Ao mesmo tempo, deveria
ser um incentivo no sentido de fortalecer, em especial no
caso da Amrica do Sul, as polticas que tm permitido
o afastamento da regio das receitas neoliberais traduzi-
das na recuperao e fortalecimento do papel do Estado,
na retomada da expanso dos oramentos sociais, e na
prioridade do combate pobreza e s desigualdades via
a ampliao de polticas de prestao de servios pbli-
cos essenciais e de distribuio mais eqitativa da renda.
16
Navarro, Vincent. Articulo Quin paga los costos del euro? em www.vnavarro.org
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
39
Esta possvel retomada dos mesmos conceitos preconiza-
dos pelo FMI pode signicar, como j est signicando
em alguns pases do Norte, uma nova investida de pri-
vatizaes dos servios pblicos que aliviam o trabalho
reprodutivo e que ainda esto na mira das negociaes
comerciais. Aos acordos assinados entre a Unio Europeia
e os pases de Amrica Central e com a Colmbia e Peru
recentemente soma-se a retomada das negociaes com
o Mercosul, as quais ameaam especialmente os servios
pblicos, j que a liberalizao dos servios atualmente
o principal interesse das empresas transnacionais euro-
peias.
Embora se possa dizer que nos pases da Amrica La-
tina a crise foi uma marolinha, segundo a expresso do
Presidente do Brasil, Lula da Silva, importante reetir
sobre o fato de que foi justamente o distanciamento das
polticas e condicionalidades ditadas pelo FMI, unido s
polticas de redistribuio de renda fortalecidas em diver-
sos pases da regio (especialmente naqueles dos chama-
dos governos progressistas) que permitiram que a crise
no fosse sentida na regio com a fora com que atingiu
tanto os EUA quanto a Europa. Mercados internos forta-
lecidos por alguns poucos anos de polticas distributivas
conseguiram enfrentar as investidas da crise nanceira e
contrarrestar os crescentes dcits na balana comercial.
Entretanto, as consequncias polticas da crise impacta-
ram os pases perifricos e podem ainda ter um papel
importante na orientao geopoltica e comercial desses
pases, especialmente os emergentes e, com isso, afetar
os cenrios global e regional. Por isso, reetir sobre os
motivos que protegeram a regio continua sendo neces-
srio e estratgico.
3.3 Poltica pblica para cuidar dos cuidados
Para concluir a anlise que realizamos, correlacio-
nando os aspectos da macroeconomia, no marco do mode-
lo econmico vigente, com o papel das mulheres na vida
econmica das naes, podemos concluir que, apesar dos
esforos realizados nesta ltima dcada na maioria dos
pases da regio para reverter as desigualdades sociais e
de gnero, ainda necessrio que os governos da Amrica
Latina realizem muito trabalho. A interveno do Estado
na promoo de polticas de cuidado tem ainda um longo
caminho a ser percorrido, entre outros motivos porque
ainda no foi enfatizada sucientemente, inclusive nos
movimentos de mulheres, sua importncia estratgica
para aliviar a pobreza, dado o papel especco das mulhe-
res para esse combate.
De fato, as polticas econmicas e comerciais que
promoveram a abertura comercial e de investimentos fa-
cilitaram o aprofundamento de um modelo primrio-ex-
portador que criou pouco emprego e ainda menos para as
mulheres
17
. Contribuir para a diversicao da estrutura
produtiva e, em particular, fortalecer os setores que per-
mitem a insero das mulheres no mercado de trabalho,
inclusive aproveitando sua maior qualicao, seria fun-
damental para a superao das desigualdades de gne-
ro e para a equidade social. Cuidar para que as brechas
salariais sejam superadas, assim como a segregao do
trabalho, a m qualidade dos empregos criados, as ame-
aas aos empregos de maior qualidade e nvel de escola-
ridade, e ao mesmo tempo, que se avance na proviso de
servios de cuidado para as trabalhadoras que continuam
sobrecarregadas com o trabalho domstico, so algumas
das responsabilidades com as quais os Estados devem se
preocupar em cumprir para melhorar a qualidade de vida
das mulheres e da populao.
Por outro lado, sabemos que a promoo de polticas
do cuidado precisaria de um esforo de grande dimenso,
que no conta ainda com o apoio necessrio dos diver-
sos rgos de governo que deveriam envolver-se, tingidos
ainda por uma viso de neutralidade para a implemen-
tao das polticas sociais. Evidentemente, essa avalia-
o deveria realizar-se em tandem com a anlise do papel
e fora efetiva dos organismos de mulheres que foram
implantados, mas que muitas vezes no contam com a
fora poltica, os oramentos e o apoio multisetorial que
seriam necessrios.
Finalmente, mesmo quando as polticas econmi-
cas continuem no caminho de melhoria das estruturas
produtivas e de integrao regional para um desenvol-
vimento socialmente mais justo, se no forem imple-
mentadas polticas pblicas especicamente desenha-
das para melhorar a insero no mercado de trabalho
das mulheres e os cuidados com a reproduo da vida,
elas no sero alcanadas pelos benefcios do modelo
econmico.
17
Bidegain Ponte, Nicole. Comrcio e Desenvolvimento na Amrica Latina: a ordem dos fatores altera o produto CIEDUR IGTN. Montevideo Uruguay. 2009
A AUTONOMIA ECONMICA DAS MULHERES E A REPRODUO SOCIAL / Graciela Rodriguez
40
Artigo
COMRCIO E DESENVOLVIMENTO
NA AMRICA LATINA: A ORDEM
DOS FATORES ALTERA O PRODUTO
Propostas de polticas pblicas para
encaminhar o comrcio internacional
equidade social e de gnero
Nicole Bidegain Ponte*
Resumo executivo
O crescimento do comrcio internacional na regio
no contribuiu como se esperava para a criao de me-
lhores oportunidades de trabalho, e especialmente no
aproveitou as condies de qualicao da oferta de tra-
balho feminina. Por outro lado, mesmo que as polticas
comerciais tivessem xito na criao de empregos e, em
particular, de empregos femininos, se as polticas pbli-
cas no atendem esfera da economia do cuidado, isso
no seria suciente para lograr um impacto positivo em
termos de equidade social e de gnero.
Isto de grande relevncia no contexto atual, no
qual os pases esto negociando Tratados de Livre Comr-
cio com os Estados Unidos e Acordos de Associao com
a Unio Europeia. Caso no se considerem tais elementos,
esses acordos poderiam aprofundar as desigualdades e,
por exemplo, acabar com postos de trabalho de alta qua-
licao em setores que j no seriam competitivos, a
partir do momento em que haja um aumento das impor-
taes de bens com alto valor agregado. Por outro lado,
os Estados devem assumir as necessidades de cuidado da
populao oferecendo servios de qualidade, apoiando os
lares em sua proviso, e fomentando uma diviso equita-
tiva de tarefas dentro dos lares. Isso uma pr-condio
para o acesso das mulheres em igualdade de condies
ao mercado de trabalho. Estas so as principais proble-
mticas e propostas apresentadas pela ltima pesquisa
do Captulo Latino-americano da Rede Internacional de
Gnero e Comrcio. Este documento pretende apresentar
elementos para que os governos da regio possam es-
timular polticas pblicas que encaminhem o comrcio
internacional no sentido da equidade e de um desenvolvi-
mento genuno.
1. Introduo
Desde ns dos anos setenta, em um contexto ge-
neralizado de polticas de liberalizao dos mercados, o
comrcio tem sido visto como o motor do crescimento.
Nas palavras de Dany Rodrik: o comrcio tornou-se a len-
te atravs da qual percebemos o desenvolvimento, em vez
de ser o contrrio. No entanto, os anos passaram e a
realidade no se comportou de acordo com o esperado.
No se provou que a liberalizao comercial conduz auto-
maticamente ao crescimento econmico, e menos ainda a
trocas justas entre pases. Com relao s desigualdades
de gnero, a liberalizao comercial no tendeu a equi-
librar o acesso a postos de trabalho, nem acabou com as
brechas salariais e a segregao trabalhista por gnero.
Tampouco se produziram transformaes profundas no
acesso tecnologia e a melhores condies de trabalho
aos trabalhadores e trabalhadoras.
Na Amrica Latina, a Rede de Gnero e Comrcio
(IGTN) veio acumulando evidncias sobre os impactos das
polticas comerciais nas relaes de gnero. Este docu-
mento pretende fazer recomendaes de poltica pblica
em nvel regional e se baseia nas descobertas da ltima
pesquisa realizada pela IGTN, Captulo Latino-americano
1
.
O estudo examinou o emprego associado ao comrcio ex-
terior segundo sexo e nvel de educao, bem como as
instituies e arranjos familiares que permitem o funcio-
namento da economia do cuidado na Argentina, Brasil,
Chile, Colmbia, Mxico e Uruguai em 2005.
* Nicole Bidegain Ponte, uruguaia, integra o Conselho Internacional para Educao de Adultos.
1
Para ter acesso ao artigo Os vnculos entre comrcio, gnero e equidade. Uma anlise para seis pases de Amrica Latina e os informes da pesquisa por pas, visite: www.
generoycomercio.org/investigacion. 41
COMRCIO E DESENVOLVIMENTO NA AMRICA LATINA / Nicole Bidegain Ponte
Partindo de uma anlise dos vnculos macro-
meso-micro da economia
2
, o estudo constata que o
comrcio internacional no gera emprego suciente e
menos ainda emprego feminino para alcanar, atravs
da liberalizao comercial sem polticas complemen-
trias, o bem-estar. Alm do mais, revela que, mesmo
que as polticas comerciais tivessem xito na criao
de emprego, e particularmente de emprego feminino,
se as polticas pblicas no atenderem s necessidades
de servios de cuidado
3
da populao, isso no ser
suciente para aproveitar a fora de trabalho feminina,
que continua sendo sobrecarregada com tarefas vincu-
ladas esfera da reproduo social.
Por sua vez, a crescente liberalizao comercial vem
sendo acompanhada por reformas estruturais, e especial-
mente por privatizaes que tm impactado a proviso
de servios pblicos associados economia do cuidado.
No caso da Argentina, este processo implicou, alm da
privatizao, a descentralizao dos servios, bem como
redues oramentrias. Tal processo de descentralizao
implicou uma forte deteriorao no acesso a servios. As
jurisdies com menor capacidade oramentria e servi-
os de menor qualidade, onde se localiza a maior parte
da populao empobrecida, viram-se foradas a responder
uma demanda proporcionalmente maior
4
. Na medida em
que o mercado vai adquirindo um papel de maior destaque
na oferta de servios, o acesso ca restringido queles
que podem pag-los. Com o aumento da pobreza e da
desigualdade na regio, amplos setores da populao,
particularmente aqueles com rendas mais baixas, cam
totalmente excludos do acesso a tais servios.
Essas problemticas so de grande importncia para
a regio. Em um momento no qual se avana para a in-
tegrao regional, por um lado, e para a assinatura de
Tratados de Livre Comrcio e Acordos de Associao entre
pases e blocos, por o outro, importante compreender
quais impactos reais as polticas comerciais esto tendo
sobre o mercado de trabalho, sobre a igualdade entre ho-
mens e mulheres e sobre a equidade social.
O presente documento se estrutura da seguinte ma-
neira: na seo II se descrevem os problemas vinculados
liberalizao comercial, ao emprego e economia do cui-
dado. A seo III apresenta alternativas de polticas p-
blicas que tendem a solucionar os problemas previamente
apresentados. E, nalmente, a quarta seo recolhe as
principais concluses e recomendaes que a Rede de G-
nero e Comrcio Captulo Latino-americano prope.
2. Muito comrcio, pouco emprego e
cuidados descuidados
A recente histria das economias do subcontinen-
te d conta de uma abertura acelerada com aumento
dos uxos do comrcio internacional, que registrou um
crescimento maior das importaes que das exportaes.
Tambm lana como resultado uma reestruturao do apa-
relho produtivo regional, centrado no aumento das van-
tagens comparativas estticas
5
presentes na produo de
matrias-primas e indstrias processadoras de recursos
naturais, principalmente nos pases do Cone Sul. Por sua
vez, no Mxico e em pases da Amrica Central e do Cari-
be, a produo se desenvolveu sob o regime de maquia-
doras, com uso intensivo de mo-de-obra no qualicada
(CEPAL, 2002; Cimoli, M., 2005).
Por meio do estudo de contedo de emprego no co-
mrcio exterior no ano de 2005, para Argentina, Brasil,
Chile, Colmbia, Mxico e Uruguai, constatamos que:
as polticas comerciais por si s no contribuem para a
diversicao das estruturas produtivas, nem tampouco
para a gerao de empregos femininos adicionais. As ex-
portaes se concentram em poucos ramos, e estes tm
pouca mo-de-obra feminina empregada, enquanto que
as importaes ameaam sobretudo os empregos femini-
nos com nveis escolares mdio e alto.
As exportaes na regio empregam
pouco e, sobretudo, poucas mulheres
A quantidade de empregos relacionados ao comrcio
exportador reduzida, se comparada ao total de postos.
Por exemplo, no Brasil, as exportaes representam 9,4%
do pessoal total ocupado, e no Chile, essa porcentagem
ascende para 12,9% de postos assalariados sobre o total
dos assalariados. No caso do Uruguai, a porcentagem de
postos de trabalho associada s exportaes de 10% do
total da fora de trabalho ocupada. Alm do mais, esses
poucos empregos causam impacto de forma desigual em
homens e mulheres, empregando proporcionalmente mais
os primeiros. Por exemplo, na Argentina, Brasil e Uruguai,
somente um quarto dos postos de trabalho associados s
2
Segundo o enfoque de D. Elsom (1995, 1998), possvel afirmar que os fenmenos econmicos produzem impactos simultneos nos trs nveis. As polticas macroeconmicas interagem
com o nvel mesoeconmico (por exemplo, mercado de trabalho) e com o nvel microeconmico, onde intervm os lares. Existe uma interconexo entre o micro, meso e o macro e ao mesmo
tempo se reconhece a presena de aspectos de gnero nos trs nveis.
3
Economia do cuidado o espao de bens, servios, atividades, relaes e valores que permitem cumprir com as necessidades mais bsicas para a existncia e reproduo das pessoas.
Embora boa parte desses servios seja prestada nos lares, baseada no trabalho no remunerado das mulheres, eles tambm so oferecidos pelo setor pblico e pelo mercado. O uso do
termo economia do cuidado enfatiza que esses bens ou servios geram ou contribuem para gerar valor econmico.
4
Sanchs, N. (2007) As atividades do cuidado na Argentina, informe disponvel no site: www.generoycomercio.org/investigacion
5
Na teoria liberal, as vantagens comparativas se referem queles bens que podem ser produzidos a um custo relativamente mais baixo que em outros lugares e, portanto, se opta por produzi-
los para export-los a naes onde a eficincia menor. 42
COMRCIO E DESENVOLVIMENTO NA AMRICA LATINA / Nicole Bidegain Ponte
exportaes feminino, e no Chile esse valor ainda
menor (21,6%). No Mxico, a proporo de emprego femi-
nino vinculado s exportaes chega a 31%. Na Colmbia,
a situao um pouco diferente: h 40% de mulheres
trabalhando nas atividades orientadas tanto para a expor-
tao como para a importao.
O baixo nmero de empregos femininos nas expor-
taes, comparado com o da mdia das economias (em
torno de 40%), fruto da interao entre a especializao
produtiva, a comercial e a segregao trabalhista de g-
nero. Com exceo do Mxico, trata-se de economias com
uma especializao na produo de bens primrios ou de
escassa elaborao nacional em poucos ramos que, por
sua vez, empregam principalmente homens. Por exemplo,
no Chile, mais de 50% das vendas provm dos ramos de
extrao de metais, silvicultura, pesca e seu processa-
mento, agricultura e caa. O Uruguai concentra suas colo-
caes em matrias-primas e em produtos manufaturados
com baixo valor agregado (alimentos e bebidas, produtos
agrcolas e pecurios).
Por outro lado, o emprego feminino se concentra
relativamente em poucos ramos. Para Colmbia, 84%
do contedo de emprego feminino nas exportaes se
concentram em servios, vesturio, mveis e elaborao
de alimentos e bebidas. Do lado das importaes, qua-
se 85% correspondem a roupas, servios, maquinarias e
equipamentos e mveis. Mxico apresenta uma variante
com relao aos demais pases: a maioria da mo-de-obra
feminina relacionada com as exportaes no ramo Equi-
pamentos e aparelhos eletroeletrnicos que para o resto
dos pases no considerada feminina.
As exportaes na regio geram empregos de baixa
qualidade
Em termos de qualidade de emprego, um nmero
alto das mulheres ocupadas nos setores exportadores dos
pases do Sul apresenta falta de cobertura da previdn-
cia social. No Brasil, a elevada precariedade no emprego
feminino dos setores exportadores responde alta inci-
dncia do setor agropecurio, onde 62% das mulheres so
trabalhadoras no remuneradas. No Chile, a precariedade
de homens e mulheres ocupados no setor agroexportador
tambm elevada, e um tero no possui contrato e seu
trabalho temporrio.
Por sua vez, o emprego feminino vinculado s ex-
portaes mostra que predomina o emprego de mo-de-
obra com escolaridades mdias (8 a 11 anos de educao)
seguidas pelas de escolaridade baixa (inferior a 8 anos).
Estes nveis so mais baixos que os nveis mdios de es-
colaridade feminina das ocupadas em todos os setores da
economia. O padro de especializao produtiva expresso
na exportao de bens de baixo valor agregado no requer
mo-de-obra altamente qualicada. Na medida em que
no alcana maiores nveis de diversicao, o cresci-
mento do comrcio na regio no contribuiu para romper
a segregao, nem tampouco aproveitou as condies de
qualicao da oferta de trabalho feminina.
No Mxico, o emprego feminino associado s expor-
taes dentro do Tratado de Livre Comrcio da Amrica
do Norte predominantemente de nvel escolar interme-
dirio, enquanto que o universitrio bastante reduzido
e diminuiu entre 1994 e 2004, tomando como referncia
o momento prvio entrada em vigor deste acordo. Ao
mesmo tempo, aumentou a participao dos homens me-
nos instrudos. Isto um exemplo claro dos possveis e
diversos impactos de Tratados de Livre Comrcio nas po-
pulaes.
As importaes ameaam o emprego feminino com
maiores nveis de instruo
Consideram-se empregos ameaados pelas impor-
taes aqueles correspondentes a atividades que pode-
riam ser substitudas devido competio importadora.
O emprego feminino que poderia estar ameaado devido
a um aumento das importaes seria aquele que demanda
nveis de escolaridade um pouco mais elevados. Isto con-
diz com o padro de especializao produtiva. Os pases
43
Emprego feminino em exportaes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Argentina Brasil Colombia Mxico Uruguai
Alta (mais
de 12 anos)
Mdia (entre
7 e 12 anos)
Baixa (at 6 anos)
Emprego feminino nas importaes por anos de escolaridade
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Argentina Brasil Colmbia Mxico Uruguai
Alta (mais
de 12 anos)
Mdia (entre
7 e 12 anos)
Baixa (at 6 anos)
da regio so importadores natos de bens que requerem
direta e indiretamente trabalhadores/as com maiores qua-
licaes.
Por exemplo, no caso das importaes dos Estados
Unidos e da Unio Europia, os postos de trabalho femini-
nos ameaados so aqueles de nvel escolar mdio e alto.
Este um importante elemento a levar-se em conta no
momento das negociaes comerciais na regio.
Mais mulheres trabalham fora, mas continuam sobre-
carregadas com o trabalho dentro dos lares
Estes seis pases compartilham o crescimento veri-
cado pela taxa de atividade nos ltimos 20 anos e de
emprego feminino, que d lugar a uma proporo maior
de mulheres em relao aos homens dentro da fora de
trabalho que no passado. Do mesmo modo, a melhoria no
nvel escolar da fora de trabalho liderada pelo aumento
dos anos de educao das mulheres.
No entanto, outra das problemticas identicadas na in-
vestigao se refere forma como se organiza a prosso
do cuidado em nossas sociedades, que prioritariamente
descansa no trabalho no remunerado das mulheres, li-
mita e condiciona a participao feminina no mercado
de trabalho.
A forma como originalmente foram traados os ser-
vios de cuidado para pessoas dependentes (crianas,
idosos/as e pessoas decientes) est baseada no pressu-
posto de que algum integrante da famlia resolver suas
necessidades cotidianas. Em termos gerais, pode-se dizer
que as polticas pblicas no assumiram a responsabilida-
de social do cuidado.
No que diz respeito distribuio das responsabili-
dades do cuidado dentro dos lares, a informao dispon-
vel mostra que em todos os pases uma alta porcentagem
das mesmas corresponde s mulheres
6
. No Uruguai, 84%
dos/as responsveis pelos lares so mulheres, e mesmo
quando trabalham de forma remunerada, a carga de traba-
lho no remunerado ultrapassa as 40 horas semanais. Na
Argentina, 78% das responsveis pelos cuidados nos lares
nucleares so as cnjuges, e realizam mais da metade da
jornada de trabalho domstico. No Brasil, 91% das mu-
lheres ocupadas realizam tarefas domsticas e dedicam a
elas em mdia 20,8 horas semanais; frente a 51% dos ho-
mens ocupados, que dedicam 9 horas semanais em mdia.
No Mxico, 95,6% das mulheres que participam de forma
ativa no mercado de trabalho realizam trabalho domsti-
co, enquanto que somente 58% dos homens. Por sua vez,
o trabalho no remunerado absorve 31 horas semanais
dos homens e o dobro das mulheres. A existncia de duas
pesquisas, com um grande intervalo de tempo entre am-
bas, permite constatar um leve aumento na participao
masculina entre 1996 e 2002.
O problema do envelhecimento da populao es-
pecialmente grave na Argentina, Chile e Uruguai, aspecto
que acentua a carga da dependncia, sem que as polticas
pblicas realizem aes para alivi-las.
Os cuidados ausentes das leis e sistemas
de previdncia social
A legislao trabalhista, por sua vez, no se ade-
quou aos novos requerimentos e demandas de cuidado
das famlias. A mesma atende, basicamente, situao
das mulheres nos perodos de gestao, parto e amamen-
tao. As licenas por paternidade e doena dos lhos/as
so mais recentes e tm muito pouca difuso. Na Argenti-
na e no Uruguai, as licenas-paternidade existem apenas
para funcionrios pblicos (no setor privado somente por
convnio coletivo). Enquanto no Brasil, Chile e Colmbia
abarca todos os trabalhadores, no Mxico, ao contrrio,
sequer existem. As licenas, devido doena de algum/a
lho/a, existem no Chile apenas para crianas menores
de um ano. Depois dessa idade, existe a possibilidade, na
Argentina e no Uruguai, de solicitar licena especial,
que na Argentina sem direito de salrio, e no Uruguai,
a possibilidade s existe para funcionrios pblicos. Em
todos esses casos, trata-se de trabalhadores do setor p-
blico ou cobertos pela previdncia social, o que signica
que no a maioria dos trabalhadores que gozam des-
ses direitos. Isto se agrava ainda mais quando levamos
em conta a crescente precarizao do trabalho na regio
durante os anos noventa, e que os empregos femininos
vinculados produo agroexportadora com grande in-
cidncia na regio, bem como nos ramos de alimentos e
bebidas, confeco de vesturio e txteis tm, em mdia,
menor acesso previdncia social.
Os sistemas de previdncia social, basicamente con-
tributivos e ligados participao no mercado de traba-
lho, zeram com que a proteo das mulheres seja menor
que a dos homens. As reformas no melhoraram a co-
bertura previdenciria; em alguns casos, aprofundaram as
diferenas por sexo, ao promover uma relao mais forte
entre os esforos contributivos e as prestaes em nvel
individual. Em todos os pases, verica-se uma maior de-
pendncia por parte das mulheres de penses no con-
tributivas. Somente no Mxico e no Chile as mulheres
conservam o privilgio de receber a penso de viuvez sem
excees. Mas, em mdia, as mulheres recebem presta-
6
considerada responsvel pelo cuidado a pessoa que dedica a maior quantidade do seu tempo a realizao, organizao e distribuio das tarefas no lar.
COMRCIO E DESENVOLVIMENTO NA AMRICA LATINA / Nicole Bidegain Ponte
44
es inferiores a dos os homens e, apesar de serem maio-
ria da populao adulta idosa, esto sub-representadas
entre aqueles que recebem penses contributivas e no
contributivas.
Servios sociais e de cuidados apenas
para alguns poucos
As reformas estruturais aplicadas nos ltimos 25
anos na regio, somadas s condies impostas pelo
processo de globalizao econmica e nanceira, tradu-
ziram-se em uma diminuio da mquina do Estado, em
uma exibilizao das regulamentaes trabalhistas, na
crescente presena de empresas transnacionais, em parti-
cular de servios, e na privatizao de servios pblicos,
entre outros. Isto causou grandes impactos nas relaes
sociais. Especialmente, as descobertas da pesquisa nos
permitem armar que a liberalizao comercial se d em
um processo de ajuste estrutural que afeta a proviso de
servios da esfera da economia do cuidado, restringindo
o acesso aos mesmos por grandes setores da populao,
particularmente aqueles de baixa renda.
Do lado da oferta privada de servios, pela prpria
lgica do mercado, esta tende a encontrar nichos em pro-
blemas no resolvidos pelo setor pblico. A proviso pri-
vada de cuidado se oferece atravs de creches, escolas de
tempo integral, centros de ateno a pessoas decientes,
servios de emergncia telefnica, asilos, etc. Esse tipo
de organizao leva a que o acesso a servios se diferen-
cie em funo dos rendimentos das mes ou famlias.
A informao disponvel sobre Brasil, Chile e Uru-
guai permite demonstrar que a ampliao no consumo de
servios do cuidado infantil produziu um aumento que
corresponde a uma maior insero no trabalho por parte
das mes. No Uruguai, nos lares biparentais, a insero de
mes de crianas de 0 a 5 anos no mercado de trabalho
maior nos grupos de renda mais alta e isso est associado
contratao de servios de cuidado (creches, jardins de
infncia, etc.). No Brasil, a evidncia similar: o efeito
positivo da entrada de crianas em creches e jardins de
infncia sobre os salrios e o aumento da jornada de tra-
balho das mes maior nas classes cuja renda menor.
No Chile, do total de mulheres com lhos/as menores de 6
anos que no trabalha remuneradamente (66%), 12% no
o fazem por falta de cuidado infantil. As diculdades de
acesso aos servios so maiores nas classes mais baixas.
Na Colmbia, o que acontece que as avs resolvem as
diculdades de cuidado em 48% dos casos de mulheres
que saem para trabalhar; 22% levam seus lhos/as ao
trabalho; em 9% dos casos quem cuida o cnjuge; e em
7%, a lha maior da casa. Os servios pblicos cobrem
apenas 5% dos/as lhos/as destas mulheres. medida
que aumenta o nvel escolar da me, cresce a porcenta-
gem de avs ou parentes prximos e tambm o de em-
pregadas domsticas que cuidam de seus/suas lhos/as.
Portanto, as desigualdades de acesso a tais servios esto
condicionando suas opes e oportunidades de trabalho.
Em termos de servios tradicionais de cuidado para
os idosos, os de sade so os mais relevantes. Nesse caso,
o setor pblico um ator importante como provedor e
como nanciador, por meio do sistema de previdncia
social. No Brasil, o sistema pblico garante servios a
70% da populao maior de 65 anos. Nos demais pa-
ses, a participao do setor pblico menor em funo
do sistema de sade vigente. Na Argentina, entre 1988 e
2001 a participao do setor pblico aumentou de 22%
para 28%. Esses nveis so mais elevados nas regies mais
pobres. No Mxico, 20% se atendem no setor pblico, e
em torno de 45% em instituies de previdncia social.
No Uruguai, 28,2% da populao acima de 60 anos se
atendem no setor pblico, e 58,6% em muturios (atravs
da previdncia social ou de forma particular).
Nesses servios, o setor privado encontra nichos
de mercado quando a qualidade da oferta pblica ou do
sistema de previdncia social no suciente. Isso se
evidencia em temas como os longos tempos de espera e
os breves perodos de hospitalizao no setor pblico.
Tambm se desenvolveram outros servios, como os de
enfermaria ou ateno domiciliar, que se contratam de
forma particular. Por sua vez, existem centros diurnos,
lares ou residncias de sade, que em geral so privadas,
sendo a oferta pblica muito reduzida. Os Estados, ento,
tm um papel fundamental de garantir o acesso aos servi-
os de cuidado de qualidade a toda a populao.
3. Respostas estatais insucientes
Frente s diversas problemticas que emergem quan-
to ao emprego vinculado ao comrcio internacional, os
pases ensaiaram algumas polticas especcas.
Polticas de formao
Por exemplo, para promover a reinsero no mercado
de trabalho frente aos processos de reconverso produti-
va, em quase todos os pases desenvolveram-se polticas
de capacitao de acordo com os grupos de idade e tipo
de ocupao. Essas polticas favoreceram a reinsero de
alguns setores da populao, mas, no geral, seu impacto
foi reduzido devido falta de clareza quanto a quais seto-
res gerariam emprego e qual seria a formao necessria
para os mesmos. Particularmente, os planos de formao
dirigidos a mulheres tm se focalizado em gerar emprego
para aquelas de baixa renda e se centrado nos setores
COMRCIO E DESENVOLVIMENTO NA AMRICA LATINA / Nicole Bidegain Ponte
45
urbanos da populao. Essas polticas no esto especi-
camente vinculadas formao ou reconverso orientada
para os setores exportadores.
Polticas scais
A reduo das contribuies patronais para promover
a criao de emprego nos setores exportadores tambm
foi fomentada, mas seu impacto ainda assim foi bastante
reduzido. Por exemplo, no Uruguai, o mecanismo no ser-
viu para melhorar a situao do emprego industrial, teve
apenas o efeito de amenizar a perda de rentabilidade do
setor.
Polticas de cuidado
Por outro lado, podemos dizer que, nos seis pases
estudados, as medidas adotadas para cobrir as demandas
de cuidado foram insucientes. Em relao ao cuidado
infantil, apenas no Chile, desde os ltimos dois governos
da Concertacin, comearam-se a implementar medidas
para atender s mulheres e promover a maior insero
dessas no mercado de trabalho. A estratgia consiste em
oferecer servios de cuidado infantil em jornadas de oito
horas ou at mais extensas para mulheres com recursos
escassos que esto ocupadas ou procuram trabalho, so
chefes de famlia ou mes adolescentes. Tambm tm sido
implementadas medidas especcas para atender s ne-
cessidades de cuidado dos lhos/as das mulheres que tra-
balham no setor agroexportador cujo perodo de trabalho
acontece durante as frias escolares.
Nos demais pases, os servios pblicos de cuidado
para meninos e meninas de 0 a 3 anos se oferecem den-
tro dos programas anti-pobreza, cujo objetivo oferecer
assistncia a crianas com a presena de suas mes. Estas
fazem o papel de gestoras do programa para contribuir
com o sucesso do mesmo, porm, a oportunidade no
aproveitada (enquanto se oferece cuidado ao lho) para
promover a formao e a insero dessas mes no merca-
do de trabalho.
A extenso da jornada escolar outro dos temas
considerados, j que o setor pblico caracterizou-se por
oferecer servios de meia jornada, enquanto que o se-
tor privado disponibiliza servios de jornada completa.
Apenas no Chile o governo est promovendo a extenso
da jornada escolar em todos os centros educativos. Em
outros pases, como Uruguai, Colmbia e Argentina, os
esforos foram centrados em tornar obrigatrios os n-
veis prvios para entrar no primrio. No Uruguai, foram
criadas escolas de tempo integral, focalizadas nos setores
mais pobres da populao, com o propsito de melhorar
o rendimento escolar. Em termos de cobertura, as refor-
mas na Colmbia e no Uruguai conseguiram ampli-la aos
nveis de mais baixa renda; na Argentina, ao contrrio,
o processo de descentralizao dos servios, iniciado em
1994, levou a uma deteriorao da qualidade dos servios
e a uma maior segmentao da oferta segundo o nvel de
renda da populao. Em 2007, entrou em vigor uma nova
lei de educao que busca superar essas decincias.
Por ltimo, frente proliferao de servios por par-
te do setor privado, necessrio haver maiores esforos
por parte dos Estados para regul-los e control-los, com
o m de garantir custos e qualidade adequados. Como foi
colocado, uma grande parte da populao no tem acesso
a estes servios, e a falta de opes oferecidas pelo setor
pblico gera grandes desigualdades entre grupos sociais.
Por exemplo, os auxlios monetrios para o cuidado infan-
til (auxlio-creche), que tambm podem estar associados
a outras prestaes em sade para os/as lhos/as, ou a
legislao para que as empresas estabeleam salas-creche
no local de trabalho esto condicionadas vinculao
formal das trabalhadoras ao mercado de trabalho. Isso,
unido ao processo de desproteo trabalhista que ocorreu
durante os anos noventa (reduo do setor formal assala-
riado e seu nvel de cobertura da previdncia social), e a
focalizao dos benefcios para a populao mais pobre,
colocam em xeque o direito humano bsico de acesso a
servios de assistncia mdica e servios sociais neces-
srios
7
.
4. Concluses e recomendaes para a ao
Em sntese, vrias so as concluses a que chegamos
nesse estudo e, portanto, diversas as recomendaes que
propomos a partir da Rede de Gnero e Comrcio Cap-
tulo Latino-americano.
Em primeiro lugar, na Argentina, Brasil, Chile, Co-
lmbia, Mxico e Uruguai, o comrcio internacional no
absorve uma parcela importante do emprego total e, em
particular, no o faz em relao ao emprego feminino.
Esta concluso pode ser relativizada no caso de Colmbia
e Mxico, devido importncia do setor de vestimenta e
da presena de fbricas maquiadoras.
Ainda, na medida em que no alcana maiores nveis
de diversicao, o crescimento do comrcio na regio
no contribuiu para romper a segregao, nem aproveitou
as condies de qualicao da oferta de trabalho femini-
na. Por isso:
7
Declarao Universal dos Direitos Humanos, artigo 25.1: Toda pessoa tem direito a um nvel de vida adequado que lhe garanta, bem como sua famlia, a sade, o bem-estar,
e especialmente a alimentao, a roupa, moradia, assistncia mdica e os servios sociais necessrios; tem ainda direito aos seguros em caso de desemprego, doena, invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de perda de seus meios de subsistncia por circunstncias independentes de sua vontade.
COMRCIO E DESENVOLVIMENTO NA AMRICA LATINA / Nicole Bidegain Ponte
46
8
O Consenso de Quito foi aprovado na X Conferncia Regional sobre a Mulher, organizada pela Comisso Econmica para Amrica Latina e o Caribe (CEPAL), nos dias 6 a 9
de agosto de 2007 em Quito (Equador).
1. As polticas comerciais devem estar articuladas
s polticas produtivas, industriais, tecnolgi-
cas e educativas. Deve-se promover a diversi-
cao produtiva e a incorporao de valor agre-
gado s exportaes.
2. necessrio aproveitar a fora de trabalho fe-
minina, com polticas especcas de emprego e
formao, para que as mulheres possam aceder
a emprego de melhor qualidade.
3. Deve-se promover o acesso equitativo entre
homens e mulheres ao mercado de trabalho,
combatendo a segregao trabalhista e a preca-
rizao das fontes de trabalho, atendendo parti-
cularmente situao de emprego vinculado ao
setor exportador.
Alm do mais, ainda que a insero das mulheres no
mercado de trabalho tenha sido estimulada, as lgicas da
reproduo social no foram contempladas pelo sistema
econmico. Tampouco as tarefas de cuidado dentro dos
lares foram redistribudas. A responsabilidade pelo cuida-
do continua recaindo sobre as mulheres, trabalhem elas
de forma remunerada ou no.
Enquanto a insero feminina no mercado de trabalho
no vier acompanhada de uma mudana na distribuio
das tarefas entre os membros do lar e enquanto as polti-
cas pblicas orientadas proviso de servios de cuidado
no se hierarquizarem (ocupando um lugar de destaque
dentro do setor de polticas pblicas), a carga de trabalho
que as mulheres assumem continuar se multiplicando.
Enquanto as decises de poltica que se tomam na esfera
produtiva (como as relativas ao comrcio internacional)
continuarem ignorando tais aspectos, continuaro colo-
cando uma presso sobre os recursos humanos e sociais,
que reforam permanentemente as iniquidades sociais e
de gnero.
Mesmo quando as polticas comerciais criam emprego
e, em particular, emprego feminino, se as polticas pbli-
cas no atendem esfera reprodutiva no so sucientes
para causar um impacto positivo em termos de equidade
social e de gnero. Isto , as decises de poltica do m-
bito estritamente macroeconmico tm que contemplar
a esfera mesoeconmica do mercado de trabalho e eco-
nomia do cuidado para traduzir-se em resultados positi-
vos. Por isso, o Estado e o setor privado devem promover
medidas que permitam compatibilizar a vida familiar e o
trabalho, tanto para homens quanto para mulheres. Faz-
se necessrio promover uma distribuio balanceada das
tarefas de cuidado entre os membros da famlia.
Por ltimo, uma estratgia de insero internacional
ainda que com xito pode igualmente manter ou apro-
fundar a pobreza por duas vias: uma, as menores possi-
bilidades de emprego das mulheres mais pobres e dois,
porque, mesmo quando o conseguem, a mercantilizao
dos servios do cuidado e as diculdades para o acesso
aos mesmos perpetuam sua desvantagem social e de suas
famlias.
Alm do mais, primordial que o Estado exera a
regulamentao e o controle sobre o setor provedor de
servios de cuidado para garantir os custos e a qualidade
adequados. necessrio assumir socialmente a respon-
sabilidade pelo cuidado, reconhecendo o trabalho remu-
nerado e no remunerado como um todo que contribui
para a manuteno e reproduo do sistema econmico e
social. Para isso, requer-se uma viso integral na deni-
o de polticas que atendam s demandas de cuidado da
sociedade e considere suas inter-relaes com o resto do
sistema para evitar efeitos contraproducentes.
necessrio que se reconhea que o funcionamento
do sistema econmico somente possvel porque existem
atividades remuneradas e no remuneradas. Para isso, os
Estados devem ampliar sua responsabilidade na proviso
de servios de cuidado como um direito da populao,
e no associado a um determinado gnero, e tampouco
como custos adicionais ao salrio. Devem, ainda, regu-
lamentar e controlar os servios de cuidado que o setor
privado prov, a m de garantir custos e qualidade ade-
quados.
Finalmente, devemos destacar o primeiro passo que
os governos deram no Consenso de Quito
8
, em 2007,
quando acordaram Adotar as medidas necessrias, espe-
cialmente de carter econmico, social e cultural, para
que os Estados assumam a reproduo social, o cuidado
e o bem-estar da populao como objetivo da economia
e responsabilidade pblica intransfervel. As recomen-
daes que aqui propomos apontam no sentido de ela-
borar medidas mais concretas que deveriam ser tomadas
em cada contexto nacional para avanar no cumprimento
de tal propsito. Como demonstra este documento, a or-
dem dos fatores altera o produto. No devemos continuar
pensando o desenvolvimento em funo do comrcio, e
sim justamente o contrrio; o comrcio internacional em
funo dos objetivos de desenvolvimento e equidade para
os pases da regio. Portanto, necessrio que as polti-
cas comerciais promovam o desenvolvimento dos recursos
humanos em nossas economias (contemplando as dife-
renas de gnero). Para isso so tambm indispensveis
as polticas de cuidado que reduzam a carga do trabalho
COMRCIO E DESENVOLVIMENTO NA AMRICA LATINA / Nicole Bidegain Ponte
47
das mulheres e tornem o trabalho e a vida familiar compa-
tveis. Desta forma, a equao far sentido e poderemos
assegurar que comrcio internacional, equidade e desen-
volvimento se articulem com resultados positivos para o
bem-estar das populaes.
5. Referncias bibliogrcas
Azar, P; Espino, A.; Salvador, S.: Os vnculos entre co-
mrcio, gnero e equidade. Uma anlise para seis pases
da Amrica Latina, Captulo Latino-americano da Rede
Internacional de Gnero e Comrcio (LA-IGTN), Montevi-
du, junho de 2008.
Sobre a LA-IGTN
A Rede Internacional de Gnero e Comrcio (Interna-
tional Gender and Trade Network, IGTN) um espao plural
composto por organizaes de mulheres ou mistas, com
perspectiva de gnero, que buscam alternativas justas e
equitativas de integrao frente liberalizao comercial
e a desregulamentao nanceira predominante nas ne-
gociaes dos acordos econmicos atualmente em curso
nas diversas regies do mundo. A LA-IGTN o Captulo
Latino-americano da Rede e tem pontos focais na Argen-
tina, Brasil, Colmbia, Guatemala, Mxico e Uruguai. Para
maiores informaes visite: www.generoycomercio.org
COMRCIO E DESENVOLVIMENTO NA AMRICA LATINA / Nicole Bidegain Ponte
48
Artigo
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO
NA AMRICA LATINA
Maria Elena Valenzuela*
1. Trabalho decente para as trabalhadoras domsticas
O trabalho domstico consiste em atividades que se
realizam dentro dos lares e que so necessrias para o bem-
estar de seus membros. Contribui para a reproduo social
e para a manuteno da fora de trabalho, com o que se
constitui ainda num mbito chave para o funcionamento
da sociedade e das economias nacionais. Em forma de tra-
balho remunerado, constitui a ocupao que concentra o
maior nmero de mulheres na regio. No entanto, e apesar
da sua importncia, o trabalho domstico remunerado tem
sido tradicionalmente desvalorizado e insucientemente
regulamentado, o que levou a torn-lo um dos trabalhos
com maior dcit de trabalho decente. um setor de alta
vulnerabilidade, ligado desvalorizao econmica e so-
cial do trabalho da mulher e de seu papel na sociedade
Na maioria dos pases, o servio domstico regido
por normativas especiais, que diferenciam os empregados
domsticos do conjunto dos assalariados. Como consequ-
ncia prtica, eles cam margem de diversos direitos e
normas protetoras. No entanto, inclusive estando cobertas
por normas trabalhistas, o grau de evaso das empregadas
domsticas muito mais elevado do que para outras ocu-
paes. Alm do mais, esse um trabalho que se realiza
de forma isolada, sem contato com outras trabalhadoras
como elas, e isso repercute numa limitada capacidade de
organizao e representao de interesses. Suas demandas
tendem a ser invisveis e, em geral, se considera-se que as
competncias e habilidades para se realizar esse trabalho
so demasiadamente simples e inatas nas mulheres, o que
acentua a desvalorizao de seu trabalho.
Na maioria dos pases da regio, o servio domstico
a porta de entrada para o mercado de trabalho para as
mulheres mais pobres, com menor nvel de escolaridade e
que vivem em um entorno de maior excluso social. H
pases onde o trabalho infantil domstico ainda existe, e
fatores como a etnia ou a raa somam-se aos fatores so-
cioeconmicos, acirrando a excluso social das trabalha-
doras domsticas. Sanches (2009), por exemplo, demons-
tra que, no Brasil, essa uma categoria no s composta
majoritariamente por mulheres negras, como ainda por
cima estas apresentam menores nveis de cobertura de
previdncia social e salrios mais baixos do que as mulhe-
res brancas ocupadas no mesmo servio domstico.
O trabalho domstico uma das ocupaes com pior
qualidade do emprego. Suas jornadas de trabalho so mais
extensas (especialmente no caso das trabalhadoras que
vivem na residncia de seus empregadores), suas remune-
raes tendem a estar entre as mais baixas das economias
nacionais e existe um alto nvel de descumprimento com
relao s obrigaes legais de assinar contrato de traba-
lho, registro e aporte previdncia social. Alm do mais,
enfrentam acidentes de trabalho prprios da atividade
que realizam, embora muitos deles no sejam reconhe-
cidos como tais nem faam parte das listas de doenas
prossionais.
No entanto, nas ltimas dcadas, a natureza do
trabalho domstico evoluiu muito com a valorizao e
crescente importncia que tem se reconhecido ao traba-
lho domstico e aos servios de cuidado em geral, por
parte da sociedade e da economia mundial. Junto com
um maior reconhecimento social da ocupao, gerou-se
a preocupao por suas condies de trabalho e usufru-
to dos direitos trabalhistas fundamentais. Respondendo
a essa preocupao, est sendo realizado um debate no
seio da Conferncia Internacional do Trabalho, com vistas
adoo de um instrumento normativo internacional que
reita o consenso mundial sobre as normas trabalhistas
mnimas para garantir os direitos trabalhistas das traba-
lhadoras domsticas.
Os pases da regio, por sua parte, esto concreti-
zando diversas iniciativas para melhorar as condies de
trabalho, aumentar o cumprimento da lei que as ampara
e equiparar seus direitos trabalhistas com os dos demais
assalariados.
2. As trabalhadoras domsticas no mercado de
trabalho na Amrica Latina
A maioria dos pases inclui, em sua legislao nacio-
nal, uma denio do trabalho domstico ou do traba-
lhador domstico aludindo s seguintes caractersticas:
1. O lugar de trabalho um lar privado.
2. As tarefas consistem em servio s pessoas do
lar, para seu bem-estar e convenincia. 49
* Especialista regional de gnero e emprego da OIT para a Amrica Latina
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
3. O trabalho se executa sob a autoridade, as or-
dens e a superviso direta do empregador e/ou
da empregadora.
4. Para constituir uma relao de trabalho, o mes-
mo deve ser regular e com continuidade.
5. O empregador no deve derivar benefcio pecu-
nirio da atividade do empregado domstico.
6. O trabalho feito em troca de uma remunerao
em dinheiro e/ou espcie considerando como
tal os alimentos e alojamento fornecidos pelo
empregador.
7. O local de residncia do empregado no
determinante para a denio da ocupao
(pode pernoitar ou no na residncia de seu
empregador).
Devido s caractersticas desse trabalho e forma
com que as estatsticas trabalhistas so recolhidas, existe
bastante consenso quanto subestimao da magnitu-
de do servio domstico, entre outras razes, porque se
considera como executoras/es de tais servios aquelas/
es que trabalham como assalariadas/os e no se inclui
quem trabalha por conta prpria, por horas e para vrios
empregadores. Em alguns pases, detectou-se uma brecha
importante: por exemplo, um estudo realizado na Argenti-
na estimou que, ao incluir as ocupadas no servio doms-
tico que trabalhavam para mais de um empregador (que
na Pesquisa Permanente de Domiclios so classicadas
como conta prpria no ramo Servios aos Lares), o peso
do servio domstico na ocupao feminina subia de 10%
a 17% (Cortes, 2004).
Rodgers (2009) assinala que h, ainda, outras fontes
de subestimao, como, por exemplo, a alta incidncia
de relaes de trabalho no registradas, o trabalho clan-
destino de imigrantes ilegais e o trabalho domstico in-
fantil, que frequentemente no captado pelas pesquisas
em domiclio, j que crianas no so registradas como
ativas. Tudo isso nos leva a analisar os dados com certa
precauo, j que provvel que o peso do servio do-
mstico seja maior do que reetem as estatsticas.
Tradicionalmente, o trabalho domstico tem sido a
porta de entrada do mercado de trabalho para mulheres
que tm desvantagens porque contam com pouca edu-
cao, no tm qualicaes ou experincia de trabalho
e carecem de redes sociais em que possam se apoiar no
processo de busca de emprego. Durante muitos anos, o
segmento majoritrio foi o de jovens rurais que migravam
para as cidades em busca de remunerao e expectativas
de incorporao vida moderna que a cidade oferecia.
Mesmo quando se caracteriza por uma forte heteroge-
neidade e o peso das jovens rurais diminui signicativa-
mente, o trabalho domstico ainda uma ocupao que
concentra uma alta proporo de mulheres provenientes
de famlias pobres, e no qual as mulheres indgenas e
afrodescendentes esto sobrerepresentadas.
Atualmente, o trabalho domstico continua sendo,
do ponto de vista numrico, a ocupao mais importante
para as mulheres na Amrica Latina: em torno de 14
milhes so trabalhadoras domsticas
1
. Seu peso na
ocupao feminina na regio se situa em torno de 14%.
Ainda quando o nmero de trabalhadoras do lar aumenta,
seu peso no emprego feminino para a mdia da regio
caiu levemente nas ltimas duas dcadas. De acordo com
os dados da OIT, no comeo dos anos 90, a proporo de
ocupadas no servio domstico na regio era de quase
15%.
Na Argentina, Brasil, Chile, Panam, Paraguai e Uru-
guai, o peso do servio domstico , atualmente, similar
ou superior mdia regional. No Paraguai, um quinto das
mulheres trabalhadoras esto ocupadas no servio doms-
tico; no Uruguai, supera os 18%; e na Argentina e no
Brasil, esse nmero chega a 17% das mulheres ocupadas.
No outro extremo, com um baixo peso do servio doms-
tico na fora de trabalho feminina (inferior a 10%) esto
Venezuela, Peru, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica-
rgua e Equador.
1
Essa cifra provavelmente constitui uma subestimao da quantidade real de trabalhadoras, devido s diferentes definies que se aplicam nas enquetes de emprego e na alta
proporo de trabalhadoras no registradas, como mencionado anteriormente. 50
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
Quadro 1
Populao feminina urbana ocupada em emprego domstico, 1990 2000 2008 (aprox.)
(Em porcentagem do total da populao urbana ocupada)
1990 * 1999 ** 2008 ***
Variao
(pontos percentuais)
1990 - 1999
Variao
(pontos percentuais)
1999 - 2008
Argentina 12,5 12,7 17,3 0,2 4,6
Bolvia 12,9 6,7 11,6 -6,2 4,9
Brasil 15,6 19,7 17,0 4,1 -2,7
Chile 19,3 15,1 14,3 -4,2 -0,8
Colmbia 13,6 11,5 11,1 -2,1 -0,4
Costa Rica 12,0 12,6 10,2 -0,6 -2,4
Equador 11,6 13,1 9,6 -1,5 -3,5
El Salvador 8,6 7,7 -0,9
Guatemala 18,1 8,4 9,1 -9,7 0,7
Honduras 16,0 9,9 8,4 -6,1 -1,5
Mxico 7,1 9,1 10,5 2,0 1,4
Nicargua 14,1 13,5 8,9 -0,6 -4,6
Panam 16,4 13,7 13,8 -2,7 0,1
Paraguai 25,6 20,7 20,6 -4,9 -0,1
Peru 7,7 7,0 -0,7
Rep. Dominicana 10,0 13,0 3,0
Uruguai 17,1 17,4 18,6 0,3 1,2
Venezuela 15,0 5,6 4,3 -9,4 -1,3
Fonte: Elaborao prpria com base no Panorama Social da Cepal 2009
* Para Bolvia, Guatemala e Mxico, utilizou-se o ano de 1989; para Colmbia e Panam, 1991; e para Nicargua, 1993.
** Para Chile, Guatemala, Mxico e Nicargua, utilizou-se o ano de 1998; e para a Repblica Dominicana, 2002.
*** Para Argentina, Chile, Guatemala, utilizou-se o ano de 2006; para Bolvia e Honduras, 2007; para Colmbia e Nicargua, 2005; e para El Salvador, 2004.
Na maior parte dos pases da regio, produziu-se
uma diminuio do peso do servio domstico na ocu-
pao feminina nas ltimas duas dcadas. Essa diminui-
o foi particularmente acentuada entre 1990 e 2000 na
Guatemala, Honduras, Venezuela e Bolvia e, em menor
medida, tambm no Paraguai e no Chile. O servio doms-
tico aumentou seu peso na ocupao feminina na dcada
de 90 apenas no Brasil e no Mxico e, marginalmente, na
Argentina e Uruguai. Na dcada seguinte, em contraparti-
da, produziu-se uma diminuio mais generalizada, porm
menos intensa, observando-se trs tipos de situao: a)
pases com maiores quedas, e que na dcada anterior ti-
nham experimentado somente uma leve queda da ocupa-
o feminina no trabalho domstico (Nicargua, Equador
e Costa Rica); b) pases cujo descenso mais pronunciado
produziu-se na dcada anterior e que continuam com uma
tendncia muito mais moderada ou se estancaram (Chile,
Guatemala, Paraguai, Honduras, Venezuela); c) pases que
experimentam pela primeira vez uma queda no trabalho
domstico (Brasil) e; d) pases onde o trabalho domsti-
co aumenta seu peso na ocupao feminina (Argentina,
Bolvia revertendo a tendncia da dcada anterior ,
Mxico e Uruguai).
A demanda de servio domstico muito sensvel no
nvel de atividade econmica agregada, e as idas e vindas
mostradas no Quadro 1 esto tambm inuenciadas pelas
crises econmicas que a regio viveu e que foram sentidas
com especial fora em alguns pases. Diversos estudos
demonstraram que, quando a economia cresce, a demanda
por servios domsticos aumenta, mas em um perodo de
contrao, a demanda por servios domsticos diminui.
Em tempo de crise, os lares adotam estratgias de adap-
tao que consistem em substituir produtos e servios
comprados no mercado, incluindo o servio domstico,
por produtos e servios caseiros. As mulheres aguentam 51
o lado mais severo das crises, posto que so as principais
provedoras de produtos e servios dentro da famlia. O
trabalho domstico no remunerado da dona-de-casa atua
como amortecedor das utuaes econmicas.
Ao contrrio, a oferta de servio domstico tende a
estar negativamente correlacionada ao crescimento eco-
nmico. Quando h uma crise, as mulheres pobres esto
dispostas a aceitar qualquer emprego que se apresente,
enquanto que, quando a economia cresce, criam-se opor-
tunidades de emprego alternativo.
A recente crise econmica e nanceira mundial cor-
robora essa tendncia, observando-se, na maioria dos pa-
ses da regio sobre os que se dispe de informao, que,
em 2009, quando a crise j havia afetado os mercados
de trabalho, havia se produzido uma diminuio da fora
de trabalho feminina ocupada no servio domstico (OIT-
CEPAL, 2009 a e b).
A anlise da demanda e oferta de servio doms-
tico, e de sua relao com as crises econmicas, marca
que a delegao do trabalho domstico ou a terceirizao
de parte das tarefas domsticas so solues que atacam
apenas os sintomas de um problema que tem suas bases
na desigualdade social entre homens e mulheres.
Do ponto de vista das estratgias de conciliao,
as sociedades latino-americanas no estavam preparadas
para enfrentar adequadamente a massiva entrada de mu-
lheres no mercado de trabalho. Segundo dados da OIT, a
taxa de participao de trabalho feminina passou, em me-
nos de trs dcadas, de pouco mais de 30% (1990) para
54% na atualidade. Rodgers (2009) destaca que a compra
de servio domstico emancipou as mulheres com edu-
cao e de classes mais acomodadas de suas obrigaes
domsticas e da dupla jornada de trabalho (quer dizer,
trabalho domstico e trabalho prossional) e lhes propor-
cionou a possibilidade de aproveitar novas oportunidades
no mercado de trabalho remunerado e de ter uma carreira.
Por outro lado, as trabalhadoras do lar no podem livrar-
se de suas responsabilidades domsticas e familiares, e
quando o conseguem graas a redes informais de ajuda
ou ao Estado.
As polticas pblicas no deram conta das novas ne-
cessidades que surgiram a partir desse fenmeno, e den-
tro dos lares no se produziu uma redistribuio entre
homens e mulheres do trabalho no remunerado. A or-
ganizao do trabalho e da vida em sociedade continua
se inspirando em um modelo de famlia hoje minori-
trio em que h uma mulher que se dedica de forma
exclusiva s tarefas reprodutivas e um homem que recebe
um salrio que lhe permite prover para si e sua famlia.
A nova realidade da regio mostra que a famlia com dois
provedores , hoje, majoritria, enquanto os lares com
chea feminina constituem um tero do total de lares na
regio e continuam aumentando. Diante da ausncia ou
insucincia de polticas pblicas, as famlias com maio-
res nveis salariais procuram contratar os servios de ou-
tras mulheres para o desempenho das tarefas domsticas.
Estima-se que, dependendo do pas, entre 10% e
15% dos lares da regio contam, de maneira estvel, com
o apoio domstico remunerado, e se a esse fato soma-se
a contratao de trabalho por dia ou hora, essa porcenta-
gem aumenta de maneira signicativa, j que ascedem a
ela famlias de setores mdios.
Mesmo quando a legislao da maior parte dos pases
da regio estabelece que a remunerao das trabalhadoras
domsticas est composta por dois elementos uma parte
por dinheiro e outra por espcies, fator que foi aponta-
do como um dos responsveis pelos baixos salrios , na
prtica foi se produzindo uma progressiva valorizao dos
nveis de salrio de mercado, que, em muitos casos, exce-
dem largamente o salrio mnimo. Como se pode observar
no Quadro 2, as remuneraes das trabalhadoras doms-
ticas ainda so baixas. Na anlise do quadro deve-se, en-
tretanto, levar em conta que os nveis de renda mdia
mensal ocultam uma grande heterogeneidade em termos
de dedicao horria, de tal modo que possvel que a
remunerao por hora seja signicativamente maior.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
52
Quadro 2
Renda mdia da populao feminina ocupada no emprego domstico
(Em mltiplos das respectivas linhas de pobreza per capita)
1990 1999 2008
Argentina 2,0 2,4 1,7
Bolvia 1,4 1,8 1,9
Brasil 1,0 1,4 1,7
Chile 1,4 2,2 2,3
Colmbia 1,2 2,1 1,9
Costa Rica 1,5 1,7 1,7
Equador 0,7 0,9 1,9
El Salvador 2,0 2,0
Guatemala 1,4 0,6 1,2
Honduras 0,8 0,5 1,3
Mxico 1,3 1,1 1,4
Nicargua 2,1 1,4 1,6
Panam 1,3 2,0 1,8
Paraguai 0,8 1,6 1,2
Peru 2,9 1,8
Rep. Dominicana 1,1 1,0
Uruguai 1,5 2,1 1,7
Venezuela 1,7 1,3 1,8
Fonte: Elaborao prpria com base no Panorama Social da CEPAL 2009.
* Para Bolvia, Guatemala e Mxico, utilizou-se o ano de 1989; para Colmbia e Panam, 1991; e para Nicargua, 1993.
** Para Chile, Guatemala, Mxico e Nicargua, utilizou-se o ano de 1998; e para a Repblica Dominicana, 2002.
*** Para Argentina, Chile e Guatemala, utilizou-se o ano de 2006; para Bolvia e Honduras, 2007; para Colmbia e Nicargua, 2005; e para El Salvador, 2004.
Ao comparar a evoluo das remuneraes, observa-
se um importante aumento na maioria dos pases ana-
lisados, o que se associa, possivelmente, poltica de
aumento do salrio mnimo aplicada em vrios pases,
somado a uma maior demanda por apoio em servio do-
mstico. Os dados da Argentina devem ser analisados com
precauo, pelo alto peso de trabalhadoras que trabalham
por horas.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
53
Quadro 3
Variao da renda mdia da populao feminina ocupada no emprego domstico
(porcentagem)
1990 2008
Argentina -15%
Bolvia 36%
Brasil 70%
Chile 64%
Colmbia 58%
Costa Rica 13%
Equador 171%
Guatemala -14%
Honduras 63%
Mxico 8%
Nicargua -24%
Panam 38%
Paraguai 50%
Uruguai 13%
Venezuela 6%
Fonte: Elaborao prpria com base no Panorama Social da CEPAL 2009.
* Para Bolvia, Guatemala e Mxico, utilizou-se o ano de 1989; para Colmbia e Panam, 1991; e para Nicargua, 1993.
** Para Chile, Guatemala, Mxico e Nicargua, utilizou-se o ano de 1998; para Repblica Dominicana, 2002.
*** Para Argentina, Chile e Guatemala, utilizou-se o ano 2006; para Bolvia e Honduras, 2007; para Colmbia e Nicargua, 2005; e para El Salvador, 2004.
Os aumentos nas remuneraes das trabalhadoras
domsticas contriburam para melhorar sua posio relati-
va na escala de remuneraes de cada pas. Apesar disso,
a categoria de trabalhadoras domsticas a que recebe
as menores remuneraes, em mdia, por ms, em 11 dos
18 pases analisados.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
54
Quadro 4
Salrio mdio das mulheres ocupadas, de acorco com a insero de trabalho, zonas urbanas, ao redor de 2008*
(Em mltiplos das respectivas linhas de pobreza per capita)
Total de mulheres
ocupadas
Total de mulheres
assalariadas
Trabalhadoras
domsticas
Trabalhadoras por
conta prpria
Argentina 4,5 3,9 1,7 5,9
Bolvia 2,5 3,3 1,9 1,4
Brasil 3,7 3,8 1,7 2,2
Chile 5,1 4,7 2,3 5,3
Colmbia 2,7 3,6 1,9 1,3
Costa Rica 4,7 5,1 1,7 2,2
Equador 2,8 3,5 1,9 1,7
El Salvador 3,0 3,5 2,0 2,1
Guatemala 2,3 2,3 1,2 1,7
Honduras 2,3 3,1 1,3 1,0
Mxico 2,9 2,9 1,4 1,9
Nicargua 2,3 2,7 1,6 1,4
Panam 4,9 5,0 1,8 3,3
Paraguai 2,1 2,3 1,3 1,3
Peru 2,4 3,0 1,8 1,4
Rep. Dominicana 3,3 2,5 1,0 4,2
Uruguai 3,3 3,4 1,7 2,2
Venezuela 3,4 3,9 1,8 2,4
Fonte: Elaborao prpria com base no Panorama Social da CEPAL 2009.
*** Para Argentina, Chile e Guatemala, utilizou-se o ano de 2006; para Bolvia e Honduras, 2007; para Colmbia e Nicargua, 2005; e para El Salvador, 2004.
Os dados em negrito indicam a categoria com menor nvel de renda
A ampliao de oportunidades de trabalho para as
mulheres e o maior controle sobre suas vidas e conscincia
de seus direitos foram somados a outras mudanas sociais
associadas modernidade, impulsionando uma progres-
siva transformao da forma como se realiza o trabalho
domstico remunerado. O modelo tradicional, segundo o
qual a trabalhadora dorme na casa de seus empregadores,
foi dando lugar a uma variedade de modalidades. Atual-
mente, o trabalho que se desempenha de maneira estvel
para uma famlia, mas voltando diariamente para sua casa
no pernoitando na casa de seu empregador passou
a ser a modalidade mais frequente em vrios pases da re-
gio. Alm do mais, principalmente nas grandes cidades,
aumentou o nmero de trabalhadoras que prestam fun-
es em diferentes lares, por dia ou por hora, em alguns
casos em tarefas de maior nvel de especializao. Alm
de permitir uma maior separao entre as vidas no traba-
lho e pessoal, essas novas modalidades deram lugar a um
crescente reconhecimento do carter de trabalhadoras
e sujeitos com direitos trabalhistas que desempenham re-
muneradamente esse tipo de tarefas.
Fonte: Elaborao OIT, baseado em dados de Mideplan (CASEN 1990, 2000 e 2006).
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
55
3. O Trabalho domstico no debate das
Conferncias do Trabalho
2
J se passaram mais de oitenta anos desde a primei-
ra vez que se fez meno, em um frum internacional,
desvantajosa situao das trabalhadoras domsticas e a
consequente necessidade de proteger seus direitos. Em
1936, a Conferncia Internacional do Trabalho (CIT), no-
tando que o rascunho da Conveno Internacional sobre
frias anuais pagas, posteriormente adotado como Con-
veno 52, no cobriria as trabalhadoras domsticas, so-
licitou ao Conselho de Administrao incluir o tema na
agenda das futuras sesses. Ficou acordado tambm que
se deveria considerar ao mesmo tempo se outras condi-
es de trabalho das trabalhadoras domsticas poderiam
fazer parte de uma regulao internacional. Entretanto,
o tema perdeu relevncia frente a outras prioridades, e a
CIT demorou 12 anos para voltar a tratar dele.
O primeiro pronunciamento ocial chamando a pro-
teger as trabalhadoras domsticas se realizou na Amrica
Latina, na Segunda Conferncia do Trabalho dos Estados
Americanos, realizada em 1939, em Havana. A Confern-
cia adotou uma resoluo indicando que o emprego de
mulheres em servio domstico deveria ser regulado por
uma legislao social adequada, estabelecendo normas so-
bre horrio, salrio e outras condies de trabalho ()
(Inman, 1972).
A CIT adotou, em 1945, uma resoluo com relao
proteo de crianas e jovens trabalhadores, na qual
se sugeria regular a admisso de crianas no servio do-
mstico fora de sua famlia, da mesma maneira que em
outras ocupaes no industriais, e chamava a criar es-
foros para eliminar o costume de empregar crianas em
sistemas de pseudoadoo, em que trabalhavam em tare-
fas domsticas em troca de sua manuteno.
Em 1948, a CIT retomou a discusso iniciada em
1936, recolocou entre suas prioridades a situao das tra-
balhadoras domsticas e decidiu que havia chegado o mo-
mento para uma completa discusso sobre este importante
tema e solicitou novamente ao Conselho de Administra-
o incluir na agenda das futuras sesses a questo do
status e emprego de trabalhadoras domsticas. Ao invs
disso, o Conselho de Administrao decidiu organizar, em
1952, uma reunio de especialistas, a qual, entre outras
recomendaes, assinalava a convenincia de outorgar
s trabalhadoras domsticas uma proteo equivalente a
outros trabalhadores, na perspectiva de assegurar-lhe os
direitos sociais e vantagens equivalentes, e para prevenir
tanto o isolamento como a discriminao s trabalhadoras
domsticas. O grupo ainda recomendou tomar aes en-
caminhadas adoo de normas internacionais (Blackett,
1998).
Novamente, no foi dessa vez que essas aes acon-
teceram, e a CIT demorou mais 17 anos para tornar, em
1965, a tratar do tema das condies de trabalho das tra-
balhadoras domsticas. Uma nova resoluo mostrava a
urgente necessidade de dotar as trabalhadoras domsticas
de elementos bsicos de proteo a m de garantir-lhes
um nvel de vida mnimo, compatvel com o respeito e a
dignidade essenciais da justia social. Nessa ocasio, a
CIT avanava com relao a resolues anteriores, j que
localizava o tema no marco dos problemas das mulheres
trabalhadoras e identicava com clareza os passos a se-
guir na perspectiva de elaborar um modelo de contrato
ou cdigo de princpios orientadores para a proteo de
trabalhadoras domsticas e culminar na adoo de um
instrumento internacional.
Como resultado disso, em 1967, se enviou uma en-
quete sobre as condies de trabalho de trabalhadoras
domsticas a todos os governos-membros da OIT. Com
base nas respostas recebidas de 68 Estados-membros,
elaborou-se um informe que destacava que as trabalhado-
ras sofriam de excesso de trabalho, dcit em matria de
remuneraes e de proteo, constituindo uma das cate-
gorias menos protegidas de trabalhadores (OIT, 1970).
Quase trs dcadas mais tarde, no informe preparado
para a 92 reunio da Conferncia (2004) sobre trabalha-
dores imigrantes, fazia-se nfase em que as trabalhadoras
domsticas migrantes se encontram entre os trabalha-
dores mais vulnerveis do mundo, assinalando-se como
problemas principais: o nmero excessivo de horas, sem
dias de descanso nem remunerao de horas extras, bai-
xos salrios, cobertura de sade insuciente, exposio
ao assdio fsico e sexual, e abuso por parte das agncias
de contratao.
A prioridade por abordar as condies de trabalho
das trabalhadoras domsticas foi retomada na OIT, em
2008, a partir de uma iniciativa liderada pelas organiza-
es de trabalhadores. O informe preparado assinalava a
possibilidade de elaborar instrumentos da OIT, possivel-
mente sob a forma de uma conveno complementada por
uma recomendao e suprir, assim, a proteo que tanto
necessita essa categoria de trabalhadores
3
.
Na proposta, assinala-se que a milhes de tra-
balhadoras domsticas, na sua maioria mulheres, lhes
2
Esta seo e a seguinte se baseiam em Valenzuela e Mora (2009).
3
Conselho de Administrao, 301. Reunio, 2. Ponto de ordem do dia da 99 reunio da CIT www.ilo.org
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
56
negada a proteo do trabalho decente, ainda que
contribuam para melhorar as perspectivas de emprego e
os nveis de vida de outras categorias de trabalhadores.
Esse trato injusto foi reiteradamente assinalado pela
Conferncia Internacional do Trabalho, sendo uma das
principais causas o fato de que, em demasiados pases,
as trabalhadoras domsticas no esto amparadas pela
legislao trabalhista. As estimativas mais prudentes
calculam que haja mais de 100 milhes de trabalhado-
ras domsticas, o que as converte em um dos segmentos
mais numerosos da fora de trabalho, e mesmo assim o
mais desprotegido (). possvel que alguns aspec-
tos dos direitos fundamentais no trabalho para as tra-
balhadoras domsticas, de seus direitos humanos e das
condies de trabalho contempladas nas normas inter-
nacionais vigentes no tenham recebido um tratamento
adequado por parte da OIT ou de outras organizaes in-
ternacionais e, portanto, constituam um possvel campo
de ao normativa ()
4
. Reconhece-se que um bom
nmero de convenes de OIT permite a excluso de
certas categorias de trabalhadores, em alguns casos fa-
zendo aluso expressa aos trabalhadores domsticos
5
.
A CIT aprovou, em 2008, a realizao de um estudo
com o objetivo de considerar a adoo de um instrumento
internacional (conveno e/ou recomendao) que esta-
belecesse padres mnimos para as trabalhadoras doms-
ticas. Assim, deu-se incio a um processo de discusso em
que os Estados-membros debatero, at a realizao da
100 Conferncia Internacional do Trabalho, que se rea-
lizar em junho de 2011, sobre as condies particulares
em que se realiza o trabalho domstico e a forma com que
as normas do mbito geral se complementam com outras
especiais, com o m de garantir o pleno usufruto de seus
direitos
6
.
claro que, ainda quando desde os incios da OIT
reivindicou-se que a especicidade do trabalho que se
realiza dentro de um lar no razo para deixar essas
trabalhadoras de fora da proteo da lei, no foi fcil
alcanar os consensos necessrios para conseguir o pleno
reconhecimento de seus direitos trabalhistas, tanto na
normativa internacional como nas legislaes nacionais.
possvel que, no marco da crise do sistema de cuidados,
consiga-se esse objetivo.
4. Normativa Internacional: avanos dos
direitos das trabalhadoras do lar
A primeira Conveno Internacional da OIT que se
referiu explicitamente s trabalhadoras do lar foi a Con-
veno sobre Seguro Doena (Indstria), 1927 (no. 24),
que estipulava que o sistema obrigatrio de licena por
doena contemplava trabalhadores manuais e no manu-
ais, incluindo trabalhadoras domsticas (Blackett, 1998).
A maioria das convenes se aplicam s trabalha-
doras domsticas. Nos casos em que no aparecem es-
pecicamente mencionadas, se entende que elas gozam
dos direitos, liberdades e proteo que contempla a res-
pectiva conveno. Entretanto, muitas das menes ao
trabalho domstico das convenes adotados na primeira
metade do sculo XX eram para permitir a excluso das
trabalhadoras domsticas da proteo que se estabelecia.
Essa situao tendeu a ser corrigida nos anos posterio-
res, ainda que em ocasies tenha-se deixado aberta essa
possibilidade para alguma categoria de trabalhadores sob
certas circunstncias e com o acordo das organizaes de
empregadores e trabalhadores.
Era dessa maneira que as convenes que aborda-
vam o tema de idade mnima para o trabalho (Convenes
No. 33 e 60) autorizavam autoridade competente para
excetuar do mbito da conveno o trabalho domstico
na famlia realizado por membros da famlia
7
. Essa situ-
ao foi corrigida na Conveno sobre Idade Mnima, em
1973 (No.138), que revisou os convenes anteriores e
no permitiu essa excluso. E indo alm, o trabalho do-
mstico infantil cou, em vrios pases da regio, na lista
de trabalhos perigosos, o que elevou ainda mais a idade
mnima.
Do mesmo modo, a Conveno sobre trabalho notur-
no para pessoas jovens (ocupaes no industriais), 1946
(No.79), permitia aos Estados-membros excluir do mbito
do convnio o servio domstico que se realiza por uma
remunerao ou renda num lar privado, mesmo quando a
Recomendao sobre trabalho noturno dos menores (tra-
balhos no industriais), de 1946 (No. 80), recomenda-
va aos Estados-membros que adotassem medidas legais
e administrativas apropriadas para restringir o trabalho
4
Ibid.
5
Conveno sobre as horas de trabalho (comrcio e oficinas), 1930 (No. 30) e Conveno sobre a proteo do salrio, 1949 (No. 95), via de exemplo.
6
O Informe IV(1) trabalho decente para os trabalhadores domsticos recolhe a realidade do trabalho domstico no mundo, que acompanha um questionrio enviado aos Estados-
membros da OIT com o propsito de recolher suas opinies sobre o mbito de aplicao e do contedo dos instrumentos internacionais propostos, e previa consulta com as
organizaes de empregadores e trabalhadores. Com base nas respostas ao questionrio, elaborou-se o Informe IV (2), cujas concluses esto sendo debatidas na 99 Conferncia
Internacional do Trabalho (junho de 2010). O processo culminar na 100 Conferncia Internacional do Trabalho, que dever votar sobre a adoo de uma Conveno e/ou
Recomendao e seus contedos.
7
A Conveno sobre Idade Mnima (emprego no industrial) 1932 (No.33) e a Conveno sobre Idade Mnima (trabalhos no industriais), 1937 (No.60) autorizavam a excluso
das trabalhadoras domsticas.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
57
noturno de crianas e pessoas menores de 18 anos que
desempenham trabalho domstico. Como no caso ante-
rior, essa conveno foi revisada, adotando-se, em 1990,
a Conveno sobre o trabalho noturno (No. 171) que rege
implicitamente trabalhadores e trabalhadoras domsticas.
Entretanto, agrega que cada Estado-membro que ratica
essa Conveno pode, depois de consultar os representan-
tes das organizaes de empregadores e trabalhadores,
excluir de seu mbito de cobertura determinadas catego-
rias de trabalhadores quando a aplicao sobre eles gere
problemas especiais de uma natureza substantiva. Nessas
condies altamente improvvel que algum pas exclua
da proteo que outorga a conveno s trabalhadoras
domsticas.
Uma situao similar ocorre com a Conveno so-
bre Proteo da Maternidade, de 2000 (No.183), j que
estabelece que rege todas as mulheres empregadas, in-
cluindo aquelas em formas atpicas de trabalho, com a
possibilidade de excluir algumas categorias de trabalha-
dores. A conveno anterior sobre proteo da materni-
dade, adotada em 1952 (No. 103), fazia meno explcita
s trabalhadoras domsticas, assinalando que seu mbito
de aplicao tambm cobria s trabalhadoras assalariadas
que trabalhavam em lares privados. Entretanto, tambm
outorgava aos Estados-membros a faculdade de acompa-
nhar a raticao com uma declarao atravs da qual se
eximiam de sua aplicao ao trabalho domstico remune-
rado em lares privados, sob as mesmas condies que na
Conveno sobre o trabalho noturno, 1990 (No.171).
A Conveno sobre Fixao de Salrio Mnimo
(No.131), de 1970, ao contrrio, aplicvel s trabalha-
doras domsticas, mas, ao mesmo tempo, permite impli-
citamente sua excluso, ao assinalar que a autoridade
competente de cada pas deve determinar os grupos de
assalariados que sero cobertos por essa normativa.
Em sntese, o avano na cobertura da normativa in-
ternacional ao trabalho domstico mostra um permanente
avano, mesmo quando no se chegou a uma declarao
explcita que inclua essa ocupao na mesma categoria de
proteo que os demais assalariados.
5. A importncia da legislao nacional
e seu efetivo cumprimento
A legislao cumpre um papel crucial na proteo
das categorias de trabalhadores que se encontram em si-
tuaes de maior desvantagem, como o caso das traba-
lhadoras que trabalham em lares de terceiros. O trabalho
pioneiro desenvolvido por Vega (1994) assinala que o
trabalho domstico foi tradicionalmente considerado pela
lei no mbito da esfera familiar e, portanto, regido pela
lei de famlia, e que o fato de ser um trabalho que se
desempenha dentro do lar foi um fator determinante para
deix-lo em seus incios fora do mbito da lei trabalhis-
ta. Ainda, quando a par com a normativa internacional,
durante o sculo XX, gerou-se um processo de progressiva
regulao do trabalho domstico na regio, sua condio
jurdica tendeu a ser pouco clara e muitas vezes cou, na
prtica, excludo da normativa legal e de seu cumprimen-
to.
Na maioria dos pases da Amrica Latina e do Caribe
existe uma regulamentao sobre o trabalho domstico,
seja no marco do cdigo de trabalho ou atravs de leis es-
peciais. H, inclusive, alguns pases que fazem meno ao
trabalho domstico em sua Constituio. Apesar disso, o
alcance das leis trabalhistas para esse grupo ocupacional
limitado, e o grau de proteo que lhes garante a lei
menor (Loyo e Velsquez, 2009; Pereira e Valiente, 2007;
Lpez, Soto e Valiente, 2005, Ramirez Machado, 2003).
A existncia de um contrato de trabalho expres-
so de uma relao de trabalho formalizada e, portanto,
aumenta as possibilidades de que se cumpram as normas
trabalhistas, e a trabalhadora esteja coberta pela prote-
o da lei. Na regio, h uma variedade de situaes nas
quais somente uma minoria de pases exige a celebrao
de um contrato escrito entre a trabalhadora domstica e
seu empregador (por exemplo, Argentina, Brasil e Chile),
enquanto que em outros se pode realizar de forma verbal
ou por escrito, segundo deciso das partes (por exemplo,
no Peru, Panam ou Nicargua).
A regulamentao da jornada de trabalho tem sido
objeto de debate e controvrsia, especialmente quando
as trabalhadoras se alojam na casa de seus empregadores
e devem estar disponveis para trabalhar durante longos
perodos. Por isso, a regulao das horas de trabalho
particularmente importante para essas trabalhadoras,
pois tendem a trabalhar em longas jornadas e abusos cos-
tumam ser produzidos.
A maioria dos pases da regio no estabelece uma
jornada mxima de trabalho dirio ou semanal, ainda que
regulem a jornada mnima de descanso, a qual foi xada
comumente em 12 horas de descanso dirio e um dia de
descanso semanal. Destaca-se, nesse contexto, a legis-
lao da Bolvia, Brasil, Peru e Uruguai, que xaram uma
jornada diria de oito horas, similar do conjunto dos
trabalhadores. H pases em que a extenso da jornada
do trabalho domstico no est regulamentada, como
no caso da Colmbia. Entretanto, uma sentena da Corte
Constitucional determinou que uma jornada de trabalho
excessiva contradiz os princpios da dignidade humana, e
estabeleceu a jornada diria em 10 horas. A legislao es-
tabelece, na maioria dos pases, um perodo de descanso
dirio (entre 10 e 12 horas dirias), um descanso semanal
de 1 dia e frias de 15 dias teis.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
58
As legislaes latino-americanas coincidem, ainda,
em aplicar um princpio diferente para a xao do sal-
rio do servio domstico, em que uma parte se paga em
espcies. Em alguns pases, xa-se um salrio mnimo por
categoria, e em alguns poucos casos, as trabalhadoras
domsticas no esto sujeitas a salrio mnimo. A maioria
aplica o salrio mnimo nacional, porm se considera que
este se compe de dois elementos: um constitudo pela
remunerao em dinheiro e outro pelo pago em espcie,
que inclui a alimentao e a moradia que o empregador
prov. Como resultado disso, na maior parte da regio,
as trabalhadoras domsticas esto sujeitas, na prtica, a
um salrio mnimo inferior ao que a lei estabelece para
o resto dos trabalhadores. A possibilidade de equiparar o
salrio mnimo das trabalhadoras do lar com o dos demais
assalariados outro tema que gera grande debate, ainda
quando em muitos pases o salrio de mercado superior
ao salrio mnimo estipulado. S na Bolvia, no Brasil e
no Equador o salrio das trabalhadoras domsticas repre-
senta 100% do salrio mnimo nacional, e no Chile se es-
tabeleceu, em 2008, uma modicao legal que permitir
um aumento progressivo da proporo do salrio mnimo
pago em dinheiro, para que se equipare, em 2011, com o
do resto dos trabalhadores assalariados.
Com relao cobertura da previdncia social, a si-
tuao na regio bastante heterognea. Um pequeno
grupo de pases conta com leis especiais com relao ao
acesso ao sistema de penses, um grupo maior estabelece
uma normativa comum para o conjunto dos trabalhadores,
que inclui o servio domstico, e outro grupo no faz uma
meno especial, o que nos faz presumir que a lei geral
tambm aplicvel s trabalhadoras domsticas. A baixa
cobertura da previdncia social que as trabalhadoras do-
msticas tm seria, portanto, o resultado do descumpri-
mento da lei, mais do que um vazio legal que as deixa de
fora.
Com relao proteo da maternidade, esse um
direito que opera no marco do seguro social (o qual tem
um carter obrigatrio) e que rege todas as trabalhado-
ras assalariadas. Na maior parte dos pases no existem
provises especiais de proteo da maternidade para as
trabalhadoras domsticas, o que signica que elas esto
cobertas pelo regime geral da previdncia social em ma-
tria de descanso pr e ps-natal, direito de amamenta-
o, etc. Entretanto, a baixa cobertura da obrigao da
previdncia social deixa muitas trabalhadoras sem poder
usufruir desses benefcios.
Em matria de legislaes nacionais, a grande maio-
ria dos pases da regio incorporou modicaes regu-
lao sobre trabalho domstico, aproximando os direitos
xados para essa ocupao com os do resto dos assalaria-
dos, destacando o Uruguai como o pas que cumpre com
maior rigor o princpio de igualdade trabalhista para essas
trabalhadoras.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
59
Quadro 5
Reformas legais recentes no trabalho domstico remunerado na Amrica Latina
Pas Instrumento legal
Argentina
Decreto 485 (2000). Regulamentao do regime especial de previdncia social para empregados
domsticos.
Estabelece a obrigatoriedade de contribuies por parte do empregador para seus empregados do-
msticos que trabalham 6 horas ou mais semanais.
Programa que oferece benefcios tributrios para incentivar a regularizao e o pagamento de con-
tribuies previdncia social de trabalhadores domsticos.
Bolvia
Lei da trabalhadora do lar (2003).
Regulamenta o trabalho assalariado do lar estipulando direitos e obrigaes para empregados e
empregadores.
Brasil
Constituio da Repblica Federativa (1988).
Amplia os direitos dos empregados domsticos estabelecidos na lei 5.859/1972. (2006)
- Empregadores podem obter benefcios scais diminuindo seu imposto de renda caso contribuam
para os empregados que teriam direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS).
- O Senado raticou a incluso obrigatria dos empregados domsticos no regime do FGTS.
Chile
Lei 19.591 (1998).
Reconhece o direito ao privilgio legal maternal para as trabalhadoras domsticas.
Lei 20.336 (2009)
Reconhece o direito a descanso todos os dias que a lei declare festivos.
Costa Rica
Lei 8.726 (2009)
Estabelece uma jornada semanal mxima de 48 horas; determina que o salrio mnimo xado para a
categoria pelo Conselho Nacional de Salrios deve ser pago em dinheiro e estabelece idade mnima
(15 anos) para exercer a ocupao.
Equador
Lei de salrio mnimo
Equipara, a partir de 2010, o salrio mnimo das trabalhadoras domsticas ao dos demais assala-
riados.
Nicargua
Regulamento 202 (1978). Da aplicao da previdncia social aos trabalhadores do servio domstico.
Estabelece os mecanismos de clculo do salrio de referncia, de nanciamento e de arrecadao.
Dene a contribuio patronal (12%), trabalhista (3%) e estatal (4%), alm de outros benefcios
como licena maternidade, invalidez e ajuda de funeral.
Paraguai
Decreto do Instituto de Previso Social (2009)
Estende o direito cobertura de sade s trabalhadoras domsticas de todo o pas.
Peru
Lei 27.986 (2003). Dos trabalhadores do lar.
Regula o trabalho assalariado do lar, estipulando direitos e obrigaes para empregados e empre-
gadores.
Uruguai
Lei 18.065 (2006).
Equipara os direitos de trabalhadoras domsticas aos dos demais assalariados.
Fonte: Retirado de Valenzuela e Mora (2009).
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
60
O nvel de descumprimento da normativa legal al-
tssimo no caso das trabalhadoras domsticas, especial-
mente no que se refere formalidade da relao trabalhis-
ta que lhes corresponde por lei. justamente o fato de
associar o trabalho domstico com noes de famlia e de
trabalho no produtivo que nos leva a perceb-lo como se
estivesse fora de uma relao de trabalho normal e justi-
car tanto a insuciente regulao como o alto grau em
que essa infringida.
H fatores culturais e vestgios de relaes pr-mo-
dernas que nos levam a situar o trabalho domstico remu-
nerado em um mbito ambguo, no qual com frequncia
h uma aparente proximidade de empregadores e traba-
lhadoras, como se existissem laos familiares entre eles,
o que contribui a lhe retirar seu carter de relao de
trabalho normal. Um fator que contribui para essa ambi-
guidade o fato de que a relao cruzada por diferenas
sociais, mas tambm por uma proximidade fsica e con-
tato cotidiano e muitas vezes por laos de afeto, o que
pode levar a que se desenvolvam relaes paternalistas e
desequilibrar ainda mais a relao entre a trabalhadora e
seus empregadores. Por essas razes, o trabalho doms-
tico termina muitas vezes sendo regido pelas normas da
vida privada da famlia para quem se trabalha, mais do
que pela lei trabalhista.
Em termos gerais, as regulaes e o trabalho da Ins-
peo do Trabalho so vlidos e aplicveis para o trabalho
domstico. Entretanto, isso no implica que a scalizao
da lei possa ser feita da mesma maneira que para outras
categorias de trabalhadores que trabalham em uma em-
presa ou em outro lugar da esfera pblica. A scalizao
se realiza no lugar de trabalho, que no caso do traba-
lho domstico coincide com o lar de seu empregador e
tem, por conseguinte, o carter de ser um espao privado
e com direito inviolabilidade do domiclio. Portanto,
existem dois direitos fundamentais que podem entrar em
contradio: a proteo dos direitos bsicos da trabalha-
dora domstica por meio da funo de scalizao da Ins-
peo do Trabalho, e o direito proteo da privacidade
do empregador e sua famlia. Frente a essa disjuntiva, a
maioria dos ordenamentos jurdicos da regio estabelece
limitaes ao trabalho scalizador, tornando-o pratica-
mente impossvel de se realizar. A nova lei de servio
domstico do Uruguai, Lei 18.065, de novembro de 2006,
e seu decreto regulamentar de junho de 2007 resolveram
essa situao, estabelecendo que a inspeo geral do tra-
balho pode realizar inspees domiciliares quando exista
a presuno de descumprimento das normas trabalhistas
e da previdncia social, sempre que conte com ordem ju-
dicial expedida com conhecimento de causa.
A tarefa de scalizao tambm pode se desenvolver
atravs de um bom sistema de denncias e procedimentos
claros e rpidos de multas e sanes. O conhecimento da
lei e a conana nas instituies so fundamentais para
que as trabalhadoras faam uso dos mecanismos legais e
administrativos. Finalmente, uma adequada proteo re-
quer scalizadores comprometidos e sensibilizados.
6. O Papel da organizao
Apesar do dcit que as trabalhadoras do servio
domstico enfrentam em termos de organizao, repre-
sentao e voz, elas conseguiram que suas reivindicaes
sejam assumidas por outros atores sociais com poder para
incidir na agenda pblica. At faz poucos anos, as tra-
balhadoras do lar no tinham conseguido desempenhar
um papel importante no movimento sindical, apesar de
contar com uma histria de organizao e luta. Em seu
estudo sobre a histria do movimento de trabalhadoras
domsticas no Chile, Hutchinson (2001, 2008), por exem-
plo, destaca que, no sculo XIX, as trabalhadoras doms-
ticas estavam excludas do movimento sindical, inclusive
das sociedades de ajuda mtua compostas somente por
mulheres.
Entretanto, nos ltimos anos, produziu-se uma con-
uncia entre as trabalhadoras domsticas e as organi-
zaes sindicais, em resposta ao crescente interesse do
movimento sindical de acolher as reivindicaes de traba-
lhadores informais, o que derivou num progressivo reco-
nhecimento sindical s demandas desse setor.
As primeiras organizaes de trabalhadoras domsti-
cas apareceram em diversos pases na primeira metade do
sculo XX, fundamentalmente sombra da Igreja Catlica
e no marco das atividades da Juventude Operria Catlica
(JOC). A partir dos anos 50, comearam a ser criadas asso-
ciaes com um carter mais independente, algumas das
quais se converteram mais tarde em sindicatos. No Brasil,
por exemplo, criou-se, em 1997, a Federao Nacional de
Trabalhadoras Domsticas (FENATRAD), que conta com 35
sindicatos liados. A FENATRAD se liou, posteriormente,
Central nica dos Trabalhadores (CUT), passando a fazer
parte do movimento sindical brasileiro.
O maior mpeto organizao das trabalhadoras do-
msticas da regio foi constitudo pela criao da Confe-
derao Latino-Americana e do Caribe de Trabalhadoras
do Lar (CONLACTRAHO, sigla em espanhol), uma rede que
agrupa organizaes liadas de 13 pases
8
e, inclusive,
mantm relao com organizaes de trabalhadoras que
migraram para a Europa. A CONLACTRAHO foi fundada em
1983 por um grupo de dirigentes do Chile e Peru que
8
Fazem parte da CONLACTRAHO Argentina, Bolvia, Brasil, Chile, Colmbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Mxico, Paraguai, Peru, Repblica Dominicana e Uruguai.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
61
haviam sido postas em contato atravs das pesquisas pio-
neiras que Elsa Chaney desenvolvia sobre esse tema na
regio. O primeiro encontro aconteceu em Bogot, no dia
30 de maro de 1988. Desde ento, se celebra na regio,
nessa data, o Dia da Trabalhadora do Lar.
A CONLACTRAHO atualmente presidida pela mexica-
na Marcelina Bautista, e reivindica a necessidade de que
normas especcas, com clusulas em matria de contrato
de trabalho, salrio mnimo, limitao da jornada de tra-
balho, frias de 30 dias e proteo trabalhadora grvida
sejam includas nos cdigos de trabalho. As dirigentes da
CONLACTRAHO destacam que sua demanda conseguir a
igualdade com o resto dos trabalhadores, e atualizam seu
enfoque estratgico, assinalando que: as condies do
servio domstico devem ser mudadas, para que as futu-
ras geraes o realizem em condies dignas e visveis, e
seja valorizado como um trabalho de servio importante,
que est contribuindo indiretamente para o desenvolvi-
mento dos pases; e que deve desaparecer o trabalho
portas adentro, porque um velho sistema de servido,
com relao ao qual as famlias se sentem donas de seus
tempos e de suas vidas, fazendo com que percam suas
identidades (Castillo e Orsatti, 2005).
Na maioria dos pases da regio, no existe a possi-
bilidade de que as associaes de trabalhadoras domsti-
cas adquiram personalidade jurdica como sindicato nem
contam com o direito de liao direta a federaes ou
confederaes sindicais. Por isso, vrios desses pases es-
tabeleceram uma relao informal com as confederaes
sindicais, e, inclusive, h casos em que a confederao
sindical modicou os estatutos para permitir a incor-
porao das trabalhadoras domsticas. Reconhecendo a
importncia da organizao sindical, a CONLACTRAHO rei-
vindica o direito a denunciar OIT os casos em que no
se outorga personalidade jurdica s associaes que se
propuseram a se converter em sindicatos, e props-se a
estabelecer laos de solidariedade com as organizaes
sindicais, trabalhadoras camponesas e outras organiza-
es sociais.
Nos ltimos anos, produziu-se uma crescente conver-
gncia entre organizaes sindicais e das trabalhadoras
domsticas. O apoio das organizaes internacionais de
trabalhadores s demandas de reconhecimento do traba-
lho domstico se evidencia na solicitao da Confedera-
o Sindical Internacional (CSI) a todos os sindicatos de
procurar o apoio de seus governos, a m de conseguir a
aprovao de uma Conveno Internacional de Trabalho
Domstico que proteja as trabalhadoras e os trabalhado-
res domsticos, sob o argumento de que devem contar
com os mesmos direitos que o resto da fora de trabalho
assalariada. Da mesma forma, a CSA (Confederao Sin-
dical das Amricas, lial da CSI no plano regional) apoiou
a organizao das trabalhadoras domsticas na regio,
incorporando suas demandas ao marco das reivindicaes
do setor sindical.
Na regio, a preocupao do mundo sindical pelas
trabalhadoras domsticas no nova. Em 1986, foi criada
a Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS),
quatro anos antes do Tratado de Assuno, que fez nascer
o MERCOSUL. Integrada por 9 centrais sindicais (Argenti-
na, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), a coordenadora tem
como objetivo articular as centrais sindicais dos pases do
Cone Sul e apoiar a integrao social e econmica da re-
gio. Em 1997, criou-se a Comisso de Mulheres da CCSCS,
uma das primeiras a incorporar em seus eixos de trabalho
a reivindicao das trabalhadoras domsticas, colocando
a adoo nos distintos pases [de] normas legais e lograr
a plena aplicao de leis e medidas que equiparem a situ-
ao das trabalhadoras domsticas, alm de promover a
erradicao do trabalho precrio, ilegal, sem proteo da
previdncia social.
Com o propsito de fortalecer a relao entre as or-
ganizaes das trabalhadoras do lar e as organizaes
sindicais, a OIT convocou, em dezembro de 2005, um
seminrio com a participao de representantes de or-
ganizaes sindicais e trabalhadoras do lar de dez pases
da regio. O propsito era promover o fortalecimento da
organizao sindical das trabalhadoras do lar, a incorpo-
rao do emprego domstico nas estratgias das organi-
zaes sindicais e o estabelecimento de alianas entre os
sindicatos e as trabalhadoras do lar. Um primeiro encon-
tro teve lugar em 2005, no Seminrio de Trabalhadoras
Domsticas Migrantes (Montevidu, 2005), e, em seguida,
num seminrio sobre o mesmo tema, realizado em Assun-
o (novembro, 2007), concluindo com uma declarao
conjunta (Declarao de Assuno) e um plano de ao
comum.
A forte mobilizao de todas essas organizaes
durante os ltimos anos, para impulsionar o reconheci-
mento pleno dos direitos trabalhistas das trabalhadoras
domsticas, evidenciou seu rendimento na apresentao
em maro de 2008 da solicitao do Grupo de Trabalha-
dores (representando as organizaes sindicais dos Esta-
dos-membros da OIT) sobre a adoo de uma Conveno
Internacional sobre Trabalhadoras Domsticas, que foi
aprovada pelo Conselho de Administrao da OIT.
Talvez o exemplo mais relevante do esforo con-
centrado dos atores sociais seja o processo de consenso
em torno do projeto de lei sobre trabalho domstico no
Uruguai, aprovado em novembro de 2006. Essa iniciativa
foi impulsionada pela comisso tripartite de igualdade de
oportunidades do Uruguai, com o apoio tcnico da OIT.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
62
O projeto de lei marcou um importante avano em mat-
ria de incluso e reconhecimento da atividade como um
trabalho, sujeito s mesmas normas trabalhistas que os
demais assalariados.
Trabalho domstico, desigualdade social e de g-
nero e pobreza esto fortemente relacionados. Enfrentar
esse fenmeno requer aumentar o grau de escolaridade
das trabalhadoras, melhorar suas condies de trabalho,
promover em todos os mbitos a igualdade de direitos
entre homens e mulheres (e as reformas necessrias para
assegur-los), mas ainda requer que se reinterprete, so-
cialmente, os elementos simblicos que atribuem um sig-
nicado inferior s tarefas femininas e ao trabalho da
mulher. Isso um requisito indispensvel para superar a
dicotomia e hierarquizao com que se estrutura a diviso
sexual do trabalho na sociedade e a posio de subordina-
o que as mulheres assumem, especialmente em ocupa-
es como o trabalho domstico.
Referncias bibliogrcas:
Blackett, Adele 1998 Making domestic work visible: the case
for specic regulation Labour law and labour relations Pro-
gramme, documento de trabajo No. 2 (Ginebra, OIT, 1998)
Castillo, Gerardo. y Orsatti, Alvaro 2005 (comp.). Trabajo infor-
mal y sindicalismo. Serie Sindicatos y Formacin /5, OIT- Cin-
terfor, Montevideo, 2005, p.99.
Corts, Rosala 2004 Salarios y marco regulatorio del trabajo en el
Servicio Domstico, Programa inFocus sobre Repuesta a las Crisis
y Reconstruccin, Documento de trabajo No. 9 (Ginebra, OIT).
Hutchinson, Elizabeth, 2001 Labors appropriate to their sex.
Gender, labor and politics in urban Chile, 1990-1930 Duke
University Press, Durham
Hutchinson, Elizabeth, s/f Shifting Solidarities: The Politics of
Household Workers in Chile, 1967-1988 manuscrito no pub-
licado
Inman, Samuel Guy, Latin America: Its place in world life. Books
for Libraries Press, Freeport, New York. 1972, Revised edition.
Lpez, Vernica, Lilian Soto, Hugo Valiente (2005) Trabajo do-
mstico remunerado en Paraguay (Asuncin, OIT)
OIT, 1970 Revista Internacional del Trabajo (volumen 82, No.4,
octubre)
OIT, 2009 Trabajo Decente para los trabajadores domsticos In-
forme IV (1) (OIT, Ginebra)
OIT, 2010 Trabajo Decente para los trabajadores domsticos In-
forme IV (2) (OIT, Ginebra)
Ramrez-Machado, Jos Mara (2003) Domestic work, conditions
of work and employment: A legal perspectiva Geneva, ILO
Rodgers, Janine 2009 Cambios en el servicio domstico en Amri-
ca Latina en ME Valenzuela y C Mora (ed) Trabajo domstico:
un largo camino hacia el trabajo decente (Santiago, OIT)
Sanches, Solange (2009) El trabajo domstico en Brasil en ME
Valenzuela y C Mora (ed) Trabajo domstico: un largo camino
hacia el trabajo decente (Santiago, OIT)
Pereira, Milena y Hugo Valiente 2007 Regmenes Jurdicos sobre
Trabajo Domstico Remunerado en los Estados del MERCOSUR
(Asuncin, OXFAM/AFM)
Valenzuela, Mara Elena y Claudia Mora 2009 Esfuerzos concer-
tados para la revalorizacin del trabajo domstico remunerado
en ME Valenzuela y C Mora (ed) Trabajo domstico: un largo
camino hacia el trabajo decente (Santiago, OIT)
Vega, Maria-Luz (1994) La relacin laboral al servicio del hogar
familiar en Amrica Latina RELASUR No.3 Montevideo.
TRABALHO DOMSTICO REMUNERADO NA AMRICA LATINA / Maria Elena Valenzuela
63
Artigo
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE
GNERO: UMA ANLISE DO AVANO
SOCIAL DAS MULHERES NO BRASIL E
NAS UNIDADES DA FEDERAO
Cristiane Soares*
1. Introduo
A ideia de desenvolvimento econmico com justia
social teve sua primeira iniciativa na obra de Adam Smith
- A Teoria dos Sentimentos Morais -, publicada em 1759,
que traz elementos sobre o comportamento dos indiv-
duos. Nesta obra, Smith aponta para os problemas eco-
nmicos gerados pelas sociedades comerciais e ressalta
a necessidade de polticas que busquem no somente a
ecincia econmica, mas que desenvolvam um arcabou-
o tico e moral, que no pode ser alcanado automati-
camente pelo sistema de mercado. Entretanto, em 1776,
na sua obra mais conhecida - A Riqueza das Naes as
demandas morais foram abandonadas ou superadas com
a conduta liberal e a defesa que o autor faz do mercado
como mecanismo de equilbrio dos interesses individuais
e de funcionamento da ordem social
1
. Sendo assim, no
pensamento clssico, a riqueza das naes est associada
diviso do trabalho e ao processo de acumulao de
capital; logo, o aumento do bem-estar est relacionado
com o crescimento da renda e do produto.
Com a supremacia do pensamento neoclssico, onde
o preo dos bens passou a ser mensurado em termos de
utis e no em termos de trabalho, o marginalismo conso-
lidou a importncia da conduta individual sobre as aes
coletivas. Considerando os pressupostos neoclssicos, o
bem-estar social obtido pela maximizao de utilida-
des individuais. Esta abordagem no deixa margem para
anlises sobre a desigualdade entre indivduos. Neste
contexto, ca claro o motivo pelo qual o processo de de-
senvolvimento com justia social, durante muito tempo,
esteve afastado do core da teoria econmica. A noo de
justia social, moral e tica resgatada por autores como
Sen (1970) e Rawls (1971) que apresentam uma viso
crtica de desenvolvimento, mas sem se afastarem total-
mente dos pressupostos da corrente dominante. O proces-
so de maximizao do bem-estar da sociedade nesta nova
perspectiva admite aspectos redistributivos, permitindo o
acesso a um nvel mnimo de bem-estar aos grupos menos
favorecidos (Delgado & Salcedo, 2004). Neste sentido, o
conceito de desenvolvimento redesenhado no em ter-
mos de riqueza, mas ao levar em considerao as opor-
tunidades, liberdades e necessidades fundamentais dos
indivduos.
De acordo com Sen (1999), as liberdades dependem
de outros determinantes alm do crescimento do PIB
per capita, da industrializao, do avano tecnolgico,
embora sejam um meio para a expanso das liberdades
individuais. Por outro lado, ver o desenvolvimento como
expanso das liberdades signica voltar a ateno para
os ns que o tornam importante. Desta maneira, o de-
senvolvimento signica remover as principais fontes de
privao das liberdades, tais como pobreza, carncia de
oportunidades, carncia de servios pblicos, etc. Para
ele, a liberdade fundamental para o processo de desen-
volvimento por duas razes: i) a avaliao do progresso
tem de ser feita vericando se houve aumento das li-
berdades individuais e; ii) a relevncia dos componentes
constitutivos (educao, saneamento bsico, etc) para o
desenvolvimento no tem de ser estabelecida a posteriori,
com base na sua contribuio indireta para o crescimento
do PIB.
Segundo Anand & Sen (1994), uma distino bsica
necessita ser feita entre os meios e os ns do desenvol-
vimento. O desenvolvimento humano um recurso que
contribui para a gerao de renda, mas esta no consti-
tui uma medida direta do padro de vida. No entanto,
importante ter clareza na relao entre os meios e ns
nas teorias de capital humano ou desenvolvimento dos
recursos humanos, na qual esta revertida e o bem-estar
tratado como um meio para o crescimento econmico.
De acordo com a perspectiva de capabilities defendida
por Sen (1999), a abordagem de capital humano pode
abranger consequncias tanto diretas quanto indiretas.
* Cristiane Soares doutoranda em Economia pela Universidade de Braslia (UnB) e Tcnica da Coordenao de Populao e Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatstica (IBGE).
1
Cerqueira, H. Para ler Adam Smith: novas abordagens, 2003.
64
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
As primeiras no sentido de que os indivduos valorizam
aquilo que realmente (ou diretamente) afeta a sua vida,
como ter uma boa sade, saneamento, etc. As segundas,
geralmente mais utilizadas por tericos sobre capital hu-
mano, se referem aos valores ou aspectos que contribuem
para a produo de mercado; isto , os benefcios de uma
populao mais educada em relao a sua produtividade.
Assim, a noo de capabilities vai alm do conceito de ca-
pital humano, onde reconhecido o papel das qualidades
pessoais em sentido amplo na obteno e sustentao
do crescimento econmico, bem como na capacidade de
mudana social.
De acordo com o primeiro relatrio das Naes Uni-
das (ONU) sobre desenvolvimento humano (Human Deve-
lopment Report, 1990), o conceito de desenvolvimento
muito mais amplo do que o de simples aumento da renda
nacional per capita. A ONU apresenta uma denio de
desenvolvimento humano baseada no conceito de capabi-
lities desenvolvido por Sen. A noo de desenvolvimento
humano da ONU est relacionada com a criao de um
ambiente que possibilite as pessoas desenvolverem ple-
namente suas potencialidades de acordo com suas respec-
tivas necessidades e interesses. A construo de capabi-
lities signica ter acesso a recursos necessrios para uma
vida saudvel, decente e no excludente na sociedade em
que vivem.
Fukuda-Parr (2003) critica o conceito de desenvolvi-
mento humano da ONU por considerar que este deixa de
lado os aspectos de capital humano e das necessidades
bsicas. Neste sentido, a autora busca diferenciar as abor-
dagens de capital humano ou desenvolvimento de recur-
sos humanos e necessidades bsicas do conceito de de-
senvolvimento humano a partir da denio de meios e
ns do desenvolvimento. No caso dos meios e ns, ela
ressalta que o crescimento do produto per capita seria o
meio e no o m. Esta perspectiva diferente nas teorias
de capital humano ou desenvolvimento dos recursos hu-
manos que consideram os indivduos um meio para o cres-
cimento econmico. Note que a viso de desenvolvimento
humano preconiza que os investimentos em educao e
sade tm um valor intrnseco para a vida. Alm disso,
refora a ideia de que, no caso da abordagem do desen-
volvimento dos recursos humanos, a preocupao com a
educao e a sade busca melhorar a produtividade, cru-
cial para o crescimento econmico. J a abordagem das
necessidades bsicas se concentra no acesso aos servios
sociais para uma vida decente. Alm disso, Fukuda-Parr
(2003) menciona que a participao das pessoas intrn-
seca noo de desenvolvimento humano. Segundo ela,
o enfoque baseado nas necessidades bsicas faz com que
os seres humanos tenham uma participao passiva neste
processo; isto , como benecirios do progresso econ-
mico e social, enquanto o enfoque de desenvolvimento
dos recursos humanos considera as pessoas como agentes
de mudana.
A partir desta reexo, o presente estudo tem como
objetivo elaborar dois tipos de ndices: um deles est
relacionado s necessidades bsicas, sensvel questo
de gnero e de cor; o outro relaciona aspectos carac-
tersticos da desigualdade de gnero. Os resultados so
apresentados para o Brasil e suas Unidades da Federao
para os anos 2001, 2004 e 2008. O texto est organizado
em cinco sees, incluindo esta seo introdutria sobre
a noo de desenvolvimento com justia social. Na se-
gunda seo so discutidos aspectos metodolgicos re-
lacionados com a construo de ndices sintticos como
o IDH. Na terceira seo so apresentados os resultados
do ndice de desenvolvimento social (IDS-gen) proposto,
desagregado pelos recortes de sexo e cor. A questo da
desigualdade de gnero, particularmente no mercado de
trabalho e no mbito educacional, abordada na quarta
seo por meio dos resultados do ndice de desenvolvi-
mento de gnero (IDG), e na quinta seo so apresenta-
das as consideraes nais do estudo.
2. Aspectos metodolgicos na construo de ndices
de desenvolvimento social
Devido falta de uma denio objetiva e operacio-
nal do que seria desenvolvimento, isto , quais dimen-
ses devem ser incorporadas para que um povo, pas ou
regio seja considerado desenvolvido, muitas das vezes
um ndice de desenvolvimento social visto como uma
medida arbitrria ou subjetiva. A seleo das dimenses
do desenvolvimento geralmente obedece a uma escala de
complexidade. A verso mais simples, comumente ado-
tada, avalia o crescimento do PIB per capita; enquanto
outras, com abrangncia mais ampla, incorporam caracte-
rsticas dos domiclios e das pessoas, bem como aspectos
ambientais, econmicos, polticos e institucionais.
O ndice de Desenvolvimento Humano IDH, criado
pelas Naes Unidas no incio da dcada de 1990, surgiu
como resposta a uma insatisfao generalizada do uso
do PIB per capita como medida de bem-estar social. O
IDH composto por trs dimenses: renda, educao e
longevidade. Na dimenso renda, o indicador utilizado
a renda familiar per capita. Na dimenso educao, so
considerados dois indicadores: a taxa de analfabetismo
e a mdia de anos de estudo, com peso 2/9 e 1/9, res-
pectivamente. Por m, na dimenso longevidade, a ONU
adota o indicador de expectativa de vida ao nascer. Cada
dimenso, no entanto, apresenta peso igual a 1/3. Apesar
de ter incorporado mais duas dimenses, alm da renda, o
IDH tem sido alvo de vrias crticas. Fukuda-Parr (2003), 65
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
por exemplo, ressalta que a popularidade do IDH tem
contribudo para consolidar uma viso limitada de desen-
volvimento, que deixa de lado aspectos relacionados ao
capital humano e s necessidades bsicas.
No Relatrio de Desenvolvimento Humano da ONU
de 1995 foram introduzidas duas novas medidas que des-
tacam o status social das mulheres, o Gender-related
Development Index (GDI) e o Gender Empowerment
Measure (GEM). O primeiro ndice leva em considerao
as mesmas dimenses do IDH, mas com o objetivo de
mensurar as diferenas no desenvolvimento entre ho-
mens e mulheres. O segundo, por sua vez, busca captar o
avano das mulheres em termos de participao poltica
e econmica. Dessa maneira, tem-se que o GDI e o GEM
no so necessariamente medidas especcas de desigual-
dade de gnero. O GEM concentra-se em duas esferas das
quais as mulheres frequentemente tendem a ser excludas,
por meio de trs variveis: renda, participao em cargos
prossionais e gerenciais, e participao poltica. O GDI,
considerando as mesmas dimenses do IDH e indicadores
desagregados por sexo, obtido atravs do clculo do
percentual do valor do ndice feminino em cada dimenso
em relao ao valor obtido para os homens, gerando assim
uma mdia simples entre essas razes.
Dada a limitao do GDI em medir a desigualdade
de gnero, Dijkstra & Hanmer (2000) propem um ndice
alternativo, o Relative Status of Women (RSW). A di-
ferena entre o RSW e o GDI basicamente o mtodo de
clculo, considerando que as autoras utilizam as mesmas
dimenses e indicadores do IDH. Segundo Dijkstra & Han-
mer (2000), a relevncia terica e prtica de uma medida
de desigualdade socioeconmica de gnero seria denida
de maneira que possa identicar a extenso da desigual-
dade de gnero, as causas e um instrumento de monito-
ramento dos impactos das polticas ao longo do tempo.
O resultado que o RSW tambm uma medida limitada,
ainda que altere o ranking, pois os indicadores do IDH
podem at ser apropriados para medir desenvolvimento
humano, mas no necessariamente para medir igualda-
de de gnero. Neste sentido, as autoras desenvolvem um
arcabouo conceitual alternativo, por meio da separao
das variveis entre dependentes (renda, uso do tempo e
sade) e independentes (acesso a ativos e servios), de
forma a identicar as dimenses e indicadores que seriam
mais apropriados para mensurar a desigualdade de gnero.
Alm dos conhecidos GDI e GEM, o Frum Econmico
Mundial, desde 2006, tem divulgado o Global Gender Gap
Index (GGI). O GGI mensura a desigualdade de gnero em
quatro dimenses: participao econmica (taxa de par-
ticipao no mercado de trabalho, razo de rendimento,
medida de igualdade de salrio para trabalhos similares
e razo entre mulheres e homens em dois grupos ocupa-
cionais: gerencial e tcnico-prossional), educao (taxa
de alfabetismo e frequncia nos trs nveis de ensino),
sade (expectativa de vida e razo de sexo ao nascer)
e empoderamento poltico (razo em relao partici-
pao entre mulheres e homens nas esferas ministerial e
parlamentar, e nmero de anos com mulher como chefe
de estado ou de governo). Nestas dimenses, so calcu-
lados 14 indicadores e transformados em razes entre
mulheres e homens, a partir das quais ocorre o processo
de atribuio de pesos dentro de cada dimenso de acor-
do com a maior varincia ou desvio padro (Hausmann et
al, 2009). A normalizao dos subndices ocorre a partir
da equalizao dos desvios padres das variveis. Assim
como o GDI, o GGI assume valores entre 0 (desigualdade)
e 1 (igualdade).
A construo desses ndices tem um aspecto particu-
lar que a sua comparabilidade entre pases. Neste senti-
do, a escolha dos indicadores, da metodologia, dos pesos
e parmetros no necessariamente obedece ou atende
realidade de grande parte dos pases. Acerca das inmeras
crticas, vale algumas observaes:
A. Unidade de medida:
Uma crtica que feita ao IDH que este conjuga em
um mesmo valor aspectos to dspares como esperana de
vida, dado por um nmero, com outro indicador como a
taxa de analfabetismo, que um percentual. Neste senti-
do, seria importante adotar uxos iguais nas medidas dos
indicadores.
B. Valores mximos e mnimos:
Um aspecto que deve ser observado se o indicador
corresponde a uma caracterstica positiva ou negativa,
pois na normalizao do ndice entre zero e 1, o melhor
valor no corresponde ao mximo e sim ao mnimo, no
caso de um indicador negativo. O IDH escolhe os limites
de 0 e 100% na normalizao dos indicadores expressos
em percentual, mas a escolha dos limites pode estar re-
lacionada s metas. Como o objetivo do IDH a compa-
rao entre vrios pases ao longo dos anos, ento esses
limites devem abranger todas as possibilidades. Mas se o
objetivo fosse, por exemplo, estabelecer um parmetro
de que a taxa de analfabetismo no seja superior a 25%,
com certeza o ndice seria alterado. Soares (2009) mos-
tra que, dentre os aspectos envolvidos na metodologia de
construo de ndices, a escolha dos limites o que mais
interfere no valor do ndice.
C. Escolha do nmero das dimenses e de indica-
dores:
A incorporao de um maior nmero de indicadores
ou dimenses no necessariamente produz um ndice mais 66
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
adequado ou melhor. Entre os ndices sintticos produzi-
dos no pas, o ndice Social Municipal Ampliado (ISMA)
elaborado pela Fundao Econmica e Estatstica do Rio
Grande do Sul (FEE RS) e o ndice de Qualidade de Vida
Urbana (IQVU) produzido pela Pontifcia Universidade Ca-
tlica de Mina Gerais (PUC Minas) e pela Prefeitura de BH,
por exemplo, apresentam metodologias semelhantes a do
IDH, mas diferem no nmero de dimenses e indicadores.
O ISMA possui quatro dimenses (Condies do domiclio
e saneamento, Educao, Sade e Renda) que inclui o
clculo de 14 indicadores. O IQVU, por sua vez, um
dos mais amplos com onze dimenses e 39 indicadores. O
aspecto mais importante na escolha das dimenses e in-
dicadores a denio de desenvolvimento adotada. No
importa que ela seja mais simples ou voltada para a dis-
ponibilidade de informaes estatsticas ou a mais ampla,
incorporando todas as dimenses possveis associadas
ideia de liberdades ou necessidades bsicas. Segundo
Montenegro (2004), a construo de uma denio de
desenvolvimento econmico no somente um exerccio
intelectual, mas tem importncia prtica, pois, se aceita,
torna-se um guia para aes governamentais. Portanto,
uma poltica pblica pode ser diferente dependendo da
denio adotada de desenvolvimento econmico.
D. A atribuio de pesos
A maioria dos estudos que discute metodologias de
construo de ndices se concentra na denio dos in-
dicadores ou nos pesos atribudos
2
. A denio dos in-
dicadores no to problemtica se embasada em uma
denio de desenvolvimento ou na disponibilidade de
estatsticas, ainda que ela seja o aspecto principal na
construo do ndice. O processo de ponderao, por
sua vez, geralmente ocorre quando se est construindo
os subndices em cada dimenso; mas, quando se calcula
o ndice de desenvolvimento, os pesos so iguais, como
ocorre com o IDH. A grande diculdade de se atribuir
pesos entre as dimenses est relacionada com a falta de
pesquisa que aponte para as prioridades da populao em
termos de necessidades ou o grau de importncia de cada
dimenso na estrutura social. O estudo de Hagerty e Land
(2004) destaca a importncia de uma estrutura de ponde-
rao heterognea na construo de ndices de bem-estar
social. Segundos eles, quando as correlaes entre os in-
dicadores sociais so todas positivas, uma variao nos
pesos pode ser considerada indiferente. Por outro lado,
quando algumas correlaes entre indicadores sociais so
negativas, torna-se necessrio ponderar os componentes
dos ndices apropriadamente
3
, distinguindo, inclusive,
sobre ponderao em anlises cross-section e time-series.
Ressaltam ainda que nem todos os indicadores sociais so
apropriados para a construo de ndices de qualidade de
vida, pois existem casos de complementaridade e subs-
tituibilidade entre eles, o que exige a formulao de um
modelo de interao entre os indicadores a partir de um
conjunto hipottico de preferncias.
Neste estudo, a escolha das dimenses do ndice de
Desenvolvimento Social (IDS-gen) obedece a um critrio
de necessidades bsicas ou mnimas, isto , viver em con-
dies adequadas de saneamento, ter acesso a um nvel
de renda acima do mnimo estabelecido legalmente (sal-
rio mnimo), no ter uma populao analfabeta funcional,
ter acesso a um trabalho e que este seja decente. Portan-
to, as dimenses e os indicadores escolhidos so:
Saneamento: Proporo de pessoas em domic-
lios com alguma das condies de saneamento inadequa-
das
4
;
- Renda: Proporo de pessoas sem rendimen-
to ou com rendimento de todas as fontes in-
ferior a um salrio mnimo;
- Educao: Proporo de pessoas sem instru-
o e com menos de 4 anos de estudo; e
- Trabalho: Proporo de pessoas desocupadas
ou com trabalho precrio
5
.
Para o ndice de Desenvolvimento de Gnero (IDG),
as dimenses adotadas esto relacionadas s caracters-
ticas de trabalho, tomada de deciso, rendimento e edu-
cao. Neste caso, foram considerados alguns aspectos
especcos que caracterizam a desigualdade de gnero:
Trabalho: Taxa de atividade no mercado de tra-
balho;
- Tomada de deciso: Proporo de pessoas
em cargos de chea e direo;
- Rendimento: Proporo de pessoas com ren-
dimento de todos os trabalhos de 5 SM ou
mais; e
- Educao: Proporo de pessoas com 15
anos ou mais de estudo.
importante destacar que nesta proposta de ndi-
ce no foram atribudos pesos, considerando-se que h
2
A ttulo de exemplo, ver Anand & Sen (1994) e Soares (2009) acerca de outras referncias sobre o assunto.
3
Uma maior aceitao em relao aos ndices sintticos seria alcanada se considerados os pesos mdios a partir de pesquisas que investigassem o conjunto de preferncias dos
indivduos. Mas, na ausncia de pesquisas deste tipo, a ponderao igual destes indicadores seria um estimador que se minimizaria entre indivduos diametralmente opostos.
4
A condio de adequabilidade dos domiclios dada pela existncia em conjunto das seguintes caractersticas: abastecimento de gua por rede geral, esgotamento sanitrio
ligado rede geral e coleta de lixo.
5
A definio de trabalho precrio dada pelo nmero de pessoas na situao de empregado sem rendimento ou empregado sub-remunerado (remunerao inferior a 1 salrio
mnimo) ou subocupadas (jornada inferior a 30 horas). 67
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
apenas um indicador para cada dimenso. Alm disso, na
prpria conceituao do IDS-gen, voltado para as neces-
sidades bsicas, no seria apropriado denir um grau de
importncia maior para determinada dimenso, dado que
elas, em seu conjunto, correspondem s caractersticas
mnimas.
2.1. Fonte de dados e Metodologia de clculo dos
indicadores e dos ndices IDS-gen e IDG
A concepo do IDS-gen e do IDG baseia-se nos
ndices da ONU, porm com metodologia e indicadores
diferentes, considerando a realidade brasileira e a dispo-
nibilidade de estatsticas. Assim como o GDI e o GEM, o
IDS-gen e o IDG no constituem medidas de paridade de
gnero, dado que seus indicadores no foram constru-
dos por meio de razes entre os sexos. O IDS-gen, como
mencionado anteriormente, mede o desenvolvimento en-
tre homens e mulheres por meio do acesso s condies
mnimas ou necessidades bsicas. O IDG, por sua vez, est
preocupado com o avano das mulheres em aspectos dos
quais elas so excludas, como a participao no mercado
de trabalho, a tomada de decises e o acesso a uma renda
e escolaridade elevada.
A fonte de dados utilizada para o clculo dos in-
dicadores que compem o IDS-gen e IDG foi a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) para os anos
2001, 2004 e 2008 para o Brasil e Unidades da Federao.
Em termos de comparao dos resultados, vale ressaltar
que, a partir de 2004, a PNAD passou a captar informa-
es sobre a populao rural da regio Norte. De acordo
com a denio dos indicadores na seo anterior, pos-
svel observar que todos os indicadores correspondem ao
uxo de pessoas em domiclios particulares permanentes
expressos em percentual. A metodologia de clculo dos
indicadores e ndices est expressa abaixo:
I. IDS-gen:
Indicador de Saneamento =
Pessoas com pelo menos uma condio inadequada de saneamento
100
Total de pessoas
Indicador de Renda =
Pessoas sem rendimento ou com rendimento de todas as fontes inferior a 1 SM
100
Total de pessoas de 10 anos ou mais de idade
Indicador de Educao =
Pessoas de 15 anos ou mais com menos de 4 anos de estudo
100
Total de pessoas de 15 anos ou mais de idade
Indicador de Trabalho =
Pessoas desocupadas ou com condies precrias de trabalho
100
Total de pessoas de 10 anos ou mais de idade
Para o processo de normalizao dos quatro subndices entre zero e 1 foram adotados os limites de 0 e 100%, obe-
decendo a seguinte frmula:
Subndice =
Valor observado Pior valor (100%)
Melhor valor (0%) Pior valor (100%)
O valor nal do ndice foi obtido atravs do clculo da mdia simples entre os quatro subndices.
IDSgen =
Sub ndice (i)
i
4
Onde i = 1, 2, 3 e 4 (ou saneamento, renda, educao e trabalho).
II. IDG:
No caso do IDG, alm do ltro de domiclio particular permanente, as informaes foram obtidas apenas para as
pessoas com 20 anos ou mais de idade.
Indicador de Participao Econmica =
Populao economicamente ativa 100
Populao em idade ativa 68
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
Indicador de Tomada de Deciso =
Pessoas c/ cargo de chea ou direo 100
Populao ocupada
Indicador de Renda =
Pessoas com rendimento de todos os trabalhos de 5 SM ou mais
100
Populao ocupada
Indicador de Escolaridade =
Pessoas com 15 anos ou mais de estudo
100
Total de pessoas de 20 anos ou mais de idade
Para o processo de normalizao dos subndices entre zero e 1 foram adotados os limites de 0 e 100%, obedecendo
a seguinte frmula:
Subndice 1 =
Valor observado Pior valor (0%)
Melhor valor (100%) Pior valor (0%)
Subndice 2 =
Valor observado Pior valor (0%)
Melhor valor (15%) Pior valor (0%)
Subndice 3 =
Valor observado Pior valor (0%)
Melhor valor (30%) Pior valor (0%)
Subndice 4 =
Valor observado Pior valor (0%)
Melhor valor (25%) Pior valor (0%)
O valor nal do ndice foi obtido atravs do clculo da mdia simples entre os quatro subndices.
IDG =
Sub ndice (i)
i
4
Onde i = 1, 2, 3 e 4 (ou participao econmica,
tomada de deciso, renda e escolaridade).
No clculo dos subndices do IDG foram adotados
limites superiores diferenciados e inferiores a 100%, por-
que se considera pouco provvel (ou uma meta no muito
realista) ter toda populao ocupada em cargos de chea,
todos trabalhadores com um rendimento acima de 5 SM e
todas as pessoas de 20 anos ou mais com nvel superior.
Sendo assim, no caso do subndice 2, foi considerado o
parmetro de 15% para a populao em cargos de chea.
Para o subndice 3, visando a captar o acesso a um ren-
dimento mais elevado por parte da populao ocupada,
adotou-se o parmetro de 30%. Por m, no caso da po-
pulao adulta com nvel superior, o valor mximo de
25%. O valor nal do ndice foi obtido atravs do clculo
da mdia simples entre os quatro subndices. Esses pa-
rmetros, de certa forma, ainda podem ser considerados
valores superestimados. A escolha desses valores, no en-
tanto, foi inuenciada, de um lado, pelos resultados apre-
sentado pelo Distrito Federal, muito acima dos demais es-
tados e, por outro, tendo como referncia os percentuais
observados nos EUA, tido como pas desenvolvido, para
esses indicadores.
3. Anlise dos resultados do IDS-gen
No Brasil, os indicadores sociais da dcada de 2000,
comparados com os da dcada anterior, apresentam um
grande avano. No entanto, a melhora nas condies de
vida da populao no tem beneciado de forma igual
todos os grupos populacionais. Os dados mais recentes
da PNAD ainda revelam um pas desigual, principalmente
nas dimenses regionais, de gnero e de cor. O ndice
proposto - IDS-gen - busca captar o acesso desigual entre
homens e mulheres aos nveis mais elevados de desen-
volvimento, considerando o nmero de pessoas excludas
das necessidades bsicas. De acordo com os resultados
do IDS-gen para o ano de 2008, observa-se que a po-
pulao masculina possui um ndice de desenvolvimento
social mais elevado do que a populao feminina (0,698
e 0,656, respectivamente). Se fossem denidas diferen-
tes escalas de desenvolvimento de acordo com o quadro
abaixo, poderamos armar que os homens e as mulheres 69
possuem um nvel mdio baixo de desenvolvimento, ain-
da que os homens estejam mais prximos da categoria
mdio alto (Tabelas 1). Do ponto de vista regional, em
cinco estados brasileiros (Rondnia, Par, Maranho, Ala-
goas e Piau), as mulheres apresentam um baixo nvel de
desenvolvimento. Por outro lado, somente as mulheres do
Distrito Federal apresentam um alto nvel de desenvolvi-
mento. So Paulo e Rio de Janeiro esto logo em seguida
como as trs Unidades da Federao com os ndices mais
elevados.
Quadro 1
Escala Valores
Muito alto 0,900 - 1
Alto 0,800 0,899
Mdio alto 0,700 0,799
Mdio baixo 0,500 0,699
Baixo 0,499 - 0
Como mencionado anteriormente, o IDG-gen no
uma medida de desigualdade de gnero. No entanto,
se considerada a diferena nos valores dos ndices entre
homens e mulheres, tem-se que o Esprito Santo o es-
tado onde essa diferena a maior. Entretanto, em seis
estados, todos do Nordeste, as mulheres apresentam um
nvel de desenvolvimento mais elevado do que os homens
(Paraba, Cear, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranho
e Piau).
Se comparados os perodos de 2004 e 2008, observa-
se que foram nos estados do Tocantins e do Acre que as
mulheres tiveram maior avano, pois o ndice de desen-
volvimento passou de baixo para mdio baixo. Nesta pers-
pectiva regional, em 2001, as mulheres nos estados do
Maranho e do Piau tinham um ndice de desenvolvimen-
to social de 0,390 e 0,391, respectivamente. Em 2008,
esses estados ainda conjugavam os menores ndices, mas
no Maranho o avano foi um pouco mais expressivo, in-
vertendo de posio com o Piau.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
70
Tabela 1
ndice de desenvolvimento social por sexo - Unidades da Federao - 2001, 2004 e 2008
Unidades da Federao
2001 2004 2008
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Brasil 0,650 0,603 0,664 0,617 0,698 0,656
Rondnia 0,558 0,482 0,549 0,460 0,546 0,495
Acre 0,556 0,510 0,483 0,457 0,563 0,534
Amazonas 0,565 0,513 0,545 0,500 0,591 0,561
Roraima 0,553 0,526 0,516 0,514 0,601 0,579
Par 0,551 0,488 0,502 0,452 0,536 0,485
Amap 0,601 0,527 0,538 0,491 0,602 0,540
Tocantins 0,456 0,430 0,489 0,442 0,536 0,521
Maranho 0,387 0,390 0,411 0,413 0,462 0,464
Piau 0,354 0,391 0,352 0,389 0,400 0,418
Cear 0,452 0,454 0,475 0,483 0,522 0,528
Rio Grande do Norte 0,480 0,486 0,485 0,505 0,515 0,520
Paraba 0,458 0,490 0,478 0,499 0,537 0,559
Pernambuco 0,503 0,494 0,527 0,517 0,576 0,573
Alagoas 0,396 0,404 0,414 0,417 0,478 0,482
Sergipe 0,551 0,540 0,595 0,575 0,612 0,591
Bahia 0,497 0,483 0,523 0,506 0,570 0,560
Minas Gerais 0,704 0,645 0,731 0,668 0,769 0,710
Esprito Santo 0,668 0,602 0,713 0,649 0,732 0,658
Rio de Janeiro 0,783 0,717 0,793 0,729 0,814 0,752
So Paulo 0,813 0,744 0,827 0,756 0,862 0,795
Paran 0,666 0,596 0,694 0,624 0,742 0,676
Santa Catarina 0,707 0,625 0,722 0,643 0,748 0,682
Rio Grande do Sul 0,692 0,624 0,720 0,652 0,729 0,672
Mato Grosso do Sul 0,578 0,492 0,591 0,507 0,634 0,553
Mato Grosso 0,580 0,501 0,602 0,514 0,630 0,569
Gois 0,617 0,554 0,641 0,570 0,672 0,604
Distrito Federal 0,799 0,750 0,802 0,763 0,844 0,800
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001, 2004 e 2008.
Alm da questo regional, outro aspecto em que a
desigualdade entre homens e mulheres se manifesta de
forma ainda mais contundente a desigualdade de cor.
As mulheres de cor preta ou parda so as mais excludas
do desenvolvimento social. Em 2008, o ndice delas era
de 0,598 contra 0,712 para as mulheres brancas. Somente
no Distrito Federal, em So Paulo e no Rio de Janeiro as
mulheres negras apresentavam um ndice mdio alto, en-
quanto que no Piau o ndice observado era o mais baixo,
0,401 (Tabela 2). De acordo com o grco 1, possvel
vericar que, nas quatro dimenses do IDS-gen, as mulhe-
res negras tm uma situao ligeiramente melhor do que
a dos homens negros somente em relao s condies de
saneamento e de escolaridade. Contudo, na dimenso de
renda que as disparidades entre os grupos populacionais
so maiores.
As caractersticas de renda e saneamento so as
principais fontes de excluso em relao s condies m-
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
71
nimas de desenvolvimento da populao. Em 2008, quase
60% das mulheres pretas ou pardas de 10 anos ou mais de
idade no tinham rendimento ou este era inferior a 1 sa-
lrio mnimo, e 53,1% delas tinham pelo menos uma con-
dio de saneamento inadequada, pois no tinham acesso
aos servios (Tabelas 3, 4 e 5). Contudo, nos trs perodos
analisados, de acordo com o avano de cada indicador,
vericou-se que, exceo do indicador de rendimento,
em que as mulheres de cor branca tiveram uma perfor-
mance um pouco melhor, em todos os demais indicadores,
especialmente o de educao, as mulheres negras tiveram
uma melhora mais signicativa. Ao se analisar os gr-
cos 3 e 4, que comparam os ndices e no os valores dos
indicadores, observa-se que as mulheres negras tiveram
um avano em todos os subndices. Os resultados para as
mulheres brancas, no entanto, foram bem mais modestos.
De acordo com os resultados do IDS-gen, podemos
armar que o pas vem mantendo uma trajetria ascen-
dente de desenvolvimento social. No entanto, a com-
parao dos resultados para as Unidades da Federao,
desagregados por sexo e cor, permitem concluir que, no
caso brasileiro, polticas sociais universais no tm sido
capazes de superar um quadro de desigualdade histrica.
Para as mulheres, particularmente as negras, e em vrios
estados, o acesso s necessidades bsicas ou condies
mnimas de desenvolvimento ainda baixo.
Tabela 2
Ranking das Unidades da Federao com maior ndice de desenvolvimento social por cor e sexo - 2008
Unidades da
Federao
Homens Mulheres
Unidades da
Federao
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Unidades da
Federao
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 0,698 0,656 Brasil 0,763 0,712 Brasil 0,638 0,598
Distrito Federal 0,844 0,800 Distrito Federal 0,858 0,820 Distrito Federal 0,835 0,785
So Paulo 0,862 0,795 So Paulo 0,878 0,812 So 0,833 0,758
Rio de Janeiro 0,814 0,752 Rio de Janeiro 0,834 0,775 Rio de Janeiro 0,792 0,723
Minas Gerais 0,769 0,710 Minas Gerais 0,803 0,747 Minas Gerais 0,741 0,676
Santa Catarina 0,748 0,682 Paran 0,759 0,696 Rio Grande do Sul 0,706 0,641
Paran 0,742 0,676 Santa Catarina 0,753 0,689 Esprito Santo 0,708 0,641
Rio Grande do Sul 0,729 0,672 Esprito Santo 0,762 0,680 Santa Catarina 0,709 0,635
Esprito Santo 0,732 0,658 Rio Grande do Sul 0,734 0,679 Paran 0,700 0,618
Gois 0,672 0,604 Gois 0,719 0,643 Sergipe 0,606 0,580
Sergipe 0,612 0,591 Roraima 0,636 0,624 Gois 0,641 0,575
Roraima 0,601 0,579 Pernambuco 0,613 0,617 Roraima 0,595 0,571
Pernambuco 0,576 0,573 Paraba 0,595 0,617 Bahia 0,565 0,553
Mato Grosso 0,630 0,569 Sergipe 0,625 0,615 Amazonas 0,575 0,549
Amazonas 0,591 0,561 Mato Grosso 0,678 0,607 Mato Grosso 0,605 0,545
Bahia 0,570 0,560 Amazonas 0,645 0,601 Pernambuco 0,555 0,545
Paraba 0,537 0,559 Bahia 0,589 0,585 Amap 0,590 0,539
Mato Grosso do Sul 0,634 0,553 Tocantins 0,599 0,582 Mato Grosso do Sul 0,604 0,523
Amap 0,602 0,540 Acre 0,642 0,582 Paraba 0,507 0,521
Acre 0,563 0,534 Mato Grosso do Sul 0,667 0,581 Acre 0,543 0,517
Cear 0,522 0,528 Cear 0,557 0,570 Cear 0,506 0,506
Tocantins 0,536 0,521 Alagoas 0,529 0,547 Rio Grande do Norte 0,496 0,505
Rio Grande do Norte 0,515 0,520 Rio Grande do Norte 0,550 0,546 Tocantins 0,517 0,502
Rondnia 0,546 0,495 Amap 0,667 0,544 Rondnia 0,533 0,481
Par 0,536 0,485 Par 0,584 0,525 Par 0,525 0,473
Alagoas 0,478 0,482 Rondnia 0,570 0,515 Maranho 0,449 0,454
Maranho 0,462 0,464 Maranho 0,505 0,495 Alagoas 0,457 0,451
Piau 0,400 0,418 Piau 0,441 0,472 Piau 0,388 0,401
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
72
Tabela 3
Evoluo dos indicadores que compem o IDS por sexo - Brasil - 2001, 2004 e 2008
Indicadores
2001 2004 2008
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Proporo de pessoas em domiclios
particulares permanentes que vivem em
condies inadequadas de saneamento
51,0 48,8 49,5 47,0 46,4 44,0
Proporo de pessoas de 10 anos ou
mais de idade sem rendimento ou com
rendimento de todas as fontes inferior a
um salrio mnimo
38,0 58,0 37,9 56,2 35,7 53,2
Proporo de pessoas de 15 anos ou
mais com menos de 4 anos de estudo
(inclusive analfabetos)
27,9 26,7 24,8 23,7 21,5 20,5
Proporo de pessoas de 10 anos ou mais
de idade desocupadas ou em condies
precrias de trabalho
23,0 25,1 22,4 26,3 17,2 20,0
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001, 2004 e 2008.
Grco 1
Grco 2
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
73
Tabela 4
Evoluo dos indicadores que compem o IDS por sexo e cor - Brasil - 2001, 2004 e 2008
Indicadores
2001 2004 2008
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Proporo de pessoas em domiclios
particulares permanentes que vivem em
condies inadequadas de saneamento
40,1 38,5 38,4 36,6 37,0 35,1
Proporo de pessoas de 10 anos ou
mais de idade sem rendimento ou com
rendimento de todas as fontes inferior a
um salrio mnimo
31,6 52,7 31,1 50,4 29,1 47,0
Proporo de pessoas de 15 anos ou
mais com menos de 4 anos de estudo
(inclusive analfabetos)
20,0 20,4 17,9 18,3 15,6 15,9
Proporo de pessoas de 10 anos ou mais
de idade desocupadas ou em condies
precrias de trabalho
18,0 22,1 17,3 22,8 13,2 17,3
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001, 2004 e 2008.
Grco 3
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
74
Tabela 5
Evoluo dos indicadores que compem o IDS por sexo e cor - Brasil - 2001, 2004 e 2008
Indicadores
2001 2004 2008
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Proporo de pessoas em domiclios
particulares permanentes que vivem em
condies inadequadas de saneamento
63,4 61,5 61,0 58,9 55,2 53,1
Proporo de pessoas de 10 anos ou
mais de idade sem rendimento ou com
rendimento de todas as fontes inferior a
um salrio mnimo
45,4 64,8 45,2 63,0 41,7 59,5
Proporo de pessoas de 15 anos ou
mais com menos de 4 anos de estudo
(inclusive analfabetos)
37,3 35,0 32,4 30,2 27,1 25,3
Proporo de pessoas de 10 anos ou mais
de idade desocupadas ou em condies
precrias de trabalho
28,9 28,9 27,7 30,4 20,9 22,8
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001, 2004 e 2008.
Grco 4
4. Anlise dos resultados do IDG
A construo do ndice IDG tem uma caracterstica
um pouco diferente do IDS-gen. Embora ambos estejam
preocupados com o desenvolvimento social das pessoas,
o IDS-gen focaliza quatro dimenses (indicadores) consi-
deradas bsicas ou mnimas, enquanto o IDG destaca os
principais aspectos da desigualdade de gnero, que a
participao no mercado de trabalho, a tomada de deci-
ses e o acesso renda e educao, principalmente nos
nveis mais elevados. Mas antes de apresentar os resulta-
dos do IDG importante observar os valores e a evolu-
o de cada indicador que compe o ndice. Um primeiro
aspecto o elevado gap entre os homens e mulheres nos
indicadores que compem este ndice, exceto no indica-
dor de escolaridade, onde a proporo de mulheres com
nvel superior maior. Outro aspecto que chama ateno
que dos quatro indicadores analisados, h uma piora
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
75
para as mulheres na dimenso renda. No entanto, isto
no necessariamente signica um aumento da desigual-
dade de renda porque a proporo de homens com esse
nvel de rendimento reduziu-se ainda mais. Por m, cabe
chamar ateno para o fato de os resultados do Distrito
Federal carem bem acima da mdia, principalmente nas
dimenses de renda e escolaridade.
Os valores do IDG comparados aos do IDS-gen so
menores. Isto ocorre porque nas questes relacionadas
equidade de gnero no Brasil o desao ainda grande e a
desigualdade tambm. Na populao adulta com 20 anos
ou mais de idade, a participao dos homens no mercado
de trabalho superior a das mulheres em cerca de 25
pontos percentuais. Na dimenso renda, a proporo de
homens quase o dobro. A varincia nos indicadores de
chea e educao superior entre as Unidades da Federa-
o consideravelmente elevada. Em 2008, a proporo
de mulheres em cargos de chea e direo de 2,6% nos
estados do Piau e Sergipe, enquanto que no Distrito Fe-
deral esse percentual de 7,2%. A proporo de mulheres
com ensino superior tem seu menor percentual na Bahia
e no Maranho (4,6%) e mais uma vez o Distrito Federal
se destaca com a maior proporo de mulheres com este
nvel de ensino (17,9%).
Os resultados do IDG indicam um tmido avano para
as mulheres entre 2001 e 2008. Em todos os estados o
ndice de desenvolvimento de gnero baixo; a nica
exceo o Distrito Federal, cujo ndice de 0,681 (nvel
mdio baixo). Entre 2004 e 2008, foram nos estados de
Roraima e Tocantins que o aumento do ndice para as
mulheres foi maior, enquanto que em Rondnia, Sergi-
pe, Esprito Santo e Distrito Federal houve uma pequena
reduo do IDG (Tabela 6). De acordo com a Tabela 7,
em 2008, os estados com os menores IDG eram Bahia e
Maranho (0,286 e 0,265, respectivamente). No extremo
oposto esto o Distrito Federal (0,547), Rio de Janeiro
(0,463) e So Paulo (0,459). O ordenamento dos estados
e os valores dos ndices so bem diferentes para a popu-
lao branca e para a negra. O valor do IDG das mulheres
brancas quase o dobro do ndice das mulheres negras.
As negras no estado de Alagoas tm o ndice mais baixo,
mas entre as brancas esta posio ocupada pelo estado
do Maranho. exceo do DF que, como visto, um
caso parte, os estados onde as mulheres negras tm o
maior IDG no so os mais ricos e desenvolvidos. Os dois
maiores IDG subsequentes ao do DF so da regio Norte,
Tocantins e Amap. No caso das mulheres brancas, as 2
a
e
3
a
posies so dos estados de Roraima e Rio de Janeiro.
De acordo com o Grco 5, os homens brancos desta-
cadamente tm os melhores ndices, as mulheres somen-
te os ultrapassam no indicador de educao superior. Foi
nesta dimenso, inclusive, que as mulheres mais avana-
ram, principalmente as de cor branca (Grcos 6 e 7). Na
populao feminina de cor branca observou-se tambm
uma ligeira reduo do subndice de renda; entre as mu-
lheres negras, por sua vez, foi na dimenso de tomada de
deciso em que o subndice registrou uma queda (Grco
8).
Nos pases mais desenvolvidos a desigualdade de g-
nero tambm prevalece, mas o acesso a ativos, servios,
entre outros aspectos consideravelmente mais elevado
comparado aos pases em desenvolvimento, como o Bra-
sil. Nos EUA, por exemplo, em 2002, a populao femi-
nina com nvel superior era de 25%. No Brasil, em 2008,
o percentual no chega nem a metade deste. O mesmo
ocorre para o indicador de ocupao de cargos gerenciais
e executivos, cujo percentual chega a 15% nos EUA, en-
quanto que no Brasil somente 4,7% delas alcanam esta
posio (Tabela 8). Para as mulheres negras o acesso a
cargos de chea ainda mais restrito, 2,6%. As mulhe-
res negras somente ultrapassam as brancas em um nico
aspecto que a participao no mercado de trabalho.
Uma forte explicao para este resultado so as prprias
condies socioeconmicas dessas mulheres, fazendo com
que a entrada no mercado de trabalho seja uma necessi-
dade e no uma opo (Tabelas 9 e 10).
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
76
Tabela 6
ndice de desenvolvimento de gnero - Unidades da Federao - 2001, 2004 e 2008
Unidades da Federao
2001 2004 2008
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Brasil 0,546 0,365 0,503 0,363 0,506 0,389
Rondnia 0,545 0,347 0,464 0,310 0,425 0,292
Acre 0,595 0,387 0,443 0,352 0,493 0,386
Amazonas 0,559 0,343 0,396 0,282 0,409 0,305
Roraima 0,535 0,414 0,393 0,287 0,425 0,421
Par 0,500 0,312 0,423 0,281 0,413 0,303
Amap 0,588 0,257 0,371 0,302 0,456 0,367
Tocantins 0,436 0,326 0,404 0,321 0,445 0,415
Maranho 0,401 0,216 0,346 0,254 0,352 0,265
Piau 0,361 0,246 0,331 0,276 0,377 0,311
Cear 0,435 0,265 0,354 0,298 0,376 0,301
Rio Grande do Norte 0,507 0,290 0,375 0,277 0,404 0,316
Paraba 0,398 0,301 0,381 0,296 0,396 0,335
Pernambuco 0,452 0,321 0,389 0,294 0,391 0,305
Alagoas 0,377 0,264 0,320 0,227 0,351 0,295
Sergipe 0,458 0,287 0,402 0,303 0,404 0,300
Bahia 0,416 0,279 0,359 0,260 0,376 0,286
Minas Gerais 0,495 0,331 0,473 0,346 0,479 0,361
Esprito Santo 0,537 0,340 0,514 0,381 0,502 0,369
Rio de Janeiro 0,618 0,430 0,568 0,416 0,584 0,463
So Paulo 0,669 0,459 0,623 0,426 0,606 0,459
Paran 0,557 0,363 0,571 0,396 0,576 0,432
Santa Catarina 0,579 0,337 0,583 0,419 0,624 0,447
Rio Grande do Sul 0,562 0,379 0,548 0,398 0,529 0,405
Mato Grosso do Sul 0,574 0,354 0,516 0,379 0,526 0,399
Mato Grosso 0,511 0,341 0,538 0,359 0,537 0,412
Gois 0,507 0,333 0,488 0,332 0,505 0,379
Distrito Federal 0,725 0,642 0,789 0,685 0,803 0,681
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001, 2004 e 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
77
Tabela 7
Ranking das Unidades da Federao com maior ndice de desenvolvimento de gnero por cor e sexo - 2008
Unidades da
Federao
Homens Mulheres
Unidades da
Federao
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Unidades da
Federao
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 0,506 0,389 Brasil 0,645 0,488 Brasil 0,366 0,277
Distrito Federal 0,803 0,681 Distrito Federal 0,940 0,843 Distrito Federal 0,648 0,517
Rio de Janeiro 0,584 0,463 Roraima 0,554 0,621 Tocantins 0,404 0,364
So Paulo 0,606 0,459 Rio de Janeiro 0,721 0,591 Amap 0,405 0,359
Santa Catarina 0,624 0,447 Tocantins 0,585 0,583 Roraima 0,393 0,358
Paran 0,576 0,432 Mato Grosso 0,737 0,564 Acre 0,418 0,318
Roraima 0,425 0,421 Acre 0,768 0,562 Mato Grosso do Sul 0,396 0,313
Tocantins 0,445 0,415 So Paulo 0,715 0,533 Gois 0,417 0,311
Mato Grosso 0,537 0,412 Paran 0,653 0,480 Santa Catarina 0,403 0,305
Rio Grande do Sul 0,529 0,405 Mato Grosso do Sul 0,662 0,477 Rio de Janeiro 0,420 0,304
Mato Grosso do Sul 0,526 0,399 Gois 0,631 0,466 Mato Grosso 0,411 0,303
Acre 0,493 0,386 Santa Catarina 0,652 0,465 Esprito Santo 0,364 0,303
Gois 0,505 0,379 Paraba 0,556 0,461 Piau 0,343 0,285
Esprito Santo 0,502 0,369 Minas Gerais 0,615 0,457 So Paulo 0,377 0,283
Amap 0,456 0,367 Esprito Santo 0,655 0,451 Paran 0,368 0,282
Minas Gerais 0,479 0,361 Amazonas 0,581 0,447 Par 0,381 0,273
Paraba 0,396 0,335 Alagoas 0,463 0,444 Minas Gerais 0,361 0,270
Rio Grande do Norte 0,404 0,316 Rio Grande do Norte 0,519 0,439 Amazonas 0,358 0,262
Piau 0,377 0,311 Rio Grande do Sul 0,574 0,434 Cear 0,336 0,261
Pernambuco 0,391 0,305 Par 0,539 0,403 Sergipe 0,364 0,257
Amazonas 0,409 0,305 Amap 0,717 0,400 Bahia 0,336 0,255
Par 0,413 0,303 Bahia 0,527 0,400 Paraba 0,315 0,250
Cear 0,376 0,301 Piau 0,500 0,396 Rio Grande do Sul 0,330 0,250
Sergipe 0,404 0,300 Pernambuco 0,503 0,391 Pernambuco 0,326 0,248
Alagoas 0,351 0,295 Sergipe 0,498 0,388 Rondnia 0,370 0,243
Rondnia 0,425 0,292 Cear 0,466 0,378 Rio Grande do Norte 0,342 0,238
Bahia 0,376 0,286 Rondnia 0,523 0,366 Maranho 0,312 0,237
Maranho 0,352 0,265 Maranho 0,475 0,342 Alagoas 0,307 0,220
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
78
Tabela 8
Evoluo dos indicadores que compem o IDG - Brasil - 2001, 2004 e 2008
Indicadores
2001 2004 2008
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Taxa de participao no mercado de
trabalho das pessoas de 20 anos ou mais
de idade
84,9 56,4 84,8 59,2 84,0 59,7
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade em cargos de chea e direo
7,0 4,1 6,1 4,2 6,3 4,7
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade com rendimento de todos os
trabalhos de 5 salrios mnimos ou mais
18,9 11,0 14,7 8,3 13,1 8,1
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade com 15 anos ou mais de estudo
6,1 6,5 6,7 7,5 8,1 9,4
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001, 2004 e 2008.
Grco 5
Grco 6
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
79
Tabela 9
Evoluo dos indicadores que compem o IDG - Brasil - 2001, 2004 e 2008
Indicadores
2001 2004 2008
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Taxa de participao no mercado de
trabalho das pessoas de 20 anos ou mais
de idade
84,1 55,9 83,8 58,4 83,2 59,1
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade em cargos de chea e direo
6,3 4,3 8,7 5,9 9,1 6,5
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade com rendimento de todos os
trabalhos de 5 salrios mnimos ou mais
26,3 15,6 21,3 12,0 19,0 11,6
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade com 15 anos ou mais de estudo
9,3 9,4 10,2 10,9 12,7 13,6
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001, 2004 e 2008.
Grco 7
Grco 8
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
80
Tabela 10
Evoluo dos indicadores que compem o IDG - Brasil - 2001, 2004 e 2008
Indicadores
2001 2004 2008
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Taxa de participao no mercado de
trabalho das pessoas de 20 anos ou mais
de idade
85,9 57,0 85,9 60,1 84,9 60,4
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade em cargos de chea e direo
7,8 3,7 3,2 2,1 3,6 2,6
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade com rendimento de todos os
trabalhos de 5 salrios mnimos ou mais
9,3 4,4 7,2 3,6 7,2 4,1
Proporo de pessoas de 20 anos ou mais
de idade com 15 anos ou mais de estudo
2,0 2,4 2,5 3,2 3,5 4,7
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001, 2004 e 2008.
5. Concluso
As anlises do IDS-gen indicam que o pas est
avanando no seu processo de desenvolvimento, princi-
palmente nos aspectos considerados bsicos. No entanto,
os avanos na rea social ainda so marcados por fortes
desigualdades no mbito regional, de gnero e de cor. De
acordo com a metodologia adotada, o Brasil possui um
ndice de desenvolvimento social mdio baixo para ho-
mens e mulheres; mas, ao mesmo tempo, possui Unidades
da Federao em todos os nveis de desenvolvimento, de
baixo a alto.
Os resultados do IDG, por sua vez, mostram-se mais
baixos do que o IDS-gen, o que indica que nos aspectos
caractersticos da desigualdade de gnero o processo de
desenvolvimento das mulheres depende de polticas de
incluso e de equidade. Diferentemente do IDS-gen, onde
possvel identicar estados nas quais as mulheres tm
um desenvolvimento social maior do que o dos homens,
no IDG isso no ocorre. Alm disso, o gap entre homens
mulheres maior no IDG. De acordo com o perodo anali-
sado, observou-se em ambos os ndices um maior avano
entre 2004-2008 comparado com 2001.
Por m, importante destacar que as mulheres
negras so as mais excludas do processo de desen-
volvimento, seja em termos do acesso s necessidades
bsicas ou no campo da participao econmica e da
tomada de decises. O valor do IDG das mulheres ne-
gras quase a metade do ndice observado para as
mulheres brancas.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
81
Anexo I: Tabelas completas do ndice de Desenvolvimento Social-gen 2001, 2004 e 2008
ndice de desenvolvimento social por sexo e cor - Unidades da Federao - 2001
Unidades da Federao Homens Mulheres
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 0,650 0,603 0,726 0,666 0,563 0,524
Rondnia 0,558 0,482 0,578 0,503 0,548 0,469
Acre 0,556 0,510 0,609 0,560 0,535 0,492
Amazonas 0,565 0,513 0,606 0,553 0,549 0,496
Roraima 0,553 0,526 0,573 0,589 0,546 0,509
Par 0,551 0,488 0,598 0,532 0,535 0,471
Amap 0,601 0,527 0,652 0,547 0,592 0,519
Tocantins 0,456 0,430 0,508 0,493 0,439 0,407
Maranho 0,387 0,390 0,460 0,438 0,367 0,373
Piau 0,354 0,391 0,407 0,450 0,339 0,371
Cear 0,452 0,454 0,515 0,516 0,419 0,419
Rio Grande do Norte 0,480 0,486 0,543 0,538 0,443 0,450
Paraba 0,458 0,490 0,542 0,559 0,413 0,445
Pernambuco 0,503 0,494 0,560 0,541 0,471 0,464
Alagoas 0,396 0,404 0,471 0,476 0,367 0,371
Sergipe 0,551 0,540 0,660 0,634 0,519 0,507
Bahia 0,497 0,483 0,535 0,526 0,486 0,469
Minas Gerais 0,704 0,645 0,756 0,695 0,650 0,588
Esprito Santo 0,668 0,602 0,696 0,630 0,646 0,578
Rio de Janeiro 0,783 0,717 0,813 0,748 0,738 0,666
So Paulo 0,813 0,744 0,832 0,761 0,762 0,691
Paran 0,666 0,596 0,690 0,619 0,583 0,505
Santa Catarina 0,707 0,625 0,711 0,629 0,656 0,567
Rio Grande do Sul 0,692 0,624 0,698 0,631 0,650 0,575
Mato Grosso do Sul 0,578 0,492 0,598 0,523 0,555 0,450
Mato Grosso 0,580 0,501 0,620 0,547 0,563 0,476
Gois 0,617 0,554 0,672 0,607 0,577 0,511
Distrito Federal 0,799 0,750 0,829 0,782 0,776 0,722
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
82
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento social
por sexo - Unidades da Federao - 2001
Unidades da Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Brasil 51,0 48,8 38,0 58,0 27,9 26,7 23,0 25,1
Rondnia 97,3 97,2 35,7 63,4 28,0 27,8 15,9 18,6
Acre 81,6 79,7 41,8 59,8 32,5 27,9 21,9 28,7
Amazonas 92,0 91,4 44,1 64,3 21,7 20,8 16,2 18,1
Roraima 89,8 86,2 40,8 55,3 30,4 32,5 18,0 15,4
Par 87,8 86,8 41,2 66,6 30,2 26,9 20,6 24,4
Amap 95,8 96,0 35,5 65,1 16,0 16,7 12,4 11,5
Tocantins 96,3 96,0 46,0 66,6 39,8 32,9 35,6 32,4
Maranho 90,7 89,7 59,7 74,2 49,4 40,4 45,3 39,7
Piau 97,7 96,8 58,5 67,6 55,1 44,9 47,2 34,2
Cear 81,2 79,1 53,6 66,5 45,5 37,9 39,0 34,7
Rio Grande do Norte 88,1 86,8 49,0 62,3 41,2 33,5 29,8 23,2
Paraba 72,1 68,9 54,6 65,7 52,6 42,1 37,5 27,3
Pernambuco 72,9 71,3 51,3 65,7 39,8 35,5 34,9 30,0
Alagoas 88,3 86,1 58,2 70,6 52,6 48,0 42,4 33,6
Sergipe 55,4 53,1 49,7 66,8 42,8 34,1 31,8 30,2
Bahia 67,6 64,9 51,7 67,9 45,9 41,2 35,9 32,9
Minas Gerais 33,5 31,3 35,5 57,6 26,8 26,1 22,8 27,0
Esprito Santo 49,8 45,9 35,7 58,1 24,3 25,2 23,0 30,1
Rio de Janeiro 27,0 25,4 29,3 49,9 17,2 19,5 13,2 18,5
So Paulo 15,2 13,9 29,6 52,2 16,4 19,2 13,4 17,2
Paran 54,3 52,0 33,7 55,8 24,3 26,4 21,4 27,3
Santa Catarina 59,4 59,3 26,8 49,9 17,3 18,7 13,8 22,4
Rio Grande do Sul 54,7 51,8 29,2 49,9 18,8 19,0 20,4 29,8
Mato Grosso do Sul 92,1 91,3 32,2 59,4 26,5 27,5 18,0 25,1
Mato Grosso 85,4 84,2 32,2 63,2 31,9 28,1 18,5 24,0
Gois 71,8 68,7 33,2 58,5 28,7 26,7 19,4 24,6
Distrito Federal 17,6 16,9 33,0 48,7 14,8 15,2 15,1 19,1
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
83
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento social
por sexo e cor - Unidades da Federao - 2001
Unidades da
Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Brasil 40,1 38,5 31,6 52,7 20,0 20,4 18,0 22,1
Rondnia 96,2 96,4 34,7 59,9 22,9 23,1 15,0 19,2
Acre 74,3 73,0 33,5 51,1 26,6 25,4 21,9 26,7
Amazonas 87,8 88,4 40,8 57,7 15,1 16,3 14,0 16,6
Roraima 85,7 80,3 38,4 49,1 27,8 22,1 18,8 12,9
Par 84,3 81,9 36,4 62,1 22,6 20,7 17,5 22,4
Amap 91,4 95,5 22,2 59,8 13,6 10,7 11,9 15,2
Tocantins 94,1 92,5 38,2 61,0 31,8 24,5 32,7 24,7
Maranho 83,9 84,0 51,9 67,7 42,6 34,2 37,7 38,7
Piau 96,6 94,3 52,7 60,5 45,7 33,6 42,2 31,5
Cear 75,1 73,4 48,1 60,6 37,5 29,2 33,4 30,3
Rio Grande do Norte 84,1 82,3 41,3 57,3 32,5 25,1 24,7 20,3
Paraba 62,7 60,4 46,7 59,3 43,1 33,1 30,6 23,6
Pernambuco 67,1 66,1 46,2 61,1 31,8 28,9 30,8 27,5
Alagoas 84,3 80,1 48,9 64,1 43,5 35,5 34,7 29,9
Sergipe 42,8 44,1 41,0 57,0 30,5 23,0 21,9 22,2
Bahia 64,9 62,6 45,4 61,3 42,5 36,2 33,3 29,6
Minas Gerais 26,3 24,3 31,1 53,0 21,1 20,5 19,2 24,4
Esprito Santo 47,1 42,5 33,2 53,9 18,8 20,2 22,3 31,3
Rio de Janeiro 22,5 21,0 26,7 47,6 13,4 15,7 12,1 16,7
So Paulo 12,8 11,6 27,8 50,6 14,4 17,3 12,4 16,1
Paran 50,8 48,8 32,8 54,3 20,6 23,4 19,7 25,8
Santa Catarina 59,7 59,2 26,1 49,1 16,3 17,5 13,5 22,6
Rio Grande do Sul 55,0 52,0 28,0 48,9 17,7 17,6 19,9 29,2
Mato Grosso do Sul 89,5 88,5 31,3 56,2 22,1 22,9 18,0 23,4
Mato Grosso 83,8 82,9 28,7 57,8 23,4 20,6 16,1 20,0
Gois 62,6 59,0 29,0 52,9 22,5 22,7 16,9 22,8
Distrito Federal 14,6 14,6 29,8 44,6 9,9 10,3 14,1 17,9
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
84
Unidades da
Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 63,4 61,5 45,4 64,8 37,3 35,0 28,9 28,9
Rondnia 97,9 97,7 36,1 65,5 30,9 31,0 15,9 18,1
Acre 84,3 82,2 44,9 62,8 35,0 28,7 21,8 29,4
Amazonas 93,7 92,7 45,4 67,2 24,4 22,8 17,1 18,8
Roraima 90,8 88,1 41,6 57,5 31,3 34,8 17,8 16,1
Par 88,9 88,7 42,8 68,3 32,8 29,4 21,6 25,2
Amap 96,7 96,2 38,1 67,2 16,3 18,7 12,2 10,2
Tocantins 97,0 97,3 48,5 68,6 42,4 36,0 36,5 35,2
Maranho 92,6 91,6 62,0 76,5 51,1 42,6 47,3 39,9
Piau 98,0 97,7 60,1 69,9 57,8 48,8 48,6 35,1
Cear 84,3 82,3 56,4 69,9 49,7 43,0 41,8 37,2
Rio Grande do Norte 90,5 89,7 53,5 65,8 46,4 39,2 32,6 25,1
Paraba 77,1 74,3 58,8 69,8 57,7 48,1 41,2 29,6
Pernambuco 76,1 74,6 54,2 68,6 44,2 39,7 37,1 31,6
Alagoas 89,8 88,9 61,7 73,5 56,2 53,9 45,3 35,3
Sergipe 59,0 56,2 52,2 70,1 46,3 38,1 34,7 32,9
Bahia 68,4 65,7 53,5 69,9 47,0 42,8 36,6 33,8
Minas Gerais 41,0 39,3 40,0 62,8 32,7 32,8 26,5 30,1
Esprito Santo 51,8 48,7 37,8 61,6 28,6 29,4 23,3 29,1
Rio de Janeiro 33,4 32,4 33,2 53,7 23,1 26,0 14,9 21,6
So Paulo 21,9 20,8 34,5 57,2 22,6 25,3 16,4 20,4
Paran 67,0 65,2 36,8 62,2 36,3 37,8 26,7 33,0
Santa Catarina 55,7 59,4 34,0 60,1 30,0 35,4 17,8 18,3
Rio Grande do Sul 53,3 50,1 37,2 57,2 26,3 29,2 23,1 33,7
Mato Grosso do Sul 95,0 95,5 33,2 63,8 31,4 33,1 18,4 27,4
Mato Grosso 86,3 84,8 33,2 66,2 36,2 32,2 19,1 26,5
Gois 78,5 76,6 36,2 62,9 33,4 30,1 21,2 26,0
Distrito Federal 20,0 18,9 35,4 52,5 18,4 19,6 15,8 20,2
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
85
ndice de desenvolvimento social por sexo e cor - Unidades da Federao - 2004
Unidades da Federao Homens Mulheres
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 0,664 0,617 0,738 0,680 0,584 0,544
Rondnia 0,549 0,460 0,587 0,491 0,530 0,440
Acre 0,483 0,457 0,553 0,531 0,467 0,437
Amazonas 0,545 0,500 0,604 0,561 0,524 0,476
Roraima 0,516 0,514 0,565 0,548 0,501 0,502
Par 0,502 0,452 0,560 0,506 0,489 0,437
Amap 0,538 0,491 0,617 0,512 0,519 0,484
Tocantins 0,489 0,442 0,546 0,481 0,471 0,428
Maranho 0,411 0,413 0,462 0,458 0,396 0,399
Piau 0,352 0,389 0,392 0,427 0,340 0,376
Cear 0,475 0,483 0,524 0,528 0,451 0,459
Rio Grande do Norte 0,485 0,505 0,505 0,538 0,474 0,485
Paraba 0,478 0,499 0,545 0,559 0,440 0,460
Pernambuco 0,527 0,517 0,569 0,563 0,504 0,488
Alagoas 0,414 0,417 0,470 0,464 0,384 0,386
Sergipe 0,595 0,575 0,687 0,659 0,557 0,535
Bahia 0,523 0,506 0,563 0,543 0,512 0,494
Minas Gerais 0,731 0,668 0,783 0,714 0,684 0,621
Esprito Santo 0,713 0,649 0,736 0,676 0,696 0,625
Rio de Janeiro 0,793 0,729 0,820 0,759 0,757 0,686
So Paulo 0,827 0,756 0,845 0,774 0,781 0,705
Paran 0,694 0,624 0,717 0,647 0,623 0,544
Santa Catarina 0,722 0,643 0,731 0,654 0,646 0,554
Rio Grande do Sul 0,720 0,652 0,725 0,657 0,682 0,612
Mato Grosso do Sul 0,591 0,507 0,624 0,545 0,561 0,468
Mato Grosso 0,602 0,514 0,647 0,552 0,578 0,488
Gois 0,641 0,570 0,673 0,604 0,617 0,543
Distrito Federal 0,802 0,763 0,836 0,796 0,777 0,736
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2004.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
86
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento
social por sexo - Unidades da Federao - 2004
Unidades da
Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Brasil 49,5 47,0 37,9 56,2 24,8 23,7 22,4 26,3
Rondnia 96,9 96,9 37,1 62,6 27,3 26,6 19,0 30,1
Acre 88,8 86,8 48,5 65,4 38,0 32,2 31,7 33,0
Amazonas 91,6 91,5 44,4 64,7 23,5 20,5 22,6 23,5
Roraima 86,9 83,8 53,0 67,5 26,1 21,1 27,5 22,1
Par 92,5 91,7 45,1 67,3 35,0 29,3 26,4 30,8
Amap 96,1 94,8 47,4 66,7 19,8 19,8 21,3 22,5
Tocantins 95,9 94,8 43,4 64,0 35,0 30,0 30,2 34,2
Maranho 89,6 88,1 61,0 71,3 44,3 35,9 40,9 39,7
Piau 96,3 95,7 63,3 66,1 46,2 38,6 53,1 44,0
Cear 76,4 74,1 55,7 66,0 39,1 33,2 39,0 33,5
Rio Grande do Norte 80,7 79,6 53,0 62,2 38,9 30,1 33,4 25,9
Paraba 68,1 65,5 56,7 65,3 44,0 36,9 40,0 32,8
Pernambuco 67,6 65,2 51,6 66,1 35,2 31,3 34,8 30,7
Alagoas 93,1 92,8 57,0 69,3 48,5 42,4 36,0 28,8
Sergipe 46,2 44,2 47,6 62,1 35,8 28,8 32,3 35,0
Bahia 64,4 61,1 50,8 66,4 40,7 35,0 35,0 35,1
Minas Gerais 29,3 26,3 35,0 54,7 23,3 23,6 20,1 28,5
Esprito Santo 40,2 36,5 34,0 54,0 20,2 21,5 20,3 28,6
Rio de Janeiro 25,2 24,0 29,1 48,2 14,7 17,2 13,7 19,2
So Paulo 12,9 11,9 28,7 49,8 14,6 17,2 12,9 18,6
Paran 52,5 49,8 31,0 51,9 20,3 22,6 18,7 26,3
Santa Catarina 57,8 56,3 25,4 46,7 15,0 16,9 13,1 22,8
Rio Grande do Sul 49,2 46,8 28,7 47,5 16,1 17,3 18,1 27,7
Mato Grosso do Sul 91,1 90,6 31,9 56,5 25,1 25,3 15,6 24,8
Mato Grosso 87,5 84,8 30,9 59,6 25,1 23,5 15,6 26,7
Gois 71,7 69,4 30,4 56,2 25,4 21,9 15,9 24,5
Distrito Federal 18,2 16,3 34,7 49,2 12,3 11,4 14,0 17,8
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2004.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
87
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento social
por sexo e cor - Unidades da Federao - 2004
Unidades da
Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Brasil 38,4 36,6 31,1 50,4 17,9 18,3 17,3 22,8
Rondnia 95,1 95,7 33,5 59,0 22,1 21,7 14,6 27,1
Acre 81,5 80,5 39,9 57,8 33,3 20,9 24,3 28,6
Amazonas 86,0 85,0 36,3 55,5 16,3 13,2 19,7 21,9
Roraima 81,6 79,3 47,4 57,2 22,4 17,6 22,5 26,6
Par 89,2 88,0 38,5 60,1 27,0 22,2 21,5 27,4
Amap 96,9 94,8 34,2 62,5 9,0 13,7 13,1 24,1
Tocantins 93,1 90, 34,5 59,2 29,1 23,5 25,1 34,4
Maranho 85,3 84,9 55,2 68,7 38,1 28,4 36,8 34,9
Piau 93,0 92,2 58,3 63,4 40,8 31,4 51,0 42,1
Cear 73,1 69,1 49,5 60,8 33,3 26,7 34,4 32,3
Rio Grande do Norte 80,7 77,1 50,7 60,2 34,0 23,4 32,7 24,0
Paraba 59,3 56,3 50,3 59,1 38,2 30,6 34,4 30,6
Pernambuco 61,0 59,1 46,6 60,5 32,1 26,9 32,9 28,5
Alagoas 90,1 89,7 51,5 62,4 40,4 35,0 30,0 27,2
Sergipe 32,4 32,5 40,2 54,1 25,0 21,1 27,5 28,8
Bahia 61,7 59,5 43,5 61,1 37,2 30,6 32,4 31,7
Minas Gerais 22,3 20,3 30,0 50,0 18,4 19,3 16,2 25,0
Esprito Santo 38,1 32,6 30,9 48,8 16,8 17,7 19,9 30,4
Rio de Janeiro 20,6 20,1 26,2 44,8 12,0 14,2 13,0 17,5
So Paulo 10,9 10,1 26,8 48,0 12,5 15,4 11,8 16,8
Paran 49,3 46,3 29,6 50,0 17,3 19,6 17,0 25,2
Santa Catarina 56,3 55,0 24,9 45,5 13,7 15,6 12,8 22,5
Rio Grande do Sul 49,5 46,8 27,7 46,8 14,9 16,0 17,8 27,7
Mato Grosso do Sul 87,1 86,4 30,1 52,7 20,0 19,8 13,3 23,1
Mato Grosso 84,4 81,7 26,7 56,1 17,4 18,3 12,4 23,1
Gois 66,5 64,0 28,2 51,7 21,3 19,9 14,9 22,6
Distrito Federal 15,7 14,4 29,7 43,7 9,0 8,3 11,4 15,2
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2004.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
88
Unidades da
Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 61,0 58,9 45,2 63,0 32,4 30,2 27,7 30,4
Rondnia 97,9 97,7 38,8 64,9 30,0 29,4 21,2 31,9
Acre 90,5 88,4 50,6 67,3 39,0 35,3 33,3 34,1
Amazonas 93,5 93,9 47,3 68,3 26,1 23,5 23,7 24,1
Roraima 88,2 84,9 55,0 71,7 27,0 21,8 29,4 20,8
Par 93,4 92,8 46,6 69,3 37,0 31,4 27,5 31,8
Amap 96,1 95,1 50,7 67,6 22,3 21,8 23,4 21,9
Tocantins 96,8 96,3 46,2 65,7 36,9 32,4 31,8 34,2
Maranho 90,9 89,1 62,8 72,1 46,0 38,1 42,0 41,2
Piau 97,4 96,9 64,9 67,0 48,0 41,0 53,8 44,5
Cear 78,0 76,7 58,6 68,7 41,8 36,8 41,2 34,2
Rio Grande do Norte 80,7 81,2 54,3 63,5 41,6 34,2 33,8 27,1
Paraba 73,1 71,8 60,3 69,2 47,3 41,0 43,2 34,2
Pernambuco 71,4 69,0 54,3 69,6 36,9 34,0 35,8 32,0
Alagoas 94,8 94,8 59,7 73,8 52,9 47,4 39,1 29,6
Sergipe 51,9 49,7 50,7 65,9 40,4 32,4 34,3 38,0
Bahia 65,3 61,7 52,7 68,1 41,7 36,4 35,7 36,1
Minas Gerais 35,6 32,1 39,6 59,3 27,9 28,0 23,5 32,1
Esprito Santo 41,7 39,6 36,3 58,3 22,8 24,7 20,7 27,2
Rio de Janeiro 31,1 29,4 32,9 53,0 18,5 21,7 14,6 21,6
So Paulo 17,8 17,0 33,8 55,3 20,1 22,4 15,8 23,3
Paran 62,9 61,8 35,4 58,8 29,1 32,3 23,6 29,6
Santa Catarina 70,0 67,2 29,4 56,8 26,1 29,1 16,2 25,2
Rio Grande do Sul 47,8 47,2 35,2 53,0 23,9 27,2 20,2 27,8
Mato Grosso do Sul 94,6 94,9 33,6 60,3 29,8 31,1 17,6 26,6
Mato Grosso 89,3 86,8 33,0 61,8 29,6 26,9 16,9 29,2
Gois 75,7 73,7 32,1 59,7 28,5 23,6 16,7 25,9
Distrito Federal 20,0 17,8 38,4 53,9 14,9 13,9 16,1 20,1
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2004.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
89
ndice de desenvolvimento social por sexo e cor - Unidades da Federao - 2008
Unidades da Federao Homens Mulheres
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 0,698 0,656 0,763 0,712 0,638 0,598
Rondnia 0,546 0,495 0,570 0,515 0,533 0,481
Acre 0,563 0,534 0,642 0,582 0,543 0,517
Amazonas 0,591 0,561 0,645 0,601 0,575 0,549
Roraima 0,601 0,579 0,636 0,624 0,595 0,571
Par 0,536 0,485 0,584 0,525 0,525 0,473
Amap 0,602 0,540 0,667 0,544 0,590 0,539
Tocantins 0,536 0,521 0,599 0,582 0,517 0,502
Maranho 0,462 0,464 0,505 0,495 0,449 0,454
Piau 0,400 0,418 0,441 0,472 0,388 0,401
Cear 0,522 0,528 0,557 0,570 0,506 0,506
Rio Grande do Norte 0,515 0,520 0,550 0,546 0,496 0,505
Paraba 0,537 0,559 0,595 0,617 0,507 0,521
Pernambuco 0,576 0,573 0,613 0,617 0,555 0,545
Alagoas 0,478 0,482 0,529 0,547 0,457 0,451
Sergipe 0,612 0,591 0,625 0,615 0,606 0,580
Bahia 0,570 0,560 0,589 0,585 0,565 0,553
Minas Gerais 0,769 0,710 0,803 0,747 0,741 0,676
Esprito Santo 0,732 0,658 0,762 0,680 0,708 0,641
Rio de Janeiro 0,814 0,752 0,834 0,775 0,792 0,723
So Paulo 0,862 0,795 0,878 0,812 0,833 0,758
Paran 0,742 0,676 0,759 0,696 0,700 0,618
Santa Catarina 0,748 0,682 0,753 0,689 0,709 0,635
Rio Grande do Sul 0,729 0,672 0,734 0,679 0,706 0,641
Mato Grosso do Sul 0,634 0,553 0,667 0,581 0,604 0,523
Mato Grosso 0,630 0,569 0,678 0,607 0,605 0,545
Gois 0,672 0,604 0,719 0,643 0,641 0,575
Distrito Federal 0,844 0,800 0,858 0,820 0,835 0,785
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
90
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento social
por sexo - Unidades da Federao - 2008
Unidades da
Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Brasil 46,4 44,0 35,7 53,2 21,5 20,5 17,2 20,0
Rondnia 97,0 97,1 38,0 60,1 27,0 25,2 19,4 19,7
Acre 82,3 78,4 46,0 60,3 24,0 24,0 22,2 23,9
Amazonas 79,9 78,1 44,6 63,0 21,9 18,3 17,3 16,1
Roraima 81,1 80,8 41,5 57,4 19,5 16,1 17,8 14,1
Par 91,2 90,1 43,5 67,5 29,2 23,5 21,7 25,0
Amap 96,6 95,8 39,2 60,2 12,2 15,0 11,3 12,7
Tocantins 85,1 82,7 42,6 56,5 30,1 24,0 27,7 28,3
Maranho 88,7 86,7 55,8 68,4 36,5 29,9 34,3 29,3
Piau 96,1 94,6 57,8 64,3 41,4 32,7 44,8 41,1
Cear 70,9 68,1 53,8 62,9 33,4 27,9 33,1 29,7
Rio Grande do Norte 79,7 79,4 49,5 59,4 34,0 26,9 30,9 26,4
Paraba 62,2 58,9 51,8 61,9 37,5 32,2 33,6 23,6
Pernambuco 60,1 57,7 51,4 63,0 30,5 26,7 27,5 23,6
Alagoas 82,3 81,6 54,6 67,2 41,8 35,6 30,3 23,0
Sergipe 52,7 51,8 49,0 63,2 28,4 24,8 25,0 23,9
Bahia 57,7 54,4 50,4 63,8 33,1 29,4 30,9 28,6
Minas Gerais 25,8 23,3 31,0 50,5 20,3 20,9 15,3 21,3
Esprito Santo 41,1 39,2 31,5 53,4 19,4 20,9 15,1 23,2
Rio de Janeiro 25,2 23,7 27,6 47,8 13,4 14,7 8,2 13,0
So Paulo 10,3 9,8 25,3 45,6 12,7 14,7 6,8 12,1
Paran 45,2 42,8 28,3 47,7 16,9 19,2 12,7 20,1
Santa Catarina 53,0 51,6 23,7 41,9 14,5 16,4 9,8 17,2
Rio Grande do Sul 52,3 50,0 27,2 43,9 14,7 14,9 14,4 22,3
Mato Grosso do Sul 83,0 82,5 30,1 54,0 21,6 20,5 11,6 21,9
Mato Grosso 79,1 76,0 31,9 57,2 23,5 20,3 13,6 18,8
Gois 68,5 65,9 29,8 52,4 21,5 19,9 11,4 20,0
Distrito Federal 14,3 13,2 30,6 46,0 10,4 10,6 7,3 10,2
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
91
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento social por sexo e cor - Unidades da
Federao - 2008
Unidades da
Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Brasil 37,0 35,1 29,1 47,0 15,6 15,9 13,2 17,3
Rondnia 95,7 95,7 35,3 57,9 22,6 23,4 18,3 16,9
Acre 79,6 75,5 36,4 50,1 12,2 19,8 14,9 21,8
Amazonas 76,1 73,9 36,4 57,7 16,7 14,9 12,8 13,0
Roraima 79,7 76,0 39,3 49,7 11,1 13,7 15,7 11,2
Par 87,8 87,0 37,6 62,0 22,9 18,5 18,3 22,5
Amap 93,1 96,3 27,2 59,3 3,7 12,6 9,3 14,1
Tocantins 78,3 75,4 38,0 49,5 22,1 18,9 21,9 23,2
Maranho 85,7 83,9 51,5 65,0 29,1 24,9 31,6 28,4
Piau 92,2 89,5 53,2 58,1 34,8 26,0 43,4 37,5
Cear 68,4 64,1 49,3 57,8 28,5 24,2 31,1 26,0
Rio Grande do Norte 79,1 79,0 46,3 56,6 28,8 20,6 26,0 25,6
Paraba 52,2 50,9 47,7 57,1 29,0 24,2 33,2 21,2
Pernambuco 54,6 51,3 47,6 57,2 26,5 23,2 25,9 21,6
Alagoas 75,9 75,2 51,2 58,1 32,9 27,6 28,5 20,1
Sergipe 51,0 49,9 44,4 58,6 28,3 22,3 26,2 23,3
Bahia 59,0 54,6 45,7 57,1 28,8 26,8 30,7 27,4
Minas Gerais 21,2 18,0 27,0 46,3 17,2 17,0 13,6 20,0
Esprito Santo 37,4 38,1 27,3 49,9 14,6 16,7 16,0 23,5
Rio de Janeiro 23,2 21,5 24,9 44,6 10,9 12,2 7,5 11,7
So Paulo 8,3 7,8 23,3 43,2 10,8 12,8 6,4 11,3
Paran 42,5 39,7 27,7 46,1 14,4 16,2 12,0 19,5
Santa Catarina 52,9 51,2 22,6 40,8 13,5 15,5 9,7 17,1
Rio Grande do Sul 52,4 50,3 26,1 42,1 13,1 13,4 14,6 22,6
Mato Grosso do Sul 77,5 78,3 26,0 50,7 18,6 17,6 11,3 20,9
Mato Grosso 75,4 74,3 27,4 52,3 16,2 14,7 9,9 15,9
Gois 60,3 58,4 25,7 48,4 17,1 17,1 9,3 18,7
Distrito Federal 14, 13,3 27,9 41,7 7,7 8,0 6,9 9,1
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
92
Unidades da
Federao
Proporo de pessoas
em domiclios
particulares
permanentes que
vivem em condies
inadequadas de
saneamento
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade sem rendimento
ou com rendimento de
todas as fontes inferior
a um salrio mnimo
Proporo de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4 anos
de estudo (inclusive
analfabetos)
Proporo de pessoas
de 10 anos ou mais de
idade desocupadas ou
em condies precrias
de trabalho
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 55,2 53,1 41,7 59,5 27,1 25,3 20,9 22,8
Rondnia 97,7 97,9 39,5 61,6 29,5 26,5 20,0 21,5
Acre 83,2 79,5 48,6 63,7 27,0 25,2 24,2 24,6
Amazonas 81,1 79,5 47,0 64,6 23,4 19,2 18,6 17,1
Roraima 81,1 81,9 42,0 59,4 20,9 15,9 18,0 14,6
Par 92,0 91,0 44,9 69,3 30,6 24,8 22,4 25,8
Amap 97,1 95,9 41,1 60,3 13,9 15,6 11,7 12,5
Tocantins 87,0 84,9 44,1 58,6 32,4 25,6 29,6 29,9
Maranho 89,6 87,7 57,0 69,6 38,7 31,4 35,2 29,6
Piau 97,2 96,2 59,0 66,3 43,2 34,8 45,3 42,3
Cear 72,2 70,5 55,9 65,6 35,5 29,8 34,0 31,7
Rio Grande do Norte 80,1 79,6 51,0 61,0 36,8 30,6 33,6 26,9
Paraba 67,6 64,3 53,9 65,0 41,7 37,4 33,8 24,9
Pernambuco 63,2 61,6 53,5 66,7 32,8 28,9 28,4 24,9
Alagoas 84,9 84,7 56,0 71,2 45,4 39,2 31,0 24,4
Sergipe 53,5 52,7 51,0 65,3 28,5 26,0 24,5 24,1
Bahia 57,3 54,4 51,6 65,6 34,2 30,1 31,0 28,9
Minas Gerais 29,7 28,0 34,2 54,3 23,0 24,6 16,7 22,6
Esprito Santo 43,9 40,2 35,0 56,1 23,5 24,3 14,5 22,9
Rio de Janeiro 27,6 26,5 30,4 51,8 16,2 17,8 9,0 14,6
So Paulo 14,2 13,7 28,8 50,8 16,3 18,7 7,5 13,6
Paran 52,2 51,7 30,2 52,1 23,3 27,5 14,4 21,5
Santa Catarina 54,0 54,9 30,3 49,4 20,8 23,3 11,1 18,5
Rio Grande do Sul 52,1 49,1 31,1 51,5 21,1 21,6 13,3 21,2
Mato Grosso do Sul 88,1 87,4 34,1 57,2 24,2 23,4 11,8 22,8
Mato Grosso 81,0 76,8 34,1 60,4 27,6 23,8 15,4 21,0
Gois 74,1 71,6 32,4 55,4 24,3 22,0 12,8 21,0
Distrito Federal 14,5 13,3 32,2 49,4 12,1 12,5 7,4 11,0
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
93
Anexo II: Tabelas completas do ndice de Desenvolvimento
de Gnero 2001, 2004 e 2008
ndice de desenvolvimento de gnero - Unidades da Federao - 2001
Unidades da Federao Homens Mulheres
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 0,546 0,365 0,627 0,435 0,443 0,265
Rondnia 0,545 0,347 0,586 0,393 0,515 0,316
Acre 0,595 0,387 0,679 0,482 0,540 0,349
Amazonas 0,559 0,343 0,655 0,445 0,520 0,292
Roraima 0,535 0,414 0,551 0,496 0,535 0,389
Par 0,500 0,312 0,586 0,411 0,469 0,271
Amap 0,588 0,257 0,702 0,364 0,542 0,210
Tocantins 0,436 0,326 0,559 0,437 0,397 0,288
Maranho 0,401 0,216 0,438 0,269 0,389 0,196
Piau 0,361 0,246 0,424 0,265 0,343 0,239
Cear 0,435 0,265 0,491 0,330 0,406 0,225
Rio Grande do Norte 0,507 0,290 0,524 0,366 0,499 0,232
Paraba 0,398 0,301 0,468 0,410 0,358 0,229
Pernambuco 0,452 0,321 0,541 0,406 0,403 0,264
Alagoas 0,377 0,264 0,449 0,349 0,348 0,224
Sergipe 0,458 0,287 0,553 0,376 0,429 0,250
Bahia 0,416 0,279 0,475 0,362 0,399 0,254
Minas Gerais 0,495 0,331 0,549 0,398 0,437 0,250
Esprito Santo 0,537 0,340 0,603 0,410 0,485 0,276
Rio de Janeiro 0,618 0,430 0,689 0,505 0,484 0,308
So Paulo 0,669 0,459 0,684 0,503 0,502 0,304
Paran 0,557 0,363 0,591 0,391 0,434 0,239
Santa Catarina 0,579 0,337 0,591 0,340 0,421 0,296
Rio Grande do Sul 0,562 0,379 0,569 0,393 0,511 0,275
Mato Grosso do Sul 0,574 0,354 0,642 0,432 0,497 0,246
Mato Grosso 0,511 0,341 0,606 0,456 0,456 0,266
Gois 0,507 0,333 0,580 0,425 0,450 0,252
Distrito Federal 0,725 0,642 0,816 0,732 0,644 0,480
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
94
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento
de gnero - Unidades da Federao - 2001
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Brasil 84,9 56,4 7,0 4,1 18,9 11,0 6,1 6,5
Rondnia 88,9 54,3 8,1 5,0 17,9 10,7 3,8 3,9
Acre 87,8 61,6 6,9 5,3 24,2 12,0 5,9 4,5
Amazonas 82,9 52,4 11,1 5,8 15,7 10,2 3,6 3,1
Roraima 86,6 60,9 10,8 6,2 13,7 15,5 2,6 3,0
Par 86,1 55,1 8,5 4,7 12,7 6,6 3,6 4,0
Amap 72,0 36,0 10,3 2,7 23,3 11,4 4,3 2,7
Tocantins 91,4 60,1 5,9 5,5 10,6 6,0 2,2 3,5
Maranho 87,3 60,8 5,7 1,5 8,6 2,8 1,6 1,6
Piau 86,2 56,9 4,3 3,4 6,3 2,6 2,1 2,6
Cear 85,1 58,1 7,6 2,7 7,7 4,4 3,2 3,9
Rio Grande do Norte 80,6 50,6 10,9 4,1 9,6 6,1 4,4 4,3
Paraba 80,2 47,4 5,5 4,7 7,8 5,7 4,1 5,6
Pernambuco 83,3 53,5 6,9 4,7 10,0 5,9 4,5 6,0
Alagoas 83,9 52,8 5,2 2,9 6,5 4,7 2,6 4,4
Sergipe 86,1 56,2 8,0 3,9 9,8 4,7 2,7 4,2
Bahia 85,2 56,2 6,7 4,3 8,0 4,7 2,4 2,8
Minas Gerais 84,7 57,3 6,6 3,7 15,3 8,2 4,6 5,8
Esprito Santo 87,1 61,0 8,2 3,3 15,8 8,7 5,1 5,9
Rio de Janeiro 81,3 52,0 7,1 4,8 24,1 15,5 9,6 9,2
So Paulo 83,8 54,6 7,0 4,7 30,4 18,6 9,4 9,0
Paran 87,4 60,0 6,0 3,7 20,3 10,1 7,0 6,7
Santa Catarina 86,1 60,3 6,6 2,5 22,5 10,4 6,6 5,7
Rio Grande do Sul 87,2 64,1 7,5 3,3 19,3 10,7 5,8 7,4
Mato Grosso do Sul 87,5 58,0 9,0 4,1 17,5 9,3 5,9 6,3
Mato Grosso 90,9 57,0 5,7 3,4 17,5 9,4 4,2 6,3
Gois 88,1 58,0 6,8 4,5 15,7 7,7 4,3 4,9
Distrito Federal 87,3 64,4 6,9 7,1 38,7 28,5 14,1 12,5
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
95
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento
de gnero por cor - Unidades da Federao - 2001
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Brasil 84,1 55,9 6,3 4,3 26,3 15,6 9,3 9,4
Rondnia 86,6 56,1 6,1 4,7 23,9 13,6 6,8 6,2
Acre 87,9 66,7 6,4 4,1 34,5 18,7 10,2 9,2
Amazonas 80,9 52,7 9,7 6,8 25,6 17,3 7,7 5,6
Roraima 92,5 63,4 8,8 6,1 16,2 22,5 3,7 4,9
Par 86,6 56,1 6,6 6,2 22,3 11,7 7,4 6,9
Amap 75,9 51,3 8,7 3,4 38,7 13,6 11,6 6,7
Tocantins 90,3 58,5 5,7 5,9 21,6 13,6 5,7 8,0
Maranho 83,4 61,4 4,2 1,6 15,0 6,1 3,5 3,7
Piau 84,1 58,8 4,7 1,7 12,3 5,1 3,3 4,7
Cear 83,3 57,2 6,9 3,5 13,3 7,4 5,8 6,7
Rio Grande do Norte 81,2 53,2 7,5 4,8 14,3 10,2 7,7 6,8
Paraba 79,0 45,7 4,5 7,1 14,2 10,2 7,8 9,2
Pernambuco 82,6 53,2 6,2 5,1 17,1 10,5 8,9 10,1
Alagoas 78,8 51,1 3,6 3,5 14,2 9,4 7,4 8,5
Sergipe 83,3 52,7 7,4 4,0 18,1 10,6 7,1 8,9
Bahia 83,6 53,8 4,9 4,0 14,9 11,2 6,0 6,7
Minas Gerais 84,2 56,2 5,4 4,1 21,2 12,1 7,1 8,8
Esprito Santo 86,4 61,2 7,3 3,3 22,7 13,5 7,7 8,9
Rio de Janeiro 80,2 49,4 5,9 4,7 31,5 21,4 14,0 12,5
So Paulo 83,2 53,6 6,7 4,9 34,9 21,5 11,4 10,8
Paran 86,9 59,7 5,7 3,9 23,4 11,7 8,4 8,0
Santa Catarina 85,9 61,0 6,7 2,5 23,4 10,5 6,9 5,8
Rio Grande do Sul 87,2 64,0 6,8 3,5 20,9 11,4 6,5 8,0
Mato Grosso do Sul 87,6 58,0 8,0 5,3 23,9 13,2 9,1 8,9
Mato Grosso 92,1 57,0 4,5 4,5 27,5 16,1 7,2 10,4
Gois 87,1 58,3 5,5 5,4 23,2 12,7 7,8 8,4
Distrito Federal 86,8 64,6 7,3 7,8 51,4 39,4 22,7 19,1
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
96
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 85,9 57,0 7,8 3,7 9,3 4,4 2,0 2,4
Rondnia 90,5 53,2 9,1 5,3 14,2 8,5 1,8 2,3
Acre 87,9 60,0 7,2 5,8 19,4 8,9 4,0 2,8
Amazonas 83,7 52,3 11,7 5,3 11,8 6,4 1,8 1,9
Roraima 85,1 60,6 11,4 5,8 13,2 13,9 2,3 2,6
Par 86,0 54,6 9,2 4,1 9,2 4,5 2,3 2,8
Amap 71,0 30,3 10,5 2,2 19,6 10,1 2,7 1,2
Tocantins 91,8 60,7 5,9 5,3 7,1 3,4 1,0 1,9
Maranho 88,9 60,6 6,1 1,4 6,6 1,5 0,9 0,9
Piau 86,8 56,2 4,2 4,0 4,5 1,6 1,8 1,9
Cear 86,1 58,6 8,0 2,1 4,7 2,5 1,9 2,3
Rio Grande do Norte 80,1 48,8 13,1 3,6 6,7 2,8 2,4 2,6
Paraba 80,9 48,6 6,1 3,2 4,2 2,8 1,9 3,1
Pernambuco 83,8 53,6 7,4 4,4 6,0 2,9 2,0 3,2
Alagoas 86,0 53,7 5,8 2,7 3,6 2,5 0,6 2,4
Sergipe 86,9 57,3 8,2 3,6 7,4 2,6 1,5 2,5
Bahia 85,6 56,9 7,2 4,4 6,1 2,7 1,4 1,6
Minas Gerais 85,3 58,5 7,8 3,2 8,8 3,4 1,9 2,2
Esprito Santo 87,8 60,8 9,0 3,4 10,3 4,1 2,9 3,4
Rio de Janeiro 83,0 56,6 8,9 5,0 12,3 6,0 2,5 3,3
So Paulo 86,2 57,5 7,8 4,0 15,6 8,2 2,7 2,5
Paran 89,2 60,9 7,2 2,9 9,1 3,1 1,5 1,2
Santa Catarina 87,8 50,7 4,8 4,2 10,8 7,3 3,2 3,9
Rio Grande do Sul 87,7 65,0 12,6 2,6 8,3 5,4 1,3 2,5
Mato Grosso do Sul 87,9 58,1 10,4 2,6 10,1 3,5 2,0 2,9
Mato Grosso 90,5 57,2 6,6 2,8 11,4 4,7 2,4 3,8
Gois 89,0 57,6 7,7 3,8 10,1 3,1 1,5 1,9
Distrito Federal 87,7 64,3 6,5 6,6 28,9 17,6 7,6 6,2
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2001.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
97
ndice de desenvolvimento de gnero - Unidades da Federao - 2004
Unidades da Federao Homens Mulheres
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 0,503 0,363 0,633 0,453 0,352 0,247
Rondnia 0,464 0,310 0,626 0,379 0,378 0,269
Acre 0,443 0,352 0,560 0,548 0,417 0,297
Amazonas 0,396 0,282 0,571 0,425 0,330 0,220
Roraima 0,393 0,287 0,516 0,325 0,358 0,270
Par 0,423 0,281 0,612 0,388 0,373 0,248
Amap 0,371 0,302 0,478 0,367 0,344 0,286
Tocantins 0,404 0,321 0,546 0,423 0,354 0,284
Maranho 0,346 0,254 0,433 0,321 0,319 0,233
Piau 0,331 0,276 0,423 0,374 0,298 0,244
Cear 0,354 0,298 0,455 0,401 0,304 0,239
Rio Grande do Norte 0,375 0,277 0,437 0,364 0,338 0,223
Paraba 0,381 0,296 0,497 0,400 0,316 0,225
Pernambuco 0,389 0,294 0,485 0,383 0,332 0,236
Alagoas 0,320 0,227 0,426 0,308 0,264 0,173
Sergipe 0,402 0,303 0,504 0,403 0,360 0,257
Bahia 0,359 0,260 0,474 0,352 0,326 0,231
Minas Gerais 0,473 0,346 0,611 0,452 0,339 0,238
Esprito Santo 0,514 0,381 0,661 0,491 0,391 0,276
Rio de Janeiro 0,568 0,416 0,704 0,508 0,379 0,280
So Paulo 0,623 0,426 0,707 0,486 0,385 0,241
Paran 0,571 0,396 0,639 0,436 0,347 0,247
Santa Catarina 0,583 0,419 0,609 0,441 0,369 0,204
Rio Grande do Sul 0,548 0,398 0,579 0,415 0,332 0,257
Mato Grosso do Sul 0,516 0,379 0,657 0,490 0,389 0,253
Mato Grosso 0,538 0,359 0,735 0,493 0,405 0,270
Gois 0,488 0,332 0,611 0,413 0,391 0,267
Distrito Federal 0,789 0,685 0,948 0,849 0,597 0,460
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2004.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
98
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento
de gnero - Unidades da Federao - 2004
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Brasil 84,8 59,2 6,1 4,2 14,7 8,3 6,7 7,5
Rondnia 90,1 62,5 5,2 3,5 12,8 6,2 4,5 4,4
Acre 90,1 66,3 5,0 3,5 11,0 8,8 4,2 5,5
Amazonas 88,1 58,9 3,1 1,9 10,1 6,4 4,0 5,1
Roraima 85,5 55,9 4,5 3,5 9,5 7,8 2,6 2,4
Par 89,1 60,1 5,0 3,3 9,8 4,5 3,4 3,8
Amap 83,9 58,3 1,8 2,0 12,0 9,5 3,2 4,4
Tocantins 90,8 65,3 4,0 3,1 9,6 5,9 3,0 5,7
Maranho 85,6 64,0 3,3 2,4 6,5 3,3 2,2 2,7
Piau 89,8 66,5 2,4 2,7 3,9 2,2 3,3 4,7
Cear 85,4 59,1 3,5 3,6 5,6 4,3 3,4 5,5
Rio Grande do Norte 79,7 51,4 4,7 3,6 7,6 4,5 3,4 5,0
Paraba 83,5 53,2 4,1 3,6 6,9 4,8 4,6 6,3
Pernambuco 83,6 54,0 4,1 3,2 7,6 4,9 4,8 6,5
Alagoas 81,1 49,2 2,8 2,3 4,5 3,5 3,2 3,6
Sergipe 87,0 64,3 4,0 2,3 9,6 5,0 3,9 6,2
Bahia 86,3 59,3 4,1 3,0 6,2 3,7 2,4 3,1
Minas Gerais 84,0 60,7 6,3 4,3 12,7 6,4 5,2 6,9
Esprito Santo 86,4 61,8 6,5 5,2 15,5 7,7 6,0 7,6
Rio de Janeiro 79,5 54,5 6,4 4,5 19,1 12,0 10,3 10,5
So Paulo 83,2 57,3 7,9 4,9 21,9 12,5 10,1 9,7
Paran 86,8 63,1 7,2 4,7 18,7 8,7 7,8 8,6
Santa Catarina 87,0 64,4 8,0 6,4 19,3 8,4 7,1 8,2
Rio Grande do Sul 86,3 64,5 6,9 4,6 17,3 8,7 7,2 8,8
Mato Grosso do Sul 88,0 61,0 7,5 5,0 12,9 7,3 6,4 8,2
Mato Grosso 90,5 62,9 7,7 4,0 15,9 7,5 5,0 7,2
Gois 87,9 59,0 6,4 4,1 13,4 6,9 4,9 5,9
Distrito Federal 84,9 64,5 10,3 8,4 32,7 28,0 15,5 15,0
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2004.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
99
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento de gnero
por cor - Unidades da Federao - 2004
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Brasil 83,8 58,4 8,7 5,9 21,3 12,0 10,2 10,9
Rondnia 90,6 61,5 10,0 4,7 18,9 10,3 7,4 6,2
Acre 85,3 69,5 6,3 7,0 19,2 17,0 8,2 11,6
Amazonas 87,1 62,6 5,7 3,1 20,1 13,0 9,1 10,8
Roraima 88,3 66,1 9,1 3,2 12,7 7,5 3,9 4,4
Par 87,8 59,5 10,2 6,2 18,1 8,4 7,3 6,5
Amap 80,2 59,9 3,5 2,2 15,1 13,2 9,4 7,1
Tocantins 90,7 68,3 6,6 4,2 17,9 9,8 5,9 10,0
Maranho 83,9 63,3 5,6 3,8 11,3 6,0 3,5 5,0
Piau 89,9 67,1 5,3 5,8 6,7 3,6 5,5 7,9
Cear 84,1 59,9 5,8 5,6 10,3 7,6 6,4 9,5
Rio Grande do Norte 80,4 52,5 6,3 5,2 9,7 7,7 5,0 8,2
Paraba 80,1 53,4 7,5 5,9 11,3 8,0 7,7 10,1
Pernambuco 82,2 53,7 5,9 4,2 12,4 7,9 7,9 11,3
Alagoas 78,7 50,3 4,8 4,0 9,0 6,0 7,4 6,5
Sergipe 87,0 60,0 5,9 5,2 14,9 8,8 6,4 9,3
Bahia 86,4 55,9 6,8 5,4 11,4 7,7 5,0 5,8
Minas Gerais 83,5 58,9 9,5 6,7 19,1 10,4 8,4 10,7
Esprito Santo 87,1 63,8 9,9 7,3 21,8 11,7 9,7 11,2
Rio de Janeiro 78,0 53,0 9,1 5,9 24,9 16,4 15,0 14,0
So Paulo 82,3 55,7 9,5 6,0 26,1 15,2 12,6 12,1
Paran 86,7 63,2 8,5 5,5 22,4 10,2 9,5 10,1
Santa Catarina 86,8 64,7 8,6 6,8 20,8 9,0 7,6 9,0
Rio Grande do Sul 86,4 64,9 7,6 4,9 18,7 9,1 8,0 9,6
Mato Grosso do Sul 87,0 62,6 11,2 7,8 18,2 10,9 10,1 11,3
Mato Grosso 91,0 60,6 12,1 8,1 27,3 12,5 7,9 10,2
Gois 87,1 57,5 9,3 6,1 19,2 9,8 8,0 8,5
Distrito Federal 84,8 64,4 14,3 11,5 44,6 39,6 24,7 24,7
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2004.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
100
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 85,9 60,1 3,2 2,1 7,2 3,6 2,5 3,2
Rondnia 90,0 63,1 2,7 2,8 9,5 3,8 3,0 3,2
Acre 91,2 65,4 4,8 2,5 9,2 6,5 3,3 3,8
Amazonas 88,5 57,3 2,2 1,3 6,4 3,4 1,9 2,7
Roraima 84,8 52,2 3,2 3,9 8,5 7,2 2,3 1,5
Par 89,4 60,2 3,6 2,4 7,7 3,3 2,4 2,9
Amap 85,1 57,9 1,3 2,0 11,3 8,6 1,6 3,7
Tocantins 90,8 64,4 3,1 2,7 6,7 4,4 2,0 4,2
Maranho 86,2 64,2 2,6 1,9 5,0 2,5 1,9 2,0
Piau 89,9 66,2 1,4 1,7 2,9 1,8 2,6 3,6
Cear 86,0 58,8 2,4 2,4 3,4 2,4 2,0 3,3
Rio Grande do Norte 79,3 50,7 3,9 2,6 6,3 2,6 2,4 3,2
Paraba 85,5 52,9 2,3 2,0 4,4 2,6 2,8 3,8
Pernambuco 84,4 54,1 3,1 2,5 4,8 3,0 2,9 3,5
Alagoas 82,4 48,4 1,8 1,2 2,2 1,8 1,0 1,7
Sergipe 87,0 66,4 3,2 1,0 7,4 3,3 2,8 4,7
Bahia 86,2 60,4 3,3 2,2 4,6 2,5 1,7 2,2
Minas Gerais 84,4 62,6 3,2 1,9 6,5 2,4 2,1 3,0
Esprito Santo 85,9 60,2 3,7 3,0 10,1 3,7 3,0 4,4
Rio de Janeiro 81,6 56,7 2,7 2,5 11,1 5,6 3,7 5,1
So Paulo 85,6 62,0 3,4 1,5 10,3 4,6 2,9 2,4
Paran 87,4 63,1 3,0 1,9 7,0 3,3 2,1 3,0
Santa Catarina 89,2 60,9 3,5 1,7 7,3 1,7 2,7 0,9
Rio Grande do Sul 85,5 62,3 2,3 2,0 7,3 4,6 1,8 2,9
Mato Grosso do Sul 89,4 59,9 4,2 1,8 7,6 3,4 3,1 4,6
Mato Grosso 90,1 64,8 4,9 1,4 8,3 4,2 3,0 5,1
Gois 88,4 60,2 4,3 2,4 8,8 4,7 2,5 3,8
Distrito Federal 85,2 64,9 6,9 5,3 22,6 17,3 8,0 6,5
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2004.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
101
ndice de desenvolvimento de gnero - Unidades da Federao - 2008
Unidades da Federao Homens Mulheres
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 0,506 0,389 0,645 0,488 0,366 0,277
Rondnia 0,425 0,292 0,523 0,366 0,370 0,243
Acre 0,493 0,386 0,768 0,562 0,418 0,318
Amazonas 0,409 0,305 0,581 0,447 0,358 0,262
Roraima 0,425 0,421 0,554 0,621 0,393 0,358
Par 0,413 0,303 0,539 0,403 0,381 0,273
Amap 0,456 0,367 0,717 0,400 0,405 0,359
Tocantins 0,445 0,415 0,585 0,583 0,404 0,364
Maranho 0,352 0,265 0,475 0,342 0,312 0,237
Piau 0,377 0,311 0,500 0,396 0,343 0,285
Cear 0,376 0,301 0,466 0,378 0,336 0,261
Rio Grande do Norte 0,404 0,316 0,519 0,439 0,342 0,238
Paraba 0,396 0,335 0,556 0,461 0,315 0,250
Pernambuco 0,391 0,305 0,503 0,391 0,326 0,248
Alagoas 0,351 0,295 0,463 0,444 0,307 0,220
Sergipe 0,404 0,300 0,498 0,388 0,364 0,257
Bahia 0,376 0,286 0,527 0,400 0,336 0,255
Minas Gerais 0,479 0,361 0,615 0,457 0,361 0,270
Esprito Santo 0,502 0,369 0,655 0,451 0,364 0,303
Rio de Janeiro 0,584 0,463 0,721 0,591 0,420 0,304
So Paulo 0,606 0,459 0,715 0,533 0,377 0,283
Paran 0,576 0,432 0,653 0,480 0,368 0,282
Santa Catarina 0,624 0,447 0,652 0,465 0,403 0,305
Rio Grande do Sul 0,529 0,405 0,574 0,434 0,330 0,250
Mato Grosso do Sul 0,526 0,399 0,662 0,477 0,396 0,313
Mato Grosso 0,537 0,412 0,737 0,564 0,411 0,303
Gois 0,505 0,379 0,631 0,466 0,417 0,311
Distrito Federal 0,803 0,681 0,940 0,843 0,648 0,517
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
102
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento
de gnero - Unidades da Federao - 2008
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Brasil 84,0 59,7 6,3 4,7 13,1 8,1 8,1 9,4
Rondnia 89,3 58,4 4,6 2,8 9,6 4,3 4,6 6,4
Acre 86,9 62,8 6,0 4,0 11,3 9,1 8,1 8,8
Amazonas 85,4 56,0 3,9 3,1 9,4 5,6 5,1 6,7
Roraima 90,2 60,0 4,3 5,8 8,3 11,6 5,9 7,8
Par 88,0 56,8 5,4 3,6 8,1 5,7 3,6 5,3
Amap 88,6 62,3 5,1 4,7 7,2 6,2 9,0 8,0
Tocantins 88,6 69,0 5,9 4,8 8,1 5,9 5,8 11,3
Maranho 85,7 56,9 3,9 3,0 4,9 3,3 3,2 4,6
Piau 87,2 68,4 4,3 2,6 5,6 3,4 4,0 6,8
Cear 84,1 60,2 4,4 3,5 6,0 3,7 4,3 6,1
Rio Grande do Norte 83,9 57,1 4,6 4,0 7,8 5,1 5,2 6,3
Paraba 80,8 49,5 4,6 5,0 6,9 6,3 6,1 7,5
Pernambuco 82,1 54,5 4,9 3,3 6,5 5,2 5,0 7,1
Alagoas 78,0 48,7 3,6 4,1 5,9 5,1 4,7 6,3
Sergipe 83,6 58,2 4,8 2,6 7,9 5,4 5,0 6,7
Bahia 85,8 61,4 3,7 3,0 7,3 4,4 3,8 4,6
Minas Gerais 84,3 61,8 6,5 4,4 10,9 5,7 6,8 8,5
Esprito Santo 85,1 62,7 7,3 4,4 11,6 5,5 7,0 9,3
Rio de Janeiro 79,7 54,5 5,8 5,0 19,9 13,9 12,2 12,8
So Paulo 83,0 59,7 7,7 5,9 18,8 11,7 11,3 11,3
Paran 85,6 63,4 7,9 5,5 14,9 7,4 10,7 12,0
Santa Catarina 84,8 62,4 9,6 6,5 16,5 7,4 11,6 12,2
Rio Grande do Sul 83,7 64,2 7,1 4,4 14,3 7,4 8,2 10,9
Mato Grosso do Sul 87,6 64,9 7,5 3,8 13,1 6,7 7,3 11,8
Mato Grosso 89,0 58,1 7,0 6,4 15,1 8,2 7,2 9,2
Gois 85,7 63,1 7,4 4,4 12,5 6,7 6,4 9,2
Distrito Federal 85,0 66,1 9,5 7,2 32,5 25,9 18,1 17,9
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
103
Indicadores selecionados para o clculo do ndice de desenvolvimento de
gnero por cor - Unidades da Federao - 2008
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Homens
Brancos
Mulheres
Brancas
Brasil 83,2 59,1 9,1 6,5 19,0 11,6 12,7 13,6
Rondnia 88,0 56,9 6,8 5,0 14,2 6,3 7,2 8,8
Acre 90,1 61,9 12,8 7,7 19,3 13,9 16,9 16,3
Amazonas 85,2 52,8 7,5 5,6 16,6 12,1 10,5 12,1
Roraima 92,1 67,1 5,3 10,0 14,9 19,9 11,1 12,1
Par 87,6 58,8 8,8 5,6 13,5 9,3 6,1 8,5
Amap 88,5 63,5 10,7 7,2 15,3 2,0 19,0 10,6
Tocantins 87,9 66,3 8,3 9,2 15,4 11,9 9,8 16,3
Maranho 86,2 57,5 6,0 3,7 10,2 6,4 7,4 8,3
Piau 88,1 66,3 8,2 3,9 7,6 5,0 8,0 12,3
Cear 83,0 58,9 6,1 5,0 9,7 6,4 7,6 9,3
Rio Grande do Norte 83,1 60,4 7,1 6,9 12,4 9,3 8,9 9,6
Paraba 82,4 51,6 8,0 7,8 12,8 9,5 11,0 12,2
Pernambuco 81,8 54,1 7,4 4,5 10,8 8,1 8,5 11,4
Alagoas 80,4 51,3 5,2 6,6 9,9 9,9 9,3 12,3
Sergipe 82,8 58,6 7,4 4,5 10,6 8,5 7,9 9,6
Bahia 85,4 57,2 7,1 5,8 13,1 8,3 8,5 9,1
Minas Gerais 83,6 60,4 9,6 6,6 16,1 8,5 11,1 12,5
Esprito Santo 85,7 62,0 11,0 6,1 17,0 7,3 11,6 13,4
Rio de Janeiro 78,2 52,3 8,3 7,1 25,2 19,4 17,7 18,1
So Paulo 82,1 58,0 9,8 7,2 23,5 14,8 15,1 14,5
Paran 85,4 63,7 9,5 6,3 18,1 8,7 13,0 14,4
Santa Catarina 84,9 62,5 10,1 6,9 17,5 7,8 12,4 12,8
Rio Grande do Sul 84,0 64,3 8,1 4,9 16,0 8,4 9,5 12,3
Mato Grosso do Sul 87,5 64,9 10,4 4,6 19,3 9,2 10,8 16,1
Mato Grosso 89,2 59,4 11,5 9,8 23,8 12,4 12,3 14,8
Gois 85,0 62,6 10,3 6,2 17,8 9,7 9,9 12,6
Distrito Federal 84,0 64,8 13,8 10,8 43,5 35,6 27,4 25,6
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
104
Unidades da
Federao
Taxa de participao no
mercado de trabalho
das pessoas de 20 anos
ou mais de idade
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais
de idade em cargos de
chea e direo
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com rendimento
de todos os trabalhos
de 5 salrios mnimos
ou mais
Proporo de pessoas
de 20 anos ou mais de
idade com 15 anos ou
mais de estudo
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Homens
Pretos ou
Pardos
Mulheres
Pretas ou
pardas
Brasil 84,9 60,4 3,6 2,6 7,2 4,1 3,5 4,7
Rondnia 90,1 59,0 3,4 1,4 6,9 2,9 3,1 4,7
Acre 85,9 62,6 4,1 2,7 9,1 7,2 5,8 5,7
Amazonas 85,4 57,3 2,9 2,4 7,4 3,7 3,5 4,9
Roraima 89,4 57,3 4,2 4,4 6,6 8,9 4,5 6,7
Par 88,1 56,3 4,5 3,0 6,7 4,6 2,9 4,4
Amap 88,7 61,9 4,1 4,1 5,4 7,3 7,0 7,4
Tocantins 88,7 69,8 5,1 3,5 6,0 4,2 4,7 9,6
Maranho 85,4 56,3 3,2 2,8 3,3 2,1 1,8 3,3
Piau 86,9 69,2 3,2 2,2 5,1 2,9 2,9 5,1
Cear 84,6 60,9 3,6 2,7 4,3 2,3 2,8 4,4
Rio Grande do Norte 84,4 55,1 3,2 2,1 5,4 2,5 3,2 4,4
Paraba 80,0 47,8 2,8 3,0 3,9 4,2 3,6 4,5
Pernambuco 82,3 54,4 3,5 2,5 3,9 3,3 3,0 4,3
Alagoas 77,1 47,5 2,9 2,7 4,3 2,5 2,9 3,4
Sergipe 83,9 58,0 3,6 1,6 6,8 3,8 3,7 5,3
Bahia 86,0 62,6 2,8 2,2 5,8 3,4 2,5 3,4
Minas Gerais 85,0 63,1 3,8 2,3 6,5 3,1 3,1 4,8
Esprito Santo 84,5 63,2 3,9 3,1 6,9 4,0 3,0 6,0
Rio de Janeiro 81,5 57,4 2,9 2,5 13,6 7,2 5,5 5,9
So Paulo 84,9 63,3 3,4 2,8 8,8 4,7 3,4 3,8
Paran 86,6 62,9 3,4 3,0 6,5 3,4 4,1 4,7
Santa Catarina 84,0 62,7 4,8 2,7 8,3 3,7 4,4 7,2
Rio Grande do Sul 82,7 63,7 2,8 1,9 6,3 2,1 2,4 4,2
Mato Grosso do Sul 87,7 65,2 4,7 3,0 7,0 3,5 3,9 7,1
Mato Grosso 89,1 57,7 4,2 3,9 9,4 5,0 4,0 5,2
Gois 86,2 63,5 5,4 3,0 8,8 4,3 3,9 6,6
Distrito Federal 85,6 66,9 6,6 4,5 25,0 18,6 11,7 11,9
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, 2008.
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
105
Referncias Bibliogrcas:
ANAND, Sudhir. & SEN, Amartya. The Income Component of the
Human Development Index. Journal of Human Development,
Vol. 1, n. 1, 2000.
ANAND, Sudhir. & SEN, Amartya. Concepts of Human Develop-
ment and Poverty: A Multidimensional Perspective. UNDP: Hu-
man Development Papers, 1997.
ANAND, Sudhir. & SEN, Amartya. Human Development Index:
Methodology and Measurement. Occasional Paper 12, Human
Development Report Ofce, 1994.
DELGADO, Pedro. & SULCEDO, Tulia. Aspectos conceptuales sobre
los indicadores de calidad de vida. Colmbia, 2004.
DIJKSTRA, A. Geske & HANMER, Lucia C. Measuring Socio-Eco-
nomic Gender Inequality: Toward an Alternative to the UNDP
Gender-Related Development Index. Feminist Economics, Vol-
ume 6, Number 2 July 2000, pages 41 75.
FREUDENBERG, Michael. Composite indicators of country perfor-
mance: a critical assessment. OECD, Paris, 2003.
FUKUDA-PARR, Sakiko. The Human Development Paradigm: Oper-
ationalizing Sens Ideas on Capabilities. Feminist Economics,
9(2-3), pp. 301-317, 2003.
FUKUDA-PARR, Sakiko. Rescuing the Human Development Con-
cept from the HDI: Reections on a New Agenda. Readings in
Human Development, edited by Sakiko Fukuda-Parr and A. K.
Shiva Kumar. Oxford, UK: Oxford University Press, p. 117-124,
2003.
HAGERTY, Michael. R. & LAND, Kenneth. C. Constructing Summa-
ry Indices of Social Well-Being:A Model for the Effect of Hetero-
geneous importance Weights. Paper presented at the annual
meeting of the American Sociological Association, Chicago,
IL, August 16-19, 2002.
HAUSMANN, Ricardo et al. The Global Gender Gap Report 2009.
World Economic Forum, 2009.
HIRWAY, Indira & MAHADEVIA, Darshini. Critique of Gender De-
velopment Index: Towards an Alternative. Economic and Polit-
ical Weekly, Vol. 31, No. 43 (Oct. 26, 1996), pp. WS87-WS96.
MANCERO, Xavier. La medicin del desarrollo humano: elementos
de un debate. Santiago de Chile: CEPAL, Serie estudios esta-
dsticos y prospectivos, n. 11, 2001.
OECD. Handbook on Constructing Composite Indicators: method-
ology and user guide. OECD, 2008.
RAWLS, J. A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971.
SEN, A. Development as Freedom. New York: Anchor Books, 1999.
SEN, A. Collective choice and Social Welfare. Amsterdam: North-
Holland, 1970.
SALZMAN, J. Methodological Choices Encountered in the Construc-
tion of Composite Indices of Economic and Social Well-Being.
Center for the Study of Living Standards, Canada, 2003.
SOARES, Cristiane. Uma proposta de ndice de desenvolvimento
social para os municpios brasileiros de acordo com o tamanho
da populao em 1991 e 2000. Braslia, UnB, Pos-Graduao
em Economia, julho, 2009 (mimeo).
UNDP. Human Development Report. New York, 1990 e 1995.
U.S. Census Bureau. Current Population Reports: Women and
Men in the United States. March, 2002 (www.census.gov).
NDICES DE DESENVOLVIMENTO DE GNERO / Cristiane Soares
106
Artigo
MULHERES EM DADOS: O QUE
INFORMA A PNAD/IBGE, 2008
Lourdes Maria Bandeira *
Hildete Pereira de Melo **
Luana Simes Pinheiro ***
(SPM)
1
Neste texto, a nominao negra refere-se soma das categorias preta e parda.
* Dra. em Sociologia, Secretaria de Planejamento e Gesto Interna da SPM/PR, professora titular da UnB.
** Dra em Economia, gerente de projetos da SPM/PR, professora associada da UFF.
*** Mestre em Sociologia, Gerente de Projeto da SPM/PR, tcnica do Ipea.
Este texto prope uma reexo sobre a perspectiva
de gnero, a partir da rea de atuao da Secretaria de
Polticas para as Mulheres da Presidncia da Repblica
(SPM/PR) no mbito das polticas sociais. Para tanto, uti-
lizou-se como fonte de informaes a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domiclios (PNAD), do Instituto Brasileiro
de Geograa e Estatstica (IBGE), com base nos dados da
PNAD de 2008. Estas informaes possibilitam identicar
as mudanas em curso na diviso sexual do trabalho, com
repercusses nos papis femininos e masculinos no con-
texto da famlia.
1. Dados sobre a populao brasileira
Em 2008, a populao brasileira era de 189,9 mi-
lhes de pessoas, sendo que 51,3% (ou 97 milhes)
eram compostos por mulheres. H, portanto, um saldo
positivo de mulheres na sociedade brasileira, tendo havi-
do um pequeno acrscimo com relao a 2007: naquele
ano, tnhamos 4,5 milhes de mulheres a mais do que
homens e, em 2008, o saldo cresceu para 5,1 milhes. A
ampliao deste saldo no fortuita e reete uma ten-
dncia das ltimas dcadas, a qual se deve provavelmente
a duas causas: a sobremortalidade masculina adulta (es-
pecialmente da populao negra) e a queda nas taxas de
mortalidade feminina relacionadas gravidez, ao parto e
ao ps-parto.
A novidade destes dados sobre o perl populacional
relativa ao quesito cor/raa. Houve um acrscimo da
populao feminina e masculina que se declara parda
e um decrscimo nas declaraes de cor/raa preta e
branca. Como resultado, h uma elevao da participa-
o das pessoas negras
1
entre 2007 e 2008 (de 50% para
50,6%), que signicativa, sobretudo, para a populao
feminina negra (Grcos 1 a 4).
De fato, em 2007, o contingente de mulheres negras
era inferior ao de homens negros na populao brasileira
de modo geral: eram 46,8 milhes de mulheres contra
47 milhes de homens. J a PNAD 2008 evidencia uma
reverso deste fenmeno, tendo as mulheres negras ul-
trapassado o total de homens desta mesma cor/raa: so
cerca de 451 mil mulheres a mais, em um contingente
total de 48,3 milhes de mulheres negras e 47,8 milhes
de homens negros.
Grco 1: Distribuio da Populao Residente,
segundo Cor/Raa. Brasil, 2007
Fonte: IBGE. Sntese de Indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Elaborao Prpria da Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR.
Grco 2: Distribuio da Populao Residente,
segundo Cor/Raa. Brasil, 2008
Fonte: IBGE. Sntese de Indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Elaborao Prpria da Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR.
42,5%
7,5%
0,8%
49,2%
Branca Parda Preta Outra
Branca Parda Preta Outra
6,8%
0,9%
48,4%
43,8%
Crescimento de
13% (3,26 milhes)
107
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
Grco 3: Distribuio da populao feminina,
segundo cor/raa. Brasil, 2007
Fonte: IBGE. Sntese de Indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Elaborao Prpria da Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR.
Grco 4: Distribuio das mulheres residentes,
segundo cor/raa. Brasil, 2008
Fonte: IBGE. Sntese de Indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Elaborao Prpria da Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR.
Cai a taxa de fecundidade!
O Brasil, em 2008, continua sua trajetria de cresci-
mento populacional. Ao longo do sculo XX, a populao
brasileira aumentou quase dez vezes, embora esta taxa
de crescimento venha se reduzindo progressivamente no
decorrer do tempo, em um movimento idntico ao ocor-
rido nos pases desenvolvidos. Objetivamente, a evoluo
demogrca brasileira vem sendo marcada por transies
nos nveis de mortalidade e fecundidade: a mortalidade
vem caindo desde 1940, possibilitando um ganho de 35
anos na expectativa de vida da populao brasileira, en-
quanto a fecundidade
2
s comea a declinar a partir dos
anos 1960. Pode-se armar que, a partir dos anos 1980, a
queda na taxa de fecundidade tem tido um papel decisivo
na diminuio do ritmo do crescimento populacional bra-
sileiro.
De fato, a taxa mdia de fecundidade cresceu du-
rante o perodo de 1940 a 1960, alcanando 6,3 lhos
por mulher. A partir de ento, se inicia um processo de
declnio. Em 1970, esta taxa foi de 5,8 lhos por mulher,
em 1980 caiu para 4,4 lhos por mulher, em 2004 foi de
2,1 lhos por mulher, em 2007 caiu para 1,95 lho por
mulher e, em 2008, reduziu-se um pouco mais, para 1,89
lho por mulher
3
. Esta queda na taxa de fecundidade ex-
pressa uma profunda mudana no comportamento demo-
grco brasileiro e aponta para uma tendncia de reduo
da populao brasileira, pois se encontra abaixo da taxa
de reposio
.
Em 2008, observa-se que em todas as regies brasi-
leiras a taxa de fecundidade est no nvel da taxa natural
de reposio da populao. Abaixo desta, temos a regio
Sudeste, sobretudo os estados do Rio de Janeiro e So
Paulo com um pouco mais de 1,5 lho por mulher. Obser-
va-se uma mudana signicativa na sociedade brasileira,
uma vez que tanto as mulheres de baixa renda quanto as
demais tiveram, em 2008, taxas de fecundidade muito
prximas.
Esta queda evidencia que cada vez mais as mulheres
separam a sexualidade e a reproduo no Brasil e isto
se verica em todos os grupos sociais e nas diferentes
regies do pas. Alm disso, a elevao da escolaridade
afastou as mulheres das funes reprodutivas, em um mo-
vimento idntico ao ocorrido nos pases mais desenvol-
vidos. Este comportamento tambm signica, no longo
prazo, tanto uma reduo no volume da populao quanto
o seu envelhecimento.
A queda na fecundidade e as
mudanas no papel feminino
Provavelmente a acelerao do processo de urba-
nizao, a difuso de mtodos contraceptivos e a pre-
sena do movimento feminista com sua proposta de
mudanas no papel das mulheres foram os fatores que
inuenciaram de maneira decisiva a reduo das taxas
de fecundidade.
A partir dos anos 1960, houve uma importante mu-
dana na sociedade ocidental, com a ecloso da segun-
da onda feminista, que se reete no comportamento da
populao feminina brasileira. As mulheres, depois do
advento da plula anticoncepcional, conseguem separar
a sexualidade e a reproduo, o que levou, entre ou-
tros fatores, prorrogao da idade/tempo para casar/
contrair matrimnio, sobretudo das mulheres jovens,
concentrao crescente nos investimentos na carreira
2
O IBGE define taxa de fecundidade total como o nmero mdio de filhos que teria uma mulher, de uma coorte hipottica, ao fim do perodo reprodutivo, estando sujeita a uma
determinada lei de fecundidade, em ausncia de mortalidade desde o nascimento at o final do perodo frtil (IBGE, Sntese dos Indicadores Sociais, 2009).
3
A taxa de reposio expressa pelo nmero mdio de filhos por mulher igual a 2,1.
48,7
0,9
50,4
Branca
Negra
Outra
0,9
49,5
49,5
Crescimento de
mais de 1,4 milho
Branca Negra Outra
108
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
prossional, e consequentemente, na busca de maior
estabilidade no mercado de trabalho, principalmente
nas reas urbanas. Em outras palavras, o investimento
em um maior nmero de anos de estudos, que repercute
em melhor qualicao e acesso ao mercado de traba-
lho, tornou-se um valor subjetivo mais presente, em
especial para as jovens.
Associado aos fatores mencionados, observa-se
que a queda da fecundidade tambm decorre da situa-
o a qual se pode denominar sndrome do lho nico,
ou seja, ter apenas um/a lho/a. Tal comportamento
signica remeter-se a outro modelo de famlia nuclear,
mais reduzido em termos de investimento de tempo
dos pais, mas, sobretudo da me, assim como de gastos
materiais em educao, sade, alimentao das crian-
as e adolescentes.
O Brasil envelhece!
Deve-se ressaltar que o envelhecimento da popula-
o brasileira a consequncia dessa dinmica da fecun-
didade e da reduo da mortalidade, em curso desde a
segunda metade do sculo XX e incio do XXI, em um
movimento similar ao ocorrido nos pases europeus e nos
Estados Unidos. Ou seja, a diminuio da mortalidade,
acompanhada pela queda na fecundidade, provocar, em
um futuro no to distante, uma estagnao, e poste-
rior queda do crescimento populacional. Segundo estudos
em desenvolvimento no Instituto de Pesquisa Econmica
Aplicada (Ipea), a populao brasileira deve comear a
diminuir a partir de 2030, caso seja mantida essa dinmi-
ca de transio demogrca.
Tal situao indica a necessidade de uma constante
reviso das polticas pblicas voltadas para o segmen-
to mais idoso da populao. Segundo os dados da PNAD
2008, o contingente de pessoas com mais de 60 anos
alcanou cerca de 21 milhes, o que equivale a 11,1% da
populao total.
Os estados brasileiros com maior crescimento, entre
1998 e 2008, e concentrao da populao idosa so: Rio
de Janeiro (passou de 11% para 14,9%); Rio Grande do
Sul (de 10% para 13,5%); So Paulo (de 9% para 11,9%);
Minas Gerais (de 9% para 11,8%) e Paraba (de 10% para
11,6%). Observa-se que os estados que apresentam uma
participao da populao idosa acima da mdia nacional
(11,1%) concentram-se na regio Sudeste (RJ, SP e MG),
alm do RS, com 13,5% da populao com 60 anos ou
mais.
Em relao ao segmento populacional que tem 80
anos ou mais, este j representa 1,5% da populao bra-
sileira e os estados com maior percentagem desta popula-
o so: Rio de Janeiro e Paraba, com 1,9%, Rio Grande
do Sul e Cear, com 1,8%, Rio Grande do Norte, com 1,7%
e So Paulo e Minas Gerais, com 1,6%. Nota-se uma pecu-
liaridade nesta distribuio: a concentrao da populao
dspare em termos da distribuio da riqueza nacional,
mesclando estados ricos com aqueles mais pobres.
Se as mulheres so maioria na populao brasileira,
so ainda mais numerosas quando se analisa este segmen-
to especco. Assim, em 2008, do total de idosos/as (de
mais de 60 anos), 56,2% eram de mulheres e 43,8% de
homens. Essa sobrerepresentao feminina resulta de uma
srie de fatores, dentre os quais vale destacar uma maior
expectativa de vida para as mulheres, associada a ndices
de mortalidade por causas violentas signicativamente
menores do que para a populao masculina, bem como
a valores e convenes de gnero que desestimulam os
homens a terem um acompanhamento mdico mais con-
tnuo ao longo de sua vida. Os estados que tm um per-
centual mais elevado da populao idosa feminina, acima
da mdia nacional, so: Sergipe (61,1%); Rio de Janeiro
(59,6%); Esprito Santo (57,8%); Rio Grande do Norte
(57,1%); Rio Grande do Sul (57%) e So Paulo (56,8%).
Na mesma direo, 56% dos idosos/as so brancos/
as, 42,5% so negros/as e os demais 1,5% so de outras
etnias (indgenas, amarela). H, aqui tambm, fatores as-
sociados maior vulnerabilidade da populao negra em
relao violncia urbana e pobreza que restringem
o acesso aos servios de sade e educao, produzindo,
como consequncia, taxas de mortalidade e de analfabe-
tismo superiores s vericadas para a populao branca.
Diante deste quadro de crescente participao de
idosos/as fundamental que o Estado brasileiro possa vir
a garantir uma infraestrutura em vrios mbitos de atua-
o das polticas pblicas, assim como todo um conjunto
de medidas que possam garantir o bem-estar dos/as ido-
sos/as brasileiros/as e que compreenda aspectos psicos-
sociais, das relaes de trabalho, do convvio familiar e
da preveno de situaes de violncia, sobretudo nos es-
paos familiares. A chamada infraestrutura de cuidados
para estes segmentos populacionais exige equipamentos
sociais e servios cada vez mais ecientes e complexos. A
inexistncia de tais servios tende a produzir uma situa-
o de sobrecarga para a populao feminina que aque-
la que, historicamente, responsabilizada pelos cuidados
com os doentes e os mais velhos.
2. Novos arranjos familiares
A ideia de famlia foi, durante dcadas, associada
a um modelo no qual o ncleo era composto por um ca-
sal heterossexual, cabendo ao homem o lugar de chefe e
provedor da famlia e mulher a ateno aos lhos e o
109
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
gerenciamento do lar. Como produto dos valores vigentes
e das expectativas sociais, o modelo padro de famlia
tambm pressupunha a presena de lhos e lhas, cuja
criao estava, sobretudo, a cargo das mes e o sustento
a cargo dos pais.
Ao longo das ltimas dcadas, vrias foram as trans-
formaes que questionaram este modelo padro. O movi-
mento feminista contribuiu decisivamente para visibilizar
os espaos atribudos s mulheres na sociedade e para
produzir mudanas importantes: i) a dissociao da sexu-
alidade e da reproduo pelo uso da plula contraceptiva
e, consequentemente, das prticas sexuais cotidianas; e
ii) novas convenes de gnero, que questionaram e aba-
laram fortemente a separao homem provedor X mulher
cuidadora, a partir da entrada massiva das mulheres no
espao pblico, seja na escola, no mercado de trabalho
ou em outras esferas de participao social
4
.
Como resultado de todos esses processos, a socieda-
de brasileira tem passado por importantes transformaes
na congurao da diviso sexual do trabalho, dentre as
quais vale mencionar a reduo da fecundidade, a femi-
nizao do mercado de trabalho, o aumento de famlias
cheadas por mulheres e o aumento de famlias do tipo
monoparental e unipessoal.
Entre 1998 e 2008, a proporo de famlias que ti-
nham uma mulher como chefe aumentou de 25,9% para
34,9%. Vem crescendo, tambm, a proporo de famlias
cheadas por mulheres que tm cnjuge, especialmente
nas reas metropolitanas (de 2,4% para 9,1%). Ou seja,
ainda que exista um homem no domiclio, cada vez
maior o nmero de famlias que associam mulher o pa-
pel de chefe do ncleo familiar. Isso parece indicar uma
importante mudana no somente na congurao dos ar-
ranjos familiares, mas tambm nas concepes acerca dos
valores e responsabilidades socialmente atribudos a ho-
mens e mulheres, pois a gura do provedor e/ou respon-
svel no est mais somente atrelada ao sexo masculino
(Grco 5). Este fenmeno, do ponto de vista simblico,
torna-se signicativo, pois interfere nos padres patriar-
cais de virilidade ainda vigentes na sociedade brasileira.
Portanto, o aumento da proporo de famlias
sendo cheadas por mulheres est diretamente rela-
cionado, entre outros fatores, maior participao fe-
minina no mercado de trabalho e a um aumento de
sua autonomia econmica, comprovada pela elevao
da contribuio dos rendimentos femininos na renda
das famlias brasileiras. De acordo com dados do Ipea,
esta [contribuio] passou de 30,1% para 40,6%. Mais
expressivo foi o aumento da proporo de mulheres
cnjuges que contribuem para a renda das suas fam-
lias, que passou de 39,1% para 64,3%.
5
Grco 5: Proporo de arranjos familiares
com pessoa de referncia do sexo feminino,
segundo o tipo. Brasil, 1998 e 2008
Fonte: IBGE. Sntese de Indicadores Sociais 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Os dados da PNAD de 2008 informam que existem no
pas cerca de 60,9 milhes de arranjos familiares que vm
passando por profundas transformaes, mesmo que ainda
prevalea o tradicional casal heterossexual com lhos, no
qual h ainda uma predominncia da chea masculina.
Este tipo de arranjo, porm, vem se reduzindo signicati-
vamente ao longo dos anos: em 1992, representava quase
63% das famlias e, em 2008, caiu para 50,5% do total
(ver grco 5). Neste perodo, houve um aumento expres-
sivo da chea feminina neste tipo de arranjo, que passou
de 4,5%, em 1992, para 31,2%, em 2008
6
. Tal mudana
indica que o protagonismo masculino no mbito familiar
passa por profundos questionamentos. Adicionalmente,
aumentaram as famlias constitudas por casais sem -
lhos, as monoparentais (especialmente as femininas)
7
e
as unipessoais (homens e mulheres vivendo sozinhos),
como mostra o grco 6.
Grco 6: Distribuio percentual dos arranjos
familiares, por tipo. Brasil, 1992 e 2008
Fonte: Ipea. Comunicado da Presidncia. Braslia: Ipea, n.31, out 2009.
4
Comunicados da Presidncia Ipea, nmeros 31 e 32, Braslia, DF, 2009.
5
IPEA. Comunicados da Presidncia n. 31. Braslia: Ipea, out 2009, p.9.
6
IPEA. Comunicados da Presidncia n. 31. Braslia: Ipea, out 2009, p.9.
7
Para agravar a situao das famlias ditas monoparentais femininas houve tambm o aumento do nmero mdio de pessoas nestes domiclios, nos quais as mulheres so referncia
e no so economicamente ativas, que passou de 2,6 para 2,7 pessoas por domiclio.
1998 2008
4,4
5,9
34,9
25,9
19,9
19,2
2,4
9,1
30
25
20
35
15
10
5
0
Total Unipessoais Com cnjuge Semcnjuge
1992 2008
60
50
40
70
30
20
10
0
Casal sem
filhos
Casal com
filhos
Mulher
sozinha
Mulher com
filhos
Homem com
filhos
Homem
sozinho
11,7
15,7
62,8
50,5
6,2
8,9
12,3
15,4
5,4
7,5
1,6 1,9
110
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
No que se refere aos arranjos familiares solitrios,
constata-se que houve um aumento na proporo de
mulheres vivendo ss, assim como de homens na mes-
ma situao, quer tenham lhos ou no. O percentual de
mulheres sozinhas passou de 6,2%, em 1992, para 8,9%,
em 2008. Em relao aos homens, em 1992, eram 5,4% e
passaram para 7,5%. Essa condio de solido permanece
mesmo com a presena de lhos/as: mulheres sozinhas
com lhos/as correspondiam a 12,3% do total de arran-
jos, em 1992, e passaram a 15,4%, em 2008. J homens
sozinhos com lhos/as representavam, em 1992, 1,6% do
conjunto das famlias brasileiras e, em 2008, cresceram
para 1,9%.
O aumento no nmero de pessoas vivendo sozinhas
uma tendncia mundial e vale tanto para homens como
para mulheres. Na Inglaterra, o ndice de domiclios ha-
bitados por uma nica pessoa de 30%. Nos Estados
Unidos, alcana os 25%: em Nova York, a meca dos/
as solteiros/as, mais da metade da populao (50,6%)
vive s. No Brasil, o nmero de pessoas que moram sem
companhia tambm tem aumentado a cada ano, conforme
explicitado: em 2008, 11,6% dos brasileiros no dividiam
o teto com ningum. Em 1998, esse ndice era de 8,4%.
A maioria dos/as moradores/as solitrios/as ainda
de pessoas mais velhas e de mulheres 40% tm mais de
60 anos , o que resultado, especialmente, dos maiores
ndices de expectativa de vida da populao (e ainda mais
das mulheres) e das maiores taxas de separao (homens
e mulheres divorciados). No entanto, a condio de viver
s virou um estilo de vida e as faixas etrias mais jovens
esto adotando este comportamento: 11,4% dos arranjos
unipessoais so compostos de pessoas com idade entre
20 e 29 anos e 13,2%, entre 30 e 39 anos. Morar s no
signica, necessariamente, precrias condies de vida,
sobretudo para o segmento mais jovem da populao. No
campo das polticas pblicas, isso traz consequncias a
mdio prazo: aumento da demanda por moradias e, em ra-
zo disso, de infra-estrutura bsica e de transporte, entre
outros.
Rearmando a tendncia da queda das taxas de fe-
cundidade, houve um crescimento importante na propor-
o de casais sem lhos: de 11,7% para 15,7%, entre
1992 e 2008. Neste mbito, vale destacar a fora de um
tipo de arranjo familiar cada vez mais comum no Brasil: o
de casal sem lhos e ambos com rendimento. Segundo o
IBGE, este tipo de arranjo internacionalmente chamado
de DINC (double income and no children) e corresponde,
hoje, a 2,1 milhes de famlias, ou 5,3% do total de ca-
sais. Em 1998, essa proporo era de 3,2%, o que, mais
uma vez, refora as mudanas de valores em torno do
conceito de famlia e das responsabilidades e lugares so-
cialmente atribudos a cada um/a. A opo por ter lhos
tem, cada vez mais, sido postergada, especialmente em
funo da deciso feminina de investir na vida acadmica
ou na carreira prossional, como uma etapa anterior
deciso de ter lhos.
Persistncia da tradicional diviso sexual do trabalho:
possvel mensurar o trabalho reprodutivo?
Ainda que cada vez mais os lares estejam cheados
por mulheres e que estas contribuam na condio de che-
fe ou de cnjuge com a proviso de recursos para a fa-
mlia, as mulheres continuam responsveis pelo trabalho
reprodutivo. Este compreende os afazeres domsticos e as
tarefas dos cuidados, realizados no interior das famlias,
essenciais para a reproduo da vida humana. So tarefas
naturalizadas e entendidas na sociedade como lugares de
mulher e realizadas gratuitamente.
A invisibilidade destas tarefas favorecida pelo
Sistema de Contas Nacionais que mensura o Produto
Interno Bruto (PIB) dos pases e segue basicamente
as recomendaes dos organismos internacionais, que
no computam o trabalho que no realizado para o
mercado
8
. O trabalho reprodutivo contrape-se que-
le vinculado produo de bens e servios, valora-
dos pela sociedade, sendo historicamente atribuio
das mulheres. Essas atividades, quando exercidas por
trabalhadoras domsticas, passam a ser contabilizadas
pelo Sistema no valor equivalente ao valor de sua re-
munerao. Quando exercidas por algum da prpria fa-
mlia, no entanto, deixam de ser mensuradas nas con-
tas nacionais. Tal situao indica a no valorizao
destas atividades como produto da nao, que deriva,
provavelmente, do papel inferior a que foi relegada a
mulher. Pode-se mesmo radicalizar e dizer que parte da
subsistente discriminao da mulher se expressa nesta
negao de imputao destas tarefas no Produto Inter-
no Bruto (PIB). Mostrar o quanto elas valem e contri-
buem para o bem-estar familiar e do pas talvez ajude
a reduzir essa condio.
Quanto vale o trabalho reprodutivo?
Desde 2001, a Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
miclios (PNAD) do IBGE investiga o nmero de horas des-
pendidas pela populao na execuo de afazeres doms-
ticos, o que possibilitou o clculo do valor deste trabalho
reprodutivo no PIB nacional. A metodologia utilizada par-
tiu do pressuposto de que a remunerao mdia das/os
trabalhadoras/es domsticas/os o valor de mercado que
a sociedade atribui aos prestadores deste servio. Sendo
8
Recomendaes explicitadas pelas Naes Unidas (ONU), FMI, OCDE, Banco Mundial atravs do manual System of National Accounts, 1993 e Contas Nacionais (SNA, IBGE,
1997). 111
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
assim, ao trabalho domstico no remunerado aplicou-se
a mesma valorao
9
.
Este clculo mostra que, para 2008, o PIB brasi-
leiro aumentaria 10,3% caso fosse mensurado o tra-
balho reprodutivo, exercido majoritariamente pelas
mulheres. Como mostra a tabela 1, esta proporo foi
reduzida em 2008, pois o clculo para 2007 mostrou
uma elevao no PIB de 12,3%. Como a taxa de de-
semprego, em 2008
10
, foi baixa, de 6% no total, caiu
neste ano o nmero de pessoas que realizaram afazeres
domsticos no interior das famlias; o mercado de tra-
balho foi mais atraente e isto teve como consequncia
uma menor participao dessas atividades no clculo
do PIB.
Tabela 1
Valor monetrio do trabalho reprodutivo* e variao do PIB.
Brasil 2001-2008
(em milhes de R$ correntes)
Anos PIB
Valor monetrio do
trabalho reprodutivo
Variao PIB com
trabalho reprodutivo (%)
2001 1.302.136 148.653 11,4
2002 1.477.822 170.238 11,5
2003 1.699.948 200.283 11,8
2004 1.941.498 204.791 10,5
2005 2.147.239 235.350 11,0
2006 2.369.797 269.642 11,4
2007 2.597.611 319.965 12,3
2008 2.889.719 297.857 10,3
Fonte: Melo, Considera, Sabbato (2009), com base nos dados das PNADs/IBGE 2001 a 2008 e das contas nacionais do IBGE.
Notas: * Mtodo de clculo: Renda semanal de setembro com afazeres domsticos multiplicada por 52 semanas.
Quem responsvel pelo trabalho reprodutivo?
As mulheres, naturalmente!
As informaes da PNAD 2008 mostram que, do to-
tal de pessoas ocupadas com 10 anos ou mais de idade,
cerca de 66,5% declararam que dedicam vrias horas de
suas vidas realizao de afazeres domsticos e tarefas
relacionadas aos cuidados com os membros do domiclio.
Do total das mulheres ocupadas, 87,9% declararam que
cuidam de afazeres domsticos, enquanto para os homens
ocupados esta taxa foi de 46,1%, o que conrma a ideia
de que praticamente so as mulheres as responsveis por
essas tarefas na sociedade.
Quando se analisa o nmero mdio de horas gastas
nessas atividades, ca evidente a preponderncia da res-
ponsabilidade feminina em relao aos cuidados com a
vida. Em 2008, as mulheres ocupadas estimaram dedicar
20,9 horas semanais realizao dos afazeres domsticos
e dos cuidados, para uma mdia de 9,2 horas semanais
declaradas pelos homens. No s menor o contingente
de homens que se dedicam s atividades domsticas e dos
cuidados, como menor tambm o nmero de horas que
gastam, quando comparados populao feminina.
3. Avanos na escolaridade feminina
Ao longo do sculo XX, no Brasil, o acesso escola
foi sendo ampliado para os diferentes grupos populacio-
nais antes excludos do processo educacional formal e,
com isto, as mulheres passaram a ter a oportunidade de
estudar, o que hoje em dia se reete na maior positivi-
dade dos indicadores educacionais, nos quais as mulheres
vm superando os homens.
A mdia de anos de estudo um bom exemplo. Em
2008, as mulheres com 15 anos ou mais de idade tinham
uma escolaridade mdia de 7,6 anos de estudo, compa-
rados a 7,3 anos entre os homens. A mesma realidade
observada em todas as regies do pas. Entre a populao
ocupada e residente nas reas urbanas, a diferena entre
9
Sobre esta metodologia, ver Melo, Considera e Sabbato, 2007.
10
A PNAD no refletiu as consequncias da crise, pois vai a campo na ltima semana de setembro, quando a crise eclodiu em 2008. 112
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
homens e mulheres se amplica: enquanto os primeiros
possuam, em 2008, uma mdia de 8,3 anos de estudo, as
mulheres ocupadas chegaram a 9,2, ultrapassando o nvel
fundamental de ensino (cuja durao foi denida, a partir
de 2006, como sendo de 9 anos). Isso signica que as
mulheres tendem a se qualicar ainda mais para entrarem
no mercado de trabalho, o que no se reverte em salrios
mais elevados ou em ocupaes mais qualicadas que as
masculinas, assim como no signica a desobrigao das
responsabilidades domsticas e dos cuidados (grco 7).
Grco 7: Nmero mdio de anos de estudo da
populao de 15 anos ou mais, total e ocupados*,
segundo sexo. Brasil, 2008
Fonte: IBGE. Sntese de Indicadores Sociais 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Nota: * Refere-se populao de reas urbanas
Tomando-se a populao em geral com idade acima
de 10 anos, tem-se que 51% possuam at sete anos de
estudo, ou seja, o nvel fundamental incompleto. Esta
proporo sobe para cerca de 53% quando se analisa a
populao masculina e se reduz para 49% no caso das
mulheres (abaixo da mdia nacional, portanto). Ao se ob-
servar apenas as pessoas com 12 anos ou mais de escola-
ridade com superior completo ou cursando a desigual-
dade entre homens e mulheres ainda maior. Em 2008, de
cada 100 pessoas com tal nvel de escolaridade, 57 eram
mulheres e 43 eram homens.
Ao se considerar, porm, as mulheres com mais de
60 anos de idade, a realidade outra, uma vez que o
analfabetismo ainda predominante neste grupo etrio.
Os homens idosos, por sua vez, apresentam uma mdia
de anos de estudo superior a das mulheres (4,3 frente a
3,9) e menores taxas de analfabetismo. Essa constata-
o expressa um passado no qual o espao pblico no
era permevel presena feminina na condio de traba-
lhadora ou cidad, restando apenas as responsabilidades
pelo trabalho domstico no mbito privado. As mulheres,
portanto, no tinham acesso educao ou o tinham em
propores signicativamente inferiores s masculinas.
As mulheres so mais escolarizadas do que os ho-
mens e tambm apresentam taxas de analfabetismo in-
feriores: em 2008, 9,8% das mulheres com 15 anos ou
mais eram analfabetas e 20,5% consideradas analfabetas
funcionais. Entre os homens, esses percentuais eram de
10,2% e 21,6%, respectivamente. Este quadro tende a se
inverter, contudo, quando se observam as regies Sudeste
e Sul, nas quais as taxas de analfabetismo femininas eram
superiores s masculinas em cerca de um ponto percen-
tual. Surpreendentemente, nas regies consideradas
menos desenvolvidas que as mulheres so dotadas de
maior nvel de alfabetizao que os homens. A maior
vantagem feminina est no Nordeste, onde 16,1% das
mulheres com mais de 15 anos eram analfabetas, contra
19,3% dos homens na mesma faixa etria (Grco 8). Este
fenmeno pode estar relacionado aos processos migra-
trios mais intensos entre os homens com maior esco-
laridade, das regies menos desenvolvidas para as mais
desenvolvidas.
Grco 8: Taxa de analfabetismo da populao
de 10 anos ou mais de idade, segundo sexo.
Brasil, 2008
Fonte: IBGE. Sntese de Indicadores Sociais 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
A defasagem e a evaso escolar tambm so menos
frequentes entre as mulheres, fazendo com que a distor-
o idade-srie seja menor para elas do que para eles. As-
sim, enquanto 44% dos meninos de 15 a 17 anos estavam
frequentando o nvel de ensino adequado para sua idade
(ensino mdio), essa proporo era bem superior entre
as meninas (56,8%). Contribuem para conformar esse
quadro os valores e convenes de gnero que acabam
por estimular mais os meninos a abandonarem os estudos
para trabalhar e auxiliar no sustento familiar, enquanto
s meninas cabe o trabalho domstico que, teoricamente,
pode ser mais facilmente conciliado com as atividades
escolares.
4. A permanncia dos desaos no mercado de trabalho
A ampla vantagem feminina encontrada na esfe-
ra educacional no se reete no mercado de trabalho.
precisamente no campo do trabalho que boa parte das
Mulheres Homens
Ocupadas/os* Total
8
7
0
1
2
3
4
5
6
9
10
9,2
7,6
7,3
8,3
12,0
10,0
8,0
14,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Brasil Norte Nordeste Sudeste Centro - Oeste Sul
16,0
18,0
20,0
9,0
9,4
9,2
10,2
16,1
19,3
5,8
4,9
5,4
4,7
7,4 7,5
113
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
discusses a respeito das desigualdades de gnero tem
espao. Se muito j se avanou na insero da populao
feminina nesse espao potencialmente produtor de au-
tonomia econmica e social, muito h, ainda, que cami-
nhar no que se refere garantia de condies igualitrias
de entrada e permanncia no mercado de trabalho, bem
como de remunerao pelas atividades ali desenvolvidas.
Nos ltimos anos, tem-se presenciado um fenmeno
que poderia ser chamado de feminizao do mercado
de trabalho. De fato, desde a dcada de 1980, possvel
vericar um aumento crescente na participao feminina.
Vale destacar que a maior presena de mulheres exercen-
do atividades produtivas no espao pblico, associada a
um nvel de escolaridade superior ao masculino, permitiu
s mulheres ingressarem em postos mais qualicados no
mercado de trabalho. No entanto, ainda se verica que
elas no tm sido capazes de reverter importantes desi-
gualdades salariais, bem como de ascender aos postos de
deciso e poder nas empresas.
No caso brasileiro, a partir de 2003, observa-se uma
alterao na trajetria de queda dos rendimentos do tra-
balho, provavelmente devido poltica de valorizao
do salrio mnimo e s polticas sociais de transfern-
cia de renda implementadas pelo governo do presidente
Luis Incio Lula da Silva. Assim, enquanto para o perodo
2001/04 houve uma queda de 19,2% nos rendimentos fe-
mininos, entre 2004 e 2008 verica-se um crescimento de
14,5% dos rendimentos reais femininos e de 12,4% dos
masculinos. Todos e todas ganharam, mas as mulheres
um pouco mais, o que permitiu a reduo do hiato
salarial existente entre trabalhadoras e trabalhadores.
possvel armar que h uma tendncia contnua de re-
duo do hiato salarial entre homens e mulheres na eco-
nomia brasileira.
Tabela 2 Renda mdia mensal, segundo sexo.
Brasil 2001/2004/2006/2007/2008
(valores em R$ de dezembro de 2008)
Ano
Renda Mensal
Masculino Feminino Feminino/ Masculino
2001 1.255,00 867,00 69%
2004 1.005,00 700,00 70%
2006 1.148,00 817,00 71%
2007 1.161,00 831,00 72%
2008 1.130,00 802,00 71%
Fonte: PNAD/IBGE, 2001, 2004, 2006, 2007 e 2008.
Obs.: Os valores de 2001, 2004, 2006 e 2007 foram corrigidos pelo IGP-DI (FGV) mdio do ano de 2008 .
Em relao s condies de atividade e de ocupa-
o
11
, importante destacar que as taxas de atividade
feminina cresceram signicativamente ao longo dos anos,
mas ainda so muito inferiores s vericadas para a popu-
lao masculina. Em 2008, 52,2% das mulheres e 72,4%
dos homens estavam ocupados ou procura de emprego
no mercado de trabalho nacional (os dados so pratica-
mente os mesmos de 2007). J o nvel de ocupao das
mulheres passou de 46,7%, em 2007, para 47,2%, em
2008. Este aumento foi proporcional ao encontrado para
a populao masculina (que passou, no perodo, de 68%
para 68,6%), produzindo uma situao na qual houve uma
elevao da insero das mulheres no mercado, mas a
desigualdade de gnero se mantm praticamente estvel
(Grco 9). Tambm como resultado deste aumento na
presena de mulheres no mercado, houve uma ampliao
da participao feminina como contribuinte da Previdn-
cia Social no perodo (de 49,4% para 50,9%).
As mulheres mais velhas apresentaram maior cres-
cimento nas taxas de ocupao, dentre todos os grupos
etrios. De fato, entre 2007 e 2008, a proporo de mu-
lheres ocupadas em relao s economicamente ativas s
aumentou para aquelas a partir de 50 anos de idade; na
faixa de 50 a 59 anos o crescimento foi de 0,7 pontos
percentuais (de 12,8% para 13,5%) e na de 60 anos ou
mais foi de 0,4 pontos (de 5,7% para 6,1%). Para todos
os demais grupos etrios, foi vericada uma queda ou
estabilidade nas taxas de ocupao, indicando as dicul-
dades para insero da populao mais jovem, mulheres e
homens, no mercado de trabalho.
11
Taxa de atividade a percentagem das pessoas economicamente ativas (de um grupo etrio) em relao ao total de pessoas (do mesmo grupo etrio). Pessoas economicamente
ativas (PEA) so aquelas que na semana de referncia estavam ocupadas e desempregadas (procurando emprego) nesse perodo. Nvel de ocupao a percentagem das pessoas
ocupadas ativas (de um grupo etrio) em relao ao total de pessoas (do mesmo grupo etrio). 114
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
Grco 9: Indicadores selecionados para o mercado
de trabalho, segundo sexo. Brasil, 2008
Fonte: IBGE. Sntese de Indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Elaborao Prpria da Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR.
J quando se observa o nvel de escolaridade das
mulheres ocupadas, nota-se que foram aquelas com 11
anos ou mais de estudo (ensino mdio completo, no m-
nimo) que registraram maior crescimento proporcional
nas taxas de ocupao. Enquanto, em 2007, este gru-
po representava 45,5% do total de mulheres ocupadas,
em 2008, alcanou 47,8%, um aumento de 1,4 milhes
de mulheres trabalhadoras com escolaridade mais eleva-
da. Essa ampliao da escolaridade ocorreu em todas as
regies, constituindo-se uma tendncia vericada j h
alguns anos, na sociedade brasileira, de valorizao da
escolaridade como atributo denidor para entrada e per-
manncia no mercado de trabalho.
Se as possibilidades de se inserir no mercado de
trabalho ainda so reduzidas para as mulheres, o que
evidenciado pelas taxas de atividade, a prpria deciso
de ingressar no mercado no concretizada na mesma
intensidade para os trabalhadores dos dois sexos. A taxa
de desemprego das mulheres , historicamente, sempre
superior em relao masculina, em grande parte devido
ao ciclo da vida reprodutiva feminina.
H, aqui, um duplo desao. Por um lado, o capital e,
especialmente, a cultura de gesto empresarial tm igno-
rado a importncia das funes reprodutivas, cujo exem-
plo mais emblemtico se materializa na licena-materni-
dade, sempre vista como onerosa e impeditiva da contra-
o de trabalhadoras. Por outro lado, as mulheres tm um
desao a enfrentar, qual seja, o de conciliar as funes
reprodutivas e dos cuidados com o mundo do trabalho
fora de casa. Isso faz com que entrem e saiam do mer-
cado inmeras vezes, produzindo um desemprego maior
entre elas do que entre os homens. Ademais, a imagem
do homem provedor e da mulher com responsabilidades
domsticas ainda marcante no mercado de trabalho e
inuencia os empregadores na contratao e na demisso
de um/a novo/a empregado/a.
Os dados da PNAD 2008 mostram exatamente isso.
72,4
68,6
5,2
52,2
47,2
9,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Taxa de atividade Nvel da ocupao Taxa de desemprego
Homens Mulheres
Enquanto a taxa de desemprego masculina foi de 5,2%,
em 2008, a feminina atingiu 9,6%, o que representa um
contingente de mais de 1,2 milhes de mulheres desem-
pregadas, em comparao aos homens. A taxa de desem-
prego feminina mais alta foi vericada na regio Sudeste
(10,5%) e a mais baixa na regio Sul (6,5%), o que deve
estar relacionado s caractersticas especcas das estru-
turas econmicas de cada regio.
importante, porm, destacar que as taxas de de-
semprego vm caindo ao longo dos anos, ainda que as
distncias entre homens e mulheres mantenham-se pra-
ticamente inalteradas. Entre as mulheres a queda foi de
0,8 ponto percentual: de 10,8%, em 2007, para 9,6%, em
2008. J entre os homens, a queda foi de 0,9 ponto: 6,1%
para 5,2%, no mesmo perodo.
Uma vez que consigam empregar-se no mercado de
trabalho, as mulheres concentram-se em espaos bastan-
te diferentes daqueles ocupados pelos trabalhadores do
sexo masculino. So, em proporo maior que os homens,
empregadas domsticas, trabalhadoras na produo para
o prprio consumo, no remuneradas e servidoras pbli-
cas (sempre nos estratos de menor hierarquia), enquanto
os homens encontram-se proporcionalmente mais presen-
tes na condio de empregados (com e sem carteira assi-
nada), conta prpria e empregador.
A PNAD 2008 mostrou que, das quase 40 milhes de
mulheres ocupadas, em torno de 16% eram trabalhadoras
domsticas, 13,7% eram empregadas sem carteira assina-
da, 6,4% trabalhavam na produo para prprio consumo/
construo para prprio uso e 6,8% em outros trabalhos
no remunerados. Isso signica que 43% da popula-
o feminina ocupada (equivalente a 17 milhes de
mulheres) estavam em postos de trabalho com menor
nvel de proteo social e, portanto, mais precrios, seja
pela falta de carteira assinada ou at mesmo pela falta de
remunerao pelo trabalho realizado. J entre os homens,
o conjunto destas ocupaes no alcanava 28% do total
de ocupados.
Os custos da proteo maternidade: um falso dilema!
A licena-maternidade um benefcio decorrente da
Conveno 103 da Organizao Internacional do Trabalho
(OIT), da qual o Brasil signatrio desde 1965. Histori-
camente, o Brasil j conta com alguma proteo ma-
ternidade desde os anos 1920, e a Constituio Federal
de 1934 (art.121, 1, alnea h) j registrava a forma de
concesso, valor e jurisprudncia desta proteo. A Cons-
tituio Federal de 1988, art.7, inciso XVIII, estabeleceu
o benefcio de 120 dias para as trabalhadoras urbanas e
rurais e a Lei n.8.213/91 raticou essa licena.
Respondendo s demandas do movimento de mulhe- 115
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
res, a Presidncia da Repblica sancionou a Lei n 11.770,
de 09 de setembro de 2008, criando o Programa Empresa
Cidad. Essa Lei possibilitou e especicou a condio
de extenso da licena-maternidade para um perodo de
180 dias de forma voluntria nas empresas privadas e na
administrao pblica em todas as suas esferas. Em de-
zembro de 2008, o Governo Federal passou a implementar
a licena de 6 meses para suas servidoras e, como con-
sequncia da luta das mulheres nos estados, vrias ad-
ministraes pblicas estaduais e municipais aderiram
licena-maternidade de 180 dias, em um total de 14 uni-
dades da federao e 108 municpios (ANAMATRA, 2009).
Alguns destes municpios tambm ampliaram a licena-
paternidade de cinco para sete dias. No setor privado,
porm, s podem aderir as pessoas jurdicas tributadas
pelo lucro real, cando, portanto, excludas as demais
trabalhadoras.
Este benefcio trata de responder a uma demanda
histrica e concreta das mulheres, as quais no podem ser
punidas pelo fato de serem responsveis pela procriao.
importante destacar que esse benefcio relaciona-se di-
retamente com a taxa de natalidade da populao que,
no caso brasileiro, tem cado sistematicamente ao longo
das ltimas dcadas, tal como mencionado anteriormente.
Ademais, como esse benefcio se restringe apenas s mu-
lheres inseridas no mercado de trabalho e contribuintes
da Previdncia Social, nem todas as parturientes podem
dele se beneciar.
A preocupao com elevao dos custos das empre-
sas com a licena-maternidade tem, frequentemente, sido
colocada como um elemento a dicultar sua extenso.
Essa argumentao, contudo, no resiste a provas con-
cretas como, por exemplo, estudos realizados pela OIT
que indicam que esses custos so extremamente baixos.
No caso brasileiro, implicam em um custo adicional para
as empresas de menos de 2% da remunerao mdia das
mulheres (OIT, 2005). Para a economia como um todo, o
custo do trabalho das mulheres e homens marcado pela
heterogeneidade, devido estrutura tributria regressiva,
elevada exibilidade e baixa formalizao das relaes
de trabalho. Para as mulheres brasileiras, os encargos do
capital com a maternidade referem-se existncia de tra-
balhadoras gestantes e aquelas com lhos/as de at seis
meses (Pochmann, 2005).
Para a Secretaria de Polticas para as Mulheres a li-
cena de 180 dias deve ser universalizada para todas as
trabalhadoras brasileiras contribuintes da Previdncia So-
cial, e garantida como um direito na Constituio Federal.
As trabalhadoras domsticas: eternas excludas
importante destacar que ainda o trabalho doms-
tico a principal ocupao das mulheres brasileiras. Esta
atividade e a precariedade das relaes de trabalho que
a caracteriza a marca da discriminao que atinge o
sexo feminino. O emprego domstico remunerado ma-
joritariamente ocupado por mulheres (93,6%), dedicadas
aos cuidados com as pessoas e com as tarefas domsticas,
tais como limpeza e alimentao, enquanto os homens
nessa ocupao so motoristas e jardineiros.
Em 2008, essas/es trabalhadoras/es eram 6,6 mi-
lhes de pessoas que, depois de 66 anos da promulga-
o das leis trabalhistas no Brasil, ainda continuam com
seus direitos pela metade, e o mais alarmante que
necessrio uma Emenda Constitucional para que essas/es
trabalhadoras/es tornem-se TRABALHADORAS/ES COM TO-
DOS OS DIREITOS. A precariedade dessas relaes de tra-
balho evidencia, tambm, a marca da discriminao racial
no pas: como esse um dos piores postos de trabalho
da economia brasileira, so mulheres e negras suas prin-
cipais ocupantes. Na dcada de 1990, as/os negras/os
eram cerca de 56% dessa classe trabalhadora e, em 2008,
a taxa de participao elevou-se para 61%, crescimento
que pode reetir o aumento das autodeclaraes da po-
pulao assumindo a cor/raa negra. (Ipea, 32, 2009).
O trabalho domstico remunerado vem perdendo f-
lego ao longo dos anos 2000. Enquanto em 2007, 16,4%
das mulheres estavam empregadas nesta ocupao (ou
6,2 milhes de pessoas), em 2008, essa taxa caiu para
15,8%, havendo uma reduo absoluta de 50 mil traba-
lhadoras. Provavelmente, o dinamismo do mercado de tra-
balho desses ltimos anos, antes da crise de setembro de
2008, explique a reduo no contingente das trabalhado-
ras domsticas entre 2007 e 2008.
Por outro lado, houve um aumento absoluto no n-
mero de homens que passaram a exercer essas funes:
eram 416 mil trabalhadores, em 2007, e passaram para
425 mil, em 2008, trata-se de um pequeno aumento, mas
signicativo porque sinaliza mudanas de papis. Embora
essa ocupao ainda seja pouco signicativa do ponto de
vista da ocupao masculina total (0,8%), os homens que
nela se encontram tm uma situao laboral melhor, seja
em termos de proteo social, seja em termos de valor
dos rendimentos recebidos.
No que se refere baixa formalizao dos/as tra-
balhadores/as domsticos/as, cabe mencionar que essa
uma tendncia que atinge mulheres e homens, mas
de modo diferenciado. Nesse sentido, tem-se que, em
2007, 39,7% dos homens e apenas 26,3% das mulheres
possuam carteira de trabalho assinada. J em 2008, as
desigualdades foram ampliadas, uma vez que os homens
aumentaram a taxa de formalizao para 41,4% e as mu-
lheres diminuram para 25,8%. 116
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
Como em todo o Brasil, as trabalhadoras domsticas
tambm envelheceram e houve, em 2008, uma queda na
ocupao das faixas etrias mais jovens (10 a 24 anos) e
uma elevao entre as mais velhas. Embora seja conde-
nado internacionalmente como uma das piores formas de
trabalho infantil (Conveno 182 da Organizao Interna-
cional do Trabalho) e, no Brasil, o Decreto n 6.481, de
12 de junho de 2008, tenha regulamentado essa questo,
o combate ao trabalho infantil, em especial, o domstico,
ainda um desao a ser vencido, e vem desaparecen-
do lentamente. Em 2007, havia 358.708 meninas/moas
como trabalhadoras domsticas e este nmero reduziu-
se, em 2008, para 305.000 meninas (PNAD/IBGE, 2007 e
2008).
Em relao escolaridade dessa populao, im-
portante destacar que se elevou o nmero mdio de anos
de estudos dessas trabalhadoras: no nal dos anos 1990
esse era, em mdia, de 4,4 anos e, em 2008, passou para
5,9 anos (Ipea, n.32, 2009). Foi um avano importante,
sobretudo nas faixas etrias mais jovens, e coerente
com todo o esforo que a sociedade brasileira fez para ser
mais escolarizada. As trabalhadoras domsticas mais ve-
lhas, todavia, tm uma maior incidncia de analfabetismo
e baixa escolaridade.
Consideraes Finais
possvel, a partir da anlise dessas informaes,
perceber a persistncia de prticas sexistas no mundo do
trabalho. Isso porque, mesmo quando os homens se des-
locam para atividades ligadas ao espao domstico tra-
balhadores domsticos remunerados , no h a garantia
de uma maior equidade no compartilhamento das tare-
fas relacionadas aos cuidados, uma vez que eles acabam
exercendo, nesse espao, atividades diferenciadas e mais
valorizadas, tais como motorista, jardineiro, entre outras
tpicas da esfera pblica. No mesmo sentido, o maior n-
mero de anos de escolaridade das mulheres no garantiu
nem melhores salrios, nem a ocupao de postos de che-
a, apontando para desaos a serem vencidos no sentido
da presena das mulheres no campo da gesto empresa-
rial.
A luta pela igualdade de gnero , historicamente,
uma estrada que as mulheres vm trilhando ao longo
das ltimas dcadas. Reconhecendo a existncia dessa
discriminao, sobretudo no que diz respeito condi-
o das mulheres no mercado de trabalho, a Secretaria
de Polticas para as Mulheres prope, de forma pioneira,
a instituio da LEI DE IGUALDADE NO TRABALHO. Essa
proposta de legislao disciplina a lei ordinria de di-
reitos fundamentais em relao igualdade nas relaes
de trabalho e aplica o princpio da igualdade entre os
sexos no acesso ao emprego, na formao e promoo
prossional e nas condies gerais de trabalho. Entre os
aspectos inovadores dessa lei, cabe destacar a preveno
e coibio dos assdios moral e sexual no ambiente de
trabalho, problemas que, nas ltimas dcadas, tm pro-
vocado humilhaes e desqualicaes em milhares de
mulheres brasileiras. Efetivar o princpio constitucional
da igualdade de cidadania, para homens e mulheres,
uma tarefa de compromisso desse governo.
Referncias Bibliogrcas
ABRAMO, Lais, Todaro, Rosalba, A situao da mulher no mundo
do trabalho e o papel da OIT. OIT, 2005.
ASSOCIAO Nacional de Magistrados da Justia Federal (ANA-
MATRA), site, acesso 14/11/2009.
BERQU, Elza & CAVENAGHI, Suzana, Fecundidade em Declnio
Breve nota sobre a reduo do nmero mdio de lhos por
mulher no Brasil, Novos Estudos 74, So Paulo, CEBRAP, maro
de 2006.
IBGE. Sntese de Indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
IBGE. Sntese de Indicadores Sociais: uma anlise das condies
de vida da populao brasileira 2009. Rio de Janeiro: IBGE,
2009 (Srie Estudos & Pesquisas, n.26)
IPEA. Comunicados da Presidncia. Braslia: Ipea, n.31, out
2009.
IPEA. Comunicados da Presidncia. Braslia: Ipea, n.32, out
2009.
MELO, Hildete P. & CASTILHO, Marta, Trabalho Reprodutivo quem
faz e quanto custa, em Revista de Economia Contempornea,
Rio de Janeiro, UFRJ, n.13, 1/2009.
MELO, Hildete P. & CONSIDERA, Cludio M., & SABBATO, Alberto,
Os afazeres domsticos contam!, em Economia e Sociedade,
Campinas, dezembro de 2007 e nova verso 2009 (mimeo).
POCHMANN, Mrcio. Emprego e custo do trabalho feminino no
Brasil no nal do sculo XX. In: ABRAMO, Lais (Ed.). Questio-
nando um mito: custos do trabalho de homens e mulheres.
Braslia: OIT, 2005.
117
118
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
ANEXOS
Anexo - Tabela 1
Populao residente, por grandes regies, segundo sexo e grupos de idade.
Brasil, 2007 e 2008.
(em mil pessoas)
Sexo e
Brasil
Grandes Regies
Grupos de Idade Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
2007
Total 188.029 15.085 52.944 79.105 27.327 13.568
0 a 14 anos 47.904 4.928 15.046 18.060 6.359 3.511
15 a 39 anos 77.790 6.583 22.386 32.092 10.850 5.880
40 anos ou mais 62.334 3.573 15.511 28.954 10.118 4.176
Homens 91.761 7.524 25.852 38.283 13.375 6.727
0 a 14 anos 24.549 2.557 7.645 9.280 3.272 1.794
15 a 39 anos 38.281 3.206 11.054 15.726 5.396 2.899
40 anos ou mais 28.930 1.762 7.152 13.277 4.706 2.034
Mulheres 96.268 7.561 27.094 40.822 13.952 6.840
0 a 14 anos 23.355 2.372 7.401 8.780 3.088 1.717
15 a 39 anos 39.509 3.377 11.333 16.366 5.453 2.980
40 anos ou mais 33.404 1.812 8.360 15.667 5.412 2.143
2008
Total 189.953 15.327 53.493 79.800 27.556 13.777
0 a 14 anos 46.954 4.810 14.853 17.494 6.286 3.509
15 a 39 anos 77.871 6.666 22.478 32.099 10.763 5.866
40 anos ou mais 65.127 3.851 16.163 30.205 10.508 4.401
Homens 92.433 7.664 26.179 38.398 13.407 6.784
0 a 14 anos 23.896 2.453 7.630 8.846 3.169 1.796
15 a 39 anos 38.490 3.299 11.100 15.843 5.365 2.883
40 anos ou mais 30.047 1.912 7.450 13.709 4.873 2.105
Mulheres 97.520 7.663 27.314 41.402 14.149 6.993
0 a 14 anos 23.060 2.356 7.223 8.650 3.118 1.712
15 a 39 anos 39.382 3.366 11.377 16.257 5.397 2.984
40 anos ou mais 35.079 1.904 8.713 16.496 5.635 2.296
Fonte: PNAD/IBGE, Sntese de Indicadores, 2008, Rio de Janeiro, 2009, Elaborao Prpria da Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR.
119
MULHERES EM DADOS / Lourdes Maria Bandeira, Hildete Pereira de Melo, Luana Simes Pinheiro - (SPM)
Grco 1: Populao Residente, segundo
sexo e grupos de idade. Brasil, 2007 (em %)
Fonte: PNAD/IBGE, Sntese de Indicadores, 2008,
Rio de Janeiro, 2009, Elaborao Prpria da
Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR
Grco 2: Populao Residente, segundo
sexo e grupos de idade. Brasil, 2008 (em %)
Fonte: PNAD/IBGE, Sntese de Indicadores, 2008,
Rio de Janeiro, 2009, Elaborao Prpria da
Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR
Anexo - Tabela 2
Populao residente, por grandes regies, segundo sexo e cor/raa.
Brasil, 2007 e 2008.
(em mil pessoas)
Sexo e
Brasil
Grandes Regies
Cor/Raa Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
2007
Total 188.029 15.085 52.944 79.105 27.327 13.568
Branca 92.456 3.726 15.576 46.098 21.481 5.575
Negra* 93.992 11.131 37.088 32.317 5.653 7.802
Outras** 1.543 226 269 679 183 185
Homens 91.761 7.524 25.852 38.283 13.375 6.727
Branca 43.933 1.776 7.240 21.836 10.423 2.659
Negra* 47.096 5.639 18.486 16.126 2.867 3.977
Outras** 710 109 119 313 82 87
Mulheres 96.268 7.561 27.092 40.822 13.952 6.840
Branca 48.523 1.951 8.336 24.262 11.058 2.916
Negra* 46.896 5.492 18.603 16.190 2.785 3.824
Outras** 833 117 150 366 102 98
2008
Total 189.953 15.327 53.493 79.800 27.556 13.777
Branca 92.003 3.506 15.659 45.349 21.674 5.814
Negra* 96.183 11.661 37.486 33.579 5.644 7.812
Outras** 1.636 146 324 806 221 140
Homens 92.433 7.664 26.179 38.398 13.407 6.784
Branca 43.755 1.647 7.405 21.452 10.463 2.788
Negra* 47.866 5.945 18.618 16.554 2.828 3.921
Outras** 746 66 146 357 109 68
Mulheres 97.520 7.663 27.314 41.402 14.149 6.993
Branca 48.248 1.860 8.255 23.897 11.211 3.026
Negra* 48.317 5.716 18.868 17.025 2.817 3.891
Outras** 890 80 178 449 112 72
Fonte: PNAD/IBGE, Sntese de Indicadores, 2008, Rio de Janeiro, 2009, Elaborao Prpria da Secretaria Especial de Poltica para as Mulheres SPM/PR.
Notas: * Populao negra refere-se soma de pretos/as e pardos/as.
** Refere-se soma de indgenas e amarelos/as.
26,8
24,3
41,7 41
31,5
34,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 a 14 anos 15 a 39 anos 40 anos ou mais
Homens
Mulheres
25,9
23,6
41,6
40,4
32,5
35,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 a 14 anos 15 a 39 anos 40 anos ou mais
Homens
Mulheres
120
OBSERVATRIOS DE GNERO
NA AMRICA LATINA:
uma anlise comparada os casos do
Observatrio de Igualdade de Gnero
da Amrica Latina e do Caribe e do
Observatrio Brasil da Igualdade de Gnero
Nina Madsen*
Marcela Torres Rezende**
1. Introduo
O presente artigo visa a apresentar uma breve ree-
xo acerca do contexto de surgimento e da importncia
poltica e social de observatrios de gnero na Amrica
Latina, focando a anlise em dois casos especcos: o
Observatrio da Igualdade de Gnero da Amrica Latina e
do Caribe, produzido pela CEPAL; e o Observatrio Brasil
da Igualdade de Gnero, que resulta de uma iniciativa da
Secretaria de Polticas para as Mulheres da Presidncia da
Repblica do Brasil.
O artigo est organizado em trs grandes blocos. No
primeiro, apresenta-se um breve histrico do surgimen-
to de observatrios em geral e, em seguida, relatam-se
os resultados obtidos em recente pesquisa voltada para
o levantamento e descrio dos observatrios de gne-
ro existentes, com especial destaque para os situados na
Amrica Latina e no Brasil.
No segundo bloco, so analisadas as caractersticas
dos dois observatrios de gnero que constituem o foco
deste trabalho. Nesse momento, so descritas suas estru-
turas de funcionamento, suas estratgias de atuao, suas
composies e objetivos. Ambos os observatrios surgi-
ram em resposta demanda apresentada no Consenso de
Quito. Apesar dessa origem comum, tais observatrios
tm formatos bastante diversos. Essa diferenciao evi-
dencia no s a pluralidade de aspectos contidos no tema
de gnero, como tambm indica que o monitoramento da
temtica pode ser realizado de maneiras distintas, mas
igualmente ecazes.
Finalmente, na concluso, aponta-se uma tendncia
de surgimento de novos observatrios de gnero no con-
texto latino-americano, o que reete no s o fortaleci-
mento e a incorporao pela sociedade da temtica de
gnero, como tambm a democratizao desse mecanis-
mo de controle social.
2. O surgimento de observatrios
A criao de observatrios uma iniciativa que, des-
de meados da dcada de 1990, vem se multiplicando no
mundo inteiro. Um conjunto de fatores conjunturais pode
explicar o fenmeno. Por um lado, nessa poca que se
intensica o processo de denio de metas e objetivos
comuns para o combate pobreza e s desigualdades no
mundo, os quais resultam na formulao de inmeros
compromissos internacionais entre governos e tambm na
criao de mecanismos mais rgidos de monitoramento e
controle dos avanos em direo ao cumprimento desses
acordos.
Por outro, tambm essa a poca em que a Inter-
net comea a ser disseminada como meio estratgico de
comunicao e a instituir-se como importante fonte de
informaes, tornando-se, dessa forma, uma ferramenta
til para o monitoramento e para a ampla disseminao
de informaes e dados relevantes, particularmente para
os movimentos sociais articulados em redes.
Uma das experincias pioneiras de maior relevn-
cia nesse universo a rede-observatrio Social Watch,
iniciativa que rene organizaes do mundo inteiro em
torno de objetivos comuns: a erradicao da pobreza, o
m de todas as formas de discriminao e do racismo,
a distribuio equitativa da riqueza e a promoo dos
direitos humanos. Em seu primeiro relatrio, ao narrar o
surgimento da rede, arma-se que a fundao do Social
Watch o reexo de uma nova maneira das ONGs se rela-
Artigo
* Nina Madsen doutoranda em Sociologia pela Universidade de Braslia (UnB), tcnica em complexidade intelectual da Secretaria de Polticas para as Mulheres da Presidncia
da Repblica (SPM/PR) e coordenadora do Observatrio Brasil da Igualdade de Gnero.
** Marcela Rezende mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRG (PPGAS Museu Nacional) e tcnica de complexidade intelectual da Secretaria de Polticas para
as Mulheres da Presidncia
OBSERVATRIOS DE GNERO NA AMRICA LATINA / Nina Madsen, Marcela Torres Rezende
121
cionarem com organizaes multilaterais em geral e com
as Naes Unidas em particular. Sua criao um claro re-
exo de um perodo em que as comunicaes eletrnicas
comearam as ser utilizadas como novas ferramentas tec-
nolgicas para o advocacy e para a mobilizao de ONGs,
em particular no Sul
1
.
Nesse sentido, os observatrios surgem, portanto,
num contexto de intensicao das relaes intergover-
namentais e entre governos e sociedade civil, de fortale-
cimento das prticas de controle social, e de ampliao
das possibilidades da comunicao.
Siqueira e Carvalho (2003) sugerem que os obser-
vatrios se estruturam a partir de dois tipos: 1. observa-
trios como espaos virtuais destinados a acompanhar,
analisar e divulgar, seja o impacto de polticas pblicas,
seja o cumprimento de legislaes especcas, ou ainda
o comportamento da imprensa diante de determinados
assuntos; ou 2. como redes ou fruns de discusso, des-
tinados a reunir organizaes e indivduos de interesses
comuns, geralmente em torno da prtica de advocacy po-
ltico.
Os dois tipos podem corresponder a iniciativas go-
vernamentais, da sociedade civil ou da iniciativa privada.
As iniciativas governamentais, no entanto, tendem a es-
truturar-se mais de acordo com o primeiro, concentrando-
se na compilao e no armazenamento de informaes
sobre polticas pblicas, legislao, programas e aes
governamentais, informaes de utilidade pblica, entre
outras.
Segundo o texto-base do projeto que deu origem ao
Observatrio de Igualdade de Gnero da Amrica Latina e
do Caribe, construdo no mbito da CEPAL como resposta
demanda apresentada no Consenso de Quito, na grande
maioria dos casos, a criao dos observatrios est di-
recionada ampliao da participao nos processos de
tomada de deciso, disponibilizao de informaes,
dados e anlises que subsidiem esses processos, e, no
caso especco de observatrios governamentais ou des-
tinados a instituies governamentais, ao fortalecimento
da conana nas instituies pblicas.
Ainda de acordo com a CEPAL (2008: 05), os pa-
ses latino-americanos que desenvolveram observatrios
de gnero adotaram como estratgia, para a elaborao
da ferramenta, a combinao da transversalizao da
perspectiva de gnero com a incluso de um sistema de
prestao de contas e de transparncia na execuo de
polticas.
Os observatrios, por serem importantes ferramentas
para a divulgao e fortalecimento institucionais, com
alto grau de acessibilidade e alta capacidade de armaze-
nar e combinar dados, representam uma estratgia impor-
tante para a maior disseminao da perspectiva de gnero
para a formulao de polticas e aes e para os processos
de tomada de deciso. A seguir relataremos os resultados
de uma pesquisa realizada em 2008 sobre a existncia, o
formato e o funcionamento de observatrios de gnero no
mundo.
3. Pesquisa sobre alguns observatrios
Em recente pesquisa realizada sobre observatrios,
Madsen (2009) selecionou 43 experincias, das quais 17
tinham a temtica de gnero como eixo central de suas
propostas. Destas, 4 estavam na Espanha, 2 no Brasil, 2
no Mxico, 2 na Colmbia, 2 no Chile, 1 na Argentina, 1
na Frana, 1 na Venezuela e 1 na Nicargua. O 17
o
ob-
servatrio analisado, apesar de ter sede no Chile, de
abrangncia regional e engloba toda a Amrica Latina e o
Caribe (Observatrio da Igualdade de Gnero da Amrica
Latina e do Caribe). No Brasil, foram tambm identica-
das referncias ao Observatrio da Mulher e ao Observat-
rio da Violncia contra a Mulher (iniciativa do SOS Corpo),
mas no foram encontrados nem os portais corresponden-
tes, nem informaes mais detalhadas a respeito de cada
observatrio
2
.
Dos observatrios brasileiros elencados (16 no total)
na pesquisa de Madsen, apenas 2 tratavam da questo
de gnero ou dos direitos das mulheres como tema prio-
ritrio, sempre com o foco na violncia contra a mulher.
So eles o Observe Observatrio da Lei Maria da Penha
(iniciativa de um consrcio de organizaes da sociedade
civil), e o Portal da Violncia contra a Mulher (do Institu-
to Patrcia Galvo).
Alguns outros tangenciavam a temtica de gnero.
O Observatrio de Segurana Pblica de So Paulo, por
exemplo, inclua em seu rol de boas prticas, os sub-
conjuntos Boas Prticas para Populaes GLBTT e Boas
Prticas em Direitos Humanos. Alm disso, ele apresenta
relatrios sobre Luta contra Discriminao e Xenofobia
e sobre Trco de Pessoas e Explorao Sexual. Todos
eles tinham algum contedo relacionado a gnero e a mu-
lheres, ainda que no de maneira explcita. O Observat-
rio do Semi-rido, do Governo Estadual da Bahia, tambm
inclua gnero como um dos seus eixos temticos.
Ainda no contexto brasileiro, outra experincia que
1
Social Watch, 2000. The lions teeth: The Prehistory of Social Watch. Relatrio disponvel na Internet, no endereo: http://www.socialwatch.org/em/acercaDe/historiaCon-
clusiones.htm
2
Quando da realizao da pesquisa, o Observatrio da Mulher ainda no possua site. Atualmente, seu contedo pode ser acessado por meio do endereo http://observatorio-
damulher.org.br/site/
OBSERVATRIOS DE GNERO NA AMRICA LATINA / Nina Madsen, Marcela Torres Rezende
122
merece destaque a do Observatrio da Equidade, inicia-
tiva da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econ-
mico e Social (SEDES) da Presidncia da Repblica. Assim
como o prprio Conselho de Desenvolvimento Econmico
e Social (CDES), o observatrio tambm est constitudo
por diversidade de origem. Sua estrutura conta com: o
Pleno do CDES, que aprova e nomeia o Conselho Diretor
e analisa, ajusta ou aprova o parecer de observao; um
Conselho Diretor, formado por 12 Conselheiros do CDES,
que tem a atribuio de realizar a gesto do Observatrio
e de examinar as propostas dos relatrios de observao;
uma Coordenao Tcnica, composta por tcnicos/as do
IPEA, IBGE, DIEESE, por uma instituio empresarial e por
uma universidade, e que deve orientar os procedimentos
tcnicos envolvidos na observao e elaborar os relatrios
de monitoramento; uma Secretaria Executiva, exercida
pela SEDES, que organiza as reunies e outros eventos e
que contrata apoio tcnico sempre que necessrio; e uma
Rede de Cooperao, formada por organizaes parceiras
e especialistas, que participa dos debates e contribui para
a elaborao dos relatrios.
Para alm dos observatrios brasileiros, a pesquisa
de Madsen englobou experincias internacionais. Entre
elas, vale destacar o caso do Observatrio da Paridade
entre Homens e Mulheres, produzido na Frana; e as ini-
ciativas latino-americanas.
O observatrio de gnero mais antigo dentre os
pesquisados o Observatrio da Paridade entre Mulhe-
res e Homens, da Frana. Criado em 1995 e renovado
em 2002, esse observatrio de abrangncia nacional
tem a estrutura de um Conselho, nos moldes do Con-
selho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) brasi-
leiro. Ele rene 33 personalidades de diferentes reas
(governo, sociedade civil organizada, universidades,
artes, iniciativa privada) apontadas pelo Primeiro Mi-
nistro francs em razo de seu conhecimento nos temas
de gnero, para analisarem a situao de desigualdade
entre homens e mulheres e para emitirem pareceres e
recomendaes a respeito.
O observatrio francs tem como misso a identi-
cao, a avaliao e a anlise das desigualdades entre os
sexos nas reas poltica, econmica e social; a produo e
a difuso de dados sobre a situao das mulheres nos n-
veis nacional e internacional; a elaborao de propostas,
recomendaes e pareceres com o intuito de promover
a paridade entre mulheres e homens
3
. A composio e
o papel do Observatrio perante o governo e o Primeiro
Ministro francs parecem permitir a autonomia e a no-
burocratizao do processo de monitoramento, avaliao
e emisso de pareceres e recomendaes a respeito das
desigualdades entre mulheres e homens.
No mbito da Amrica Latina, merece destaque o
Observatrio de Assuntos de Gnero (OAG), lanado em
2003, na Colmbia, cuja origem remonta ao Conselho Pre-
sidencial para a Equidade de Gnero. Segundo o stio do
OAG, seus objetivos so: construir um sistema de indica-
dores, categorias de anlise e mecanismos de monitora-
mento para subsidiar reexes crticas sobre as polticas,
planos, programas, normas, jurisprudncias e a informa-
o quantitativa e qualitativa relevante para a melhoria
da situao das mulheres e da equidade de gnero na
Colmbia
4
. Seu pblico alvo composto por atores de
todas as esferas do poder pblico, em particular formula-
dores de polticas, legisladores e tomadores de deciso; e
atores polticos, sociais e econmicos em geral.
Tambm importante mencionar o Observatrio G-
nero e Equidade, do Chile, lanado em 2006, acompa-
nhando a eleio de Michelle Bachelet para a Presidncia
do Chile. Trata-se de uma iniciativa da sociedade civil,
proposta pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento
da Mulher (CEDEM), de alcance nacional. Seu pblico alvo
composto por organizaes e movimentos feministas e
de mulheres, autoridades de governo, partidos polticos,
universidades e mulheres em postos de tomada de deci-
so.
De acordo com o stio desse observatrio, seus ob-
jetivos so: favorecer a articulao de instituies e or-
ganizaes de mulheres em torno da reexo, do moni-
toramento e da avaliao do Governo Bachelet e de sua
agenda de equidade social e de gnero; contribuir para a
criao de espaos de debate tcnico e poltico para tal
monitoramento, gerando anis temticos que partilhem
suas anlises e as divulguem atravs do Observatrio,
rompendo assim as fronteiras existentes entre setores de
mulheres ao longo do pas; dar vida a uma voz coletiva de
mulheres do movimento para o debate substantivo a partir
de uma perspectiva de gnero, ou seja, exercer a funo
de amplicador da reexo e das anlises das mulheres;
comunicar amplamente os resultados do monitoramento
aos meios de comunicao, s diversas organizaes de
mulheres, s autoridades de governo, aos partidos pol-
ticos, s universidades e mulheres em postos de tomada
deciso em distintos ambientes e nveis; compartilhar as
lies aprendidas com as articulaes e redes de mulheres
da Amrica Latina
5
.
Finalmente, cabe ainda destacar o Observatrio de
Gnero e Pobreza (OGP), lanado em 2008, no Mxico.
3
Texto de apresentao do observatrio disponvel no site http://www.observatoire-parite.gouv.fr/presentation/index.htm
4
Conferir o stio: http://www.presidencia.gov.co/equidad/observatorio_genero.htm. Traduo livre.
5
Conferir o stio: http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index. Traduo livre.
OBSERVATRIOS DE GNERO NA AMRICA LATINA / Nina Madsen, Marcela Torres Rezende
123
Trata-se do resultado de parceria entre o governo por
meio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e
do Instituto Nacional das Mulheres , um organismo in-
ternacional o Unifem e uma Universidade El Colgio
de Mxico (Colmex). Tem como pblico-alvo formadores
de polticas pblicas e tomadores de deciso. De acordo
com o stio do OGP, os principais objetivos da iniciativa
so: gerar novas informaes; recolher, integrar, analisar
e sistematizar informaes j existentes sobre os aspectos
socio-econmicos mais relevantes para a caracterizao
da pobreza nas zonas urbanas e rurais do pas; e produzir
conhecimentos valiosos para a formulao e o acompa-
nhamento de polticas pblicas orientadas ao combate da
pobreza a partir de uma perspectiva de gnero
6
.
Cabe salientar que as atividades do OGP so desen-
volvidas com um olhar para a questo de gnero. Ainda
segundo o stio dessa instituio, essa insero de uma
perspectiva de gnero nos estudos ligados pobreza per-
mite evidenciar que, no marco das desigualdades intrado-
msticas, existem situaes que fazem com que a pobreza
se constitua e seja vivida de maneira distinta por homens
e mulheres. Permite, ademais, enfatizar que, dada a carga
de trabalho reprodutivo, a vivncia da pobreza se inscreve
em um marco de vulnerabilidades sentidas quase exclusi-
vamente pelas mulheres, o que leva consequncia de
que os efeitos dessa pobreza repercutem nas percepes
que elas tm de suas relaes com seus parceiros e com
suas famlias. Finalmente, esse olhar de gnero permite
identicar aspectos dos funcionamentos dos lares, tais
como a diviso das tarefas domsticas e extra-domsti-
cas, o que deixa claro que a pobreza heterognea e que
ela precisa ser analisada de mltiplas formas
7
.
4. O Observatrio da Igualdade de
Gnero da Amrica Latina e do Caribe
A idia de construir um observatrio de gnero no
mbito da CEPAL surgiu como resposta demanda apre-
sentada no Consenso de Quito, documento oriundo da
X Conferncia Regional da Mulher da Amrica Latina e
do Caribe, realizada em agosto de 2007, no Equador. De
acordo com o esse documento, os pases participantes
daquela Conferncia reconheceram a paridade como um
dos propulsores determinantes da democracia, cujo m
alcanar a igualdade no exerccio do poder, na tomada de
decises, nos mecanismos de participao e representa-
o social e poltica e nas relaes familiares dentro dos
diversos tipos de famlias, as relaes sociais, econmi-
cas, polticas e culturais, e que constitui uma meta para
erradicar a excluso estrutural das mulheres
8
.
Nesse contexto, institui-se, no mbito da Diviso de
Assuntos de Gnero da CEPAL, a secretaria tcnica do Ob-
servatrio de Igualdade de Gnero da Amrica Latina e do
Caribe, com o m de implementar esta iniciativa e coor-
denar os esforos tanto de outros organismos das Naes
Unidas e de cooperao envolvidos, como dos mecanis-
mos para o avano da mulher e os institutos nacionais de
estatstica dos pases da regio
9
.
O Observatrio de Igualdade de Gnero da Amrica
Latina e do Caribe pretende servir como uma ferramenta
para apoiar aos governos na anlise da realidade regio-
nal, no seguimento das polticas pblicas de gnero e nos
acordos internacionais adotados, alm de oferecer apoio
tcnico e capacitao aos mecanismos nacionais para o
avano das mulheres e aos institutos nacionais de esta-
tsticas dos pases que o solicitem (CEPAL, 2008: 06).
O Observatrio Regional surge, portanto, com uma
dupla misso: a de contribuir para o fortalecimento dos
mecanismos nacionais para o avano das mulheres e a de
elaborar e monitorar indicadores de gnero na regio. O
funcionamento do observatrio se d por meio da seguin-
te estrutura:
A Mesa Diretiva da Conferncia Regional, rgo
poltico do Observatrio. Tem como funes:
(a) denir as prioridades e orientaes tem-
ticas do observatrio; (b) analisar e aprovar o
plano anual apresentado pela secretaria tcni-
ca; (c) avaliar o desempenho, atividades e pro-
dutos do observatrio; (d) apresentar sugestes
e observaes sempre que considerar oportuno;
(e) receber informes peridicos sobre o desen-
volvimento e as atividades do observatrio; (f)
solicitar, junto secretaria tcnica, informa-
es estatsticas aos INES de cada pas para a
atualizao dos indicadores do Observatrio.
Grupo de estatsticas de gnero da Conferncia
Estatstica das Amricas (CEA), que funciona
como grupo tcnico consultivo do Observatrio,
emitindo recomendaes sobre o plano no que
disser respeito aos indicadores.
Grupo de trabalho inter-institucional, formado
por organizaes da ONU e pelos organismos in-
ternacionais nanciadores do projeto da CEPAL
(AECID, SEGIB, Fundo Fiducirio do Governo
6
Conferir o stio: http://ogp.colmex.mx/generoypobreza.html. Traduo livre.
7
Conferir: http://ogp.colmex.mx/generoypobreza.html.
8
Consenso de Quito, pgina 3. Traduo livre.
9
Conferir o stio: http://www.cepal.org/oig/
124
OBSERVATRIOS DE GNERO NA AMRICA LATINA / Nina Madsen, Marcela Torres Rezende
Francs). Funciona por meio de reunies anu-
ais nas quais contribui para a implementao
do plano anual e das recomendaes da Mesa
Diretiva. Deve, tambm, revisar e analisar tec-
nicamente um relatrio da Secretaria Tcnica e
emitir propostas para a implementao do pla-
no de trabalho anual.
Secretaria Tcnica, tem como responsabilidades:
(a) coordenar as atividades e as contribuies
aos plano de trabalho; (b) manter a cooperao
tcnica e a colaborao constante com os go-
vernos, agncias da ONU e outras entidades -
nanciadoras do observatrio; (c) processar a in-
formao e os dados do observatrio; (d) solici-
tar aos governos e organismos internacionais as
informaes e dados necessrios para alimentar
o observatrio; (e) coordenar as contribuies
de outros organismos da ONU; (f) atualizar, de-
senhar e alimentar o site do observatrio; (g)
prestar contas Mesa Diretiva; (h) gerenciar os
recursos do projeto.
No trabalho com indicadores, o Observatrio da CE-
PAL se refere a trs esferas temticas: autonomia econ-
mica, autonomia fsica e autonomia na tomada de deci-
ses. Os indicadores criados so os seguintes:
Populao sem ingressos prprios (autonomia
econmica);
Carga total de trabalho ou tempo dedicado a
atividades remuneradas e domsticas ou no-
remuneradas (autonomia econmica);
Gravidez na adolescncia (autonomia fsica);
Morte de mulheres por companheiro ou ex-com-
panheiro (autonomia fsica);
Demanda insatisfeita de planejamento familiar
(autonomia fsica);
Proporo de mulheres nos parlamentos nacio-
nais (autonomia na tomada de decises);
Proporo de mulheres em gabinetes ministe-
riais (autonomia na tomada de decises);
Proporo de mulheres eleitas prefeitas (auto-
nomia na tomada de decises);
Pases que aprovaram e raticaram o Protocolo
Facultativo da CEDAW (autonomia na tomada de
decises).
Ainda segundo o stio do Observatrio, seus obje-
tivos principais so: analisar e tornar visvel o cumpri-
mento de metas e objetivos internacionais em torno da
igualdade de gnero; oferecer apoio tcnico e capacitao
aos produtores de estatsticas ociais dos institutos na-
cionais de estatstica e mecanismos para o avano da mu-
lher em pases que o solicitarem para o processamento de
dados estatsticos e a gerao dos indicadores seleciona-
dos do Observatrio; e apresentar relatrio anual que pro-
porcionar um diagnstico sobre as desigualdades entre
mulheres e homens em temas-chave, tais como trabalho
remunerado e no remunerado, uso do tempo e pobreza,
acesso tomada de decises e representao poltica,
violncia de gnero, sade e direitos reprodutivos
10
.
A iniciativa regional de criao de um observatrio
de igualdade de gnero foi acompanhada pelo incenti-
vo, por parte da prpria CEPAL, aos pases integrantes da
Mesa Diretiva da Conferncia Regional sobre a Mulher de
criao de observatrios nacionais que pudessem dialogar
com o instrumento regional. nesse contexto que surge,
ento, o Observatrio Brasil da Igualdade de Gnero.
5. A criao do Observatrio Brasil da
Igualdade de Gnero
Inspirado na iniciativa regional conduzida pela CE-
PAL, a Secretaria de Polticas para as Mulheres d incio,
em 2008, construo de um observatrio nacional de
igualdade de gnero pautado nos princpios e diretrizes
do Governo Federal e em parceria com a sociedade civil
organizada.
Em 2003, o Governo Federal adotou, em sua plata-
forma poltica, um componente inovador e inclusivo: a
viabilizao da incluso social e da equalizao das opor-
tunidades, a partir do enfrentamento das desigualdades
de gnero e raa/etnia, na perspectiva da cidadania. Essa
iniciativa permitiu que o recorte transversal de gnero
estivesse presente na formulao e implementao de po-
lticas pblicas no pas, alm de haver impulsionado a
criao da Secretaria Especial de Polticas para as Mulhe-
res SPM/PR
11
.
A instaurao dessa nova institucionalidade na es-
trutura do Governo Federal representou um imenso avan-
o para a Poltica de Promoo da Igualdade de Gnero,
na medida em que intensicou o processo de reconheci-
mento e garantia dos direitos das mulheres e de promoo
da igualdade de gnero.
10
Conferir o stio: http://www.cepal.org/oig/
11
Atualmente, de acordo com a MP 483/10, a SPM/PR mudou de status e no mais uma secretaria especial. Chama-se, agora, Secretaria de Polticas para as Mulheres da Presidncia da
Repblica.
125
OBSERVATRIOS DE GNERO NA AMRICA LATINA / Nina Madsen, Marcela Torres Rezende
Com a SPM/PR, teve incio um intenso processo de
formulao de uma poltica nacional de gnero, funda-
do no princpio da participao social e viabilizado por
meio de ampla consulta com a sociedade. O processo se
consolida com a realizao da I Conferncia Nacional de
Polticas para as Mulheres (I CNPM), em 2004; concretiza-
se na formulao e na implementao do I Plano Nacional
de Polticas para as Mulheres (2004-2007); e se renova e
atualiza no processo da II CNPM, que resultou na elabora-
o do II PNPM (2008-2011).
Nesse sentido, a criao do Observatrio Brasil da
Igualdade de Gnero est em pleno acordo com as dire-
trizes do II Plano Nacional de Polticas Pblicas para as
Mulheres II PNPM, construdo a partir das deliberaes
da II Conferncia Nacional de Polticas para as Mulhe-
res, realizada em agosto de 2007, e com a participao
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher CNDM. O
Observatrio assenta-se nos seguintes princpios do II
PNPM:
Igualdade e Respeito Diversidade: mulheres
e homens so iguais em seus direitos e sobre
este princpio se apiam as polticas de Estado
que se propem a superar as desigualdades de
gnero. A promoo da igualdade requer o res-
peito e ateno diversidade cultural, tnica,
racial, insero social, de situao econmica e
regional, assim como aos diferentes momentos
da vida. Demanda o combate s desigualdades
de toda sorte, por meio de polticas de ao
armativa e considerao das experincias das
mulheres na formulao, implementao, moni-
toramento e avaliao das polticas pblicas
12
.
Equidade: o acesso de todas as pessoas aos di-
reitos universais deve ser garantido com aes
de carter universal, mas tambm por aes es-
peccas e armativas voltadas aos grupos his-
toricamente discriminados. Tratar desigualmen-
te os desiguais, buscando-se a justia social,
requer pleno reconhecimento das necessidades
prprias dos diferentes grupos de mulheres
13
.
Autonomia das Mulheres: deve ser assegurado
s mulheres o poder de deciso sobre suas vidas
e corpos, assim como as condies de inuen-
ciar os acontecimentos em sua comunidade e
pas, e de romper com o legado histrico, com
os ciclos e espaos de dependncia, explorao
e subordinao que constrangem suas vidas no
plano pessoal, econmico, poltico e social
14
.
Transparncia dos Atos Pblicos: deve-se ga-
rantir o respeito aos princpios da administra-
o pblica: legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e ecincia, com transparn-
cia dos atos pblicos e controle social
15
.
Participao e Controle Social: devem ser ga-
rantidos o debate e a participao das mulhe-
res na formulao, implementao, avaliao e
controle social das polticas pblicas
16
.
O II PNPM, alm disso, dene como diretriz para os
governos federal, estadual e municipal: garantir a parti-
cipao e o controle social na formulao, implementa-
o, monitoramento e avaliao das polticas pblicas,
disponibilizando dados e indicadores relacionados aos
atos pblicos e garantindo a transparncia das aes
17
.
O Observatrio Brasil da Igualdade de Gnero foi
construdo nas bases de parcerias com outras instituies
pblicas e com organismos internacionais e organizaes
da sociedade civil, com o objetivo de dar visibilidade e
fortalecer as aes do Estado Brasileiro para a promoo
da igualdade de gnero e dos direitos das mulheres. Seu
contedo foi desenhado de modo a oferecer subsdios a
gestoras/es pblicas/os, a representantes polticas/os, a
autoridades de partidos polticos, a sindicatos, movimen-
tos e organizaes da sociedade civil e, em particular, aos
movimentos e s organizaes feministas e de mulheres,
assim como aos centros de produo de conhecimento e
s universidades.
Lanado no dia 8 de maro de 2009, o Observatrio
Brasil da Igualdade de Gnero se constituiu e deu incio
ao trabalho de monitoramento e de sistematizao de in-
formaes em abril desse mesmo ano. Foi ento formada
a estrutura de funcionamento do Observatrio, composta
por uma Secretaria Executiva, um Comit Deliberativo, um
Comit Tcnico e quatro Grupos de Trabalho, um para cada
eixo de atuao. Ao nal do ano de 2009, constituiu-se o
Conselho Consultivo do Observatrio, que foi formalmente
nomeado em 20 de maio de 2010.
O Observatrio Brasil desenvolve seu monitoramento
em torno de cinco grandes eixos: Indicadores, Polticas
12
Brasil. Presidncia da Repblica. Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres. II Plano Nacional de Polticas para as Mulheres. Braslia: Secretaria Especial de Polticas para
as Mulheres, 2008, pgina 27.
13
Idem, pgina 27.
14
Idem, pgina 27.
15
Idem, pgina 28.
16
Idem, pgina 28
17
Idem, pgina 31
126
OBSERVATRIOS DE GNERO NA AMRICA LATINA / Nina Madsen, Marcela Torres Rezende
Pblicas, Legislao e Legislativo, Comunicao e M-
dia, e Internacional. exceo do eixo Internacional, a
cada eixo corresponde um grupo de trabalho (GT), res-
ponsvel pela produo de contedo do Observatrio,
coordenado pela SPM/PR e integrado por representan-
tes de diferentes organismos. Para garantir a unicidade
e a coerncia das produes dos diferentes GTs, consti-
tuiu-se tambm um Comit Tcnico, do qual fazem par-
te os/as coordenadores/as e mais uma representante
por GT, alm de representante da Secretaria Executiva
do Observatrio. Este comit monitora as aes do Ob-
servatrio como um todo, fazendo recomendaes aos
grupos sempre que necessrio.
A misso do Observatrio a de contribuir para a
promoo da igualdade de gnero e dos direitos das mu-
lheres no Brasil, a partir de uma perspectiva no-sexista,
no-racista e no lesbofbica/homofbica, servindo de
ferramenta para a formulao e o aperfeioamento de po-
lticas de gnero e de polticas pblicas em geral, tanto
no nvel federal, quanto nos nveis estadual e municipal;
para o maior controle social da transversalizao da pers-
pectiva de gnero nas polticas pblicas e na estrutura
governamental; e para a ampliao do dilogo regional e
internacional em termos de avanos e desaos em direo
maior igualdade de gnero.
O Observatrio tem sua ao de monitoramento
orientada, inicialmente, por cinco reas temticas esco-
lhidas com base no II PNPM. A seleo destas cinco reas
iniciais foi feita de modo a garantir a compatibilidade en-
tre o Observatrio e o II PNPM por um lado, e o Observa-
trio Brasil e o Observatrio Latino- Americano da CEPAL,
por outro. Assim, foram selecionadas as cinco reas que
se revezaro anualmente como foco do monitoramento
do Observatrio e, consequentemente, das atividades dos
Grupos de Trabalho. So elas: Violncia, Trabalho, Educa-
o, Poder e Deciso e Sade.
As reas temticas dialogam com os eixos de atua-
o, de forma que cada eixo possa abarcar as cinco reas.
Como estratgia de priorizao das reas temticas e de
focalizao do trabalho do Observatrio, denida uma
rea-foco por ano. O foco temtico escolhido para o pri-
meiro ano de implantao do Observatrio (2009-2010)
foi o da participao das mulheres nos espaos de poder
e deciso, o que implicou em dilogo intenso com a cam-
panha Mais Mulheres no Poder, apoiada pela SPM/PR, e
no fortalecimento do processo de institucionalizao dos
comits de gnero dos ministrios brasileiros, uma ao
da SPM/PR j em andamento.
Para o ano de 2010, o tema-foco escolhido foi o do
trabalho, coadunando-se com o tema da XI Conferncia
Regional Sobre a Mulher da Amrica Latina e do Caribe.
De acordo com o stio da conferncia, o evento se dedi-
car a examinar as conquistas e os desaos regionais em
relao igualdade de gnero, dando especial ateno
autonomia e ao empoderamento econmico das mulheres,
com base na avaliao dos principais avanos e desaos
no cumprimento dos compromissos assumidos na quarta
Conferncia Mundial sobre a Mulher (Beijing, 1995) e nas
conferncias regionais sobre a mulher
18
.
O trabalho dos eixos de atuao , portanto, orienta-
do para a rea temtica em foco. A partir das cinco linhas
temticas e dos cinco eixos estabelecidos e atravs de sua
estrutura de funcionamento o Observatrio pode: 1. Iden-
ticar e compreender a evoluo e anlise das desigual-
dades de gnero persistentes nas aes polticas, econ-
micas e scio-culturais, transversalizadas pelas condies
tnico-raciais e geracionais, nos diversos contextos da
sociedade brasileira; 2. Contribuir para a produo, ela-
borao e difuso de informaes, dados e estatsticas
sobre as condies de igualdades/desigualdade de gne-
ro na sociedade brasileira, em nveis nacional, estadual
e municipal, assim como interagir com as informaes
oriundas do cenrio latino-americano; 3. Exercer estrat-
gias de monitoramento, avaliao e controle social sobre
as polticas pblicas relativas e relacionadas s condies
de igualdade de gnero.
importante ressaltar que as cinco reas temticas
denidas acima sero o foco dos trs primeiros anos do
Observatrio (perodo de implantao). A partir do quarto
ano do projeto, as demais reas temticas denidas pelo
II PNPM sero incorporadas seguindo da mesma lgica
apresentada acima.
Metodologia e Estratgias
A metodologia adotada para a implantao do Obser-
vatrio Brasil se concentra no levantamento de informa-
es, indicadores e dados para a elaborao de diagns-
ticos; no monitoramento dos indicadores e das polticas
e aes compreendidas no PNPM; no monitoramento da
mdia sobre mulheres e gnero; e na elaborao de anli-
ses peridicas das informaes e contedos concentrados
no Observatrio. Alm disso, o Observatrio tem como
estratgias:
A produo, o monitoramento e a anlise peri-
dica de indicadores de gnero, como estratgia
para a disponibilizao de dados e informaes
atualizadas sobre a situao da igualdade de
gnero no Brasil.
O monitoramento e a anlise peridica das po-
lticas pblicas de gnero, como estratgia para
18
Conferir o stio da XI Conferncia Regional Sobre a Mulher da Amrica Latina e do Caribe: http://www.eclac.cl/mujer/conferencia
127
OBSERVATRIOS DE GNERO NA AMRICA LATINA / Nina Madsen, Marcela Torres Rezende
19
O Observatrio Brasil da Igualdade de Gnero completou seu primeiro ano de funcionamento em maro de 2010, tendo ento lanado seu primeiro relatrio anual. O primeiro nmero da
Revista do Observatrio foi produzido em dezembro de 2009. Ambas as publicaes esto disponveis no site do Observatrio.
fortalecer as polticas de gnero e de ampliar
a capacidade de incidncia da perspectiva de
gnero nas polticas pblicas em geral.
A articulao poltica e a conformao de re-
des, como estratgia para a transversalizao
da perspectiva de gnero nas polticas pblicas
e na estrutura do Estado Brasileiro em seus trs
nveis (federal, estadual e municipal).
O monitoramento de mdia, como estratgia
para o desenho de campanhas e aes no sen-
tido de denunciar a disseminao de prticas
e de mentalidade discriminatrias na sociedade
brasileira.
A ampliao dos canais de dilogo regionais e
internacionais, como estratgia para o fortale-
cimento da integrao regional em direo
promoo dos direitos das mulheres e da igual-
dade de gnero.
A metodologia de monitoramento e anlise para
cada eixo de atuao, bem como os instrumentos e siste-
mas adotados para cada rea, so denidos no mbito de
cada GT, junto s organizaes e instituies parceiras.
Os trabalhos do Observatrio so disponibilizados
em um portal da internet que tambm hospeda material,
informaes, dados e produtos orientados divulgao
da produo cientca relativa s linhas temticas deni-
das, assim como de outras reas que envolvem o tema da
igualdade de gnero (textos completos sobre diferentes
temticas, indicaes de leituras, comentrios crticos,
resenhas, entrevistas e reportagens e boletins numa pers-
pectiva de jornalismo cientco). Como o Observatrio se
constitui em um canal de estmulo ao dilogo/interaes
entre as/os gestoras/es pblicos e privados, pesquisado-
ras/es e a sociedade, est aberto para receber contribui-
es das organizaes e instituies parceiras.
O Observatrio produz um boletim mensal com not-
cias e destaques, uma Revista anual de carter mais ana-
ltico e voltada para o tema-foco do ano, e um Relatrio
anual, no qual apresenta o balano do trabalho realizado
ao longo do perodo de monitoramento referido
19
.
Parcerias
O Observatrio tem parcerias com diferentes grupos
e membros da sociedade civil e do Estado, compreenden-
do os diversos atores sociais, parlamentares, membros de
ONGs, de grupos sociais organizados, alm de represen-
tantes ministeriais, pesquisadores e instituies.
A parceria com a CEPAL especialmente importan-
te para o Observatrio, tanto para o desenvolvimento de
indicadores nacionais de gnero em consonncia com os
indicadores regionais propostos pela Comisso, quanto
para a promoo e ampliao do dilogo regional e inter-
nacional no sentido da promoo dos direitos das mulhe-
res e da igualdade de gnero. Um prximo desao para o
Observatrio poder ser o estabelecimento de parcerias
com outros observatrios de gnero da Amrica Latina.
6. Concluso
Pelo que foi exposto, percebe-se que a criao de ob-
servatrios voltados para a temtica de gnero apresenta-
se como uma tendncia na Amrica Latina, em especial
a partir da primeira dcada do sculo XXI. A ampliao
do nmero de observatrios ocorre concomitantemente
consolidao da internet enquanto ferramenta de co-
municao. Eles surgem, em sua maioria, por iniciativa
da sociedade civil organizada, e muitos se voltam para
o exerccio democrtico do controle social, a exemplo do
Social Watch. J os observatrios de gnero, em especial
na Amrica Latina, comeam a surgir um pouco depois,
nos anos 2000, j em um contexto de consolidao da
democracia.
O Observatrio da Igualdade de Gnero da Amrica
Latina e do Caribe, produzido pela CEPAL, surge como
resposta demanda apresentada pelo Consenso de Quito,
documento resultante da X Conferncia Regional da Mu-
lher da Amrica Latina e do Caribe, realizada na capital
do Equador, em 2007. Sua instalao demonstra como a
temtica de gnero tem avanado na regio latino-ame-
ricana. Ele contribui no s para a divulgao do tema,
como tambm para a ampliao do conhecimento acerca
da realidade vivida pelas mulheres nos pases da regio. Os
indicadores disponibilizados no stio do observatrio da
CEPAL tm por objetivo permitir a comparao equilibrada
da situao vivida por mulheres nos diferentes pases da
regio, o que permitiria a construo de conhecimento
sistematizado sobre as condies de vida das mulheres na
rea. Isso estimula a realizao de estudos e pesquisas e
garante um monitoramento regional da situao feminina.
O Observatrio Brasil da Igualdade de Gnero tam-
bm surgiu como resposta ao Consenso de Quito. Resul-
tado de uma iniciativa da Secretaria de Polticas para as
Mulheres da Presidncia da Repblica, ele agrega, por
meio do estabelecimento de parcerias, outros atores da
sociedade brasileira. Isso lhe um confere um carter mais
plural e aumenta sua representatividade. Ao estimular o
dilogo com a sociedade civil, o Observatrio Brasil con-
tribui para o fortalecimento da transparncia e da pres-
128
OBSERVATRIOS DE GNERO NA AMRICA LATINA / Nina Madsen, Marcela Torres Rezende
tao de contas e da prpria democracia. Ele visa, ade-
mais, a estimular a sistematizao de informaes sobre
a temtica de gnero no Brasil, bem como a monitorar a
implantao das polticas pblicas de gnero. Por meio
do Observatrio Brasil, espera-se no apenas divulgar o
assunto no pas como tambm contribuir para a produo
de novos conhecimentos relacionados ao tema, de modo
a permitir que o processo de desenho, implementao
e avaliao das polticas pblicas de gnero seja mais
ecaz, por ser pautado em informaes conveis e em
indicadores construdos em dilogo constante com outros
atores e atrizes sociais.
A criao de observatrios voltados para a divulga-
o de informaes sistematizadas relacionadas a ques-
tes de gnero e/ou que visem ao monitoramento de po-
lticas pblicas de gnero reete o amadurecimento das
discusses acerca da temtica e contribui para estimular
pases que ainda no disponham de mecanismos institu-
cionalizados de garantia dos direitos das mulheres a es-
tabelecerem tais rgos. O dilogo entre os observatrios
de gnero j existentes na regio como os do Brasil, do
Chile, da Colmbia, do Mxico e o da CEPAL representa
um desao que, se enfrentado, poder trazer inmeros
benefcios para a luta em prol da igualdade de gnero na
Amrica Latina.
7. Bibliograa consultada
Brasil. Presidncia da Repblica. Secretaria Especial de Polti-
cas para as Mulheres. II Plano Nacional de Polticas para as
Mulheres. Braslia: Secretaria Especial de Polticas para as
Mulheres, 2008.
Brasil. Presidncia da Repblica. Secretaria Especial de Polticas
para as Mulheres. Revista do Observatrio Brasil da Igualdade
de Gnero. Braslia: Secretaria Especial de Poltica para as
Mulheres, 2009.
Brasil. Presidncia da Repblica. Secretaria Especial de Polticas
para as Mulheres. Relatrio Anual do Observatrio Brasil da
Igualdade de Gnero 2009/2010. Braslia: Secretaria Especial
de Polticas para as Mulheres, 2010.
CDES. Observatrio da Equidade do CDES. Relatrio de Ativida-
des. CDES, Dezembro, 2006. Disponvel no portal do CDES
na Internet.
CDES. Observatrio da Equidade (OE). CDES, s/d. Disponvel no
portal do CDES na Internet.
CDES. Projeto Observatrio da Equidade (OE). Proposta para
debate. CDES, Maro, 2006. Disponvel no portal do CDES
na Internet.
CEPAL. Antecedentes y Propuesta de Observatorio de Gnero
para Amrica Latina y el Caribe de la CEPAL. Santiago de
Chile: CEPAL, 2008. Documento interno enviado por e-mail
pesquisadora.
CEPAL. X Conferncia Regional sobre a Mulher da Amrica Latina
e do Caribe. Consenso de Quito. Quito: 2007.
Conuencia Nacional de Redes de Mujeres Corporacin Sisma
Mujer. Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres
en Colombia. Documento de presentacin. Bogot, junho de
2003. Disponvel na Internet: www.analitica.com/mujerana-
litica/documentos/1875714.pdf
www.isis.cl/temas/vi/doc/ObservatorioDDHHColombia.pdf
Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. Observato-
rio de Asuntos de Gnero. Informe de Gestin. Periodo 2003
2005. Colombia: Consejera Presidencial para la Equidad de
la Mujer, 2006. Disponvel no portal do Observatrio de As-
suntos de Gnero na Internet: http://www.presidencia.gov.
co/equidad/observatorio_genero.htm
ESTIVILL, Jordi. Panorama dos Observatrios de luta contra a
pobreza e a excluso social. Barcelona, 2007. Disponvel no
portal do Observatrio de Luta contra a Pobreza da Cidade
de Lisboa na Internet: http://observatorio-lisboa.reapn.org/
home.php
LPEZ, Paz & SALLES, Vania. Antecedentes y aspectos sobresa-
lientes del proyecto Observatorio de Gnero y Pobreza. Cida-
de do Mxico: UNIFEM e CIS/Comex, s/d. Disponvel no por-
tal do Observatrio de Gnero e Pobreza na Internet: http://
ogp.colmex.mx/
SANTOS, Elizabeth; ESTIVILL, Jordi & AIRES, Srgio. Primeiro
Relatrio do Observatrio de Luta contra a Pobreza da Cidade
de Lisboa. Lisboa, 2007. Disponvel no portal do Observat-
rio de Luta contra a Pobreza da Cidade de Lisboa na Internet:
http://observatorio-lisboa.reapn.org/home.php
SIQUEIRA, Carlos Eduardo & CARVALHO, Fernando. O Obser-
vatrio das Amricas como rede de sade ambiental e do
trabalhador nas Amricas. Rio de Janeiro: Cincia e Sade
Coletiva, 2003, 8 (4): 897-902.
Social Watch. The lions teeth: The Prehistory of Social Watch.
1999. Disponvel no portal do Social Watch na Internet:
http://www.socialwatch.org/en/portada.htm
8. Stios da internet
http://www.eclac.cl/mujer/conferencia
http://www.cepal.org/oig/
http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.
http://ogp.colmex.mx/generoypobreza.html.
http://ogp.colmex.mx/generoypobreza.html.
http://www.presidencia.gov.co/equidad/observatorio_
genero.htm.
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/presentation/in-
dex.htm
http://observatoriodamulher.org.br/site/
http://www.socialwatch.org/em/acercaDe/historiaCon-
clusiones.htm
http://www.observatoriodegenero.gov.br/
Você também pode gostar
- Ultraneoliberalismo e Bolsonarismo Impactos Sobre o Orcamento Publico e A Politica SocialDocumento20 páginasUltraneoliberalismo e Bolsonarismo Impactos Sobre o Orcamento Publico e A Politica SocialNilciane Raquel Santos De Moraes100% (1)
- Aplicação Das Normas Fiscais No Tempo e No EspaçoDocumento18 páginasAplicação Das Normas Fiscais No Tempo e No EspaçoNtonto Gomez Gomez100% (4)
- Ensaio - MacroeconomiaDocumento14 páginasEnsaio - MacroeconomiaHipolito EnoqueAinda não há avaliações
- Seguridade Social em Tempos de Crise Do CapitalDocumento29 páginasSeguridade Social em Tempos de Crise Do CapitalAnonymous oCYmH08KXAinda não há avaliações
- Plano CruzadoDocumento8 páginasPlano CruzadoJéssica OliveiraAinda não há avaliações
- Economia ADocumento6 páginasEconomia AAida CunhaAinda não há avaliações
- COSTA, Eduardo. Uma Breve História Do Pensamento Neoliberal. 2010Documento25 páginasCOSTA, Eduardo. Uma Breve História Do Pensamento Neoliberal. 2010Leonardo Portes PintoAinda não há avaliações
- Economia - Aula 02 - Macroeconomia KeynesianaDocumento36 páginasEconomia - Aula 02 - Macroeconomia Keynesianam_nevessAinda não há avaliações
- Direito Fiscal I - ApontamentosDocumento44 páginasDireito Fiscal I - ApontamentosAmandaAlves100% (1)
- Resumo MacroeconomiaDocumento18 páginasResumo MacroeconomiaCarol BighiAinda não há avaliações
- Casos GV Tudo Parou e Nao Podia Dar o StartDocumento7 páginasCasos GV Tudo Parou e Nao Podia Dar o Startrtomaoka100% (1)
- Modelo Clássico MacroeconomiaDocumento5 páginasModelo Clássico MacroeconomiaRodrigo MnsAinda não há avaliações
- Conceito de Deficit PublicoDocumento2 páginasConceito de Deficit PublicoJaqueline Frabetti ScaqueteAinda não há avaliações
- Analise Da Execucao Orcamental TomoDocumento13 páginasAnalise Da Execucao Orcamental TomoJordan Ercilio InlumaAinda não há avaliações
- Avaliação 1 - MACUNDADEDocumento5 páginasAvaliação 1 - MACUNDADEAlegria Daniel Agostinho100% (1)
- Tesouro Nacional - Avaliação Da Qualidade Do Gasto - EbookDocumento466 páginasTesouro Nacional - Avaliação Da Qualidade Do Gasto - EbookDaniela VasconcelosAinda não há avaliações
- Premio Monografias 05a08Documento481 páginasPremio Monografias 05a08Carlos Henrique BorgesAinda não há avaliações
- Unidade 11 - 11 AnoDocumento61 páginasUnidade 11 - 11 AnoSofia AmorimAinda não há avaliações
- 03 CFP Professor Lucas 2023Documento386 páginas03 CFP Professor Lucas 2023Welber CarvalhoAinda não há avaliações
- Fies Impactos de Curto e Longo PrazoDocumento30 páginasFies Impactos de Curto e Longo PrazoVinícius BotelhoAinda não há avaliações
- Modelo KeynesianoDocumento29 páginasModelo KeynesianoNeto GarciaAinda não há avaliações
- Contabilidade Na EscolaDocumento96 páginasContabilidade Na EscolaCeição SantosAinda não há avaliações
- REVISTA TOC 136 - Web PDFDocumento76 páginasREVISTA TOC 136 - Web PDFJose Oliveira OliveiraAinda não há avaliações
- CARINHATO, P. H. - Neoliberalismo, Reforma Do Estado e Políticas Sociais Nas Últimas Décadas Do Século XX No Brasil PDFDocumento10 páginasCARINHATO, P. H. - Neoliberalismo, Reforma Do Estado e Políticas Sociais Nas Últimas Décadas Do Século XX No Brasil PDFLuciene AlvesAinda não há avaliações
- Unidade 1Documento28 páginasUnidade 1brunoporpeta1816Ainda não há avaliações
- Caderno de Economia ADocumento32 páginasCaderno de Economia Ajoáo vitor castro ruasAinda não há avaliações
- Curso de MacroeconomiaDocumento83 páginasCurso de MacroeconomiaJosé Alexandre0% (1)
- A Evolução Do Sistema Tributário BrasileiroDocumento37 páginasA Evolução Do Sistema Tributário Brasileiromagister_rivulus5820Ainda não há avaliações
- Estatuto Do Servidor Publico IlheusDocumento51 páginasEstatuto Do Servidor Publico IlheusbricioAinda não há avaliações