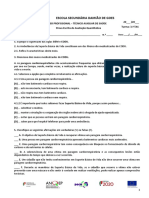Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cibernética, Ciborgues E Ciberespaço: Notas Sobre As Origens Da Cibernética E Sua Reinvenção Cultural
Cibernética, Ciborgues E Ciberespaço: Notas Sobre As Origens Da Cibernética E Sua Reinvenção Cultural
Enviado por
Eduardo Ramalho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações21 páginasTítulo original
20625
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações21 páginasCibernética, Ciborgues E Ciberespaço: Notas Sobre As Origens Da Cibernética E Sua Reinvenção Cultural
Cibernética, Ciborgues E Ciberespaço: Notas Sobre As Origens Da Cibernética E Sua Reinvenção Cultural
Enviado por
Eduardo RamalhoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 21
199
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
CIBERNTICA, CIBORGUES E CIBERESPAO: NOTAS SOBRE AS
ORIGENS DA CIBERNTICA E SUA REINVENO CULTURAL
Joon Ho Kim
Universidade de So Paulo
*
Brasil
Resumo: A teoria ciberntica de Wiener, da dcada de 1940, originou pesquisas
e influenciou vrios campos cientficos, incluindo a antropologia. Atualmente, a
ciberntica est praticamente esquecida como uma cincia, mas deixou importan-
tes resduos para a cultura. Esses resduos, dentre outros provenientes do discurso
tcnico e cientifico, so meios criativos para as reavaliaes do consenso social
acerca dos significados das coisas.
Resultados de um processo de reinveno cultural, o ciborgue e o ciberespao so
referncias emblemticas de uma nova ordem do real que projeta o sistema antigo
de interpretao da realidade sob novas formas, restringidas pelas dadas possi-
bilidades histricas e culturais de significao.
Palavras-chave: cibercultura, ciberespao, ciberntica, ciborgue.
Abstract: The Wieners cybernetics theory, from 1940s, has inspired researches
and has influenced many scientific fields, including anthropology. Nowadays, the
cybernetics is almost forgotten as a science but it has left important residues for
the culture. These residues, amongst others from scientific and technical discourse,
are creative means for the revaluations of social consensus about the meanings
of things.
As results of cultural process of reinvention, the cyborg and the cyberspace are
emblematic references of a new order of real, which projects the old interpretational
system of reality in new forms, constrained by its given historical and cultural
possibilities of signification.
Keywords: cyberculture, cybernetics, cyberspace, cyborg.
*
Mestrando em Antropologia Social.
200
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
A inveno da ciberntica
Em 1948, o matemtico Norbert Wiener publicou Cybernetics: or the
Control and Communication in the Animal and the Machine, livro que
apresenta as hipteses e o corpo fundamental da ciberntica, resultados de
vrios anos de pesquisa e interao com pesquisadores de diversas reas
cientficas, incluindo as cincias sociais, representados, em especial, pelos
antroplogos Gregory Bateson e Margaret Mead. A idia fundamental de-
senvolvida por Wiener com seus principais colaboradores, o fisiologista
Arturo Rosenblueth e o engenheiro Julian Bigelow, a de que certas fun-
es de controle e de processamento de informaes semelhantes em
mquinas e seres vivos e tambm, de alguma forma, na sociedade so,
de fato, equivalentes e redutveis aos mesmos modelos e mesmas leis ma-
temticas. Ele entendia que a ciberntica seria uma teoria das mensagens
mais ampla que a teoria da transmisso de mensagens da engenharia el-
trica,
[] um campo mais vasto que inclui no apenas o estudo da lingua-
gem mas tambm o estudo das mensagens como meios de dirigir a
maquinaria e a sociedade, o desenvolvimento de mquinas computa-
doras e outros autmatos [], certas reflexes acerca da psicologia
e do sistema nervoso, e uma nova teoria conjetural do mtodo cien-
tfico. (Wiener, 1984, p. 15).
Wiener (1948, p. 19; 1984, p. 15) explica que ele e Rosenblueth criaram
um termo artificial para designar esse campo de pesquisa porque acredita-
vam que qualquer terminologia existente traria um vis indesejado ao seu
sentido. Assim, eles cunharam o termo cybernetics derivado do grego
kubernetes, palavra utilizada para denominar o piloto do barco ou timoneiro,
aquele que corrige constantemente o rumo do navio para compensar as
influncias do vento e do movimento da gua. Alm do sentido de controle,
reforado pela correspondncia que kubernetes tem com o latim gubernator,
a mquina de leme utilizada em navios seria um dos mais antigos dispositivos
a incorporar os princpios estudados pela ciberntica.
O campo que Wiener designa de ciberntica teve incio durante os
esforos relacionados com a II Grande Guerra, quando ele realizou pesquisas
201
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
com programao de mquinas computadoras e com mecanismos de con-
trole para artilharia antiarea. Tanto em uma como em outra pesquisa,
Wiener engajou-se no que descreve como estudo de um sistema eltrico-
mecnico que fosse desenhado para usurpar uma funo especificamente
humana: a execuo de um complicado padro de clculo em um caso
e a previso do futuro, no outro. A previso do futuro a que Wiener se
refere, neste caso especfico, a capacidade de se prever a trajetria de
uma aeronave, a fim de que o projtil do canho antiareo encontre-se com
o alvo em algum momento do futuro (Wiener, 1948, p. 11, 13, traduo
minha).
Em suas pesquisas sobre a artilharia area ele se interessou particular-
mente pelo princpio que a engenharia de controle denomina de feedback.
Basicamente, esse princpio consiste em realimentar o sistema com as infor-
maes sobre o prprio desempenho realizado a fim de compensar os des-
vios em relao ao desempenho desejado. Assim, nas mquinas controladas
por feedback, indispensvel a existncia de um ou mais detectores e
monitores que faam papel de rgos sensrios, de forma que as informa-
es coletadas possam ser confrontadas com o padro de desempenho
programado. A diferena entre o desempenho realizado e o esperado
transformada na informao que o mecanismo de compensao utilizar
para trazer o desempenho futuro para valores mais prximos do padro
esperado (Wiener, 1948, p. 13; 1984, p. 24).
Durante as pesquisas com mecanismos controlados por feedback,
Wiener notou que eles podiam apresentar uma oscilao anmala e crescen-
te, capaz de tornar o sistema incontrolvel e lev-lo pane.
1
Esse tipo de
oscilao parecia atingir no s mquinas controladas por feedback, mas
tambm alguns seres humanos vitimados pela ataxia, deficincia que se
caracteriza pela perda de coordenao de movimentos musculares volunt-
rios. Wiener e Rosenblueth notaram que, em alguns distrbios neurolgicos,
1
Um exemplo simples desse tipo de oscilao pode ser observado em um aquecedor controlado
por termostato. Nesse caso, o controle por feedback consiste basicamente na realimentao
do sistema com valores da temperatura do ambiente, medidos por meio de um sensor de calor,
que so confrontados com o padro de temperatura programado na mquina. Assim, se o
termostato detectar que a temperatura est abaixo do desejado, acionar o aquecedor; se
detectar que est acima, ir deslig-lo. Esse tipo de controle permite que a temperatura de
um ambiente fique estvel dentro de uma pequena zona de tolerncia acima e abaixo da
temperatura desejada. Entretanto, desde que a estabilidade do sistema depende do bom
funcionamento do controle por feedback, um termostato defeituoso ou de m qualidade pode
resultar em violentas oscilaes de temperatura (Wiener, 1948, p. 115).
202
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
o portador de ataxia apresenta anomalias ligadas ao sentido proprioceptivo,
2
fazendo com que o atxico, apesar do sistema muscular estar em condies
adequadas, seja incapaz de andar e mesmo de ficar de p sem olhar para
as pernas ou ter distrbios de coordenao nos quais seus movimentos
voluntrios no passam de movimentos errticos que resultam apenas em
uma oscilao violenta e ftil. As pesquisas em pacientes com ataxia de-
monstravam que bons msculos no eram suficientes para uma ao efetiva
e precisa: as informaes do feedback fornecidas pelo sistema proprioceptivo,
combinadas com as provenientes de outros sentidos, so indispensveis para
o sistema nervoso central produzir o estmulo adequado para o trabalho
muscular. E Wiener conclui: Something quite similar is the case in
mechanical systems (Wiener, 1948, p. 113-114).
Assim, para Wiener, o sistema nervoso central engendra um processo
circular emergindo do sistema nervoso para os msculos, e reentrando ao
sistema nervoso pelos rgos dos sentidos cujo princpio seria idntico ao
que havia encontrado em dispositivos de controle de mquinas (Wiener,
1948, p. 15). Essas idias foram publicadas no artigo Behavior, Purpose
and Teleology (American Society for Cybernetics, [s.d.]) e apresentadas
por Rosenblueth em maio de 1942 a um grupo de pesquisadores em um
encontro sob os auspcios da Josiah Macy Foundation, organizao filantr-
pica dedicada aos problemas decorrentes da inibio do sistema nervoso.
desde essa poca, quando a ciberntica sequer havia sido batizada, que a
antropologia mantm seu vnculo terico com ela: alm dos pesquisadores
ligados medicina, estiveram presentes naquele encontro os antroplogos
Gregory Bateson e Margaret Mead. A srie de conferncias posteriores,
conhecidas como The Macy Confereces, reuniu pesquisadores provenientes
de reas diversas como a matemtica, medicina, psicologia, filosofia, antro-
pologia e sociologia.
Por causa da II Grande Guerra, a primeira conferncia aconteceu
apenas em 1946 sob o ttulo Feedback Mechanisms and Circular Causal
Systems in Biological and Social Systems. O nome da conferncia sofreu
pequenas alteraes em vrias edies at que em maro de 1950, na sua
stima edio, passou a se chamar Cybernetics: Circular Causal and
2
Percepo sensorial pela qual percebemos a posio e o movimento do nosso prprio corpo,
independentemente dos demais sentidos, como o tato ou a viso.
203
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems, nome que pre-
servou at a dcima e ltima edio, em abril de 1953. Gregory Bateson e
Margaret Mead foram ativos participantes desses eventos e, juntamente
com o socilogo Paul Lazarsfeld, constituram a presena das cincias so-
ciais no core group das conferncias.
Modelo antropolgico e resduo cultural
Segundo Rapport e Overing (2000, p. 102-115), a participao de
Bateson nos crculos da ciberntica teve grande influncia no seu trabalho
e ele considerado um dos fundadores do pensamento ciberntico nas
cincias sociais. Influenciado pela descoberta apresentada por Wiener de
que o conceito social-cientfico de informao e o conceito natural-cien-
tfico de entropia negativa eram de fato sinnimos, Bateson desenvolveu
teorias onde as relaes sociais poderiam ser vistas como comunicaes
entre membros co-dependentes cuja interao habitual caracterizada por
circularidades, oscilaes, limites dinmicos e feedback. Alm disso, se o
princpio ciberntico da entropia, derivado da segunda lei da termodinmica,
se traduz em um processo contnuo de reduo de ordem em um sistema,
ou de aumento de seu caos, isso implica que os relacionamentos sociais no
podem permanecer os mesmos por muito tempo.
Ainda acrescentam Rapport e Overnig (2000, p. 113-115) que a ciber-
ntica de Bateson influenciou amplamente o pensamento das cincias sociais
e, a despeito da influncia das suas idias no ser, na maioria das vezes,
explcita, sua contribuio extensa e encontrada na obra de vrios cien-
tistas: em Rappaport, a cultura um todo que pode ser entendido como um
sistema ciberntico que regula as relaes entre as pessoas e seu ambien-
te; o trabalho de Goffman sobre como a estrutura social e a realidade so
mantidas pelo processo de sanes sociais, encontros situacionais, ou sis-
temas de atividades situadas carrega o sinal distintivo da ciberntica; j
Strathern faz uso da figura do cyborg e mostra como a natureza das coisas
no mundo um efeito obtido pela contnua e recproca relao entre as
partes em um particular ponto no tempo e espao; a influncia da ciber-
ntica est tambm implcita na noo estruturalista da sociedade, vista
como um sistema de comunicao baseado na troca de mensagens culturais
de tipo binrio, e o trabalho de Lvi-Strauss na busca por combinaes e
204
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
recombinaes de unidades comunicacionais teria sido influenciado pela ci-
berntica subjacente cincia da computao.
O seguinte comentrio de Lvi-Strauss a respeito de um mito encontrado
no Canad ocidental sobre uma raia que tentou controlar ou dominar o
Vento Sul e que teve xito na empresa (Lvi-Strauss, 2000, p. 35) ilustra
bem a influncia da ciberntica em seu pensamento:
[] a razo por que se escolheu a raia que ela um animal que,
considerando de um ou outro ponto de vista, capaz de responder
empregando a linguagem da ciberntica em termos de sim ou
no. capaz de dois estados que so descontnuos, um positivo e
outro negativo. A funo que a raia desempenha no mito ainda
que, evidentemente, eu no queira levar as semelhanas demasiado
longe parecida com a dos elementos que se introduzem nos com-
putadores modernos e que se podem utilizar para resolver grandes
problemas adicionando uma srie de respostas de sim e no. []
Esta a originalidade do pensamento mitolgico desempenhar o
papel do pensamento conceptual: um animal susceptvel de ser usado
como, diria eu, um operador binrio, pode ter, dum ponto de vista
lgico, uma relao com um problema que tambm um problema
binrio. [] Dum ponto de vista cientfico, a histria no verdadeira,
mas ns somente pudemos entender esta propriedade do mito num
tempo em que a ciberntica e os computadores apareceram no mundo
cientifico dando-nos o conhecimento das operaes binrias, que j
tinham sido postas em prtica de uma maneira bastante deferente,
com objetos ou seres concretos, pelo pensamento mtico. (Lvi-
Strauss, 2000, p. 36-37).
Tambm encontramos componentes cibernticos no pensamento de
Geertz que, por sua vez, v na relao entre a evoluo cultural e a evoluo
biolgica princpios da ciberntica que levam a um processo contnuo de
realimentao e influncias recprocas e condicionadas:
medida que a cultura, num passo a passo infinitesimal, acumulou-
se e se desenvolveu, foi concedida uma vantagem seletiva queles
indivduos da populao mais capazes de levar vantagem [] at que
205
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
o Australopiteco proto-humano, de crebro pequeno, tornou-se o
Homo Sapiens, de crebro grande, totalmente humano. Entre o padro
cultural, o corpo e o crebro foi criado um sistema de realimentao
(feedback) positiva, no qual cada um modelava o progresso do outro,
um sistema no qual a interao entre o uso crescente das ferramen-
tas, a mudana da anatomia da mo e a representao expandida do
polegar no crtex apenas um dos exemplos mais grficos. Subme-
tendo-se ao governo de programas simbolicamente mediados para a
produo de artefatos, organizando a vida social ou expressando
emoes, o homem determinou, embora inconscientemente, os estgios
culminantes do seu prprio desenvolvimento biolgico. Literalmente,
embora inadvertidamente, ele prprio se criou. (Geertz, 1989, p. 60).
Apesar de ter estimulado hipteses, teorias e pesquisas tanto na antro-
pologia como em diversos outros campos cientficos, e ter dado origem a
novas reas, como as cincias cognitivas, a ciberntica foi esquecida como
a vasta teoria das mensagens aspirada por Wiener: quase ningum, hoje,
se auto-intitula um ciberneticista. Alguns acreditam que o projeto de
Wiener tornou-se vtima da moda cientfica []. Outros pensam que []
a ciberntica, que estava baseada em uma inspirada generalizao, tornou-
se vtima da incapacidade para lidar com detalhes (Kunzru, 2000, p. 138).
Assim, seus modelos tericos se desgastaram e, mesmo no campo do con-
trole artificial, onde se consolidaram slidas disciplinas cibernticas como
a informtica e a robtica, a proposta de Wiener esvaziou-se na prtica.
importante notar que, se por um lado, a ciberntica no se consolidou
no plano cientfico, ela influenciou de forma determinante a cultura moderna
com resduos de seus modelos explicativos, engendrando, junto com outros
resduos que so incessantemente produzidos pela tecnologia e cincia, o que
poderamos chamar hoje de cibercultura. Tais resduos so certas noes
e valores oriundos do discurso tcnico e cientfico que, deslocados para o
plano do senso comum, introduzem novas distines nos antigos esquemas
interpretativos para que eles possam fazer frente s propriedades de um
mundo no qual as fronteiras entre os domnios do orgnico, do tecno-econ-
mico e do textual tornaram-se permeveis:
206
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
[] produzindo sempre montagens e misturas de mquina, corpo e
texto: enquanto natureza, os corpos e os organismos certamente pos-
suem uma base orgnica eles so cada vez mais produzidos em
conjuno com as mquinas, e esta produo sempre mediada por
narrativas cientficas [] e pela cultura em geral. (Escobar, 2000, p.
61, grifo do autor, traduo minha).
Um dos resduos mais importantes que a ciberntica legou cibercultura
foi a viso de que os seres vivos e as mquinas no so essencialmente diferentes.
Essa noo se manifesta, em especial, nas tecnologias especializadas em
mimetizar a vida (tecnologia da informao, robtica, binica e
nanotecnologia) e nas tecnologias especializadas em manipular a vida (as
biotecnologias), onde a relao entre organismo e mquina depende intrin-
secamente do texto, no s na forma de narrativa cientfica, mas tambm
na forma dos cdigos que determinam o funcionamento tanto das mquinas
(softwares) como dos seres vivos (o cdigo gentico). Os produtos reais
e imaginrios de tais tecnologias podem contradizer certas noes de
classificao fundamentais, tais como a oposio entre natureza e cultura,
entre orgnico e inorgnico, entre o homem e a mquina, dentre outras.
Segundo Lvi-Strauss (2002, p. 25), a exigncia de ordem constitui a
base de todo pensamento. por isso que seres ambguos so, com freqn-
cia, objetos de restries e tabus: so sinais de desordem, contradizem as
fronteiras estabelecidas entre as categorias classificatrias e, assim, amea-
am as prprias convices acerca da ordem do mundo. De acordo com
Douglas (1991, p. 54), a cultura medeia a experincia dos indivduos. For-
nece-lhes, partida, algumas categorias bsicas, uma esquematizao posi-
tiva na qual idias e valores se encontram dispostos de forma ordenada.
Constatada a existncia de ambigidades que j so por si s, indicadoras
da existncia do sistema classificatrio que contradizem a cultura pode
lidar com elas de forma negativa, ignorando-as, perceb-las, ou ainda
perceb-las e conden-las. Positivamente, podemos enfrentar deliberadamente
a anomalia e tentar criar uma nova ordem do real onde a anomalia se possa
inserir (Douglas, 1991, p. 53-54).
O universo no um agregado de objetos em si, mas um repertrio
organizado de objetos significantes que portam significados socialmente
compartilhados. E desde que o sentido do signo (o valor saussuriano)
207
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
definido por suas relaes de contraste com outros signos do sistema []
ele s completo e sistemtico na sociedade (ou na comunidade de falantes)
como um todo (Sahlins, 1990, p. 10). Mas os signos e seus significados no
so partes de estruturas estticas. Como Sahlins (1990, p. 10-11) observa,
alm dos consensos que as sociedades elaboram serem resultados da
interao de perspectivas diversas, os significados das coisas e suas rela-
es estruturais so reavaliados na realizao prtica e, freqentemente,
repensados criativamente dentro de certos limites dados pelo sentido co-
letivo empregado no uso real de um signo em resposta s contingncias
apresentadas pela experincia prtica.
Assim podemos, por exemplo, entender que o consenso social acerca
do que correio eletrnico (e-mail) est dentro dos limites de significaes
de eletrnico e correio (electronic e mail), sobre os quais j havia um
consenso social. O mesmo ocorre com ciberespao (cybernetics space) ou
ciborgue (cybernetics organism). So exemplos onde os termos que sinte-
tizam o discurso tcnico-cientfico (e de electronic ou cyber de
cybernetics) adquirem novas conotaes e engendram significados inditos
na sua conjuno com antigos significantes (mail, space, organism), proje-
tando o sistema antigo de interpretao da realidade sob novas formas,
dentro das dadas possibilidades histricas e culturais de significao. O que
comumente tem se chamado de cibercultura uma resposta positiva da
cultura na criao de uma nova ordem do real frente aos novos contextos
prticos que desafiam as categorias tradicionais de interpretao da realidade.
Os robs e computadores so antigos personagens do nosso imaginrio
e, de certa forma, mais antigos que a prpria ciberntica. Mas h entre o
homem de lata mecanizado e o corpo humano, ou entre uma mquina de
calcular programvel vlvula e a mente humana, descontinuidades gigan-
tescas, de tal forma que eles dificilmente passam de representaes carica-
turadas do homem, chegando, em muitos casos, a reafirmar a oposio das
categorias que separam o humano da mquina. Nesse sentido no so,
ainda, cibernticos, pois a principal caracterstica enunciada pela cibern-
tica a de que no existe descontinuidade entre mquinas e organismo. O
futuro ciberntico implica uma nova ordem do real, porque, enfim, a
intercambialidade apenas uma questo de compatibilidade funcional.
208
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
Ciborgues: o corpo ps-humano
As mquinas do final do sculo XX tornaram completamente ambgua
a diferena entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre
aquilo que se autocria e aquilo que externamente criado, podendo-
se dizer o mesmo de muitas outras distines que se costumavam
aplicar aos organismos e s mquinas. Nossas mquinas so
perturbadoramente vivas e ns mesmos assustadoramente inertes.
(Haraway, 2000, p. 46).
Provavelmente o primeiro produto cultural dessa nova ordem do real
baseada na ciberntica, o ciborgue conjuga as promessas da binica com as
perspectivas anunciadas pela ciberntica. O termo bionics foi cunhado em
1960 pelo major Jack Steele, da Fora Area Americana, para descrever o
emergente campo de pesquisas cuja anlise do funcionamento dos sistemas
vivos visa reproduzir os truques da natureza em artefatos sintticos (Lodato,
2001, p. 2). Em outras palavras, a binica uma rea relacionada com a
biomimtica, que pode ser definida como a cincia de sistemas que tm
alguma funo copiada da natureza, ou que represente caractersticas de
sistemas naturais ou seus anlogos (Vincent, [s.d.], p. 1, traduo minha).
J o termo cyborg nasceu da contrao de cybernetics organism e foi
apresentado, tambm em 1960, por Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline
em um simpsio sobre os aspectos psico-fisiolgicos do vo espacial. Inspi-
rados por uma experincia realizada nos anos 1950 em um rato, no qual foi
acoplada uma bomba osmtica que injetava doses controladas de substn-
cias qumicas, eles apresentaram a idia de se ligar ao ser humano um
sistema de monitoramento e regulagem das funes fsico-qumicas a fim de
deix-lo dedicado apenas s atividades relacionadas com a explorao es-
pacial.
Em 1972, Martin Caidin lanou a fico cientfica Cyborg, que conta
a histria de um piloto de testes da Fora Area americana, Steve Austin,
que aps um grave acidente reconstrudo com partes binicas pelo labo-
ratrio ciberntico do Dr. Killian:
[] para transformar a carcaa de um humano mutilado no apenas
em um novo homem, mas em um tipo totalmente novo de homem.
209
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
Uma nova raa. Um casamento da binica (biologia aplicada enge-
nharia de sistemas eletrnicos) e ciberntica. Um organismo
ciberntico. Chame-o de ciborgue
. (Caidin, 1972, p. 55-56, traduo
minha).
O ciborgue que Caidin nos legou produto de uma binica reinventada
que, sob a inspirao da idia de Clynes e Kline, no mais uma simples
tcnica de mimese da natureza, mas um meio de reconstru-la e super-la.
A histria do homem binico Steve Austin tornou-se famosa com a srie de
TV entitulada The Six Million Dollar Man (O homem de seis milhes de
dlares), veiculada na dcada de 1970 (Abbate, 1999). A figura do homem
binico, cujo corpo natural melhorado com o acoplamento de mquinas
vem, desde ento, sendo reproduzida exausto.
O ciborgue tambm uma forma de retomar o sonho de Victor
Frankenstein disfarando aquilo que causava horror na sua criatura morta-
viva feita com retalhos de cadveres de pessoas e animais esquartejados
ainda vivos para aproveitar-lhe o sopro de vida na recomposio:
Ningum poderia suportar o horror do seu semblante. Uma mmia
sada do sarcfago no causaria to horripilante impresso. Quando o
contemplara, antes de inocular-lhe o sopro vital, j era feio. Mas
agora, com os nervos e msculos capazes de movimento, converteu-
se em algo que nem mesmo no inferno dantesco se poderia conceber.
(Shelley, 1998, p. 53-54).
O horror que a criatura frankensteiniana inspira, e que o ciborgue tenta
superar, a manifestao do nosso horror ao caos, um horror cultural.
Afinal, sentimos medo dos mortos-vivos no porque tememos pela nossa
integridade fsica, mas porque, desde que resultam da justaposio de termos
provenientes de domnios imiscveis, eles constituem uma ameaa ordem
classificatria do cosmos.
Como nos lembra Pyle (2000, p. 125, traduo minha), quando faze-
mos ciborgues ao menos quando os fazemos nos filmes tambm faze-
mos e, nessa ocasio, desfazemos nossas concepes sobre ns mesmos.
Produto do pensamento utilitarista aplicado sem limites (se que h algum
limite para esse tipo de pensamento) carne e ao ao, o ciborgue anuncia
210
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
a imagem de um homem melhorado com a acoplagem da tecnologia e
cada vez mais alm das limitaes de desempenho ditadas pela natureza: a
performance a noo fundamental para a reformulao da imagem do
ser humano na direo da imagem do ps-humano.
Certamente, os significados do homem ps-humano foram determina-
dos sobremaneira pelos resultados e promessas da cincia e da tecnologia,
sem os quais o ciborgue no seria sequer inteligvel. O corao um dos
objetos mais emblemticos tanto pela sua importncia fisiolgica como
pelo seu valor simblico dos esforos cientficos em superar os limites do
homem com mquinas. No por acaso, o corao foi um dos primeiros
rgos talvez o primeiro a receber o acoplamento definitivo de uma
mquina.
Em outubro de 1958, o cirurgio cardaco Ake Senning e o engenheiro
eletrnico Rune Elmquist implantaram o primeiro marca-passo interno em
um ser humano. Esse implante inaugurou um bem sucedido progresso na
rea de prteses e implantes cardacos, desde vlvulas at bombas auxilia-
res, alm de geraes de marca-passos cada vez mais eficientes e prticos.
E, apesar dos enormes riscos envolvidos e dos insucessos, o sonho de se
construir um ser humano no qual zune um corao totalmente artificial
continua. Ao contrrio de seus antecessores da dcada de 1980 tais como
o Jarvik-7, que mantinha o paciente ligado a um compressor externo o
corao modelo AbioCor uma mquina que mimetiza praticamente todas
as funes mecnicas do corao natural, e totalmente implantvel. Em
testes desde julho de 2001, o AbioCor , sem dvida, uma evoluo, mas
ainda possui problemas que o impedem de ser considerado um sucesso.
Em resposta s crticas acerca dos problemas que seus prottipos tm
apresentado, David Lederman, o engenheiro fundador da Abiomed, produ-
tora do AbioCor, afirmou que o corao artificial continuou funcionando em
situaes que poderiam ter lesado ou destrudo um corao natural, como
insuficincia de oxignio no sangue e uma febre de 41,5 C (Ditlea, 2002,
p. 39). Da forma como Lederman colocou, o ponto no apenas se o
AbioCor um dia substituir ou no o corao humano, mas que, apesar das
inconvenincias apresentadas, o corao artificial j supera o original em
alguns aspectos.
O desenvolvimento de prteses tambm est intimamente ligado
superao de limites. Originalmente tais limites eram os impostos queles
211
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
cuja natureza do corpo fora mutilada, por nascena ou acidente. Mas hoje,
acoplados em prteses de competio, os para-atletas velocistas agregam
muita tecnologia. E eles so capazes ultrapassar, e muito, a velocidade das
pessoas comuns e chegam prximo s de recordistas mundiais olmpicos:
Tony Volpentest inspira admirao e, quem sabe, at despeito. Munido
de duas pernas mecnicas, o atleta americano, de 26 anos, faz 100
metros rasos em impressionantes 11 segundos e 36 centsimos de
segundo apenas um segundo e meio atrs do recordista mundial, o
canadense Donovan Bailey, que nasceu com tudo no lugar. Medalha
de ouro nos Jogos Paraolmpicos de Atlanta, em 1996, Tony veio ao
mundo sem os ps e sem as mos (Dias, 1999, p. 136).
Exibindo prteses de alta tecnologia, desenhadas sob medida para com-
peties, a imagem de para-atletas tem sido explorada em propagandas e
desfiles de moda. No discurso da mdia e da propaganda, onde exibem
ostensivamente o seu corpo hbrido, os para-atletas corredores materializam
hoje as aspiraes do futuro do corpo ps-humano, o homem redesenhado
para uma melhor performance. De certa forma, poderamos dizer que
uma das manifestaes da cibercultura o culto performance. Com
efeito, as prteses de alta perfomance assumem o design dinamizado,
matematizado e geometrizado da mquina: elas no pretendem mais repro-
duzir as formas do corpo humano, mas so desenhados apenas em funo
do desempenho.
Talvez o corpo ideal do body building atltico, sexy e clean to
em moda atualmente, j seja um reflexo no nosso cotidiano desse mesmo
pensamento ciberntico. Na medida em que a mquina torna-se, de fato, a
unidade de medida do homem, uma nova postura esttica do corpo toma
forma frente valorizao da performance: o que belo est, cada vez
mais, relacionado com o desempenho desejado (essa noo to ciberntica).
Da a noo afetada de pureza na qual comer um torresmo ou fumar um
cigarro so atos relativamente mais impuros do que ingerir complementos
alimentares sintticos ou injetar hormnios artificiais. Na perspectiva da
esttica da performance, as mquinas de musculao, os programas pla-
nejados de modelagem muscular, as prteses estticas, as tcnicas cirrgicas
de lipoaspirao, a toxina botulnica (Botox), os anabolizantes e os comple-
212
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
mentos alimentares so apenas meios que a tecnologia disponibiliza para se
atingir a imagem do corpo de alto desempenho, a imagem na direo do
corpo ps-humano.
As fronteiras do ciberespao
Ciberespao. Uma alucinao consensual vivida diariamente por bi-
lhes [] Uma representao grfica dos dados abstrados dos ban-
cos de dados de cada computador no sistema humano. Complexidade
inimaginvel. Linhas de luz enfileiradas no no-espao da mente,
agregados e constelaes de dados. Como luzes da cidade, retroce-
dendo (Gibson, 1984, p. 51, traduo minha).
A efetiva vulgarizao da ciberntica ocorre a partir dos anos 1980 sob
a influncia de um tipo de literatura de fico cientfica que ficou conhecida
como cyberpunk.
3
A influncia desse gnero literrio no cinema foi determinante
para a disseminao dos contornos e conotaes que o ciberntico tem
hoje. O cyberpunk aglutinou a viso distpica do movimento punk e os
esteretipos de seu estilo de vida ao imaginrio futurista no qual as gadgets
(bugigangas e geringonas) cibernticas e os ciborgues foram amplamente
cotidianizados. Um dos principais legados do cyberpunk a imagem do
homem-gadget (homem-objeto que no muito mais que um gadget
acoplado a um sistema ou rede de gadgets) cujo corpo um banal suporte
de binicos e cuja mente s encontra sua totalidade quando conectada ao
ciberespao.
Em seu livro de no fico, The Hacker Crackdown Law and
Disorder on the Electronic Frontier, Bruce Sterling comenta que o termo
cyberspace surgiu em 1982 na literatura cyberpunk (Sterling, 1992, p. XI).
Naquele ano, Willian Gibson lanou Neuromancer, considerado um clssico
da literatura cyberpunk, que alm do termo cyberspace, tambm introduziu
o termo matrix para se referir ao ciberespao como uma rede global de
simulao. Sterling acrescenta que o ciberespao no uma fantasia de
3
A inveno do termo cyberpunk cercada de controvrsias. Em 1980, Bruce Bethke escreveu
um conto chamado Cyberpunk que foi publicado em 1983 no Amazing Science Fiction Stories
(Bethke, [s.d]), mas parece que o uso como forma de circunscrever um estilo literrio foi
feito por Gardner Dozois na sua resenha para o primeiro livro de Gibson, Neuromancer
(Walleij, [s.d.], cap. 8).
213
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
fico cientfica, mas um lugar onde temos experincias genunas e que
existe h mais de um sculo:
Mas o territrio em questo, a fronteira eletrnica, tem cerca de 130
anos. Ciberespao o lugar onde a conversao telefnica parece
ocorrer. No dentro do seu telefone real, o dispositivo de plstico
sobre sua mesa. [] [Mas] O espao entre os telefones. O lugar
indefinido fora daqui, onde dois de vocs, dois seres humanos, real-
mente se encontram e se comunicam. [] Apesar de no ser exa-
tamente real, o ciberespao um lugar genuno. Coisas aconte-
cem l e tm conseqncias muito genunas. [] Este obscuro
submundo eltrico tornou-se uma vasta e florescente paisagem eletr-
nica. Desde os anos 60, o mundo do telefone tem se cruzado com os
computadores e a televiso, e [] isso tem uma estranha espcie de
fisicalidade agora. Faz sentido hoje falar do ciberespao como um
lugar em si prprio. [] Porque as pessoas vivem nele agora. No
apenas um punhado de pessoas [] mas milhares de pessoas, pes-
soas tipicamente normais. [] Ciberespao hoje uma Rede, uma
Matriz, internacional no escopo e crescendo rapidamente e constan-
temente. (Sterling, 1992, p. XI-XII, traduo minha).
A preocupao de Sterling com o estatuto de realidade tem a ver
com a natureza do ciberespao atualmente conhecida como virtual. Esse
virtual apreendido, em muitos casos, como uma oposio natureza
real da realidade. Entretanto, o reconhecimento de que a realidade
uma qualidade pertencente a fenmenos que reconhecemos terem um ser
independente de nossa prpria volio (no podemos desejar que no exis-
tam) (Berger; Luckmann, 1998, p. 11) basta para ver que essa oposio
virtual versus real ilusria e bastante confusa. Os crimes virtuais
esto a para nos mostrar de uma forma bem dura que a virtualidade do
ciberespao possui uma inegvel natureza coercitiva de realidade. O fato
que j somos seres virtuais, queiramos ou no, ao menos dentro dos
grandes bancos de dados de corporaes e governos, e cada vez mais temos
o conhecimento a certeza de que os fenmenos so reais e possuem
caractersticas especficas (Berger; Luckmann, 1998, p. 11) de que o
ciberespao, apesar de virtual, bastante real.
214
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
- i c e D
l a m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1
- n i B
o i r
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
- a x e H
- i c e d
l a m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
5
Existe uma correspondncia direta entre as bases binria, decimal e hexadecial de numerao.
O nmero decimal 10, por exemplo, corresponde ao nmero hexadecimal A (no
confundir com a letra a) e ao nmero binrio 1010, conforme a seguinte tabela:
certo que, assim como no ciborgue, os limites de significao do
ciberespao esto diretamente relacionados com a inteligibilidade que a pro-
duo e o progresso tcnico e cientfico tm no senso comum. Apesar do
conceito do computador digital existir desde 1839
4
e o computador eletrnico
ter surgido na dcada de 1940, o ciberespao foi, at o incio da dcada de
1970, uma abstrao lgica e matemtica compartilhada apenas por especia-
listas e tcnicos. E durante muito tempo, foi o texto, na forma de complexos
cdigos de signos lgicos e mnemnicos textuais, e no a imagem visual, a
mediao por excelncia entre as mquinas computadoras e o homem.
O texto introduziu, aos antigos computadores baseados em cartes
perfurados, o teclado e o display alfanumricos. A mediao derradeira
entre o homem e a mquina so os bits: pequenos sinais fsicos que podem
assumir apenas dois valores, convencionalmente representados por um e
zero. O bit o tomo da informao eletrnica: tudo que armazenado,
processado e intercambiado dentro dos computadores e entre eles so, fisi-
camente, extensas seqncias binrias organizadas em bytes, agrupamentos
formados por oito bits. O que temos no disco rgido, CD, disquete ou na
Internet so, em ltima instncia, apenas cadeias binrias. O que trafega
pelo cabo da impressora, pela linha telefnica ligada ao modem ou pelo cabo
da rede so bits. A prpria indexao das cadeias corretas que compem
um arquivo ou um programa est em outras cadeias binrias.
Grosso modo, um byte a menor unidade de significao digital. Um
byte pode assumir 256 valores (2
8
bits) que podem ser expressos nas mais
variadas notaes de nmeros (por exemplo, representados por 0 a 255,
0 a 11111111 ou 0 a FF, na base decimal, binria ou hexadecimal,
5
respectivamente) ou outros signos textuais. Desde cedo, na informtica,
4
Charles Babbage desenhou e desenvolveu o que considerado o primeiro computador digital.
A sua mquina diferencial era um computador mecnico projetado para solucionar proble-
mas matemticos, incluindo equaes diferenciais. Apesar de no ter sido construda, j
incorporava muitos princpios que foram redescobertos no desenvolvimento posterior de
mquinas de processamento de dados. (Winegrad; Akera, 1996).
215
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
convencionou-se tabelas de converso dos bytes para caracteres textuais: no
ASCII (American Standard Code for Information Interchange), o padro
quase universal, por exemplo, as letras maisculas de A Z correspondem
aos valores de 41 a 90 das 256 possibilidades do byte (Norton, 1996, p. 339-342).
Ora, quais seriam as tradues possveis de uma realidade abstrata que
se expressa antes por cdigos textuais do que por imagens sensveis? Como
se d sentido imagtico quilo que essencialmente no possui expresso
visual? a imagem, ou melhor, so os sistemas de imagens articulados por
modelos de simulao que possibilitaram realidades nas quais clicar e
arrastar documentos com um mouse faz mais sentido do que digitar move
C:/dir_1/dir_N/meu_arquivo.DOC C:/dir_2/dir_N. Enquanto imagens,
elas no nos permitem entender o modelo abstrato que as engendra, mas
abrem uma janela para ele (Queu, 1993, p. 92). Aqui, o olho acoplado ao
mouse torna-se o rgo do conhecimento ttil que, interagindo com as simu-
laes imagticas dos softwares, passa a ser como a mo do cirurgio que
corta e entra no corpo da realidade para apalpar as massas palpitantes
dentro dela (Taussig, 1993, p. 31, traduo minha). No se trata de mais
um gadget [] surge uma nova relao entre a imagem e linguagem.
Agora o legvel pode engendrar o visvel. Pela primeira vez, formalismos
abstratos podem produzir, diretamente, imagens (Quau, 1993, p. 91). A
imagem gerada pelo computador no apenas imagem de algo, resultado
de simulaes de modelos que reformulam de modo sensvel os conceitos
lgicos e matemticos contidos nos dados e nos programas de computador:
Se alguma coisa preexiste ao pixel e imagem o programa, isto ,
linguagem e nmeros, e no mais o real. Eis porque a imagem numrica no
representa mais o mundo real, ela o simula (Couchot, 1993, p. 24). Essas
imagens sintticas so resultado do domnio da imagem matricial pelo com-
putador. No meramente o domnio da reproduo de cpias, mas a
sintetizao de imagens a partir da manipulao numrica do tomo da
imagem eletrnica: o pixel. Toda imagem eletrnica um mosaico matricial
de pequenos pontos, os pixels, cada qual com uma gradao de luz e cor.
Ao contrrio da televiso, onde o pixel resultado de um processo mimtico
de contgio da luz atravs dos vrios suportes pticos e eletrnicos, o
computador domina cada ponto da imagem: ele substitui o automatismo
analgico das tcnicas televisuais pelo automatismo calculado, resultante da
informao relativa imagem. [] Cada pixel um permutador minsculo
entre imagem e nmero (Couchot, 1993, p. 38-39).
216
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
O que chamamos de realidade virtual a camada de interao sensvel
entre o homem e o ciberespao. Mas as representaes imagticas da
informao digital implicam uma descontinuidade entre aquilo que vemos e
aquilo que realmente est por trs da simulao. A realidade virtual opera
em dois sentidos, um que cria mundos sensoriais da informao digital e
outro que trabalha ocultando a estrutura essencial e material do ciberespao.
So movimentos indissociveis e, por mais perfeito que venha a ser um
modelo de simulao, ele ser sempre ambguo: o mesmo poder de simular
mundos o poder de falsificar e mascarar (Taussig, 1993, p. 42-43, traduo
minha).
A tecnologia para que o computador passasse a ser o lugar por exce-
lncia de um espao virtual foi inicialmente desenvolvida pela Xerox, em
1971, com um prottipo de interface grfica: era o primrdio daquilo que
viria ser chamada de user friendly interface, popularizada com o lana-
mento do Macintosh uma dcada depois (Negroponte, 1995, p. 90). O nosso
computador de hoje um desktop virtual, um plano de signos organizados
seletivamente e baseados em expectativas de similaridade para construir um
simulacro visual, mediador da nossa relao com o ciberespao. No plano
dessa realidade sensorial, o cursor do mouse o nosso dedo virtual que
arrasta outros objetos virtuais para o lixo virtual ou aciona o telefone
(modem ligado linha telefnica) que nos conecta a outros sistemas e
Internet.
O quanto de cpia deve a cpia ter para ter efeito sobre aquilo de que
cpia? Quo real a cpia deve ser? (Taussig, 1993, p. 51, traduo
minha). Os infogramas que compem a realidade virtual do ciberespao
so ideogramas pobremente executados (poorly executed ideogram),
componentes semnticos que articulam as semelhanas entre os objetos
cibernticos que mascaram e os objetos materiais que mimetizam.
Enfim, quanto mais humanizamos e tornamos amigvel a nossa rela-
o com o ciberespao, por meio de simulaes que imitam a nossa reali-
dade no-virtual, mais nos tornamos cibernticos. A contrapartida da natu-
ralizao do ciberespao que nos tornamos, tambm, extenso dele:
medida que a virtualidade se transforma em campo de ao prtica, cada
vez mais a realizao total do ser humano prescinde de sua insero como
coisa virtual do ciberespao. Da nossa fascinao e temor em relao aos
hackers, que tanto trafegam como sujeitos virtuais do ciberespao como
217
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
manipulam os cdigos secretos por trs das realidades virtuais. Figura de
condio ambgua, notoriamente imaginada como algum que no nem
criana e nem adulto, mas um adolescente, o hacker referncia
emblemtica da cibercultura. Ele, por um lado, objeto de estranhamento
porque est associado justamente s zonas mais ambguas do ciberespao.
Mas por outro lado, o hacker a prpria sntese da apologia ao mundo
sinttico como extenso do homem, incorpora a imagem daquele que trans-
cende a condio de objeto virtualizado e torna-se sujeito capaz de superar
a mediocridade e o estranhamento que temos em relao ao nosso prprio
cotidiano cibernetizado.
Referncias
ABBATE, Janet. Cyborg by Martin Caidin. [s.l.]: 1999. Disponvel em:
<http://www.inform.umd.edu/EdRes/Colleges/ARHU/Depts/History/Faculty/
JAbbate/cyborg/cyborg.html>. Acesso em: 23 jan. 2004.
AMERICAN SOCIETY FOR CYBERNETICS. Sumary: the Macy
conferences. [s.l.]: [s.d.]. Disponvel em: <http://www.asc-cybernetics.org/
foundations/history/MacySummary.htm>. Acesso em: 3 dez. 2003.
BETHKE, Bruce. Cyberpunk: a short story by Bruce Bethke. [s.l.]: [s.d.].
Disponvel em: <http://www.infinityplus.co.uk/stories/cpunk.htm>. Acesso
em: 30 jan. 2004.
BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construo social da realida-
de. Petrpolis: Vozes, 1998.
CAIDIN, Martin. Cyborg. New York: Arbor House, 1972.
COUCHOT, Edmond. Da representao simulao: evoluo das tcnicas
e das artes de figurao. In: PARENTE, Andr (Org.). Imagem mquina.
So Paulo: Editora 34, 1993, p. 37-47.
DIAS, Carlos. Quase melhor que o original. Super Interessante, So Paulo,
ano 13, n. 1, p. 42-46, 1999.
DITLEA, Steve. Experincias com o Corao Artificial. Scientific
American Brasil, So Paulo, ano 1, n. 3, p. 34-43, ago. 2002.
DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. Lisboa: Edies 70, 1991.
218
Srgio F. Ferretti
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Joo Ho Kim
ESCOBAR, Arturo. Welcome to cyberia - notes on the anthropology of
cyberculture In: Bell, David; Kennedy, Barbara M. The cybercultures
reader. London: Routledge, 2000, p. 56-76.
GEERTZ, Clifford. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1989.
GIBSON, William. Neuromancer. New York: Ace Books, 1984.
HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: cincia, tecnologia e feminismo-
socialista no final do sculo XX. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Antro-
pologia do ciborgue. Belo Horizonte: Autntica, 2000. p. 37-129.
LODATO, Franco. Bionics: nature as a tool for product development. [s.l.]:
2001. Disponvel em: <http://hci.stanford.edu/cs447/papers/bionique.pdf>.
Acesso em: 24 jan. 2004.
LVI-STRAUSS, Claude. Mito e significado. Lisboa: Edies 70, 2000.
LVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus,
2002.
KUNZRU, Hari. Genealogia do ciborgue. In: SILVA, Tomaz Tadeu da
(Org.). Antropologia do ciborgue. Belo Horizonte: Autntica, 2000. p. 131-
139.
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. So Paulo: Schwarcz, 1995.
NORTON, Peter. O conjunto de caracteres do PC. In: NORTON, Peter.
Desvendando o PC. Rio de Janeiro: Campus, 1996. p. 339-358.
PYLE, Forest. Making cyborgs, making humans: of terminators and blade
runners. In: BELL, David; KENNEDY, Barbara M. The cybercultures
reader. London: Routledge, 2000. p. 124-137.
QUAU, Philippe. O tempo do virtual. In: PARENTE, Andr (Org.). Ima-
gem mquina. So Paulo: Editora 34, 1993. p. 91-99.
RAPPORT, Nigel; OVERING, Joanna. Cybernetics. In: RAPPORT, Nigel;
OVERING, Joanna. Social and cultural anthropology: the key concepts.
London: Routledge, 2000. p. 102-115.
SHELLEY, Mary W. Frankenstein ou o moderno prometeu. So Paulo:
Publifolha, 1998.
STERLING, Bruce. The hacker crackdown: law and disorder on the
electronic frontier. New York: Bantam Books, 1992.
219
Sincretismo afro-brasileiro e resistncia cultural
Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 199-219, jan./jun. 2004
Ciberntica, ciborgues e ciberespao...
SAHLINS, Marshall. Ilhas de histria. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
TAUSSIG, Michael. Mimesis and alterity: a particular history of senses.
New York: Routledge, 1993.
VINCENT, Julian F. V. Stealing ideas from nature. [s.l.]: [s.d.]. Disponvel
em: <http://www.bath.ac.uk/mech-eng//biomimetics/Biomimetics.pdf>.
Acesso em: 23 jan. 2004.
WALLEIJ, Linus. Copyright does not exist. [s.l.]: [s.d.]. Disponvel em:
<http://svenskefaen.no/cdne/index.htm>. Acesso em: 30 jan. 2004.
WIENER, Norbert. Cybernetics: or the control and communication in the
animal and the machine. Massachusetts Institute of Technology, 1948.
WIENER, Norbert. Ciberntica e sociedade: o uso humano de seres hu-
manos. So Paulo: Cultrix, 1984.
WINEGRAD, Dilys; AKERA, Atsushi. A Short History of the Second
American Revolution. [s.l.]: 1996.Disponvel em: <http://www.upenn.edu/
almanac/v42/n18/eniac.html>. Acesso em: 30 jan. 2004.
Recebido em 31/12/2003
Aceito em 01/03/2004
Você também pode gostar
- Apostila de Semiologia Veterinária PDFDocumento48 páginasApostila de Semiologia Veterinária PDFJéssica Queiroz60% (5)
- Dmso ProtocoloDocumento10 páginasDmso ProtocoloMárcia AyalaAinda não há avaliações
- Monitorização AnestésicaDocumento10 páginasMonitorização AnestésicaLys MoreiraAinda não há avaliações
- Johrei-Pontos Vitais PDFDocumento8 páginasJohrei-Pontos Vitais PDFthabata.flopesAinda não há avaliações
- Pcmso Completo FL 146Documento33 páginasPcmso Completo FL 146Danillo SantosAinda não há avaliações
- AntiarritmicosDocumento3 páginasAntiarritmicosLorena BianchiAinda não há avaliações
- Saúde Do Idoso (Slides)Documento37 páginasSaúde Do Idoso (Slides)Elaine Santos SouzaAinda não há avaliações
- 147 Cirurgia Cardiovascular (Clínica Brasileira de Cirurgia - Colégio Brasileiro de Cirurgiões)Documento270 páginas147 Cirurgia Cardiovascular (Clínica Brasileira de Cirurgia - Colégio Brasileiro de Cirurgiões)Cristian Dala Vechia100% (1)
- Meridiano Da Bexiga MTCDocumento37 páginasMeridiano Da Bexiga MTCCarol GnoattoAinda não há avaliações
- TCC Edney AtulizadoDocumento14 páginasTCC Edney AtulizadoPedro VictorAinda não há avaliações
- Cooper Mckenzie - Opção Pelo AmorDocumento34 páginasCooper Mckenzie - Opção Pelo AmorCaroline SimonelliAinda não há avaliações
- A Aromaterapia e Os 5 ElementosDocumento5 páginasA Aromaterapia e Os 5 ElementosHermes SagasAinda não há avaliações
- POP 18 - 2016 - Pré Operatório de Cirurgia Cardíaca 2 PDFDocumento21 páginasPOP 18 - 2016 - Pré Operatório de Cirurgia Cardíaca 2 PDFDoriene Deglioumini100% (1)
- Artigo - Uma Aplicação Do Cálculo Integral Ao Estudo de Vasos Sanguíneos PDFDocumento12 páginasArtigo - Uma Aplicação Do Cálculo Integral Ao Estudo de Vasos Sanguíneos PDFRamon MotaAinda não há avaliações
- Manual Galax Fit 2Documento61 páginasManual Galax Fit 2Andrade AlbertoAinda não há avaliações
- Vasculatura Do CoraçãoDocumento2 páginasVasculatura Do CoraçãoMatheus R10Ainda não há avaliações
- Bastão Expansível TáticoDocumento40 páginasBastão Expansível TáticoRicardo Nakayama100% (2)
- Anatomia - para - Color Respiração Parte 2Documento6 páginasAnatomia - para - Color Respiração Parte 2Simone SousaAinda não há avaliações
- Circulação PulmonarDocumento2 páginasCirculação PulmonarDhara GarciaAinda não há avaliações
- 12 - Shamballa Multidimensional Healing Nível 2Documento39 páginas12 - Shamballa Multidimensional Healing Nível 2nandakernAinda não há avaliações
- Roteiro de Estudo U1Documento4 páginasRoteiro de Estudo U1Evelin MendesAinda não há avaliações
- Teste Saúde 12.º - 6570 - 1.º SocDocumento4 páginasTeste Saúde 12.º - 6570 - 1.º SocmargaridamartinsAinda não há avaliações
- Tipos de Circulação: MÓDULO 38 - 2 SÉRIE - 2022Documento34 páginasTipos de Circulação: MÓDULO 38 - 2 SÉRIE - 2022gabi reginaAinda não há avaliações
- Apost. de Clínica MédicaDocumento450 páginasApost. de Clínica MédicaVictor Romero100% (1)
- Bula VenvanseDocumento6 páginasBula VenvanseAlessandro RochaAinda não há avaliações
- Check UpDocumento108 páginasCheck Upapi-3697642100% (2)
- Caso Clinico HipertensãoDocumento6 páginasCaso Clinico HipertensãoStudio InformaticaAinda não há avaliações
- Ressucitação Brasil-MundoDocumento19 páginasRessucitação Brasil-MundoSilvia PimentelAinda não há avaliações
- A. B. C. D.: 1 Adriana NevesDocumento123 páginasA. B. C. D.: 1 Adriana Nevesluis torres carreiraAinda não há avaliações