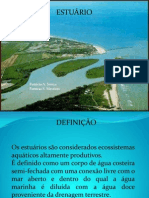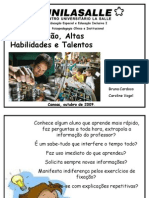Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Um Estudo Sobre o Símbolo, Com Base Na Semiótica de Peirce
Um Estudo Sobre o Símbolo, Com Base Na Semiótica de Peirce
Enviado por
miana_rabeloDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Um Estudo Sobre o Símbolo, Com Base Na Semiótica de Peirce
Um Estudo Sobre o Símbolo, Com Base Na Semiótica de Peirce
Enviado por
miana_rabeloDireitos autorais:
Formatos disponíveis
estudos semiticos
issn 1980-4016
semestral
vol. 6, n
o
1
p. 4653
junho de 2010
www.fch.usp.br/dl/semiotica/es
Um estudo sobre o smbolo, com base na semitica de Peirce
Emlio Soares Ribeiro
Resumo: Vivemos rodeados por smbolos, so eles desde o aceno de mos em uma despedida ao alfabeto
que utilizamos para falar e escrever. Embora a literatura sobre o simblico se utilize de diversas denies
reducionistas para a palavra smbolo, certo que, ao explicarmos o simblico, sempre resta algo intraduzvel,
pois o smbolo aponta para algo que est ausente, representando-o, mas sem apreender todas as suas
possibilidades. A reduo ou especializao extrema do sentido de um smbolo costuma ter como consequncia a
degradao do signicado, tornando-o uma insignicncia alegrica ou atributiva (Cirlot, 1984, p. 5). Alm disso,
a percepo do smbolo tambm pessoal, visto que, em seu processo de formao, o ser humano acrescenta s
experincias pessoais valores culturais e sociais herdados da humanidade que o precedeu at ento. Nesse
sentido, o presente artigo discute o simblico com base em Charles Sanders Peirce, buscando mostrar como
tal signo constitudo e entendido na semitica criada pelo referido autor americano. Anteriormente, porm,
na primeira parte do trabalho, foi necessrio fazer algumas consideraes gerais sobre o termo smbolo,
suas origens e os vrios signicados que a ele so atribudos. Em seguida, na segunda parte, tratamos da
compreenso e interpretao dos smbolos em geral. Esperamos que o trabalho esclarea o papel do smbolo nos
estudos semiticos, bem como fundamentalmente interpretaes e anlises do smbolo na literatura, cinema e
nas culturas de uma forma geral.
Palavras-chave: smbolo, Peirce, interpretao
1. Consideraes gerais sobre o
smbolo
Como nos diz Cirlot (1984, p. 12), h indcios antigos,
como o empoar dos cadveres com ocre vermelho, de
que o pensar simbolista
1
teve seu princpio nos ns
do paleoltico ou at mesmo antes. Naquela poca, as
constelaes, os animais, as pedras e os elementos da
paisagem natural foram os mestres da humanidade. A
insero do homem no mundo dos fatos espirituais e
morais, por exemplo, deu-se por meio do contato com o
visvel. Sem dvida, como arma Eliade (1991a, p. 8),
o pensamento simblico, em todas as suas dimenses,
consubstancial ao ser humano e precede qualquer
linguagem e razo discursiva.
Para Riard (1993, p. 331), a palavra smbolo
(do grego symbolon) foi inicialmente utilizada entre os
gregos para se referir s metades de uma tabuinha
que hospedeiro e hspede guardavam, cada um a sua
metade, transmitidas depois aos seus descendentes.
As duas partes juntas (sumball) funcionavam para
reconhecer os portadores e para provar as relaes de
hospitalidade ou de aliana adquiridas no passado
2
.
Quando dois amigos se separavam por um
perodo longo, ou para sempre, partiam uma
moeda, uma plaquinha de barro ou um anel;
se aps anos algum das famlias amigas re-
tornasse, as partes unidas (symbleim = jun-
tar, reunir) podiam conrmar que o portador
de uma delas realmente fazia jus hospitali-
dade (Lurker, 1997, p. 656).
Dessa forma, ao representar as duas partes reuni-
das, o smbolo , inicialmente, smbolo feito de algo.
Ao ser utilizado, ele passa a ser smbolo de algo.
Como arma novamente Lurker (1997, p. 656), o sm-
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (uern). Endereo para correspondncia: emiliouece@yahoo.com.br .
1
Embora o termo simbolismo seja tambm utilizado para se referir ao movimento literrio e artstico, cujas razes remontam ao m do
sculo XVII, rero-me aqui ao que Lurker (1997, p. 649) chamou de o estudo, a doutrina, a cincia dos smbolos, de sua origem, signicado
e divulgao. Nesse sentido, a palavra envolve, por exemplo, os signicados de uma gura mtica, de uma obra de arte, de um sonho ou
dos elementos que fazem parte de uma cultura ou religio.
2
Na antiguidade grega, os smbolos, concebidos dessa forma, eram tambm sinais de reconhecimento que possibilitavam aos pais
reencontrarem seus lhos abandonados.
Emlio Soares Ribeiro
bolo, em sua origem, um sinal visvel de algo que no
se encontra ali presente de forma concreta, algo que
pode ser nele percebido: no exemplo dado, a amizade
dos possuidores das partes.
O smbolo separa e une, comporta as duas
ideias de separao e de reunio; evoca uma
comunidade que foi dividida e que se pode rea-
grupar. Todo signo comporta uma parcela de
signo partido; o sentido do smbolo revela-se
naquilo que simultaneamente rompimento
e unio de suas partes separadas (Chevalier,
2001, p. XXI).
Por analogia, tal signicado foi ampliado at com-
preender os cupons, senhas ou chas, que do direito
a receber soldos, indenizaes ou vveres.
O sentido da palavra smbolo desenvolveu-se bas-
tante, chegando a envolver, por exemplo, orculos,
pressgios, fenmenos extraordinrios considerados
provindos dos deuses, emblemas de corporaes, cra-
chs e vrios tipos de sinais de compromisso, como
o anel de casamento ou o anel depositado pelos par-
ticipantes de um banquete, garantindo que pagaro
corretamente por ele. De fato, poucas palavras adqui-
riram to vasta signicao como a palavra smbolo.
Em resumo, como arma DAlviella (1995, p. 21),
o termo smbolo passou gradualmente a se referir
a tudo aquilo que, seja por acordo geral ou analogia,
representava convencionalmente alguma coisa ou al-
gum. Um smbolo uma representao, mas no
uma reproduo. Enquanto uma reproduo implica
igualdade, um smbolo capaz de evocar a concepo
do objeto que ele representa devido, por exemplo, a
caractersticas em comum, como o caso da aliana,
smbolo do casamento, ou dos pratos de uma balana,
smbolo da ideia de justia.
Para Chevalier e Gheerbrant (2001, p. XXI), a his-
tria do smbolo comprova que qualquer coisa pode
adquirir valores simblicos, seja ela natural (pedras,
animais, ores, fogo, rios, raio etc) ou abstrata (n-
mero, ideia, forma geomtrica etc). Assim, atravs dos
smbolos, objetos comuns adquirem ilimitveis novos
signicados. Um simples pedao de pano, por exemplo,
ao ser erguido at o topo de um mastro, refere-se
ideia de ptria. Da mesma forma, dois simples seg-
mentos de reta concorrentes e perpendiculares fazem
aluso ao sacrifcio espontneo de Cristo.
Vivemos rodeados por smbolos, so eles desde o
aceno de mos em uma despedida ao alfabeto que uti-
lizamos para falar e escrever. H smbolos que dizem
respeito predominantemente ao psicolgico; outros, ao
cosmolgico e natural.
Encontramos facilmente as mesmas representaes
simblicas em lugares diversos, povos distintos. Se-
gundo DAlviella (1995, p. 27), essas questes di-
cilmente podem ser explicadas pelo acaso. Para o
autor, ou essas imagens anlogas foram concebidas
independentemente ou foram apropriadas de um pas
por outro. Representaes como a do sol por um disco
ou face que emite raios, por exemplo, no so prprias
de nenhuma raa ou nao especca. Trata-se de um
aspecto inerente ao ser humano: em determinada fase
de seu desenvolvimento, o homem simbolizou o deus-
sol com caractersticas que remetem sua estrutura
fsico-anatmica.
Da mesma forma, smbolos podem ser apropriados.
O simbolismo hindu, chins e japons, por exemplo,
penetrou entre ns por meio de artigos comerciais,
entre eles, vasos, tecidos e peas curiosas do Extremo
Oriente. Do mesmo modo, era hbito, entre os solda-
dos, marinheiros e viajantes antigos, ao deixar seus
lares, levar consigo seus smbolos, objetos pelos quais
tinham um estimvel apreo, que disseminavam seu
signicado e adquiriam outros novos. Ao circularem,
as moedas tambm difundem as representaes sim-
blicas traduzidas por seu povo ao cunh-las.
Peirce (1958, CP, 2.302)
3
, autor que embasa nossa
pesquisa, arma que smbolos muitas vezes surgem
pelo desenvolvimento de outros signos, especialmente
cones, ou signos com caractersticas icnicas e sim-
blicas ao mesmo tempo. E, como pensamos apenas
em signos e tais signos mentais so de natureza h-
brida, um novo smbolo s pode surgir a partir de
smbolos. Logo, essa apropriao de smbolos a que
se refere DAlviella (1995), entre outros, nada mais
do que algo inerente ao signo, o seu poder innito de
representao.
Um smbolo, ao se constituir como tal, se
dissemina entre as pessoas. Ao ser usado
e experimentado, tem seu sentido ampliado.
Palavras como fora, lei, riqueza e casamento,
para ns, remetem a signicados bem diferen-
tes daqueles a que elas remetiam para nossos
antepassados (Peirce, 1958, CP, 2.302).
Os smbolos normalmente no aparecem isolados,
mas unem-se entre si, dando lugar a composies sim-
blicas. Embora se costume estudar as razes pelas
quais ocorrem alteraes nas formas dos smbolos,
nem sempre se d relevncia atrao que certas -
guras exercem sobre outras. Para DAlviella (1995,
p. 145), quando dois smbolos expressam as mesmas
ideias ou se interrelacionam, eles tendem a se amalga-
mar ou se combinar, produzindo, como consequncia,
um outro smbolo.
Por no terem levado em considerao que
um smbolo pode se unir a vrias guras que
diferem acentuadamente quanto origem e
3
Todas as referncias no texto da obra The Collected Papers, de Peirce, foram feitas sob a sigla CP, seguida do nmero do volume e
nmero do pargrafo.
47
estudos semiticos, vol. 6, n
o
1
at mesmo na aparncia, muitos arquelo-
gos desperdiaram seu tempo debatendo so-
bre as origens de um signo ou imagem [...]
(DAlviella, 1995, p. 145).
Assim, ao estudar um smbolo, deve-se procurar
no somente os seus antecedentes, mas tambm as
comunicaes que podem ter acontecido entre seus
prottipos e, caso se faa necessrio, deve-se estudar
as relaes entre os estgios sucessivos das trans-
mutaes simblicas pelas quais o smbolo passou.
Apresento a seguir algumas ideias acerca da interpre-
tao de representaes simblicas.
2. A interpretao do simblico
Os primeiros estudos do simblico foram realizados por
Athanasius Kircher (1602-1680), professor de matem-
tica e lnguas orientais em Wrzburg e Roma. Kircher
foi o primeiro autor a falar acerca de uma disciplina
symbolica e entendia o smbolo como algo que conduz
o esprito humano a conhecer uma outra coisa por
meio de alguma semelhana fsica com outras.
As tentativas seguintes vieram do Romantismo, com
destaque para Friedrich Creuzer, que desejava a cria-
o de uma disciplina prpria para o estudo dos smbo-
los, o que no ocorreu devido constante ridiculariza-
o do estudo do simblico feita pelos seus opositores
e pelas correntes racionalistas e positivistas do sculo
XIX. Bachofen, pesquisador da antiguidade, no con-
seguiu que o seu Versuch ber die Grbersymbolik der
Alten (1859) (Ensaio sobre o simbolismo dos tmulos da
Antiguidade) fosse compreendido, por no restringir
sua anlise do smbolo a uma explicao meramente
iconogrca e esttica, mas procurar estudar os sm-
bolos visando a sua interpretao.
O estudo do simblico passou a ser contemplado
pela psicologia a partir de Freud e depois com Jung, os
quais no procuraram os smbolos em manifestaes
culturais ou religiosas, mas tentaram identic-lo na
psique do homem. Para a escola freudiana, a palavra
smbolo exprime, de modo indireto, gurado e difcil
de decodicar, o desejo ou os conitos. Nessa lgica, o
smbolo seria a relao que une o contedo manifesto
de um comportamento, de um pensamento, de uma
palavra, ao seu sentido latente. Como arma Eliade
(1991a, p. 8-9), para a psicanlise, as imagens, os
smbolos e os mitos no so criaes irresponsveis da
psique, mas respondem a uma necessidade e preen-
chem um papel: revelar as mais ntimas modalidades
do ser. Assim, estudar os smbolos permitiria um
melhor conhecimento do homem.
Enquanto Freud via o inconsciente como uma es-
pcie de quarto de despejos dos desejos reprimidos
(Jung, 1977, p. 12), Jung concebia-o como um mundo
to real e vital para a vida de um homem como o
consciente. Os elementos (linguagens e pessoas) do
inconsciente seriam os smbolos, que, atravs dos so-
nhos, poderiam se comunicar com o mundo consciente.
Para Jung, os smbolos presentes nos sonhos no po-
dem ser decifrados ou interpretados por meio de um
manual ou glossrio. Por serem uma expresso inte-
gral, importante e pessoal do inconsciente particular
de cada um, os smbolos selecionados pelo incons-
ciente individual de certa pessoa (durante o sonho) tm
um sentido que lhe diz respeito e a mais ningum. Por
isso, o autor considera a interpretao dos smbolos
presentes nos sonhos uma tarefa unicamente pessoal
e particular, que no pode ser realizada empiricamente.
Para Jung, um smbolo :
[...] um termo, um nome ou mesmo uma ima-
gem que nos pode ser familiar na vida diria,
embora possua conotaes especiais alm de
seu signicado evidente e convencional. Im-
plica alguma coisa vaga, desconhecida ou
oculta para ns (Jung, 1977, p. 20).
Assim, para a escola junguiana, uma palavra ou
imagem considerada simblica no momento em que
implica algo alm de seu signicado manifesto e imedi-
ato, algo que no pode ser precisamente denido ou
explicado. Por este motivo, ou seja, por haver vrias
coisas que no podemos compreender, que, para
Jung (1977, p. 21), frequentemente usamos termos
simblicos para representar conceitos que no con-
seguimos denir completamente. Um exemplo a
utilizao de linguagem simblica e de imagens pelas
instituies religiosas.
Somente em 1953 foi fundada, por M. Engelson, em
Genebra, a primeira sociedade destinada ao estudo
dos smbolos, Socit de Symbolisme, que se rene em
Genebra, Bruxelas e Paris e publica seus artigos no
Cahiers Internationaux de Symbolisme. Em associao
com o Psycology Department (Universidade Estadual
da Gergia), formou-se nos Estados Unidos a Interna-
tional Society for the Study of Symbols, cuja publicao
intitulada International Journal of Symbology. Alm
disso, muitas instituies cientcas contribuem de
diversas formas para o estudo dos smbolos, como o
Instituto C. G. Jung de Zrich, The Mediaeval Academy
of America, fundada em Cambridge em 1925, com a
publicao Speculum, e a Fundao Ludwig Keimer
(Basileia) que, em associao com o Instituto Ticinese
di Alti Studi (Lugano), realiza conferncias cuja nfase
est na arqueologia e na etnologia.
Para Eliade (1991b, p. 205-206), dentre os fatores
que contriburam para generalizar o interesse pelo es-
tudo dos smbolos na atualidade, pode-se citar: as
descobertas da psicologia de Freud e Jung de que
a atividade do inconsciente apreensvel atravs da
interpretao das imagens, o surgimento da arte abs-
trata (incio do sculo XX), as experincias poticas
surrealistas aps a Primeira Guerra Mundial e as pes-
48
Emlio Soares Ribeiro
quisas dos etnlogos, principalmente acerca das ideias
de Lucien Lvi-Bruhl sobre a estrutura e as funes
da mentalidade primitiva, ideias estas que instiga-
ram muitos lsofos europeus a estudarem o mito e
o smbolo. Eliade (1991b) fala ainda da importncia
dos estudos realizados por epistemlogos e linguistas,
buscando mostrar o carter simblico da linguagem e
das artes.
Em sua classicao
4
das teorias que embasam as
pesquisas mticas contemporneas, Edmond Leach
(apud Grimal 2000, p. VII) inclui na perspectiva sim-
bolista de anlise mitolgica o grupo dos tericos que
veem o mito como uma forma diferente de exprimir o
pensamento, a cultura e o modo de observar o mundo.
Para Pierre (2000, p. IX), tericos to diferentes como
Ernst Cassirer, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung,
Kroly Kernyi, Walter Friedrich Otto, Mircea Eliade,
Paul Ricoeur ou Gilbert Durand tm em comum o fato
de:
[...] admitirem o smbolo, tautegrico, que
se arma a si prprio, implicando a inter-
veno de reaces fundamentais, como a
actividade fsica e a vontade. Trata-se de
um outro tipo de linguagem, colectiva, mais
emotiva e rica, exprimindo o que no pode
ser expresso directamente no falar corrente.
Os mitos dirigem-se, pois, no apenas ao
entendimento, mas, tambm, fantasia e
realidade (Pierre, 2000, p. IX).
Como se pode observar, formao, agenciamento
e interpretao dos smbolos so interesse de vrias
disciplinas: a histria das civilizaes e religies, a
lingustica, a antropologia cultural, a crtica de arte,
a psicologia, a medicina, a publicidade, a semitica
etc. De fato, todas as cincias do homem, assim como
todas as formas de arte, esto envolvidas com o simb-
lico, embora cada uma tenha sua prpria concepo
e aplicao da designao smbolo. Segundo Eliade
(1991b, p. 207), embora o simbolismo seja estudado
segundo diversas perspectivas, devido ao forte vnculo
que h entre as disciplinas humanas, qualquer desco-
berta relevante de uma rea traz contribuies para
as outras. Assim, ideias acerca do simblico prprias
da psicologia, por exemplo, muitas vezes interessam
cincia das religies. Ainda que as contribuies e o
sentido do simblico sejam diferentes em cada disci-
plina, no se pode negar que o assunto o mesmo.
Um dos sentidos de um smbolo s apreendido
por meio da anlise das condies em que aparece, de
como se comporta e de sua consequente nalidade. Te-
cer anlises que apenas produzem conjecturas sobre o
sentido do smbolo vai de encontro ao que Cirlot (1984,
p. 41) pensa quando arma que o realismo que v no
fabuloso uma cpia alterada ou uma confabulao de
elementos diversos, tampouco faz algo seno subminis-
trar uma explicao secundria sobre a problemtica
origem, sem penetrar a razo de ser deste ente. Para
o autor, armar, por exemplo, que a imagem de um
morcego gerou a ideia de hipogrifo, de quimera e de
drago fornecer um elemento nmo a respeito do
valor signicativo e simblico de tais animais mitolgi-
cos. Lurker (1997, p. 667) compartilha com tal ideia e
diz que a anlise e interpretao simblicas devem ser
isentas de perspectivas ideolgicas e de associaes
precipitadas.
Contrariando tal ideia, algum armaria que a fa-
mosa e frequente associao entre a rvore e a serpente,
por exemplo, deve-se unicamente observao (que
ocorre nos pases em que h serpentes) de que tais
rpteis fazem seus antros ao p das rvores. Mesmo
sem descartar a possibilidade de tal ideia, observa-
mos que ela no explica, por exemplo, o sentido deste
smbolo na histria da tentao bblica. O simblico
vai mais alm. Neste caso, vrios aspectos remetem
relao anloga que h entre a serpente e a rvore: o
seu carter linear, a semelhana da serpente com as
razes, a dualidade bem e mal (enquanto a rvore eleva
os ramos ao sol, como adorao, a serpente espera por
sua presa para mat-la).
Segundo Cirlot (1984, p. 5), a reduo ou especia-
lizao extrema do sentido de um smbolo costuma
ter como consequncia a degradao do signicado,
tornando-o uma insignicncia alegrica ou atributiva.
No instante em que resumimos a anlise do smbolo da
serpente e da rvore ao fato de as serpentes se aninha-
rem junto s rvores, estamos apenas utilizando uma
constatao para explicar, sem mencionar elementos
referentes relao interna entre os smbolos.
certo que, ao explicarmos o simblico, sempre
resta algo intraduzvel. Isso ocorre porque, como j
mencionado anteriormente, o smbolo aponta para algo
que est ausente, representando-o, mas sem apreen-
der todas as suas possibilidades. Um smbolo, como
arma Lurker (1997, p. 657), no composto de forma-
es rgidas, que podem ser facilmente e precisamente
delimitadas, mas mutveis e, em muitos casos, amb-
guas. De fato, ordena signicados anlogos, cada um
em um certo nvel, ou seja, revela diferentes sentidos
simultaneamente. Segundo Hampate (apud Chevalier;
4
Edmond Leach classica as teorias que embasam as pesquisas mticas contemporneas em trs grandes tipos: teorias funcionalistas,
teorias estruturalistas e teorias simbolistas. De acordo com tais perspectivas, o mito constitui-se como uma cincia, dotada de metodologias
prprias, que atua em vrias direes e se apoia em diversas reas, dentre elas, a psicologia, a sociologia, a etnologia, a histria das religies,
a lingustica, a gnosiologia, a antropologia etc. (Pierre, 2000, p. VII).
5
Os Fulani, Fula ou Phoulah so um grupo tnico nmade que compreende vrias populaes espalhadas pela frica Ocidental, desde
a Mauritnia a noroeste at aos Camares a leste. A lngua fula (tambm chamada peul em francs e fulani em ingls) falada entre 10 e
16 milhes de pessoas e tem um status de lngua ocial na Mauritnia, Senegal, Mali, Guin, Burkina Faso, Nger, Nigria e Camares.
49
estudos semiticos, vol. 6, n
o
1
Gheerbrant, 2001, p. XXIV), na lenda fula
5
de Kay-
dara, o velho mendigo (o iniciador) diz a Hammadi (o
peregrino, em busca de conhecimento): meu irmo!
Aprende que cada smbolo tem um, dois, vrios senti-
dos. Esses signicados so diurnos ou noturnos. Os
diurnos so favorveis, e os noturnos, nefastos.
Tendo como base essa multiplicidade de sentidos de
um smbolo, entende-se que cada representao sim-
blica funciona como o centro de uma teia, que est
ligado a diversas outras teias com seus respectivos
centros. R. de Becker (apud Chevalier; Gheerbrant,
2001, p. XXII) diz algo semelhante quando arma que
o smbolo pode ser comparado a um cristal que reete
de maneiras diversas uma luz, conforme a faceta que
a recebe. Nesse sentido, Todorov (Chevalier, 2001,
p. XXIV) considera que no smbolo produzido um
fenmeno de condensao, ou seja, um signicante re-
metendo a mais de um signicado. Assim, um smbolo
representa diversos objetos que, por sua vez, funcio-
nam como representao de diversos outros objetos,
em uma cadeia innita.
A percepo do smbolo tambm pessoal. Em
seu processo de formao, o ser humano acrescenta,
s experincias pessoais, valores culturais e sociais
herdados da humanidade que o precedeu at ento.
Osmbolo temprecisamente essa propriedade
excepcional de sintetizar, numa expresso
sensvel, todas as inuncias do inconsciente
e da conscincia, bem como das foras ins-
tintivas e espirituais, em conito ou em vias
de se harmonizar no interior de cada homem
(Chevalier, 2001, p. XIV).
Assim, a compreenso de um smbolo depende for-
temente da percepo direta, possibilitada pelo re-
pertrio pessoal. Anlises histricas, comparaes
interculturais, pesquisas acerca das interpretaes
provindas das tradies orais e escritas e prospeces
da psicanlise contribuem para tornar tal interpreta-
o mais completa e menos arriscada. Wirth (apud
Chevalier; Gheerbrant, 2001, p. XXII) complementa
tal ideia, armando que prprio do smbolo o per-
manecer indenidamente sugestivo: nele, cada um v
aquilo que sua potncia visual lhe permite perceber.
Faltando intuio, nada de profundo percebido.
Visto tal subjetividade e sugestividade dos smbolos,
cada anlise torna-se produto de um ponto de vista
e no deve almejar esgotar, nem ao menos relativa-
mente, nenhum dos domnios referentes concepo
de representao simblica, mas procurar unir a com-
preenso do papel signicativo do smbolo em estudo
interpretao de alguns de seus mltiplos sentidos,
em favor da autoridade das obras estudadas.
3. O smbolo para Charles
Sanders Peirce
A noo de representao, relacionada ideia de
signos, smbolos, imagens e a outras formas de subs-
tituio, alvo de interesse dos estudos semiticos
desde a escolstica medieval, que a denia, de ma-
neira geral, como o processo de apresentao de algo
por meio de signos. Para Santaella e Nth (1999,
p. 16), o prprio conceito ingls representation(s),
ao ser concebido como sinnimo de signo, explica a
concepo de representao.
Para Peirce (1958, CP, 2.273), representao a apre-
sentao de um objeto a um intrprete de um signo
ou a relao entre o signo e o objeto. Assim, o autor
dene representar como estar para: o signo, para
certos desgnios e relacionando-se a outra entidade,
tratado por alguma mente como se fosse aquilo que ele
representa. Por exemplo, uma foto ou uma ptala seca
que levamos em nossa carteira e que foi dada por uma
pessoa muito especial representa essa pessoa, para
quem se dirige a concepo de reconhecimento. De
fato, ao carregar a foto ou ptala seca, uma pessoa es-
tar, de certa forma, trazendo para perto de si a outra
pessoa, pois gostaria que estivesse sempre consigo. No
momento em que no pode estar presente, essa pessoa
est ali simbolizada e seu signicado, aproximado por
meio dos smbolos que a representam.
[...] qualquer palavra comum, como dar,
pssaro, casamento, um exemplo de sm-
bolo. Ele aplicvel a tudo aquilo que possa
concretizar a ideia relacionada palavra. O
smbolo no capaz de identicar, por si pr-
prio, as coisas s quais se refere ou se aplica.
Ele no mostra um pssaro, nem nos faz ver
um casamento, mas supe que somos capa-
zes de imaginar tais coisas, associando a elas
a palavra (Peirce, 1958, CP, 2.298).
Assim, como no caso do retrato e da ptala seca re-
presentando uma pessoa especial, o smbolo constri
uma relao com seu objeto por meio de uma ideia na
mente do intrprete
6
.
Peirce (1958, CP, 2.307) dene o smbolo como um
signo que se constitui como tal simplesmente ou prin-
cipalmente pelo fato de ser usado e entendido como
tal, quer o hbito seja natural ou convencional, e sem
se levar em conta os motivos que originalmente go-
vernaram a sua seleo. O autor assemelha a sua
concepo de smbolo noo de thema, termo pro-
posto por Burgersdicius, em 1635, em seu estudo
sobre lgica. O thema, assim como o smbolo, seria
um signo que, assim como uma palavra, est associ-
ado a seu objeto por uma conveno, ou ainda por
6
Ideia esta que Peirce chama de interpretante. Um signo pe algo no lugar da ideia que ele produz ou modica. O objeto aquilo que
ele substitui; o signicado o que ele coloca em seu lugar; o interpretante a ideia que ele faz surgir.
50
Emlio Soares Ribeiro
um instinto natural ou por um ato intelectual que o
concebe como representativo de seu objeto, sem que
haja necessariamente alguma ao que possa estabe-
lecer uma conexo factual entre signo e objeto (Peirce,
1958, CP, 2.308).
Diferentemente do cone e do ndice, o smbolo um
signo que estabelece uma relao com seu objeto por
meio de uma mediao, ou seja, as ideias presentes no
smbolo e em seu objeto se relacionam a ponto de fazer
com que o smbolo seja interpretado como se referindo
quele objeto, isto , fazendo com que o smbolo repre-
sente algo que diferente dele. Assim, o smbolo se
relaciona com seu objeto devido a uma ideia presente
na mente do usurio, um hbito associativo, uma lei,
chamada por Peirce de interpretante lgico. Este,
como mostra Santaella (2005, p. 264), corresponde
lei ou regra interpretativa que guia a associao de
ideias ligando o smbolo a seu objeto.
Assim, um signo funciona como smbolo se, em re-
lao ao objeto que ele representa, for um legi-signo,
ou seja, uma lei que um signo. Sobre o conceito de
lei, Santaella diz que:
A lei funciona, portanto, como uma fora
que ser atualizada, dadas certas condies.
Por isso mesmo, a lei no tem a rigidez de
uma necessidade, podendo ela prpria evo-
luir, transformar-se. Contudo, em si mesma,
a lei uma abstrao. Ela no tem existn-
cia concreta a no ser atravs dos casos que
governa, casos que nunca podero exaurir
todo o potencial de uma lei como fora viva
(Santaella, 2005, p. 262).
Para a autora, a lei de interpretao j est contida
no prprio signo, permitindo que produza um signo
interpretante ou uma srie de signos interpretantes.
Dessa forma, o signo interpretado como sendo signo
devido lei, porque o legi-signo funciona como uma
regra que determinar seu interpretante.
A autora ainda cita a linguagem verbal como um
exemplo claro de legi-signo. No momento em que fazem
parte do sistema de uma lngua, as palavras so inter-
pretadas de acordo com as leis desse sistema. Assim
como todos os tipos de legi-signos, as palavras, por
exemplo, s ganham existncia concreta atravs de
suas manifestaes, chamadas por Peirce de rplicas.
Para Santaella e Nth (1999, p. 65), sem o cone,
o smbolo nada signicaria e, sem o ndice, perderia
seu poder de referncia. Assim, o smbolo contm
dentro de si elementos de iconicidade e elementos de
indicialidade.
De fato, o smbolo em si mesmo no mostra sobre
o que est falando. Para que o smbolo, tipo geral,
se aplique a um caso especco e consequentemente
se conecte ao seu objeto, ele necessita de um ndice.
Como mostra Santaella (2005, p. 268), o poder de
referncia, poder indicativo do smbolo vem de seu in-
grediente indicial. Quando se refere palavra anel,
por exemplo, o objeto dessa palavra um tipo geral
que nenhum caso especial de anel pode englobar por
completo. Diferentemente, em anel lco, a designa-
o lco indica a procedncia do anel e, portanto,
refere-se a um caso ao qual o geral se aplica (embora
lco dependa do cone mental daqueles que utilizam
a palavra).
Mesmo que forneam todo o poder de referncia
que um smbolo possui, os ndices no so capazes
de signicar, razo pela qual o smbolo necessita de
um cone. A parte exclusivamente simblica de um
smbolo (conceito ou sentido) corresponde ao hbito
geral, que precisa ser atualizado pelo cone que integra
o smbolo, produzindo signicado. Santaella (2005, p.
269) ilustra tal concepo com um exemplo claro. Ela
diz que nossa ideia geral, digamos, de um gato, por
exemplo, seria a fuso resultante de imagens decorren-
tes das situaes repetidas de experincias sensrias
mais determinadas e muito diferenciadas de gatos par-
ticulares. Com base nesses princpios, percebe-se que
a ideia geral corresponde forma ou unidade imedia-
tamente percebida, ou seja, o cone (qualidades que
atualizam o conceito ou hbito geral que o smbolo).
De fato, o smbolo, em si mesmo, no possui exis-
tncia concreta. Peirce (1958, CP, 2.301) ilustra tal
ideia com o exemplo da palavra estrela. Para o autor,
ao escrevermos ou pronunciarmos estrela, estamos
apenas produzindo uma rplica da palavra, e no a
prpria coisa. Embora se rera a algo real, a palavra
em si mesma no possui existncia concreta. Consiste
em uma sequncia de sons, ou representamens de
sons (Santaella, 2005, p. 262), que se torna signo
por meio de um hbito ou lei que faz os intrpretes a
compreenderem como signicando uma estrela.
Desse modo, ao escrevermos a palavra, no a es-
tamos criando. Igualmente, no momento em que a
apagamos, no a estamos destruindo. Ela permanece
viva no esprito dos que a usam, mesmo que estejam
adormecidos.
Nasser (2003, p. 6) contraria a concepo peirceana
de smbolo como lei ou legi-signo (uma regra que per-
mite a interpretao do smbolo como se referindo a
um certo objeto), ao falar em destruio de um smbolo.
Para a autora, no instante em que um smbolo perde
sua funo de representar, ele morre. Ao contrrio,
para Peirce (1958, CP, 2.301), o smbolo vive na mente
daqueles que o utilizam, mesmo que ele no esteja
presente. Como exemplo, Santaella e Nth dizem que:
[...] mesmo que a palavra no esteja mais
viva, em uso por seus falantes, como o caso
das lnguas mortas, nem assim ela perder
seu poder de denotar e signicar, pois este
poder lhe dado por seu carter de lei, num
51
estudos semiticos, vol. 6, n
o
1
sistema de leis que a lngua de que ela
parte (1999, p. 64).
O objeto representado por um smbolo to abstrato
quanto ele. Para Santaella e Nth (1999, p. 64), o
objeto corresponde a uma ideia a que a palavra est
ligada. Tomemos, como exemplo, a sucesso de sons
e a representao escrita de sons casa. Cada mani-
festao concreta e diferente de casa, seja ela oral
ou escrita, inclusive esta que acabo de escrever, ser
apenas uma rplica da palavra enquanto lei. E no
cerne dessa lei que reside a forma abstrata da ima-
gem. Portanto, podemos at apagar uma imagem ou
palavra que produzimos para simbolizar algo, mas, ao
faz-lo, no estaremos de maneira alguma destruindo
as formas abstratas que correspondem ao smbolo e
seu objeto.
Assim, a relao entre smbolo e objeto, de carter
convencional, advm do legi-signo que determina o
interpretante. A associao de ideias que se realiza,
atravs de regra interpretativa, na mente do intrprete
forma o interpretante, que o responsvel pela cone-
xo entre o signo e seu objeto. Entretanto, Santaella
(2005, p. 266) mostra que, ao interpretar um determi-
nado legi-signo simblico, nenhum intrprete capaz
de esgotar sua generalidade. Decorre da a aptido do
smbolo para mudanas, decorrentes, por exemplo, de
alteraes no hbito interpretativo de certo smbolo,
visto que os interpretantes lgicos podem ser modica-
dos. V-se ento que, embora um smbolo dependa de
uma conveno, o seu signicado pode variar com o
tempo e de acordo com a perspectiva atravs da qual
se analisa, uma vez que , como armou Short (apud
Santaella, 2005, p. 266), um signo em crescimento
nos interpretantes que ele gerar.
Referncias
Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain
2001. Dicionrio de smbolos. Rio de Janeiro: Jos
Olympio.
Cirlot, Juan Eduardo
1984. Dicionrio de smbolos. So Paulo: Editora
Moraes Ltda.
DAlviella, Conde Globet
1995. A migrao dos smbolos. Traduo de Hebe
Way Ramos e Newton Roberval Eichenberg. So
Paulo: Pensamento.
Eliade, Mircea
1991a. Imagens e smbolos: ensaios sobre o simbo-
lismo mgico-religioso. Traduo de Sonia Cristina
Tamer. So Paulo: Martins Fontes.
Eliade, Mircea
1991b. Mefstoles e o andrgino: comportamentos
religiosos e valores espirituais no-europeus. Tradu-
o de Ivone Cartilho Benedetti. So Paulo: Martins
Fontes. (Coleo Tpicos)
Grimal, Pierre
2000. Dicionrio da mitologia grega e romana. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil.
Jung, Carl Gustav
1977. O homem e seus smbolos. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira.
Lurker, Manfred
1997. Dicionrio de simbologia. So Paulo: Martins
Fontes.
Nasser, Maria Celina de Q. Carrera
2003. O que dizem os smbolos? So Paulo: Paulus.
Peirce, Charles Sanders
1958. The Collected Papers. Cambridge, MA: Har-
vard University Press.
Riard, Pierre
1993. Dicionrio de esoterismo. Lisboa: Teorema.
Santaella, Lucia
2005. Matrizes da linguagem e pensamento. So
Paulo: Iluminuras.
Santaella, Lucia; Nth, Winfried
1999. Imagem: cognio, semitica, mdia. So Paulo:
Iluminuras.
52
Dados para indexao em lngua estrangeira
Ribeiro, Emlio Soares
A Study about the Symbol Based on Peirces Semiotics
Estudos Semiticos, vol. 6, n. 1 (2010), p. 46-53
issn 1980-4016
Abstract: We live surrounded by symbols, from the waving hands in a farewell to the alphabet we use to speak
and write. Although literature about the symbolic brings diverse reductionist denitions for the word symbol, it
is true that, while explaining the symbolic, there will always be something untranslatable, because the symbol
points to something that is absent, representing it, but without apprehending all its possibilities. The reduction
or extreme specialization of a symbols meaning usually leads to its degradation, making it an allegorical or
attributive insignicance (Cirlot, 1984, p. 5). Besides that, the perception of the symbol is also personal, since,
in its formation process, human beings add to their personal experience cultural and social values, which are
inherited from previous generations. In this sense, the current article aims at discussing the symbolic based on
Charles Sanders Peirce, in order to show how such a sign is constituted and understood in the semiotics founded
by the referred American author. Before that, however, in the rst part of this paper, it is necessary to make some
general remarks about the term symbol, its origins and the various concepts it receives. Then, in the second
part, we focus on the comprehension and interpretation of symbols in general. We expect the current reection to
make clear the role of the symbol in semiotic studies, and to justify interpretations and analysis of the symbol in
literature, cinema and culture.
Keywords: symbol, Peirce, interpretation
Como citar este artigo
Ribeiro, Emlio Soares. Um estudo sobre o smbolo, com
base na semitica de Peirce. Estudos Semiticos. [on-line]
Disponvel em: http://www.fch.usp.br/dl/semiotica/es .
Editores Responsveis: Francisco E. S. Meron e Mari-
ana Luz P. de Barros. Volume 6, Nmero 1, So Paulo,
junho de 2010, p. 4653. Acesso em dia/ms/ano.
Data de recebimento do artigo: 29/11/2010
Data de sua aprovao: 02/04/2010
Você também pode gostar
- PPRA Oficina MecanicaDocumento14 páginasPPRA Oficina MecanicaDenise Bernal Soto50% (4)
- Planilha AmarracaoDocumento6 páginasPlanilha Amarracao084250Ainda não há avaliações
- Tudo Sobre Baralho ComumDocumento79 páginasTudo Sobre Baralho Comummichele51306100% (4)
- Unidade-1 PAIDEIADocumento68 páginasUnidade-1 PAIDEIAChrystian StoccoAinda não há avaliações
- NR 35 - Procedimento Cinto de Segurança Trabalho em AlturaDocumento4 páginasNR 35 - Procedimento Cinto de Segurança Trabalho em AlturaCPSST100% (1)
- Apostila de Gestão IndustrialDocumento92 páginasApostila de Gestão IndustrialJef3r5onAinda não há avaliações
- Apresentacao EstuariosDocumento37 páginasApresentacao EstuariosPatricia Santelli MestieriAinda não há avaliações
- Emprego Clínico Do Aparelho para Projeção Da MandíbulaDocumento62 páginasEmprego Clínico Do Aparelho para Projeção Da MandíbulaLeonardo LamimAinda não há avaliações
- Gestão de PCD No TrabalhoDocumento20 páginasGestão de PCD No TrabalhoCintiaSantosAinda não há avaliações
- LalthalDocumento3 páginasLalthalGabriel LágeAinda não há avaliações
- MA12 Unidade 7Documento10 páginasMA12 Unidade 7Flaviano LisboaAinda não há avaliações
- 10 Formas de Começar Uma Redação DissertativaDocumento2 páginas10 Formas de Começar Uma Redação DissertativaReysi PegoriniAinda não há avaliações
- Trabalho de Licenciatura Teresa NhambirreDocumento57 páginasTrabalho de Licenciatura Teresa NhambirreMwenemutapa Fernando100% (1)
- Resenha - Pensar Por SiDocumento2 páginasResenha - Pensar Por SiThiago Felipe Pereira100% (1)
- Checklist Revisao Sistematica PrismaDocumento5 páginasChecklist Revisao Sistematica PrismaluanaamoreiraAinda não há avaliações
- Tese PDFDocumento252 páginasTese PDFEduardo RibeiroAinda não há avaliações
- Sequência DidáticaDocumento27 páginasSequência DidáticaBoeno100% (1)
- Simulado de Física 03Documento2 páginasSimulado de Física 03João Pedro CostaAinda não há avaliações
- TJMG Anulação Testamento ParticularDocumento16 páginasTJMG Anulação Testamento ParticularAndré Arnt RamosAinda não há avaliações
- Revista Pergunte e Responderemos - ANO II - No. 0013 - JANEIRO DE 1959Documento50 páginasRevista Pergunte e Responderemos - ANO II - No. 0013 - JANEIRO DE 1959Apostolado Veritatis Splendor100% (1)
- Livro Cabe Na MalaDocumento12 páginasLivro Cabe Na MalaJosefa CruvinelAinda não há avaliações
- Manual Recomendacoes Na Area Da GeotecniaDocumento92 páginasManual Recomendacoes Na Area Da GeotecniaJoão PrimaveraAinda não há avaliações
- Atividade LPDocumento4 páginasAtividade LPMarta Graciela SilvaAinda não há avaliações
- Relatório Ciencias e Matemática PDFDocumento29 páginasRelatório Ciencias e Matemática PDFNathalia Albuquerque100% (1)
- A Entrevista Clínica Na Abordagem Centrada Na PessoaDocumento2 páginasA Entrevista Clínica Na Abordagem Centrada Na PessoaLuiz Gustavo de GodoyAinda não há avaliações
- Os Pré - Socráticos - Exercícios de FixaçãoDocumento6 páginasOs Pré - Socráticos - Exercícios de FixaçãoAmancio rodriguesAinda não há avaliações
- Heidrich - Territorio e ExclusãoDocumento35 páginasHeidrich - Territorio e ExclusãoLucas PanitzAinda não há avaliações
- Superdotacao Altas Habilidades e TalentosDocumento23 páginasSuperdotacao Altas Habilidades e TalentospintassilgaAinda não há avaliações
- Apostila de Genetica Exercicios Aline Biologia Luiz Prisco 2013Documento5 páginasApostila de Genetica Exercicios Aline Biologia Luiz Prisco 2013Claudioprofessor1Ainda não há avaliações
- Material de Analise Economica de ProjetosDocumento147 páginasMaterial de Analise Economica de ProjetosVinicius MenezesAinda não há avaliações