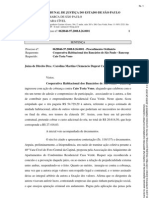Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
09 PDF
09 PDF
Enviado por
Helen BarcellosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
09 PDF
09 PDF
Enviado por
Helen BarcellosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RBCS Vol.
28 n 81 fevereiro/2013
Artigo recebido em 10/05/2011
Aprovado em 28/11/2012
A CONSTITUIO DE 1988 E A
RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS
CONTEMPORNEOS
Limites e potencialidades
Carlos Eduardo Marques
Llian Gomes
Introduo
O reconhecimento do direito ao territrio no
qual as comunidades
1
negras desenvolvem seus mo-
dos de fazer e viver tem sido garantido em diversas
Constituies na Amrica Latina. Alguns dos pases
latino-americanos que tm constituies reconhe-
cendo o direito afro-descendente so: Brasil (qui-
lombos), Colmbia (cimarrones), Equador (afro-
-equatorianos), Honduras (garifunda) e Nicargua
(creoles). Em todos esses pases as mobilizaes
negras tm contribudo para o estabelecimento de
ganhos constitucionais (Thorne, 2004, p. 312).
Esse direito esta ligado tripla dimenso de justia
social que mobiliza o reconhecimento de identida-
des e de direitos, redistribuio material e simb-
lica e representao poltica (Fraser, 2007).
No Brasil, a garantia desse direito fruto, a
partir da dcada de 1970, da sinergia entre os mo-
vimentos sociais negros, as lutas localizadas das co-
munidades negras rurais j bastante signicativas
neste momento no Par e Maranho e mudanas
poltico-insitucionais e administrativas inaugura-
das sobretudo com a Constituio de 1988. Esta
garantiu o direito propriedade para essas popu-
laes atravs do artigo 68 do Ato das Disposies
Constitucionais Transitrias (ADCT) que arma:
Aos remanescentes das comunidades dos quilom-
bos que estejam ocupando suas terras reconhe-
cida a propriedade denitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os ttulos respectivos. Posteriormente,
o decreto presidencial 4.887/2003 regulamenta o
procedimento para Identicao, Reconhecimen-
to, Delimitao, Demarcao e Titulao das ter-
ras ocupadas por remanescentes das comunidades
de quilombos.
13006_RBCS81_AF3d.indd 137 3/20/13 12:02 PM
138 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 28 N 81
O artigo 68 abrange ainda uma ampliao do
rol de atuao do Estado em relao aos direitos
desses grupos,
2
que at ento estiveram destitudos
de garantias constitucionais positivas, uma vez que
foram objetos do direito repressivo durante as fases
colonial e imperial. Esta atuao contribuiu para
a ampliao da capacidade do Estado no proces-
so de minimizao dos padres de desigualdades
sociorraciais. A questo do direito de grupos qui-
lombolas sua territorialidade permaneceu no te-
matizado no espao pblico geral desde a abolio
da escravido (1888) at a Constituio Federal de
1988.
3
Isso levou a um dcit no reconhecimento
dos direitos e a uma demanda acumulada para a
efetivao dos direitos territorialidade dos qui-
lombolas. Apenas para exemplicar, at junho de
2008, a Fundao Cultural Palmares (FCP) cer-
ticou 1209 grupos quilombolas. No entanto, as
titulaes dos territrios, que segue um processo
com vrias etapas,
3
esto aqum desses nmeros
certicados que so os seguintes: o Par tem 35 ti-
tulaes, seguido por Maranho (20), So Paulo
(6), Bahia (2), Piau (2), Rio de Janeiro (1) e Mato
Grosso do Sul (1).
4
Minas Gerais tem tambm
uma titulao, Porto Coris.
As diculdades em torno do reconhecimen-
to dos direitos territorialidade desses grupos no
Brasil esto intimamente ligadas a uma concepo
de cidadania apenas como uma instituio poltica
formal, que predominou desde a proclamao da
Repblica (1889). Holston arma que no Brasil o
que se estabeleceu foram os termos de uma cida-
dania diferenciada. As diferenas sociais existentes
entre os membros de um Estado-nao so deni-
das pela propriedade, ocupao e acesso educao
formal, mas em nossa perspectiva elas se cruzam
com o vis da raa e gnero, que se perpetuaram
como forma para distribuir diferentes tratamentos
para diferentes categorias de cidados. Isso levou a
uma gradao de direitos, sendo que alguns se tor-
naram privilgio para uma categoria particular de
indivduos, que passaram a utilizar inclusive a lei
como modo de ganhar benefcios pessoais. Como
resultado, os brasileiros receberam desigual distri-
buio de cidadania por sculos, passando pelos
regimes colonial, imperial e republicano (Holston,
2008, p. 112).
O presente artigo tem como objetivo compreen-
der
5
a importncia da tematizao dos direitos das
comunidades negras rurais na esfera pblica, reco-
nhecidas pelo aparato legal como quilombolas ou re-
manescente de quilombo. Na primeira seo indica-
remos com que concepo de esfera pblica estamos
operando e a importncia de pensar o tema do direi-
to dessas comunidades na tripla dimenso de justia
social, quais sejam, reconhecimento de identidades
e de direitos, redistribuio material e simblica e
representao poltica. Na segunda seo trataremos
de modo mais especco da questo da identidade
quilombola e como pens-la a partir do artigo 68 do
ADCT da Constituio Federal de 1988. Na terceira
parte trataremos de trs casos empricos e, por m,
passaremos s consideraes nais.
A tripla dimenso da justia social
O tema do espao pblico e sua relao com
os desaos da democratizao das relaes sociais
estudado sobre diferentes perspectivas.
6
Avritzer in-
dica que este, provavelmente, seja o conceito mais
importante elaborado pela segunda gerao da Es-
cola de Frankfurt (1999, p. 177). O tema do espa-
o pblico est intimamente ligado ao processo de
reconstruo da teoria crtica na segunda metade
do sculo XX, o qual permitiu que se processas-
se uma mudana dentro desta teoria permitindo o
estabelecimento de uma nova relao entre teoria
crtica e teoria democrtica (Avritzer e Costa, 2004,
p. 705). Isto foi possvel atravs do esforo desem-
penhado por Habermas na reinterpretao do sig-
nicado e do impacto de diversos fenmenos da
sociedade moderna (Avritzer, 1999, p. 180). Desse
modo, com a introduo do paradigma da lingua-
gem, Habermas desenvolve uma teorizao de es-
pao pblico que ponto de partida para qualquer
anlise sobre tal temtica (Habermas, 1984, 1987).
inegvel o papel que a teorizao habermasiana
cumpriu para a possibilidade de complexizao
desse debate. Isto porque este autor, na dcada de
1960, traz luz s possibilidades de se pensar as re-
laes entre Estado e sociedade para alm do diag-
nstico weberiano e dos limites impostos pela bu-
rocratizao.
7
A obra de Habermas, Teoria da ao
13006_RBCS81_AF3d.indd 138 3/20/13 12:02 PM
A CONSTITUIO DE 1988 E A RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS 139
comunicativa, apresenta elementos contundentes
que ajudam a pensar a inuncia da sociedade so-
bre o Estado a partir de uma concepo terico-
-discursiva da democracia. Avritzer indica que:
[] para o autor da Teoria da Ao Comuni-
cativa, a modernidade no precisa, necessaria-
mente, ser identicada com a inevitabilidade
dos processos de burocratizao. Para Haber-
mas, a burocratizao signica a penetrao da
forma administrativa do Estado moderno nas
arenas sociais regidas pela ao comunicativa
[]. no ponto de encontro entre as estru-
turas interativas e os subsistemas que se daria
o enfrentamento central da modernidade, en-
frentamento esse decisivo para se determinar a
capacidade de sobrevivncia de formas de co-
municao e de interao que deram origem
aos principais movimentos sociais da moderni-
dade. Seu resultado no foi o desaparecimento
das formas interativas, mas o surgimento de
uma esfera de autonomia social identicada
com o processo de produo da democracia
(1996, p. 18).
A importncia da teorizao habermasiana
que ela limpa o terreno e demonstra que a socie-
dade tambm pode exercer inuncia sobre a pol-
tica. Posteriormente, o autor recebe crticas (Zaret,
1992; Bohman, 1996) entre as quais nos interessa
de modo especco aquelas formuladas por Nancy
Fraser, que est preocupada com novas questes
que surgem no espao pblico. Fraser (1988) de-
senvolve uma leitura crtica da obra de Habermas
tendo como foco determinadas interrogaes com
base na perspectiva feminista. Interessa aqui indicar
que Fraser aponta para elementos que possibilitam
ampliar muitas das questes j tematizadas em Ha-
bermas, isso porque essa autora se centra nas exclu-
ses, nos atores sociais, temas e demandas que no
alcanaram o mbito da tomada de deciso.
Dois aspectos devem ser mencionados da crti-
ca de Fraser a Habermas. O primeiro que interessa
ressaltar que Fraser discute a importncia de se
pensar no apenas o que se passa nos pblicos for-
tes, dominantes (lcus da tomada de deciso), mas
tambm nos pblicos fracos, que surgem dentro do
contexto de lutas contra injustias em cada poca,
e isso envolveria a criao de outro vocabulrio
que permitisse a introduo de inovaes lingus-
ticas que tratam de formas de injustia antes no
nomea das. Esses novos sujeitos polticos criam, em
determinados tempos histricos, seus prprios vo-
cabulrios contra pblicos subalternos, ampliando,
assim, as formas de interpretao de injustia e de-
nindo situaes que inicialmente no tm eco no
espao pblico dominante (Fraser, 2007, p. 327).
A autora indica que um ponto positivo dos p-
blicos fracos ou alternativos o fato de que eles so
autnomos em relao ao Estado, podendo, assim,
constiturem-se em arenas de formao de opinio
com possibilidades de questionamento crtico do
Estado. A autora argumenta ainda para a necessi-
dade de se estabelecer uma forte conexo entre os
pblicos fortes e os pblicos fracos. Ela diz ser ne-
cessrio pensar numa concepo ps-burguesa de
espao pblico que ultrapasse a simples formao
de uma opinio autnoma desligada dos processos
ociais na tomada de deciso. Tal concepo per-
mitiria reetir sobre os pblicos fortes e os fracos
a partir de vrias formas hbridas, alargando a ca-
pacidade de se pensar as possibilidades e os limites
da democracia realmente existente (Fraser, 1992,
p. 136). Esse o ponto a reter aqui para apresen-
tarmos a ideia de esfera pblica com a qual pre-
tendemos operar. Isso porque com esta ideia de
hibridao Fraser aponta para uma possibilidade
de superao do carter, embora til num primeiro
momento, mas por demais sistmicos na anlise de
Habermas. Ou seja, tomando a realidade do Brasil
e de modo mais especco a da questo quilombo-
la, percebe-se que existem diferentes pblicos en-
volvidos com caractersticas prprias, e a ideia de
hibridao acaba por ser extremamente til para a
categorizao de tais pblicos.
O segundo aspecto fundamental, caro para o
trato com a temtica quilombola, a imbricao
dos diversos elementos do reconhecimento de iden-
tidades, e de direitos, de redistribuio material e
simblica e da representao poltica, os quais no
podem ser connados a determinadas categorias
que estabeleam separaes estanques. No texto
Whats critical about critical theory?, considera
inadequado, por exemplo, o modo como a teoria
13006_RBCS81_AF3d.indd 139 3/20/13 12:02 PM
140 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 28 N 81
habermasiana opera atravs de uma anlise que se
estrutura em separar sistema e mundo da vida.
A autora arma que Habermas acaba por omitir e
naturalizar formas de interpretao que separam as
atividades entre aquelas ligadas reproduo simb-
lica que de modo geral dizem respeito ao mbito
domstico, no so remuneradas e tradicionalmente
desempenhadas por mulheres e aquelas vinculadas
reproduo material que concernem ao mundo
do trabalho, so remuneradas e desempenhadas na
maioria das vezes por homens. Ela sustenta que es-
sas interpretaes so potencialmente ideolgicas e
inadequadas (Idem, p. 33). Portanto, para Fraser, a
noo de espao pblico deve expandir a capacida-
de de enxergar as possibilidades da democracia alm
dos limites da democracia atualmente existente
(1992, p. 136). Sua preocupao nos parece muito
relevante, pois no caso do direito das comunidades
negras esto imbricados fatores ligados ao modo de
produo ou de relao com o ecossistema e as espe-
cicidades quanto territorialidade em que vivem;
especicidades to bem expressas pelos artigos 215 e
216 que reforam o direito das comunidades negras
que j constava no artigo 68:
Art. 215. O Estado garantir a todos o pleno
exerccio dos direitos culturais e acesso s fon-
tes da cultura nacional, e apoiar e incentivar
a valorizao e a difuso de manifestaes cul-
turais. [] Art. 216. Constituem patrimnio
cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referncia identidade,
ao, memria dos diferentes grupos for-
madores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem: I as formas de expresso; II os mo-
dos de criar, fazer e viver (Constituio Federal,
1988, grifos nossos).
Rios, reforando esta concepo, indica que a
Constituio de 1988 ao conceituar os bens cultu-
rais se afasta de uma referncia exclusiva aos mo-
numentos e grandiosidade da aparncia externa
das coisas imveis, pois passa a considerar outras
situaes e contextos que ainda esto acontecen-
do, dentro de uma viso de cultura como processo
contnuo e dinmico, como a representatividade e
identidade tnica de cada um dos grupos forma-
dores da nacionalidade, em seu sentido mais am-
plo (2007, p. 109). Assim, quando mencionamos
que o direito quilombola mobiliza a redistribuio
material e simblica, estamos concebendo que o
direito ao territrio quilombola mobiliza tambm
a ideia de patrimnio cultural que est relacio-
nada com elementos da cultura material e imate-
rial, no sendo possvel, portanto, reduzir a ideia de
reconhecimento dessa identidade e desses direitos
a apenas uma dessas dimenses.
8
Por este motivo
necessrio articular uma concepo de espao
pblico que permita pensar a imbricao entre os
elementos do reconhecimento de identidades e de
direitos, de redistribuio material e simblica e de
representao poltica, os quais no podem ser con-
nados a determinadas categorias que estabeleam
separaes estanques entre esses diversos elementos,
o que permite enxergar as possibilidades alm dos
limites da democracia atualmente existente (Fraser,
1992, p. 136).
Por todas essas questes que ganha relevn-
cia o debate sobre a capacidade de representao
poltica adquirida por tais grupos, o que plurali-
zou as formas de entrada de temas e demandas na
arena poltica (Young, 2002; Castelo, Houtzager e
Lavalle, 2006). O tema da representao poltica
eleitoral ou no leva necessidade de anlise das
vrias formas de representao (Pitkin, 1985). A
representao poltica que interessa investigar nes-
te estudo est ligada representao de temas e
experincias (Avritzer, 2007, p. 448), e acrescen-
taramos de demandas
9
no espao pblico. Essa
seria uma forma de representao em que deter-
minadas associaes, federaes, articulaes ou
coordenaes apresentam as questes de grupos
denidos e se sentem legitimados para propor
tais demandas pela anidade com os outros pares
ligados quela questo, assim, a legitimao se d
pela relao com o tema (Avritzer, 2007, p. 448).
Desse modo, estamos compreendendo represen-
tao poltica no eleitoral como espao em que
grupos podem apresentar suas demandas, temas e
experincias no espao pblico sejam os fortes,
sejam os fracos, dependendo de sua fora polti-
ca e que tem importncia pela possibilidade de
questionar e/ou desestruturar hierarquias que ins-
13006_RBCS81_AF3d.indd 140 3/20/13 12:02 PM
A CONSTITUIO DE 1988 E A RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS 141
titucionalizam determinados formatos de partici-
pao e que levam atores sociais a sofrerem uma
excluso estrutural (Fraser, 2007, p. 315). Assim,
o tema do direito das comunidades negras sua
territorialidade entrou na cena poltica nacional
10
atravs do artigo 68 do ADCT.
Ressignicando direitos
A categoria de remanescentes de comunida-
des de quilombos confunde-se no senso comum
com a denio histrica e passadista de Quilom-
bo, to bem denida por Almeida (2002) como
frigoricada e, por isso mesmo, uma concepo a
ser superada. Conforme Marques (2009, p. 340),
a ideia de quilombo
11
percorre h longo tempo
o imaginrio da nao e uma questo relevante
desde o Brasil Colnia, passando pelo Imprio e
chegando Repblica. Tratar do tema quilombos
e quilombolas, ainda na atualidade, pressupe no
s incidir sobre uma luta poltica, mas tambm so-
bre uma reexo cientca em processo de cons-
truo (Leite, 2003).
Para que se desenvolva uma anlise mais ade-
quada do termo necessrio trabalhar com a ca-
tegoria j em seu signicado ressemantizado, pois
(1) permite aos grupos que se autoidenticam
como remanescentes de quilombo ou quilombola
uma efetiva participao na vida poltica e pblica,
como sujeitos de direito; e (2) se arma com isso
a diversidade histrica e a especicidade de cada
grupo. A ressemantizao do termo percorreu um
longo caminho temporal e discursivo. A seguir, de
forma resumida, explicaremos esse processo.
O que signica os chamados remanescentes de
quilombo, ou quilombolas? Trata-se de um fen-
meno sociolgico que, segundo Almeida (2002), se
caracteriza por: (1) identidade e territrio indisso-
civeis; (2) processos sociais e polticos especcos
que permitiram aos grupos uma autonomia; e (3)
territorialidade especca, cortada pelo vetor tnico
no qual grupos sociais especcos buscam ser reco-
nhecidos. Portanto, corresponde uma armao a
um s tempo tnica e poltica.
O debate sobre a concepo da propriedade
fundiria central quando pensamos na questo
do direito territorialidade quilombola. Lima, com
base em dois relatrios antropolgicos,
12
descreve
o regime consuetudinrio de propriedade da terra:
As terras de quilombos pertencem a um regime
consuetudinrio de propriedade da terra pra-
ticado por populaes rurais brasileiras, mas
no plenamente contemplado pela legislao.
Trata-se do regime das terras tradicionalmente
ocupadas []. A noo de tradio tem aqui
o sentido literal de entrega, transmisso (do la-
tim: traditio, tradere) []. A transmisso da
terra entre as geraes, como a de outras heran-
as recebidas de ancestrais e legadas a descen-
dentes, segue um modelo de herana institudo
localmente. O mais comum a herana cogn-
tica, transmitida pelas duas linhagens de ascen-
dentes, a paterna e a materna. Nesse regime de
ocupao da terra, os herdeiros recebem par-
celas do pai e da me, congurando linhagens
de transmisso por onde se sucedem as parcelas
de terra e as geraes de pessoas. A imbricao
entre parentes e o territrio evidente, ainda
mais sendo a terra a fonte de sobrevivncia di-
reta dessas populaes rurais (Lima, 2008, s/p).
A noo de propriedade privada, individual,
foi desenvolvida pela civilizao ocidental na era
moderna, mas no extinguiu por completo outros
regimes de propriedade. Lima reporta tal constata-
o a autores como Maine, Weiner, Simmel, Mauss
e Godelier, ao que podemos acrescentar Marx e En-
gels. Em nota de rodap da segunda edio inglesa
do Manifesto do Partido Comunista (1888), Engels
descreve como recente o surgimento da proprie-
dade privada:
13
A pr-histria, a histria da organizao so-
cial que precedeu toda a histria escrita, era,
ainda, em 1847, quase desconhecida. Depois,
Haxthausen descobriu na Rssia a proprieda-
de comum da terra, Maurer demonstrou que
esta constitua a base social de onde derivavam
historicamente todas as tribos teutnicas e ve-
ricou-se, pouco a pouco, que a comunidade
rural com posse coletiva da terra era a forma
primitiva da sociedade desde as ndias at a Ir-
13006_RBCS81_AF3d.indd 141 3/20/13 12:02 PM
142 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 28 N 81
landa. Finalmente, a organizao interna desta
sociedade comunista primitiva foi desvendada
em sua forma tpica pela descoberta decisiva
de Morgan, que revelou a natureza verdadei-
ra da gens e seu lugar na tribo. Com a disso-
luo dessas comunidades primitivas, comea
a diviso da sociedade em classes diferentes e
nalmente antagnicas. Procurei analisar este
processo na obra Der Ursprung der Familie, des
Privateigentums Und des Staats [A origem da
famlia, da propriedade privada e do Estado,
2. ed. Stuttgart, 1886). (Nota de F. Engels
edio inglesa de 1888.)
Os grupos quilombolas no precisam apresen-
tar (e muitas vezes no apresentam) nenhuma rela-
o com o que a historiograa convencional trata
como quilombos. Os remanescentes de quilombos
so grupos sociais que se mobilizam ou so mobili-
zados por organizaes sociais, polticas, religiosas,
sindicais etc. em torno do autorreconhecimento
como um grupo especco e, consequentemente,
busca-se a manuteno ou a reconquista da pos-
se denitiva de sua territorialidade. Eles podem
apresentar todas ou algumas das seguintes caracte-
rsticas: denio de um etnnimo, rituais ou re-
ligiosidades compartilhadas, origem ou ancestrais
em comum, vnculo territorial longo, relaes de
parentesco generalizado, laos de simpatia, relaes
com a escravido e, principalmente, uma ligao
umbilical com seu territrio.
Em outras palavras, a ideia de quilombo se
constitui em um campo conceitual com uma longa
histria. No entanto, a denio histrica deve ser
colocada em dvida e classicada como arbitrrio
para que possa alcanar as novas dimenses do sig-
nicado atual de Quilombo (Almeida, 1996, p.
11). Atente-se para o fato de seu signicado atual
ser fruto das redenies de seus instrumentos
interpretativos. O quilombo ressemantizado um
rompimento com as ideias passadistas (frigorica-
das) e com a denio jurdico-formal historica-
mente cristalizada, tendo como ponto de partida
situaes sociais e seus agentes que, por intermdio
de instrumentos poltico-organizativos (tais como
as prprias comunidades quilombolas, associaes
quilombolas, Ongs, movimentos negros organi-
zados, movimentos sociais e acadmicos), buscam
assegurar seus direitos constitucionais. Ocorre que,
para tanto, os agentes quilombolas e seus parceiros
precisam viabilizar o reconhecimento de suas for-
mas prprias de apropriao dos recursos naturais e
de sua territorialidade (Idem, p. 12). Ou seja, pre-
cisam se impor como um coletivo tnico, e, para
isso, no mais importa o arcabouo jurdico-for-
mal historicamente cristalizado a despeito dos qui-
lombos, que existira na estrutura jurdica colonial
e imperial (sempre com caractersticas restritivas e
punitivas) e se encontrava ausente do campo jurdi-
co republicano at a promulgao da Constituio
de 1988. Importa aqui o direito adquirido no art.
68 do ADCT.
O conceito anteriormente utilizado pela Fun-
dao Cultural Palmares (FCP),
14
at aproximada-
mente meados dos anos de 1990, que compreendia
o quilombo por qualidades culturais substantivas e
por sua histria de lutas pretritas, bem como uni-
dade guerreira e autossuciente, no mais satisfazia
aos anseios criados pelo dispositivo constitucional.
Com a redenio do termo quilombo, a nova se-
matologia retira o acento da atribuio formal e das
pr-concepes e passa a considerar a categoria re-
manescentes de quilombo como um autorreconheci-
mento por parte dos atores sociais envolvidos. Nas
palavras de Almeida:
Aqui comea o exerccio de redenir a semato-
logia, de repor o signicado, frigoricado no
senso comum. O estigma do pensamento jur-
dico (desordem, indisciplina no trabalho, au-
toconsumo, cultura marginal, perifrica) tem
que ser reinterpretado e assimilado pela mobi-
lizao poltica para ser positivado. A reivindi-
cao pblica do estigma somos quilombolas
funciona como alavanca para institucionalizar
o grupo produzido pelos efeitos de uma legis-
lao colonialista e escravocrata. A identidade
se fundamenta ai. No inverso, no que desdiz
o que foi assentado em bases violentas. Nes-
te sentido, pode-se dizer que: o art.68 resulta
por abolir realmente o estigma (e no magica-
mente); trata-se de uma inverso simblica dos
sinais que conduz a uma redenio do signi-
cado, a uma reconceituao, que tem como
13006_RBCS81_AF3d.indd 142 3/20/13 12:02 PM
A CONSTITUIO DE 1988 E A RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS 143
ponto de partida a autodenio e as prticas
dos prprios interessados ou daqueles que po-
tencialmente podem ser contemplados pela
aplicao da lei reparadora de danos histricos
(Idem, p. 17).
O atual conceito de quilombo difere funda-
mentalmente do que representava no transcorrer
do regime escravocrata, e mesmo quase um sculo
aps a abolio da escravido. O que antes era uma
categoria vinculada criminalidade, marginalida-
de e ao banditismo hoje considerado, de acordo
com a perspectiva antropolgica mais recente, en-
tre outros elementos, como um ente vivo e dinmi-
co, um lcus de produo simblica (Marques,
2008) sujeito a mudanas culturais. Est tambm
associado a um poderoso instrumento poltico-or-
ganizacional e ao acesso a polticas pblicas. Nesse
sentido, vital a combinao entre a denio de
Weber para comunidades tnicas e a de Barth para
grupos tnicos.
Em consonncia com Weber (2004), a etnici-
dade um instrumento poltico-organizacional, e
o carter poltico da ao comunitria uma das
caractersticas mais elementares de uma comunida-
de. Ele arma que a ideia de tnico pode ser con-
formada por vrios fatores, como viso de mundo,
lngua prpria, religio, lugar de origem, relaes
de consanginidade. No entanto, a motriz que en-
volve a noo de etnicidade a unidade de ao, ou
melhor, uma unio em termos de vontade poltica.
Barth (1998) entende os grupos tnicos, pri-
meiramente, como tipos de organizao social.
Desse modo, a caracterstica fundamental que os
dene a autoatribuio. Consiste em um tipo de
organizao que confere pertencimento via aliao
e excluso, em uma relao de fronteiras contrasti-
vas. Barth, ao enfatizar como princpio primordial
o fato de os grupos tnicos serem categorias de atri-
buio e identicao realizada pelos prprios ato-
res, arma o carter organizativo de interao entre
as pessoas. Interao que, quando ocorre entre di-
ferentes grupos tnicos, no produz aculturao e
tampouco leva ao desaparecimento dos grupos e de
sua identidade cultural, pelo contrrio, o contato
intertnico produz na maioria das vezes uma ar-
mao dos contrastes e das caractersticas culturais
consideradas pelos prprios atores as mais signica-
tivas e de maior relevncia.
A Associao Brasileira de Antropologia
(ABA), por sua vez, dene identidade coletiva pela
referncia histrica comum, construda a partir de
vivncias e valores partilhados. Trata-se, portanto,
de uma identidade em termos tnicos, de uma exis-
tncia coletiva em consolidao, que se fundamenta
em uma autoconscincia identitria, cujas deman-
das por direitos se revelam por meio da organizao
social e poltica, que tem no territrio uma de suas
formas mais expressivas de armao.
Como vimos, a denio de quilombo perdu-
rou por mais de dois sculos e s comeou a ser
modicada mediante movimentos organizados pe-
los prprios quilombolas e seus apoiadores e par-
ceiros. A partir da Constituio de 1988, termo
quilombo passou a representar, juridicamente, uma
nova concepo. Com efeito, o ingresso dessa cate-
goria na nova constituinte no foi um presente, ao
contrrio, foi fruto de uma rdua conquista, o que
reete a crescente apropriao dos instrumentos
poltico-organizativos pelos sujeitos do direito, no
caso, os quilombolas.
Portanto, trata-se de uma categoria no essen-
cial. A essencializao, frigoricao ou objeticao
reduo fenomenolgica inaceitvel, pois neste
caso perde-se a sua principal caracterstica a viva-
cidade, um bem em movimento constante, dinmi-
co e vivo, o que ele e o transforma em objeto de
desejo insacivel, a ser rememorado a partir de uma
denio externa a despeito de suas especicidades.
Na verso ressignicada o termo remanescentes de
quilombo exprime um direito a ser reconhecido em
suas especicidades e no apenas um passado a ser
rememorado. Ele a voz da cidadania autnoma
dessas comunidades.
Nos termos de Sahlins, o conceito pode ser
entendido como o que os antroplogos chamam
de estrutura, ou seja, as relaes simblicas de
ordem cultural, e, portanto, um objeto hist-
rico (1990, pp. 7-8). A ressemantizao funcional
retirou dessa categoria o estatuto de conveno
prescritiva, para criar a noo de inveno perfor-
mativa (passando do plano do ideal para o mbito
real, isto , a aplicao de polticas pblicas voltadas
para esses grupos). justamente essa reproduo da
13006_RBCS81_AF3d.indd 143 3/20/13 12:02 PM
144 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 28 N 81
estrutura, que implica em sua transformao, que
no bem aceita pelo senso comum e por setores
do campo jurdico.
Inveno performativa o dilogo entre as ca-
tegorias recebidas e os contextos percebidos, entre
o sentido cultural e a referncia prtica. Da tomar-
mos de emprstimo da obra de Sahlins (1990, p.
190) a exploso do conceito de histria pelo con-
ceito de antropologia, e este pelo conceito de hist-
ria. A estrutura de conjuntura uma ao simblica
comunicativa e conceitual, uma prtica antropol-
gica total que, contrastando com qualquer reduo
fenomenolgica, no pode omitir que a sntese
exata do passado e do presente relativa ordem
cultural, do modo como se manifesta em uma es-
trutura da conjuntura especca.
Estrutura de conjuntura pode ser aplicado
categoria remanescentes de quilombo, que fruto
de uma histria na qual tanto seu signicado se-
mntico como sua operacionalidade poltica so
igualmente importantes. Em forma esquemtica
apresentar-se-ia:
Permite superar os contrastes binrios/possui um valor
para as determinaes simblicas e um valor para os
poderes estabelecidos.
Estabilidade Mudana
Prxis teoria estrutura evento
(estrutura de conjuntura)
Terceiro termo mediador
Fonte: Marques (2009, pp. 351-352)
Cada esquema cultural particular cria as pos-
sibilidades de referncias materiais para as pessoas
e constitudo a parti de distines de princpios
que, em relao aos objetos, jamais so unvocas.
Pensar a ressemantizao como uma denio
pragmtica das categorias e das transformaes
entre elas signica perceber que o alcance lgico
(a prxis) precede s transformaes funcionais.
Da a reproduo da estrutura implicar sua pr-
pria modicao. Remanescentes de quilombos um
construto que s atinge sua plenitude na interface
entre os mltiplos discursos: antropolgico, pol-
tico, jurdico, dos quilombolas e dos movimentos
envolvidos com a temtica.
A Constituio de 1988 dene o Estado bra-
sileiro como multicultural e pluritnico.
15
Nesse
contexto, a aplicao das normas passa a ser acom-
panhada por uma pluralidade jurdica: hermenu-
tica e transdisciplinar. Duprat (2007, p. 16) aponta
corretamente que para uma efetiva aplicao do
direito aos remanescentes quilombolas devem-se con-
siderar suas especicidades, pois, do contrrio, em
vez de uma conquista constitucional haveria uma
perpetuao do quadro de excluso social e racial.
O texto constitucional pode ser considerado
ambguo, permitindo vrias leituras. De um ponto
de vista menos hermenutico, entende-se que aos
sobreviventes (os que remanesceram) dado o
direito propriedade denitiva. Essa interpretao
incorre em uma cilada para os coletivos tnicos qui-
lombolas, uma vez que todas as leis que vigoraram
no perodo colonial e imperial (vale lembrar que
esta categoria desaparece nas constituies republi-
canas at a Constituio de 1988) se referiram
categoria quilombo de forma negativa uma cha-
ga, uma organizao criminosa, algo que deveria ser
combatido. Portanto, se o texto desse dispositivo
for tomado de forma literal, no possvel nem
mesmo falar em remanescentes de quilombo. Como
arma Almeida:
Admitir que era quilombola equivalia ao ris-
co de ser posto margem. Da as narrativas
mticas: terras de herana, terras de santo,
terras de ndio, doaes, concesses e aquisi-
es de terras. Cada grupo tem sua estria e
construiu sua identidade a partir dela. Existe,
pois, uma atualidade dos quilombos deslocada
de seu campo de signicao original, isto ,
da matriz colonial. Quilombo se mescla com
conito direto, com confronto, com emergn-
cia de identidade para quem enquanto escra-
vo coisa e no tem identidade, no . O
quilombo como possibilidade de ser, constitui
numa forma mais que simblica de negar o
sistema escravocrata. um ritual de passagem
para a cidadania, para que se possa usufruir
13006_RBCS81_AF3d.indd 144 3/20/13 12:02 PM
A CONSTITUIO DE 1988 E A RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS 145
das liberdades civis. Aqui comea o exerccio
de redenir a sematologia, de repor o signi-
cado, frigoricado no senso comum (Almeida,
1996, p. 17). A partir da denio constitu-
cional, Arruti (2003) deduz que foi necessria
uma renovao no plano do direito fundirio,
e tambm no plano do imaginrio social, da
historiograa, dos estudos antropolgicos e so-
ciolgicos sobre populaes camponesas com
caractersticas tnicas. Acreditamos que isto
vale tambm para populaes urbanas com es-
sas mesmas caractersticas.
Da forma como foi redigido, o art. 68 cria
no s um direito (propriedade denitiva das ter-
ras ocupadas), mas tambm a categoria poltica e
sociolgica detentora deste direito (remanescente de
quilombos). O problema aqui poltico-semnti-
co: os grupos tnicos beneciados pela legislao
existiam anteriormente a ela, no entanto no se
utilizavam dessa denominao legal, pois tal -
gura jurdica no existia. possvel se considerar
remanescente de algo que durante todo o perodo
colonial e imperial sempre foi considerado uma
atividade criminosa e que desapareceu do lxico
constitucional por cem anos no perodo republi-
cano? O que viria a ser ento um remanescente de
quilombo?
16
Que categori a era esta? Percebe-se na
redao do artigo a insucincia conceitual, prti-
ca, histrica e poltica do legislador, uma vez que
ele se manteve ligado a uma viso objeticadora e
passadista do conceito de quilombo. O dispositivo
no reconhece a questo quilom bola em seu vis
tnico, como resposta a uma situao de conito e
confronto com outros grupos sociais, econmicos
e com agncias governamentais.
Aqui, precisamente, tm-se o exemplo de um
caso em que se torna necessrio uma leitura her-
menutica e transdisciplinar da legislao. Por um
lado, uma leitura apenas normativo-dogmtica
17
poderia ser favorvel aos quilombolas segundo
Silva (1995), a aplicabilidade do art. 68 imedia-
ta, no necessitando de lei ordinria; para a procu-
radora federal Deborah Duprat (2002), embora o
art. 68 esteja no ADCT, ele deve ser interpretado
de acordo com a Constituio e, assim, percebe-
-se que em seu corpo permanente esta reconhece
e denomina a expresso quilombo no 5 do art.
216, seo II, captulo III, ttulo VIII, que trata da
cultura em suas formas permanentes , por outro
lado, contudo, no seria suciente no embate po-
ltico. Neste ponto, trata-se como se d na prtica:
aquilo que os antroplogos denominam estar l e os
juristas chamam de realidade jurdica com causas e
princpios vericveis.
Segundo Arruti (2006, pp. 66-70), a separa-
o entre o art. 68 do ADCT e os arts. 215 e 216
do corpo permanente da Constituio ocorreram
por razes polticas. Por presso de parlamentares
conservadores, a parte referente ao tombamento dos
documentos relativos histria dos quilombos cou
no corpo permanente da Constituio (no captulo
relativo cultura), mas a parte relativa questo
fundiria foi exilada no corpo transitrio. Para
um mesmo sujeito jurdico, tratamentos diferentes.
Tal fato, seguindo o autor, pode ser interpretado
pelo menos de duas maneiras. Por um lado, como
reao de parlamentares conservadores a um futuro
uso dos direitos relativos questo fundiria. Isso
reforado pela constatao de que, nos anos de
1980, grupos camponeses do Par e, posteriormen-
te, do Maranho se organizavam em mobilizaes
em torno da terra; foram, portanto, as bancadas
desses estados as mais resistentes ao art. 68, como
que antevendo as possveis consequncias desta lei
em termos de redistribuio fundiria. Por outro
lado, a evidncia de que a questo do negro se con-
funde em nosso pas com a questo cultural, o que,
para os antroplogos, se constitui em um frutfero
objeto de reexo.
Destarte, ao combinar a aplicao do art. 68 do
ADCT com os arts. 215 e 216 do corpo permanen-
te, pode-se extrair algumas concluses: (1) a Consti-
tuio brasileira reconhece que a formao nacional
pluritnica ou multitnica; (2) obrigao de Es-
tado proteger as diferentes manifestaes, historio-
graas e tradies; (3) obrigao estatal a promo-
o da diferenciao e da diversidade cultural. Mas
preciso haver uma transformao no modus operandi
do sistema jurdico, bem como na dimenso mo-
ral do direito (Cardoso de Oliveira, 2002), ou, nos
termos de Mauss (1974), criar um sistema menos
preocupado com o indivduo (categoria jurdico-
-poltica) e mais preocupado com a noo de pessoa.
13006_RBCS81_AF3d.indd 145 3/20/13 12:02 PM
146 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 28 N 81
A cincia jurdica, tal como se conhece, uma
aquisio da modernidade e, especicamente, do li-
beralismo. A ideia de universalidade e do individu-
alismo moderno, o que Dumont (1985) chama de
individuo no mundo, claramente datada: engen-
drada na Europa, na passagem da Idade Mdia e a
Idade Moderna, poca em que tambm se organi-
zam as primeiras escolas superiores. no contexto
de sucessivas movimentaes e revolues no campo
poltico, losco, jurdico, cientco, teolgico,
ideolgico, visando derrubada do Ancient Regime,
que se torna possvel a universalizao do indivduo
humano como pertencente a um mesmo gnero por-
tador de direitos. Neste quadro dinmico e de des-
compasso entre tempo e espao (Giddens, 1991), a
ideia de justia (temporal e espacialmente localizada)
foi apropriada pelos jus naturalistas como um direito
natural e transformada em um dogma universal. A
teoria dos direitos naturais baseia-se, ento, no trip
individualismo, contrato social e Estado-nao.
Segundo os jus naturalistas, o individualismo se
explica a partir da conscincia de que os indivduos
so anteriores criao do Estado, gozando, por-
tanto, de direitos naturais como vida, proprie-
dade, liberdade, segurana. O Estado resul-
tante de um pacto, hipottico ou no, denominado
contrato social, por meio do qual indivduos livres
em busca da superao do estado de natureza fun-
dam a sociedade civil. Se de um lado tal contrato
exige a renncia de parte da liberdade inerente ao
indivduo, de outro, funda um novo ente, o cida-
do, a quem se esto garantindo direitos e deveres
sob a guarda do Estado-nao.
Por essa rpida descrio percebe-se que se tra-
ta de um projeto associado a um tempo, um lugar
e uma classe revolucionria Europa do sculos
XVII e XVIII no perodo de ascenso da burgue-
sia. Pleiteava-se ali o direito liberdade, mas uma
liberdade de caractersticas negativas, ou seja, que
se qualica e se caracteriza pela imposio de uma
srie de proibies, sobretudo ao Estado no que se
refere esfera dos direitos individuais. compreen-
svel, pois, a opo, ao menos no plano do discurso
do Direito, pelo individuo homogneo e abstrato:
[] o Direito, nesse contexto, entendido
como uma qualidade moral que compete pes-
soas (qualitas moralis personae competens, segun-
do a conhecida denio de Grocio), onde,
portanto, o individuo ocupa o lugar primeiro
e central. Esse sujeito de direito, no cadinho
de homogeneidade e de unidade que lhe cor-
relato, um ser abstrato, intercambivel, sem
qualidades (Duprat, 2007, p. 11).
Duprat esclarece, no entanto, que o Direito em
sua efetividade no cego s qualidades e s com-
petncias das pessoas, e, podemos dizer, dos grupos
tnicos. Na realidade brasileira o sujeito de direito,
aparentemente abstrato e intercambivel, tinha, na
verdade, cara: era masculino, adulto, branco, proprie-
trio e so (Idem, p. 13). Se isso verdade, as me-
lhorias para as minorias polticas (que no raras vezes
so maiorias demogrcas) no so ddivas e sim con-
quistas. Para Hannah Arendt (1989), estas conquistas,
denominadas de forma ampla como direitos huma-
nos, esto em um constante processo de construo e
reconstruo na busca da dignidade humana.
Como lembra Boaventura Sousa Santos
(2002), uma justia efetiva tem carter de redis-
tribuio e reconhecimento,
18
e tambm de repre-
sentao. Em outras palavras, no basta tratar o
indivduo e seus agrupamentos de forma genrica
e abstrata. imperioso enxerg-los em suas espe-
cicidades algo mais prximo da noo de eu ou
de pessoa, descrita por Mauss. A efetiva proteo e
promoo de direitos necessita da diversidade, e,
para tanto, da aplicao de polticas especcas ou
diferencialistas, endereadas a indivduos ou a gru-
pos socialmente vulnerveis ou alvo preferencial de
excluso. Se o direito igualdade fundamental,
o direito diferena tambm o no mesmo nvel.
Para uma justia eciente, portanto, necessrio
que se adote postura de soma e no de subtrao;
em vez da contraposio poltica universalista ver-
sus poltica diferencialista, deve haver uma aplica-
o concomitante dos dois tipos.
A luta por reconhecimento territorial
Treccani (2006, p. 268) indica a existn-
cia de 3.523 comunidades quilombolas no Bra-
sil. A Fundao Cultural Palmares, responsvel
13006_RBCS81_AF3d.indd 146 3/20/13 12:02 PM
A CONSTITUIO DE 1988 E A RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS 147
pela concesso da certido de autodenio,
19
identica 1.523 comunidades quilombolas com
certides, estimando-se a existncia de aproxi-
madamente 123.592 famlias. O movimento qui-
lombola organizado fala em quase 5 mil comuni-
dades. Dada a prpria caracterstica processual do
fenmeno estudado, o campo emprico bastante
amplo, e por isso optou-se aqui por apresentar
20
alguns elementos do processo de luta jurdica em
trs comunidades quilombolas: Campinho da
Independncia (RJ), Rio das Rs (BA) e Frechal
(MA). O que h de semelhante entre essas trs
experincias que a luta pela regularizao dos
territrios comeou antes mesmo da aprovao
do artigo 68 do ADCT.
No caso de Campinho da Independncia (RJ),
a nica alternativa para a defesa desse territrio t-
nico/racial, ameaado pelo crescente interesse eco-
nmico e turstico na rea onde se localiza,
21
foi
entrar com um processo individual, embora eles
vivessem segundo o conceito de famlia extensa,
sendo que uma das regras da comunidade era que
a terra no poderia ser vendida (Gusmo, 1996, p.
32). Segundo Gusmo: no aceitando mais voltar
escravido o povo de Campinho se rene, busca
um advogado que os esclarece sobre seus direitos
e, em 1975, entra com uma ao de usucapio
(Idem, pp. 39-40).
No caso da comunidade de Rio das Rs (BA),
com o incio do processo de expropriao das fam-
lias por parte de fazendeiros da regio, em 1972,
a comunidade passa a sofrer ameaas e proibies
de toda ordem. Conforme Doria e Carvalho: em
1989, a comunidade, inicialmente representada
por setenta famlias, iniciou um processo judicial
e conseguiu uma liminar de reintegrao de posse
(1995, p. 77). Foi um longo processo de batalhas
judiciais. Tambm neste caso foram as prprias fa-
mlias que entraram com o processo judicial.
No caso de Frechal (MA), a luta teve incio em
1974, com a chegada do pretenso dono das terras,
Thomaz Melo Cruz. Isso fez com que o grupo,
embora sendo um quilombo desde 1834 (Costa
e Pedrosa, 1996, p. 116), fosse obrigado a acei-
tar, para minimizar a insegurana provocada pela
chegada do referido fazendeiro, sua regularizao
fundiria como unidade de conservao ambiental,
isto , uma reserva extrativista. Temia-se na poca
que a regularizao do territrio na modalidade de
remanescentes das comunidades de quilombos
resultasse muito lento ou mesmo impossvel.
Dados os limites deste artigo, no nos dete-
remos nos meandros dos processos de titulao
de cada uma dessas reas; de qualquer maneira,
essas comunidades so emblemticas para mostrar
a passagem de uma luta local, que ainda no apa-
recia no mbito nacional, para o acionamento do
art. 68 do ADCT. Gusmo mostra que a con-
quista desse princpio, desde 1988, tem ensejado
uma srie de fatos que o legitimam como meio de
garantir direitos e assegurar condies fundamen-
tais de existncia (1996, p. 245). A comunidade
de Campinho da Independncia (RJ) foi titulada
em 1999, cujo processo partiu de uma reivindica-
o de usucapio para se tornar uma comunidade
remanescente de quilombos. No caso de Rio das
Rs, o art. 68, de acordo com Carvalho e Doria
(1995, p. 190), teve um papel muito importan-
te no processo de titulao dessa comunidade.
22
Mesmo no caso de Frechal, que foi regularizada
como reserva extrativista em 1994, h a identi-
cao dessa rea como quilombo, tanto que a
comunidade foi declarada em 1992 como Re-
serva Extrativista do Quilombo Frechal (Costa e
Pedrosa, 1996, p. 121). Essas trs situaes per-
mitem apontar dois aspectos. Em primeiro lugar,
em todas as trs a luta passou da mobilizao de
recursos jurdicos que justicassem a titulao
para a mobilizao de uma garantia constitucional
aprovada na Carta Magna de 1988. Em segundo,
a luta transps a esfera local atingindo uma esfera
de mobilizao nacional, o que pode ser atestado
pela criao em 1996, na cidade de Bom Jesus da
Lapa (Bahia), da Coordenao Nacional de Qui-
lombos Conaq.
Esses trs processos de titulao revelam que
as novas identidades reinstrumentalizam antigos
valores (Comarroff e Comarroff, 2010). Conforme
demonstramos ao longo deste estudo, a etnicidade
aqui no primordial (essencialista); ao contrrio,
ela tangvel e estabelece relaes entre o mundo
local e o global (Idem, ibidem). No caso em anlise
poderamos mesmo falar em termos de um direito
local e um direito positivo, hegemnico.
13006_RBCS81_AF3d.indd 147 3/20/13 12:02 PM
148 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 28 N 81
Consideraes nais
Pretendemos mostrar que a luta das comuni-
dades remanescentes de quilombo tem na Consti-
tuio de 1988 um marco histrico e de visibilida-
de no espao pblico nacional, mas no seu marco
fundante, j que ela anterior, tendo sido a Cons-
tituio, em seu corpo legal, uma resultante desse
processo de luta.
23
No entanto, preciso chamar a
ateno para a importncia da nomeao. Lemos
na Carta o termo comunidades remanescentes de qui-
lombos que, como vimos, no algo natural e sim
um construto constitudo por uma historia polti-
ca, legal, sociolgica, antropolgica e econmica.
Histria que tem sido utilizada atualmente, na are-
na jurdica, para desqualicar o pleito dos grupos
autoidenticados como quilombolas. Tal conceito/
categoria consiste em um sistema de identicao
portanto uma reduo fenomenolgica , isto ,
uma ao que reponde a uma demanda pelo avan-
o da democracia em um processo de emancipao
social e em uma cidadania que requer o reconheci-
mento da diferena, a reduo das desigualdades e a
incluso social atravs da redistribuio de recursos
e da representao poltica.
A Constituio de 1988 tem pelo menos dois
signicados importantes. Apesar das diculdades
de interpretao que o termo remanescentes de
quilombos encerra, a insero desta categoria no
texto constitui um aparato jurdico-legal que d
sustentao ao direito territorialidade para esses
grupos. Por outro lado, a Carta permitiu que a luta
que j vinha se desenvolvendo h dcadas de modo
localizado em diversas regies do Brasil pudesse ga-
nhar a esfera pblica nacional e, desse modo, tor-
nar pblicas as demandas especcas de grupos que
lutam pela garantia da territorialidade, onde pos-
sam desenvolver seus modos de criar, fazer e viver
em conformidade com o Artigo 216 desta mesma
Constituio Federal.
Reconhecemos, por m, a necessidade de um
maior investimento em apresentar a maneira pela
qual os termos de luta pelas classicaes produ-
zem um aparato legal. Reconhecemos ainda ser
imprescindvel um maior aprofundamento na te-
matizao da esfera pblica dos direitos atravs
do aparato legal quilombolas, assim como uma
apresentao mais detalhada dos hbridos orga-
nizacionais e um maior desenvolvimento do que
consideramos uma anlise performativa do direito.
Este texto, portanto, constitui-se mais como um
programa de pesquisa do que um estudo conclusivo
a respeito da temtica proposta.
Notas
1 O termo comunidades tem sido utilizado de modo
generalizado para todos os grupos sociais e tem sua
origem nas designaes utilizadas pelas pastorais liga-
das s Comunidades Eclesiais de Base. O uso desse
termo no presente artigo deve-se tanto a essa gene-
ralizao quanto ao fato de que essa a designao
utilizada no art. 68 do Ato das Disposies Consti-
tucionais Transitrias (ADCT), na Constituio Fe-
deral do Brasil de 1988, qual seja, remanescentes das
comunidades de quilombos. Esclarece-se, portanto,
que no se busca aqui uma maior gnese do termo co-
munidade que se transmutou em categoria/conceito.
2 O termo afro expressa a necessidade de rememorar
a origem desses grupos, a experincia da escravido e
as marcas deixadas por ela, seja no mbito das desi-
gualdades socioeconmicas, seja no mbito das rela-
es sociais marcadas pela discriminao e nas relaes
simblicas marcadas pelo preconceito. Do amplo es-
copo de demandas dos afrodescendentes est aquele
que neste estudo interessa mais de perto, que so os
afro-descendentes com identidade ligada terra. Por
outro lado, tal como o termo comunidade, no se
busca aqui uma maior gnese do termo afro, o qual
se transmutou em categoria/conceito. A opo por
este termo polissmico visa exatamente demonstrar a
riqueza de casos empricos que podem ser abarcados
dentro do direito territorialidade quilombola. Estes
grupos so designados por diversos termos como
quilombos, mocambos, terras de preto, comunidades
negras rurais, comunidades de terreiro, terras de santo,
terras de santssima que surgiram depois da desestru-
turao das irmandades religiosas (Almeida, 2006, p.
16). Neste estudo, alguns termos sero utilizados com
maior frequncia, para designar os remanescentes de
quilombos, tais como: quilombolas, grupos tni-
cos, grupos quilombolas, comunidades negras.
No entanto, todos seguindo o conceito de Weber, se-
gundo o qual A crena na anidade de origem seja
esta objetivamente fundada ou no pode ter conse-
quncias importantes particularmente para a formao
13006_RBCS81_AF3d.indd 148 3/20/13 12:02 PM
A CONSTITUIO DE 1988 E A RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS 149
da comunidade poltica. Como no se trata de cls,
chamaremos grupos tnicos aqueles grupos huma-
nos que, em virtude de semelhanas no habitus externo
ou nos costumes, ou em ambos, ou em virtude de lem-
branas de colonizao e migrao e nutrem uma cren-
a subjetiva na procedncia comum, de tal modo que
esta se torna importante para a propagao das relaes
comunitrias, sendo indiferente se existe ou no uma
comunidade de sangue efetiva (Weber, 2004, p. 270).
3 O processo que leva titulao longo e tem a par-
ticipao de duas entidades pblicas com atribuies
diferentes, sendo que um terceiro pode atuar em nvel
estadual. O primeiro a Fundao Cultural Palma-
res (FCP), do Ministrio da Cultura, responsvel por
emitir o certicado de reconhecimento comunida-
de como quilombola. Depois disso, seu registro no
Cadastro Geral dos Remanescentes de Quilombos
da Fundao Cultura Palmares. O segundo rgo a
atuar, j no processo de titulao dos territrios, no
nvel federal o Incra (Instituto Nacional de Colo-
nizao e Reforma Agrria) podendo, ainda, contar
com o trabalho dos Iter (Instituto de Terras do Es-
tado) quando a terra demandada envolver o espao
territorial estadual. O processo obedece ainda s se-
guintes etapas: abertura; caracterizao da comunida-
de; produo do Relatrio Tcnico de Identicao
e Delimitao (RTID); ocorrem, simultaneamente, a
publicao e a consulta a rgos e entidades envolvi-
das no processo; julgamento das contestaes e mani-
festaes contrrias titulao; Portaria do presidente
do Incra reconhecendo e declarando os limites das ter-
ras do territrio quilombola; aps esta medida, o pro-
cesso pode seguir diferentes caminhos dependendo do
caso (envio para a Secretaria de Patrimnio da Unio;
ou envio para o governo estadual; desapropriao, ou
anulao de ttulos viciados; reassentamento de pos-
seiros). Trilhado algum desses caminhos, procedem-se
a demarcao fsica, outorga do ttulo e o registro em
cartrio. Tal percurso extremamente moroso po-
dendo durar vrios anos e no raras vezes at dcadas.
Cf. <http://www.cpisp.org.br/terras/html/comoseti-
tula_caminho.html>. Fonte: CPISP. Disponvel em
<http://www.cpisp.org.br/terras/>.
4 Fonte: CPISP. Disponvel em <http://www.cpisp.org.
br/terras/>. Estes dados por si s dramticos tornam-
-se mais graves quando se analisa que nos estados
com maior nmero de titulao o processo ocorreu
antes mesmo da regularizao da poltica fundiria
quilombola e fruto ou de vontade poltica local ou
da utilizao de outras legislaes ambientais, como
no caso do Par.
5 Em consonncia com Max Weber, busca-se compreen-
der as relaes sociais; portanto, trata-se de uma inter-
pretao da ao em termos de signicado subjetivo da
ao. Busca-se compreender a questo como um fato
carregado de sentido, isto , como algo que aponta
para outros elementos, e somente em funo dos quais
poderia ser conhecido em toda a sua amplitude.
6 Embora no presente estudo a anlise recaia nos termos
no debate entre Jurgen Habermas e Nancy Fraser, de-
ve-se ressaltar que Hannah Arendt uma das precur-
soras do conceito de espao pblico na modernidade
tardia. Para aprofundamento da obra de Arendt, ver
Canovan (1994).
7 Avritzer (1996, p. 18) aponta que, embora Habermas
indique que a modernidade no precisa ser identica-
da com a inevitabilidade dos processos de burocratiza-
o, ele tambm percebe a existncia de uma tenso
entre o crescimento da racionalidade de meios, pr-
pria administrao burocrtica vigente no Estado
moderno, e os princpios organizativos de uma esfera
baseada na interao social.
8 Sarmento arma que o art. 68 do ADCT, alm de
proteger direitos fundamentais dos quilombolas, visa
tambm salvaguarda de interesses transindividuais
de toda a populao brasileira (2007, p. 85). Portan-
to, na perspectiva desse autor, a garantia do direito
quilombola liga-se prpria preservao do patrim-
nio cultural do pas.
9 Embora o presente estudo mantenha o foco nas for-
mas de representao no-eleitoral para se pensar
a questo quilombola, concordamos com Avritzer
quando esse arma que desejvel que uma recons-
truo adequada do conceito de representao reforce
tanto os seus elementos eleitorais quanto os no-elei-
torais [] (Avritzer, 2007, p. 456).
10 Almeida indica que a luta pelo direito estas terri-
torialidades j conhecia diversas formas de organi-
zao e resistncia muito antes da Constituio de
1988. Ele indica que o direito garantido neste apa-
rato Constitucional resultante de intensas mobi-
lizaes, acirrados conitos e lutas sociais que impu-
seram as denominadas terras de preto, mocambos,
lugar de preto e outras designaes que consolidaram
de certo modo as diferentes modalidades de territo-
rializao das comunidades remanescentes de qui-
lombos (2006, p. 33).
11 Para uma denio processual do conceito de quilom-
bo e sua ressignicao quilombola, recomenda-se a
leitura de Marques (2009), principalmente as subse-
es deste trabalho: Quilombo enquanto denio
13006_RBCS81_AF3d.indd 149 3/20/13 12:02 PM
150 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 28 N 81
cientca; A ressignicao da ideia de quilombo;
De quilombos a quilombolas.
12 Redigidos por pesquisadores da UFMG, integrantes
do NuQ (Relatrio Antropolgico Comunidade de
Mumbuca e Relatrio Antropolgico Comunidade
de Marques).
13 Faz-se necessrio armar que no defendemos tratar
as terras quilombolas como propriedade comunais no
sentido adotado pela maioria dos marxistas (para uma
leitura aprofundada sobre territorialidade quilombola,
ver Marques (2008, cap. 5). A utilizao desse cnone
tem como nalidade rearmar o quo recente o sur-
gimento da propriedade privada e desta forma dsna-
turalizar esse tipo de ocupao e seu discurso. Dito de
outro modo, trata-se de desvelar a forma de ocupao
fundiria brasileira e inverter o discurso conservador
que fala em oportunismo por parte dos quilombolas.
A partir de uma leitura mais profunda da ocupao
fundiria brasileira percebe-se que os oportunistas so
os grandes latifundirios e seus mtodos pouco orto-
doxos de legitimao de terras. Por conseqncia isso
nos indicaria outro anco deste debate, os diferentes
modos de acesso ao sistema jurdico e o comporta-
mento deste poder como um brao de imposio de
vontade das minorias dominantes.
14 A Fundao Cultural Palmares (FCP) uma funda-
o do governo federal, cuja criao foi autorizada
pela Lei n 7.668/88 e materializada pelo Decreto n
148/92, com a nalidade de promover a cultura negra
e suas vrias expresses no seio da sociedade brasileira.
15 Ela chamada de Constituio Cidad por seu amplo
carter democrtico, inclusivo, fruto da mobilizao e
da participao dos movimentos sociais, polticos, re-
ligiosos, ecolgicos etc. reunidos sob a rubrica de pro-
gressistas e organizados em grande parte nos ns dos
chamados anos de chumbo da ditadura militar. A fei-
o cidad de nossa Constituio, por inuncia des-
ses movimentos, permite sermos, ainda que somente
na teoria e no na prtica, uma das sociedades mais
avanadas em termos constitucionais, quer no campo
dos direitos humanos, dos direitos de minorias, dos
direitos sociais e previdencirios, quer em relao a
temticas especcas, tais como o direito das crianas e
dos adolescentes, dos portadores de necessidades espe-
ciais, ou o que nos interessa em particular neste estu-
do, os direitos de grupos tnicos especcos, tais como
indgenas e quilombolas. necessrio rearmar que
tais direitos no so uma ddiva do poder legislativo
reunido na Constituinte, mas uma conquista rdua e
tensa dos movimentos sociais em torno de cada um
dos artigos constitucionais. Ademais, no devemos
nos esquecer de que essas conquistas no so deni-
tivas, estando em constante disputa com outras foras
ativas na sociedade, que enxergam esses direitos como
nocivos. O jurista Jos Afonso da Silva assim se re-
porta Constituio: dentro e vista dessas circuns-
tncias, fez-se uma obra, certamente imperfeita, mas
digna e preocupada com os destinos do povo sofredor.
Oxal se cumpra, porque nisso que est o drama
das Constituies voltadas para o povo: cumprir-se
e realizar-se, na prtica como se prope nas normas,
porque uma coisa tm sido as promessas, outra a rea-
lidade (Silva, 1991, p. 723).
16 Benedito Souza Filho (2008, p. 26) cita Paula Andrade
(2003, p. 37) a respeito da distino entre categorias
analticas, elaboradas como ferramentas tericas, e
categorias nativas, adotadas pelos prprios campone-
ses para se autodenir. Acreditamos que tal distino
essencial para se entender a problemtica quilombola.
17 Segundo Miranda Rosa (1999), h trs modos de en-
carar o fenmeno jurdico e sua inter-relao: teoria
normativo-dogmtica, que diz respeito atividade
prossional dos juristas como analistas de um con-
junto sistemtico de normas apresentadas quase como
dogmas (jurista tradicional); losoa do direito, mais
preocupada com a natureza do direito e de sua signi-
cao essencial; sociologia do direito, que entende o
direito como um fato social que busca captar a reali-
dade jurdica em anidade com causas e princpios
vericveis.
18 Este reconhecimento pode resultar em mltiplas for-
mas de partilha tais como, identidades duais, iden-
tidades hbridas, interidentidade e transidentidade
mas todas elas devem orientar-se pela seguinte pauta
transidentitria e trasncultural: temos o direito de ser
iguais quando a diferena nos inferioza e a ser diferen-
tes quando a igualdade nos descaracteriza" (Santos,
2002, p. 75).
19 A partir do Decreto 4.887/2003, coube Fundao
Cultural Palmares organizar um cadastro geral das
comunidades quilombolas, visando emitir uma cer-
tido de autodenio a esses grupos. No art. 3 do
referido decreto, dene-se a atribuio do Instituto
Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (Incra):
Compete ao Ministrio do Desenvolvimento Agr-
rio, por meio do Instituto Nacional de Colonizao
e Reforma Agrria Incra, a identicao, reconheci-
mento, delimitao, demarcao e titulao das terras
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos, sem prejuzo da competncia concorrente
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios
(Decreto 4887/2003, art. 3).
13006_RBCS81_AF3d.indd 150 3/20/13 12:02 PM
A CONSTITUIO DE 1988 E A RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS 151
20 Apresentaremos apenas os casos, sem uma interpreta-
o, j que o espao restrito deste artigo no permi-
tiria uma anlise mais aprofundada. Ver, para isso, a
tese Justia seja feita: direito quilombola ao territrio, de
Lilian Gomes (2009).
21 O interesse na rea deve-se, sobretudo, construo
da BR-101. Conforme Gusmo, antes mesmo de ser
construda, a estrada possibilita uma intensa especu-
lao, marcada por processos violentos de expulso e
expropriao do homem do campo (1996, p. 125).
22 A titulao de Rio das Rs ocorreu em 14 de julho de
2000. Para mais detalhes, ver <http://www.cpisp.org.
br/terras/asp/cha_resumo.asp?terra=t&tipo=t&codi
go=20022>.
23 Nas palavras de Almeida: Entendo que o processo
social de armao tnica, referido aos chamados qui-
lombolas, no se desencadeia necessariamente a partir
da Constituio de 1988, uma vez que ela prpria
resultante de intensas mobilizaes, acirrados con-
itos e lutas sociais que impuseram as denominadas
terras de preto, mocambos, lugar de preto e outras de-
signaes que consolidaram de certo modo as diferen-
tes modalidades de territorializao das comunidades
remanescentes de quilombos (2006, p. 33).
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Alfredo W. B de. (1996), Quilombos:
sematologia face a novas identidades, in So-
ciedade Maranhense de Direitos Humanos &
Centro de Cultura Negra do Maranho (orgs.),
Frechal terra de preto: quilombo reconhecido
como reserva extrativista, So Lus, s. ed., pp.
11-19.
. (2002), Os quilombos e as novas et-
nias, in, Eliana C. ODwyer (org.), Quilom-
bos: identidade tnica e territorialidade, Rio de
Janeiro, FGV, pp. 83-108.
. (2006), Terras de quilombo, terras in-
dgenas, babauais livres, castanhais do povo,
faxinais e fundos de pasto: terras tradicionalmen-
te ocupadas. Manaus, PPGSCA-UFAM.
ARENDT, Hannah. (1989), As origens do totalita-
rismo. So Paulo, Cia. das Letras.
ARRUTI, Jos Maurcio A. P. (2003), O quilom-
bo conceitual: para uma sociologia do artigo
68 do ADCT. Texto para discusso, Projeto
Egb Territrios Negros (Koinonia), Rio de
Janeiro, Koinonia Ecumnica.
. (2006), Mocambo: antropologia e his-
tria do processo de formao quilombola. Bauru
(SP), Edusc.
AVRITZER, Leonardo. (1996), A moralidade da
democracia: ensaios em teoria habermasiana e
teoria democrtica. So Paulo/Belo Horizonte,
Perspectiva/Editora da UFMG (srie Debates,
272).
. (1999), Teoria crtica e teoria demo-
crtica: do diagnstico da impossibilidade da
democracia ao conceito de esfera pblica. No-
vos Estudos Cebrap, 53: 167-188.
. (2007), Sociedade civil, instituies
participativas e representao: da autorizao
legitimao da ao. Dados, 50 (3): 443-464.
AVRITZER, Leonardo & COSTA, Srgio. (2004),
Teoria crtica, democracia e esfera pblica:
concepes e usos na Amrica Latina. Dados,
47 (4): 703-728.
BARTH, Fredrik. (1998), Os grupos tnicos e
suas fronteiras, in P. Poutignat e J. Streiff-Fe-
nart (orgs.), Teorias da identidade, So Paulo,
Editora da Unesp, pp. 185-227.
BOHMAN, J. (1996), Public deliberation. Cam-
bridge, MIT Press.
CARDOSO DE OLIVEIRA, L. R (2002), Direito
legal e insulto moral: dilemas da cidadania no
Brasil, Quebec e EUA. Rio de Janeiro, Relume
Dumar.
CANOVAN, M. (1994), Politics as culture: Han-
nah Arendt and the public realm, in L. Hin-
chman e S. Hinchman (eds.), Hannah Arendt:
critical essays. Nova York, University of Nova
York Press.
CASTELO, Graziela; HOUTZAGER, Peter &
LAVALLE, Adrin Gurza. (2006), Democra-
cia, pluralizao da representao e sociedade
civil. Lua Nova, 67.
COMAROFF, J. & COMAROFF, J. (2010), Et-
nograa e imaginao histrica. Proa-Revista
de Antropologia e Arte, 1 (2). Disponvel em
<http://www.ifch.unicamp.br/proa/traducoe-
sII/comaroff>, acessado em maro de 2011.
DORIA, Siglia Z. (1995). O quilombo do Rio
das Rs, in Eliana C. ODwyer (org.), Terra de
13006_RBCS81_AF3d.indd 151 3/20/13 12:02 PM
152 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 28 N 81
quilombos, Rio de Janeiro, Edio ABA As-
sociao Brasileira de Antropologia, pp. 3-34.
DORIA, Siglia Z. & CARVALHO, Jos Jorge.
(1996), O processo de ocupao do da regio
do Rio das Rs, in Jos Jorge Carvalho (org.),
O quilombo do Rio das Rs: histrias, tradies,
lutas, Salvador, EDUFBA, pp. 83-114.
DUMONT, Louis. (1985), Do indivduo-fora-
-do-mundo ao indivduo-no-mundo, in Lou-
is Dumont, O individualismo: uma perspectiva
antropolgica da ideologia moderna, Rio de Ja-
neiro, Rocco, pp. 35-71.
DUPRAT, Deborah. (2002), Breves considera-
es sobre o Decreto n 3.912/01, in Eliana
ODwyer (org.), Quilombos: identidade tnica
e territorialidade, Rio de Janeiro, FGV, pp.
281-289.
. (2007), O direito sob o marco
da plurietnicidade/multiculturalidade, in
(org.), Pareceres jurdicos: direito
dos povos e comunidades tradicionais, Manaus,
Edies PPGSCA, pp. 9-19 (col. Documentos
de Bolso, 2).
FRASER, Nancy. (1988), Whats critical about
critical theory? The case of Habermas and
Gender, in Seyla Benhabib e Drucilla Cor-
nell, Feminism as critique, Mineapolis, Univer-
sity of Minnesota Press, pp. 31-55.
. (1992), Rethinking the public sphe-
re: a contribution to the critique of actually
existing democracy, in Craig Calhoun (org.),
Habermas and the public sphere, Cambridge,
Massachusetts Institute of Technology.
. (2007), Identity, exclusion, and criti-
que: a response to four critics. European Jour-
nal of Political Theory, pp. 305-338.
GIDDENS, Anthony. (1991), As consequncias da
modernidade. So Paulo, Editora da Unesp.
GOMES, L. C. B. (2009), Justia seja feita: direito
quilombola ao territrio. Belo Horizonte, tese
de doutorado em cincia poltica, Universida-
de Federal de Minas Gerais.
GUSMO, Neusa Maria Mendes de. (1996), Terra
de pretos: terra de mulheres. Braslia, Biblioteca
Palmares.
HABERMAS, Jrgen. (1984), Mudana estrutural da
esfera pblica. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.
. (1987), Teoria de la accion comunicati-
va. Madrid Taurus.
HOLSTON, James. (2008), Insurgent citizenship:
disjunctions of democracy and modernity in Bra-
zil. Princenton, Princeton University Press.
LEITE, Ilka Boaventura. (2003), Quilombos:
questes conceituais e normativas. Ncleo de
Estudos Agrrios e Desenvolvimento Rural, 1:
1-5.
LIMA, Dborah de Magalhes. (2008), Firmados
na terra: a produo do signicado de terri-
trio em dois quilombos de Minas Gerais.
Trabalho apresentado no 32 Encontro Anu-
al da Anpocs, Caxambu, 27 a 31 de outubro.
Disponvel em <http://200.152.208.135/
anpocs/trab/adm/impressao_gt. php?id_
grupo=36&publico=S>.
MAUSS, Marcel. (1974), Uma categoria do esp-
rito humano: a noo de pessoa, a noo do
eu, in , Sociologia e antropologia,
So Paulo, EPU/Edusp.
MARQUES, C. E. (2008), Remanescentes das co-
munidades de quilombos: da resignicao ao
imperativo legal. Dissertao de mestrado, Belo
Horizonte, Faculdade de Filosoa e Cincias
Humanas da Universidade Federal de Minas
Gerais.
. (2009). De quilombos a quilombo-
las: notas sobre um processo histrico-etnogr-
co. Revista de Antropologia, 52 (1): 339-374.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. (2008), Ma-
nifesto do Partido Comunista. Disponvel em
<http://vermelho.org.br/img/obras/manifes-
to_comunista.asp>.
MIRANDA ROSA, F. A. (1999), Posio e au-
tonomia da sociologia do direito, in Claudio
Souto e Joaquim Falco (orgs.), Sociologia e di-
reito: textos bsicos para a disciplina de sociologia
jurdica, So Paulo, Pioneira, pp. 3-9.
PITKIN, Hanna F. (1985), El concepto de represen-
tacion. Madri, Centro de Estdios Constitu-
cionales.
RIOS, Aurlio Virglio. (2007), Quilombolas na
perspectiva da igualdade tnico-racial: razes, con-
ceitos, perspectivas, in Deborah Duprat (org.),
Pareceres jurdicos: direitos dos povos e comunidades
tradicionais, Manaus, UEA, pp. 105-142.
13006_RBCS81_AF3d.indd 152 3/20/13 12:02 PM
A CONSTITUIO DE 1988 E A RESSIGNIFICAO DOS QUILOMBOS 153
SAHLINS, Marshall. (1990), Ilhas de histria. Rio
de Janeiro, Jorge Zahar Editor.
SARMENTO, Daniel. (2007), A garantia do di-
reito posse dos remanescentes de quilombos
antes da desapropriao, in Deborah Duprat
(org.), Pareceres jurdicos: direitos dos povos e
comunidades tradicionais, Manaus, UEA, pp.
77-104.
SILVA, Dimas Salustiano. (1995), Constituio e
diferena tnica: o problema jurdico das co-
munidades negras remanescentes de quilombo
no Brasil, in Eliana ODwyer (org.), Terra de
quilombos, Rio de Janeiro, Edio ABA Asso-
ciao Brasileira de Antropologia, pp. 95-110.
SANTOS, Boaventura de Sousa. (2002), Os pro-
cessos de globalizao, in Boaventura de Sou-
sa Santos (org.), A globalizao e as cincias so-
ciais, So Paulo, Cortez, pp. 25-104.
SOUZA-FILHO, Benedito. (2008), Os pretos de
Bom Sucesso: terra de preto, terra de santo, terra
comum. So Lus, EDUFMA.
THORNE, Eva. (2004), Ethnic and race-based
political organization and mobilization. in
Mayra Buvinic, Jacqueline Mazza e Ruthanne
Deutsch, Social inclusion and economic develo-
pment in America Latina, Inter-American De-
velopment Bank, pp. 307-331.Latin America:
Lessons for Public Policy.
TRECCANNI, Girolamo Domenico. (2006), Ter-
ras de quilombo: caminhos e entraves do processo
de titulao. Belm, s.e.
WEBER, Max. (2004), Relaes comunitrias
tnicas, in , Economia e sociedade,
So Paulo, Imprensa Ocial/Editora da UnB,
vol. 1.
YOUNG, Iris Marion. (2002), Inclusion and demo-
cracy. Oxford, Oxford University Press.
ZARET, D. (1992), Religion, science, and prin-
ting in the public spheres in Seventeenth- Cen-
tury England, in C. Calhoun (ed.), Habermas
and the public sphere, Cambridge, MIT Press,
pp. 212-235.
13006_RBCS81_AF3d.indd 153 3/20/13 12:02 PM
RESUMOS / ABSTRACTS / RESUMS 255
A CONSTITUIO DE 1988
E A RESSIGNIFICAO
DOS QUILOMBOS
CONTEMPORNEOS: LIMITES E
POTENCIALIDADES
Carlos Eduardo Marques e
Llian Gomes
Palavras-chave: Comunidades quilom-
bolas; Reconhecimento; Redistribuio;
Direito tnico; Justia.
O artigo pretende analisar a questo do
direito das comunidades tradicionais qui-
lombolas no Brasil a partir de uma pers-
pectiva poltico antropolgica. A anlise
focaliza a crescente visibilidade do direito
tnico na esfera pblica brasileira e sua te-
matizao na tripla dimenso de justia,
qual seja, reconhecimento de identidades
e direitos, redistribuio material e sim-
blica e representao poltica. Pretende-
-se investigar as caractersticas decorrentes
do fato de esta identidade aparecer no
plano do direito legislativo, visto que
o art. 68 do Ato das Disposies Cons-
titucionais Transitrias da Constituio
Federal de 1988 que inaugura esta forma
passadista de reinscrio das comunidades
quilombolas no presente, muito mais vol-
tado para o passado do que pela capaci-
dade de esses grupos resignicarem suas
prticas diante dos desaos e das contin-
gncias impostas pelo contexto socioeco-
nmico e poltico atual.
THE CONSTITUTION OF
1988 AND THE REASSIGNED
SIGNIFICATION OF
CONTEMPORARY QUILOMBOS:
LIMITS AND POTENTIALITIES
Carlos Eduardo Marques and
Lilian Gomes
Keywords: Quilombola communities;
Recognition; Redistribution; Ethnic
Rights; Justice.
The article analyses the issue of the rights
of traditional quilombola communities in
Brazil through a politico-anthropological
perspective. The analysis is centered on
the growing visibility of ethnic rights
in the Brazilian public sphere and their
thematic constitution in the triple di-
mension of justice: identity and rights
recognition, material and symbolical
redistribution, and political representa-
tion. The investigation focuses on the
characteristics resulting from the fact
that such identity appears rather as an
outcome of the legislative right for it is
the article 68 of the Temporary Consti-
tutional Provisions of the Constitution
of 1988 that, looking back to the past,
inaugurates this form of reintroducing
the quilombola issue into present times
than as a consequence of the abilities of
these groups in re-signifying their prac-
tices in face of the challenges and the
contingencies imposed by the present
socioeconomic context.
LA CONSTITUTION DE 1988
ET LA RESSIGNIFICATION DES
QUILOMBOS CONTEMPORAINS :
LIMITES ET POTENTIALITS
Carlos Eduardo Marques et
Llian Gomes
Mots-cls: Communauts quilombolas;
Reconnaissance; Redistribution; Droit
ethnique; Justice.
Larticle propose une analyse de la ques-
tion du droit des communauts quilom-
bolas traditionnelles au Brsil partir
dune perspective politique et anthro-
pologique. Lanalyse se centre sur la visi-
bilit croissante du droit ethnique dans
la sphre publique brsilienne et de sa
thmatisation dans la triple dimension
de justice, cest--dire, la reconnaissance
didentits et de droits, la redistribution
matrielle et symbolique et la reprsen-
tation politique. Nous proposons de
rechercher les caractristiques qui d-
coulent du fait que cette identit apparait
sur le plan du droit lgislatif tant donn
que cest larticle 68 de lActe es Dispo-
sitions Constitutionnelles Transitoires
de la Constitution de 1988 qui inaugure
cette forme passiste de rinscription des
communauts quilombolas dans le pr-
sent et qui est davantage tourne vers le
pass que par la capacit de ces groupes
de resignier leurs pratiques face aux
ds et aux contingences imposes par
lactuel contexte socioconomique et
politique.
13006_RBCS81_AF3d.indd 255 3/20/13 12:02 PM
Você também pode gostar
- Exercícios - 1. Direito e Garantias Fundamentais (Art. 5º Ao 17 Da C.F.)Documento4 páginasExercícios - 1. Direito e Garantias Fundamentais (Art. 5º Ao 17 Da C.F.)Estelita PereiraAinda não há avaliações
- Cartilha Plano Diretor - CópiaDocumento70 páginasCartilha Plano Diretor - CópiaCarlos Eduardo MarquesAinda não há avaliações
- Lifschitz Neocomunidades Reconstruções de Territorios e SaberesDocumento20 páginasLifschitz Neocomunidades Reconstruções de Territorios e SaberesCarlos Eduardo MarquesAinda não há avaliações
- Gupta e Ferguson Mais Alem Da CulturaDocumento20 páginasGupta e Ferguson Mais Alem Da CulturaCarlos Eduardo MarquesAinda não há avaliações
- As Lendas Da Criação e Destruição Do Mundo-Curt Nimuendaju UnkelDocumento85 páginasAs Lendas Da Criação e Destruição Do Mundo-Curt Nimuendaju UnkelCarlos Eduardo Marques100% (1)
- Callinne Da Silva SantosDocumento16 páginasCallinne Da Silva SantosCainã CarvalhoAinda não há avaliações
- Deus Criou o Mal - Compreendendo Isaías 45 7 À Luz Do Contexto BíblicoDocumento2 páginasDeus Criou o Mal - Compreendendo Isaías 45 7 À Luz Do Contexto BíblicoHenrique CafeAinda não há avaliações
- Direito Cambiário PDFDocumento37 páginasDireito Cambiário PDFNadya PeanutsAinda não há avaliações
- Normas e Diretrizes para Elaboração de Atos Normativos Da PresidênciaDocumento23 páginasNormas e Diretrizes para Elaboração de Atos Normativos Da PresidênciaairesrAinda não há avaliações
- Servidão AdministrativaDocumento7 páginasServidão AdministrativaAkira KobayashiAinda não há avaliações
- pAChA MAMA - Os Direitos Da nAturezA e o Novo ConstituCionAlisMo Na AMériCA lAtinADocumento24 páginaspAChA MAMA - Os Direitos Da nAturezA e o Novo ConstituCionAlisMo Na AMériCA lAtinAdankaduarteAinda não há avaliações
- Estatuto-Completo PC RJDocumento82 páginasEstatuto-Completo PC RJrodrigovdesouzaAinda não há avaliações
- in103SEGES SEDGGD MEDocumento11 páginasin103SEGES SEDGGD MEHerman AlvesAinda não há avaliações
- Livro Galileu 2021 - Direitos Fundamentais - Íntegra - 2021-08-19Documento346 páginasLivro Galileu 2021 - Direitos Fundamentais - Íntegra - 2021-08-19Ludmilla TideiAinda não há avaliações
- FACUMINASDocumento23 páginasFACUMINASMárcia Katsue Kumagai Itoga DutraAinda não há avaliações
- Casa Verde BancoopDocumento5 páginasCasa Verde BancoopCaso BancoopAinda não há avaliações
- Simulado 02 - ThiagoDocumento4 páginasSimulado 02 - ThiagoVinícius FavaretoAinda não há avaliações
- ACS-ACE NOTA JURÍDICA CONASEMS (Inexistência de Direito de Incentivo Adicional-14º)Documento12 páginasACS-ACE NOTA JURÍDICA CONASEMS (Inexistência de Direito de Incentivo Adicional-14º)Nefertite AragãoAinda não há avaliações
- Cronograma 150 Dias - OAB 40ºDocumento25 páginasCronograma 150 Dias - OAB 40ºLailaViannaAinda não há avaliações
- Impugnação À Contestação em Revisional de Contrato de Trespasse 2Documento22 páginasImpugnação À Contestação em Revisional de Contrato de Trespasse 2Sanmatta Raryne SouzaAinda não há avaliações
- Contrarrazões Recursais INSSDocumento3 páginasContrarrazões Recursais INSSJunior SousaAinda não há avaliações
- Bi Nr. - 48 02066-40 BPM - 2 RPMDocumento50 páginasBi Nr. - 48 02066-40 BPM - 2 RPMendireitando.mjAinda não há avaliações
- Apostila Curso Terceirização e Contratação Do Motorista AutônomoDocumento13 páginasApostila Curso Terceirização e Contratação Do Motorista AutônomoRubia BalestriAinda não há avaliações
- Mapa Mental AdmDocumento11 páginasMapa Mental AdmLUANA BARBOSA FERREIRA100% (1)
- Princípios Fundamentais Do Direito Dos ContratosDocumento12 páginasPrincípios Fundamentais Do Direito Dos ContratosArmando António InácioAinda não há avaliações
- O Dilema Do PrisioneiroDocumento7 páginasO Dilema Do PrisioneirodidradeAinda não há avaliações
- Protocolo Cadastro Prefeitura de São Paulo PDFDocumento4 páginasProtocolo Cadastro Prefeitura de São Paulo PDFEdson LiberatoAinda não há avaliações
- Primeira Avaliacao Parcial DtiiDocumento8 páginasPrimeira Avaliacao Parcial DtiiADELMO SANTIAGO SABINOAinda não há avaliações
- Modelo Procuração Do Vendedor (PDF) - Luiz Coelho ImóveisDocumento2 páginasModelo Procuração Do Vendedor (PDF) - Luiz Coelho ImóveisrofresiAinda não há avaliações
- 20 - Crimes Contra A Administração Pública - Parte VDocumento36 páginas20 - Crimes Contra A Administração Pública - Parte Vevangelista.helidaAinda não há avaliações
- Proc. Trabalho - TRT 3 Aula 06 PDFDocumento204 páginasProc. Trabalho - TRT 3 Aula 06 PDFFlávio GomesAinda não há avaliações
- Tabela Lei Seca PC SPDocumento4 páginasTabela Lei Seca PC SPLarissa BorgesAinda não há avaliações
- Caderno de Questões Direito Do ConsumidorDocumento6 páginasCaderno de Questões Direito Do Consumidoramanda crippaAinda não há avaliações