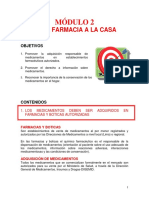Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
7 Art Copaiba
7 Art Copaiba
Enviado por
Gabriel Oliveira de SouzaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
7 Art Copaiba
7 Art Copaiba
Enviado por
Gabriel Oliveira de SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
36
ARTIGO
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
37
EMULSO DERMATOLGICA BASE DE COPABA
Alexandre B. Pontes,
Denise Z. Correia,
Marcio S. Coutinho e
Cheila G. Moth*
Universidade Federal
do Rio de Janeiro
Escola de Qumica
*Autor para correspondncia:
UFRJ Escola de Qumica
Centro de Tecnologia Bloco E
Cidade Universitria
21949-900. Rio de Janeiro. RJ
E-mail: cheila@eq.ufrj.br
Resumo
Foram preparadas emulses dermatolgicas com diferentes componentes: leo de
copaba bruto, fraes diterpnicas e sesquiterpnicas do leo bruto e leo mineral.
As fraes diterpnicas e sesquiterpnicas foram obtidas por cromatografia em coluna.
Os leos de copaba bruto e comercial foram caracterizados por reologia e espectro-
fotometria na regio do infravermelho e, por essas tcnicas, verificou-se a no auten-
ticidade do leo comercial. A anlise reolgica das diferentes emulses foi realizada a
fim de avaliar a influncia das diferentes composies no comportamento reolgico
das emulses.
Palavras-chave: copaba, emulso, reologia
Summary
Dermatological emulsions were prepared with different components: crude copaiba
oil, crude oil diterpenic and sesquiterpenic fractions and mineral oil. The diterpenic and
sesquiterpenic fractions were obtained by chromatography in column. The crude and
commercial copaiba oils were characterized by rheology and infrared spectrometry
and, by these techniques, no authenticity of commercial oil was verified. The rheologi-
cal analysis of different emulsions was realized to evaluate the aditive influence in the
rheological behavior of emulsions.
Keywords: copaiba, emulsion, rheology
Introduo
Desde os tempos mais remotos, os gregos, egpcios e
outros povos j utilizavam as plantas para o tratamento
das doenas da humanidade. Estes conhecimentos foram
levados ao novo mundo e usados, principalmente, pelas
camadas menos favorecidas. Com o desenvolvimento da
medicina moderna, dos antibiticos e com o advento da
qumica sinttica, a importncia das plantas decresceu. Po-
rm, devido aos problemas causados pelo uso indiscrimi-
nado e aos preos abusivos dos medicamentos de origem
sinttica, nas ltimas dcadas o uso das plantas medicinais
ressurgiu (Rodrigues et al., 2002).
A tendncia mundial em busca de maior equilbrio
ecolgico fez com que surgisse, principalmente nos pases
mais desenvolvidos, certa resistncia por parte dos consu-
midores ao uso de produtos sintticos, que estariam as-
sociados contaminao do meio ambiente, provocando
doenas atravs do consumo ou do uso em seres humanos
(www.mre.gov.br, 2002).
Com o incio do uso dos compostos medicinais, co-
mearam a surgir os cosmticos tal palavra tem origem
grega kosm tikos, que significa ter o poder de decorar
(Santos, 2002).
A nova configurao scio-econmica associada s ne-
cessidades das pessoas em relacionar-se em seu ambiente de
trabalho, em seus deslocamentos nas grandes metrpoles,
mudou completamente o tradicional conceito de produtos
de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. Deixaram de ser
consumidos apenas como algo para se enfeitar para serem
algo necessrio para se conviver. Penetraram no cotidiano
das pessoas e se tornaram um abre portas, pois passaram
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
36
ARTIGO
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
37
a ser uma exigncia do moderno convvio social. Uma nova
dimenso estratgica da indstria da beleza o surgimento
de produtos associados idia de tratamento. A nova ordem
agora no se limita apenas ao embelezamento, mas tambm
ao cuidado com a sade e ao bem estar (Cavalcanti, 2002).
O uso de plantas medicinais em tais produtos, ento
denominados de fitocosmticos, enquadrando-se na viso
anterior, caracterizam uma nova classe para a indstria da
beleza a cosmecutica - (do ingls, cosmetics + pharmaceu-
ticals) (www.quimica.com.br, 2003).
A copaba (Copafera sp.), rvore bastante conhecida na
regio amaznica (Figura 1), um exemplo de recurso que
pode ser manejado dentro do conceito de sustentabilidade,
representando uma alternativa vivel de diversificao dos
produtos no-madeireiros (www.mre.gov.br, 2002). O leo
de copaba, em termos biolgicos, um produto de excre-
o ou desintoxicao do organismo vegetal, e funciona
como defesa da planta contra animais, fungos e bactrias.
O leo-resina que extrado da rvore possui proprieda-
des medicinais reconhecidas na medicina popular desde a
poca do seu descobrimento, fato que sempre despertou
interesse pela espcie, alm de ter ampla utilizao na fa-
bricao de produtos cosmticos como sabonetes e xampus
(www.sbq.org.br, 2002). O leo de copaba tambm
matria-prima para vernizes, lacas, tintas, fixadores de per-
fumes, fabricao de papel e produtos medicinais, nos quais
tm indicao para diversas enfermidades (Tabela 1) (Veiga
Jr & Pinto, 2002; Veiga Jr, 1997).
O processo de extrao do leo de copaba ainda artesanal.
Usando um furador, perfura-se a rvore a 60 ou 70 centmetros
do cho, at o centro do caule. Em seguida, coloca-se um pedao
de metal ou um cano embaixo do orifcio para que o leo escoe
at um recipiente colocado no cho. Se o leo no sair, pode-se
utilizar fogo na base do tronco para aquecer a resina. Deixa-se
o leo escorrer por alguns
dias, e ao final da colheita,
tampa-se o orifcio com um
pedao de madeira para no
desperdiar o leo e preve-
nir a infestao de insetos
(www.mre.gov.br, 2002).
A produo e comer-
cializao do leo de co-
paba esto concentradas
nos estados do Amazonas
(maior produtor), Par e
Rondnia. Existem poucas
informaes a respeito do
leo e produtos derivados
de copaba nos mercados
nacional e internacional.
Tabela 1. Indicaes etnofarmacolgicas do leo de
copaba (Veiga Jr & Pinto, 2002)
Local de ao Propriedade farmacolgica
Antiinflamatrio
Anti-sptico
Vias urinrias Cistite
Incontinncia urinria
Sfilis
Bronquite
Pneumonia
Vias respiratrias Sinusite
Antiasmtico
Inflamaes na garganta
Males da pele Dermatite
Psorase
Figura 1. rvore de
copaba (Copafera sp.)
(www.amazonlink.org, 2002)
Historicamente, o Brasil tem sido o maior produtor e
exportador de copaba. Pequenas quantidades so pro-
duzidas pela Venezuela, Colmbia e Guianas. Estima-se
que as exportaes brasileiras de leo de copaba este-
jam por volta de 200 t/ano. Os maiores importadores
do produto so Alemanha, Estados Unidos e Frana
(www.mre.gov.br, 2002). Conforme informaes da CO-
DETEC (Companhia de Desenvolvimento Tecnolgico da
Universidade Estadual de Campinas), o quilo do leo de
copaba vendido no Brasil por cerca de US$ 3.00 o litro,
alcana no exterior, depois de processo simples de puri-
ficao, o valor de US$ 2.000/litro.
Dados atuais de fornecedores de leo de copaba reve-
lam que um pequeno frasco com 30ml de leo de copaba
custa cerca de R$ 5,00 em diversas farmcias de produtos na-
turais do estado do Rio de Janeiro. O litro deste leo em feiras
populares da Amaznia custa em torno de R$ 10,00.
A composio qumica do leo de copaba pode ter
aproximadamente 72 sesquiterpenos (hidrocarbonetos) e
28 diterpenos (cidos carboxlicos), sendo o leo compos-
to por 50% de cada tipo de terpenos. Os 28 diterpenos
descritos nos leos de copaba estudados pertencem aos
esqueletos caurano, labdano e cleorodano. Em estudos
realizados com diversos leos de copaba de vrias regies
do Brasil, o cido coplico foi o nico encontrado em to-
dos os leos analisados. Por esta razo, este diterpeno ci-
do pode ser usado como biomarcador de leos de copaba
(Veiga Jr & Pinto, 2002; Veiga Jr, 1997).
Aos diterpenos so atribudas a maioria das propriedades
teraputicas, fato j comprovado cientificamente (Maciel et
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
38
ARTIGO
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
39
al. , 2002). Eles podem ser considerados como os respons-
veis pela defesa contra predadores, fitfagos, patgenos e
injria mecnica. Entre os sesquiterpenos, algumas proprie-
dades como antilcera, antiviral e anti-rinovrus so descritas
(Veiga Jr & Pinto, 2002).
Este trabalho tem como principal objetivo desenvolver
emulses dermatolgicas base de copaba com diferentes
tipos de formulaes, e avaliar o efeito das mesmas no com-
portamento reolgico das emulses.
Parte experimental
ndice de saponificao e ndice de acidez do leo de copaba
Os ndices de saponificao e acidez foram realizados
segundo as normas ABNT (MB-74, 1951 e MB-75, 1951).
Separao das fraes diterpnica e sesquiterpnica do leo
de copaba bruto
A separao das fraes diterpnica e sesquiterpnica
do leo de copaba bruto foi realizada por cromatografia
em coluna com slica impregnada com KOH. As colunas de
slica foram realizadas conforme procedimento otimizado
por Pinto et al. (1997), derivando da metodologia clssica de
McCarthy & Duthie (1962) e Ramijak (1977).
Preparo da emulso
A emulso base foi preparada a partir da mistura a quen-
te de duas fases distintas: uma fase aquosa e uma fase oleosa,
e agitao mecnica at o resfriamento da mesma. Aps a
obteno da emulso base, foram acrescentados diferentes
componentes: leo de copaba bruto, frao diterpnica,
frao sesquiterpnica e leo mineral, com concentrao
final de aditivo de 5 % p/v. No caso das fraes diterpni-
ca e sesquiterpnica, a concentrao destas foi de 0,71% e
4,1%, respectivamente, e o restante para completar 5% foi
completado com leo mineral. O leo de copaba bruto foi
proveniente do Acre, na Regio Amaznica.
Espectrofotometria na regio do infravermelho
Os ensaios de espectrofotometria na regio do infra-
vermelho foram realizados em um equipamento tipo FTIR
1720X da Perkin Elmer, com pastilhas de AgBr.
Anlise reolgica
O ensaio reolgico do leo de copaba comercial e
bruto foi realizado no remetro Rheo Stress RS 150, da
Haake, com sensores de cilindros concntricos (DG 41 Ti)
e taxa de cisalhamento de 0 a 300 s
-1
. As emulses foram
analisadas no remetro Rheo Stress RS 1, da Haake, com
sensor cone/placa (C35/2 Ti) e taxa de cisalhamento de
0 a 200 s
-1
. As emulses com as fraes diterpnica e ses-
quiterpnica ainda passaram por uma anlise em regime
oscilatrio, com varredura de freqncias de 1 a 100 Hz
(tenso de cisalhamento = 10 Pa e 5 Pa para as fraes
diterpnica e sesquiterpnica, respectivamente). Todas as
anlises foram realizadas a 25C, temperatura esta contro-
lada por um dispositivo de termostatizao: TC81 <--->
RS150 (Peltier TC81)
Resultados e Discusso
ndice de saponificao e ndice de acidez do leo de copaba
A partir dos valores dos ndices de acidez e saponificao
obtidos, Godinho & Vasconcelos (2002) sugerem algumas
concluses descritas na Figura 2.
Os resultados dos ndices de acidez e saponificao
encontrados para as amostras de leo de copaba bruto e
comercial foram:
leo bruto
ndice de acidez................................... 81,4mg KOH/g
ndice de saponificao .........................8,8mg KOH/g
leo comercial
ndice de acidez................................... 85,3mg KOH/g
De acordo com a literatura, os dois leos estariam
adequados para o consumo. Pode-se perceber ainda que
ambos esto concentrados em diterpenos, o que pode ser
constatado pelos elevados valores de ndice de acidez (o
leo comercial, por tal mtodo, demonstra ser mais rico em
diterpenos que o leo bruto).
Figura 2. Diagrama de blocos para avaliao da
autenticidade do leo de copaba (adaptado de Godinho &
Vasconcelos, 2002)
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
40
ARTIGO
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
41 40
ARTIGO
Separao das fraes diterpnica e sesquiterpnica do leo
de copaba bruto
A anlise por peso seco, verificada com a utilizao de
um evaporador rotatrio constatou os seguintes resultados:
Partindo de 8g de leo bruto obteve-se:
1,14g de diterpenos ..........................................14,2%
6,58g de sesquiterpenos ...................................82,3%
Espectrofotometria na regio do infravermelho
As Figuras 3 e 4 mostram os espectros de infravermelho
do leo de copaba comercial e bruto, respectivamente. O leo
comercial apresentou as bandas caractersticas de sua compo-
sio, destacando-se as deformaes axiais de 1640 cm
-1
ca-
racterstica de olefinas, 1741cm
-1
caracterstica de carboxila
de cidos carboxlicos ou stereis, caracterizando a regio dos
diterpenos e as bandas 2953, 2926 e 2859cm
-1
caractersticas
de deformaes axiais de ligao C-H em hidrocarbonetos alif-
ticos, caracterizando a regio dos sesquiterpenos.
O espectro de infravermelho do leo bruto tambm apre-
sentou as bandas caractersticas das regies de hidrocarbonetos
dos sesquiterpenos e de cidos carboxlicos dos diterpenos, como
encontradas no leo comercial 1695 e 1634 cm
-1
referentes
deformao axial de carbonila cida, bandas estreitas e de forte
intensidade em 2929 e 2859cm
-1
caracterstica das deformaes
axiais de hidrocarbonetos alifticos, uma banda larga de fraca in-
tensidade em 3416cm
-1
caracterstica de hidroxila associada,
bandas fortes e estreitas em 1383 e 1367cm
-1
idnticas ao leo
comercial caractersticas de deformao angular de CH
3
e em
especial a banda em 1367cm
-1
que nos diz que o CH
3
est ligado a
carbonila e uma banda fina moderada em 887cm
-1
, igual ao leo
comercial, caracterstica de deformaes angulares de olefinas.
No espectro de infravermelho do leo bruto as bandas foram
mais finas do que as bandas do leo comercial, principalmente na
regio das deformaes axiais das ligaes de hidrocarbonetos.
Figura 3. Espectro de infravermelho do leo de copaba comercial
Figura 4. Espectro de infravermelho da frao diterpnica
Figura 5. Espectro de infravermelho do leo de copaba bruto
Figura 6. Espectro de infravermelho da frao sesquiterpnica
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
40
ARTIGO
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
41
Esse fato ocorreu devido maior pureza do leo bruto. Uma ou-
tra observao importante a presena de trs bandas na regio
de carbonila cida para o leo comercial e apenas duas bandas na
mesma regio para o leo bruto, fato que explica o valor do ndi-
ce de acidez do leo comercial ser da mesma ordem de grandeza
do leo bruto, apesar da grande diferena de viscosidade verifica-
da entre os dois leos pela anlise reolgica (tpico seguinte).
No caso das fraes diterpnicas e sesquiterpnicas (Figu-
ras 5 e 6, respectivamente), no foi possvel a separao total
das fraes no ensaio de cromatografia extrativa, mas apenas
um enriquecimento das mesmas, visto que os espectros apre-
sentaram uma persistncia nas bandas caractersticas de umas
nas outras (em especial a frao sesquiterpnica com as ban-
das 1632 e 1718cm
-1
em forte intensidade, que so caracters-
ticas de carbonilas de cidos carboxlicos e steres).
Outro fato interessante a forte presena da banda larga em
torno de 3400cm
-1
, caracterstica de hidroxila associada e livre,
em ambas as fraes, o que significa que ainda h resduo do
solvente utilizado na extrao das fraes, no caso, o metanol.
A frao diterpnica apresentou-se como a mais pura
devido fraca presena de bandas de hidrocarbonetos satu-
rados (2943 e 2869cm
-1
para deformaes axiais e 889cm
-1
para deformaes angulares) e as bandas intensas de carbo-
nilas cidas, tanto nas deformaes axiais como angulares em
1696 e 1643cm
-1
para axiais e 1246cm
-1
para ligao C-O.
Anlise reolgica
As Figuras 7 e 8 apresentam as curvas de fluxo do leo de
copaba bruto e do leo de copaba comercial. As duas amos-
tras apresentaram comportamento newtoniano. interessante
Figura 7. Curva de fluxo do leo de copaba bruto
observar a grande diferena de viscosidade entre os leos bruto
e comercial. Essa diferena est diretamente relacionada ao teor
de diterpenos, substncia responsvel pela viscosidade do leo
quanto mais diterpenos, mais viscoso o leo. O baixo valor
de viscosidade do leo comercial pode ocorrer devido diluio
desse leo em leo mineral ou leo de soja. Segundo Godinho
& Vasconcelos (2002), a adulterao do leo pode ser verificada
atravs dos ndices de acidez e saponificao. Porm, tomando o
ndice de acidez calculado para o leo comercial como referncia,
este seria considerado autntico, o que no confirmado pelos
valores de viscosidade calculados para os leos bruto e comercial.
As curvas de fluxo das emulses dermatolgicas com os
diferentes componentes so exibidas na Figura 9. Percebe-se
que todas as emulses apresentaram comportamento pseu-
doplstico e que o produto que conferiu maior viscosidade
emulso foi o leo de copaba bruto, seguido da frao diter-
pnica, leo mineral e, finalmente, a emulso com a frao
sesquiterpnica foi a que se mostrou menos viscosa.
A Figura 10 exibe o resultado do ensaio em regime oscila-
trio da emulso dermatolgica com a frao diterpnica, na
qual pode ser observado que o mdulo de armazenamento
(G) foi superior ao mdulo de perda (G), evidenciando que
essa amostra apresentou um comportamento viscoelstico
slido textura de creme espesso.
As curvas da emulso com a frao sesquiterpnica (Figu-
ra 11) do mesmo ensaio em regime oscilatrio mostra o m-
dulo de perda (G) superior ao mdulo de armazenamento
(G), sugerindo que essa emulso dermatolgica apresentou
um comportamento viscoelstico lquido textura de creme
leve, de fcil espalhamento.
Figura 8. Curva de fluxo do leo de copaba comercial
Considerando que o cruzamento das curvas de G e G
definem o rompimento da estrutura do material, quanto
maior a distncia entre tais parmetros, mais estvel o ma-
terial. As emulses formuladas com as fraes diterpnicas e
sesquiterpnicas apresentaram boa estabilidade fsica para a
faixa de freqncias e para as tenses estudadas, visto que o
cruzamento de G e G no foi observado.
Figura 9. Curva de fluxo das emulses com diferentes
composies
Figura 10. Curva de varredura de freqncias da emulso
com frao diterpnica
Figura 11. Curva de varredura de freqncias da emulso
com frao sesquiterpnica
Concluses
Os ndices de saponificao e acidez se mostraram como
uma forma primria de avaliao da autenticidade do leo de
copaba, no devendo ser utilizados sem uma anlise comple-
mentar como, por exemplo, a reologia. O ndice de acidez do
leo comercial apresentou valor superior ao do leo bruto, e
ambos foram considerados autnticos. Entretanto, o leo co-
mercial no pode ser considerado como um leo autntico e
mais rico em diterpenos devido ao baixo valor de viscosidade
apresentado em relao amostra do leo bruto.
Os resultados da anlise reolgica foram bastante efi-
cientes em relao autenticidade do leo de copaba e ao
comportamento das emulses dermatolgicas desenvolvidas
neste trabalho, inclusive constatando uma boa estabilidade
fsica das emulses formuladas com as fraes diterpnicas e
sesquiterpnicas.
Agradecimentos
Os autores agradecem ao Diretor Klaus Gaiser da empresa
Precitech Instrumental Ltda. pela realizao das anlises reolgi-
cas e ao CNPq pelo apoio financeiro.
Referncias
1. Rodrigues IA, Melo AM, Soares MHM. Guia de Plantas Medici-
nais, com nfase s Espcies da Amaznia. Centro de Pes-
quisas Agroflorestal da Amaznia Oriental (CPATU), Laboratrio
de Botnica, Setor de Plantas Medicinais, Belm, PA. 2002.
2. Textos do Indama / MRE; Brasil Novas oportunidades de in-
vestimentos na indstria extrativa vegetal da floresta amaz-
nica. http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/indama-p.htm.
Acesso: 24/10/2002.
3. ht t p: // www. amazonl i nk. or g/ sementesamazoni a/
copaiba.htm. Acesso: 24/10/2002.
4. Santos E. Apostila do Curso de Tecnologia de Cosmticos
Semana da Qumica IQ/UFRJ 2002.
5. Cavalcanti FV. A Cadeia Produtiva de Cosmticos no Brasil
Anlise e Caracterizao do Setor. Dissertao de Mestra-
do. EQ/UFRJ, Rio de Janeiro, 2002.
6. Pachione R. Indstria Avana em Direo ao Cosmtico Ver-
de. http://www.quimica.com.br/revista/qd401. Acesso:
07/04/2003.
7. Pinto AC, Veiga Jr VF. O Olhar dos Primeiros Cronistas da His-
tria do Brasil sobre a Copaba. http://www.sbq.org.br/PN-
NET/causo6.htm. Acesso: 25/10/02.
8. Veiga Jr VF, Pinto AC. O Gnero Copaifera l.; Qumica Nova, v.
25, n. 2, p. 273-286, 2002.
9. Veiga Jr VF. Controle de Qualidade de leos de Copaba por
Cromatografia Gasosa de Alta Resoluo. Dissertao de
Mestrado. IQ/UFRJ, Rio de Janeiro, 1997.
10. Maciel MAM, Pinto AC, Veiga Jr VF. Plantas Medicinais: a Ne-
cessidade de Estudos Multidisciplinares. Qumica Nova, v. 25,
n. 3, p. 429, 2002.
11. Normas MB-74 e MB-75 da Associao Brasileira de Normas
Tcnicas, 1951.
12. Pinto, A. C. et al. Phytochemica. Analysis, n.8, p.14-17, 1997.
13. Godinho OES, Vasconcelos AFF. Uso de Mtodos Analticos
Convencionais na Autenticidade do leo de Copaba. Qumi-
ca Nova, v. 25, n. 6B, p. 1057-1060, 2002.
Revista Analytica Outubro/Novembro 2003 N 07
42
ARTIGO
Você também pode gostar
- FarmacologiaDocumento187 páginasFarmacologiaJoana Fronteira100% (1)
- TCC - Central de Gases Medicinais - Conceito, Aplicação e InstalaçãoDocumento4 páginasTCC - Central de Gases Medicinais - Conceito, Aplicação e InstalaçãoLeonardo Carvalho100% (1)
- Projeto de Elaboração de Um Laboratório de Química PDFDocumento33 páginasProjeto de Elaboração de Um Laboratório de Química PDFPaulo DanielAinda não há avaliações
- Módulo 1 - BiologiaDocumento44 páginasMódulo 1 - Biologiaraquelrodrigues-1547Ainda não há avaliações
- NFPA PortuguesDocumento1 páginaNFPA PortuguesTatiane ChesiniAinda não há avaliações
- Biologia - Teste Seus Conhecimentos 3 - Revisão Da Tentativa - IFRSDocumento13 páginasBiologia - Teste Seus Conhecimentos 3 - Revisão Da Tentativa - IFRSAp Alex MarianoAinda não há avaliações
- MACERAÇÃODocumento6 páginasMACERAÇÃOMirella Priscilla dos Santos VieiraAinda não há avaliações
- Teste 1 Resumos CN 5Documento35 páginasTeste 1 Resumos CN 5ceciliaguiseAinda não há avaliações
- Polissacarídeos MicrobianosDocumento40 páginasPolissacarídeos MicrobianosCamila MacielAinda não há avaliações
- TiossulfatometriaDocumento17 páginasTiossulfatometriaNilson BispoAinda não há avaliações
- Slide 1 - 1Documento36 páginasSlide 1 - 1Wilton Wagner de CarvalhoAinda não há avaliações
- Exercícios Hidroxidos Sais OxidosDocumento3 páginasExercícios Hidroxidos Sais OxidosWesley de PaulaAinda não há avaliações
- Usodefluoretosemodontologia 150805224913 Lva1 App6891 PDFDocumento20 páginasUsodefluoretosemodontologia 150805224913 Lva1 App6891 PDFVanessa MoreiraAinda não há avaliações
- Descoberta Dos Raios XDocumento7 páginasDescoberta Dos Raios Xjosejunior06Ainda não há avaliações
- Parecer Amicus Curie Sobre Cava TóxicaDocumento27 páginasParecer Amicus Curie Sobre Cava TóxicaJeffer Castelo BrancoAinda não há avaliações
- Quimica Controle AmbientalDocumento98 páginasQuimica Controle AmbientalMayumi KawamotoAinda não há avaliações
- Milheto Na Alimentação de SuinosDocumento6 páginasMilheto Na Alimentação de SuinosFabioFernandesAinda não há avaliações
- MicelasDocumento5 páginasMicelasfcosysAinda não há avaliações
- 051 ProNetDocumento16 páginas051 ProNetAthayde FilhoAinda não há avaliações
- Apostila Cálculo PDFDocumento7 páginasApostila Cálculo PDFJúlia SaldanhaAinda não há avaliações
- Orosco KunigkDocumento8 páginasOrosco KunigkInstituto Mauá de TecnologiaAinda não há avaliações
- O Que É FLASH ChromatographyDocumento5 páginasO Que É FLASH ChromatographyJoherbson DeividAinda não há avaliações
- Equi Lib RioDocumento3 páginasEqui Lib RioJhennifer FonsecaAinda não há avaliações
- Questões de Provas - Questões MilitaresDocumento9 páginasQuestões de Provas - Questões Militaresvictor fabian pereira gomesAinda não há avaliações
- Apostila Francisco - Física - 3º Ano - 2013 PDFDocumento22 páginasApostila Francisco - Física - 3º Ano - 2013 PDFSelson PereiraAinda não há avaliações
- Apostila Plantas Medicinais PDFDocumento36 páginasApostila Plantas Medicinais PDFRodrigo Moreira Caetano PintoAinda não há avaliações
- Lairton 33Documento4 páginasLairton 33Jorge Melo100% (1)
- Farmacia Casa PDFDocumento9 páginasFarmacia Casa PDFMargotPilarHuamanìHinostrozaAinda não há avaliações
- Planilha FMEA - 1Documento3 páginasPlanilha FMEA - 1Marcelo EspinheiraAinda não há avaliações