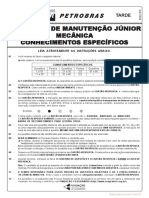Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Um A Bord A Gem Contextual I Zada
Um A Bord A Gem Contextual I Zada
Enviado por
Bruna Karen0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações20 páginasTítulo original
Um a Bord a Gem Contextual i Zada
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações20 páginasUm A Bord A Gem Contextual I Zada
Um A Bord A Gem Contextual I Zada
Enviado por
Bruna KarenDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 20
291
UMA ABORDAGEM CONTEXTUALIZADA DA ANATOMIA HUMANA E COMPARADA
1
Classius de OLIVEIRA
2
Rodrigo Antonio Parra TEIXEIRA
3
Wagner de Lemos CONCHALO
4
Resumo: Em sntese apresentamos uma proposta de estudo do corpo humano, numa
perspectiva interdisciplinar nas reas de anatomia, fisiologia e zoologia geral. O intuito
foi produzir um instrumento didtico, uma apostila, com informaes tericas
atualizadas, que articulam morfologia e funcionamento do organismo humano, visando,
tambm, prover outras informaes sobre as formas e funes de estruturas similares
presentes em outros grupos animais (peixes, anfbios, rpteis, aves e demais
mamferos). Esse instrumento serviu de subsdio para que professores da rede de
ensino pudessem adquirir informaes mais amplas sobre esses assuntos,
estabelecendo-se, dessa forma, uma educao continuada. Na apostila, foram
includas vrias figuras e esquemas originais, produzidos a partir de experimentaes
e observaes prprias, com a finalidade de dirigir o estudo terico com materiais
didticos de outra natureza (peas anatmicas e moldes sintticos). Da maneira aqui
proposta buscou-se uma melhor contextualizao do homem no meio em que vive e
das relaes evolutivas que este apresenta com os demais seres vivos vertebrados.
Palavras-chave: Educao; Anatomia; Fisiologia e Zoologia.
HISTRICO E DESENVOLVIMENTO
Justificamos a proposta pelos fatores que seguem:
fundamentao em relevante campo do conhecimento ao qual se pretendeu
oferecer nova e atual abordagem do assunto, com fundamentao terica da
prtica docente, buscando ampliar o conhecimento especfico do professor
no ato de ensinar.
estabelecimento de interdisciplinaridade entre teoria e prtica de reas afins.
oferecimento aos professores da rede oficial de ensino um conhecimento
mais amplo e interdisciplinar do material didtico comumente empregado
(livros textos sobre o corpo humano e zoologia geral) no estudo desse
assunto que, com poucas excees, abordado de modo comparativo e
contextualizado. Assim, os professores podem ter disposio um contedo
terico e prtico para consultar e se preparar adequadamente nessa
abordagem moderna e mais eficiente do assunto.
1
Projeto desenvolvido junto ao Ncleo de Ensino 2004. Ttulo original: Corpo humano: uma abordagem interdisciplinar na sala de aula
do ensino bsico. (Instituto de Biocincias, Letras e Cincias Exatas UNESP So Jos do Rio Preto Laboratrio de Anatomia
Comparativa).
2
Professor Coordenador do Projeto.
3
Discente Bolsista Curso de Cincias Biolgicas IBILCE/UNESP/So Jos do Rio Preto.
4
Discente Voluntrio Curso de Cincias Biolgicas IBILCE/UNESP/So Jos do Rio Preto.
292
Considerando que o intuito foi contextualizar o conhecimento anatmico e o prprio
homem no meio em que vive, abordando as relaes evolutivas que apresenta com os demais
seres vivos vertebrados, baseamo-nos a abordagem dos assuntos especficos no enfoque na
anatomia sistmica. Seqencialmente tratou-se da explicao detalhada dos seguintes Captulos:
Introduo Anatomia - Os Vertebrados; Sistema de rgos dos vertebrados e sua evoluo.
Sistema Esqueltico; Muscular; Articular; Nervoso; Digestrio; Circulatrio; Respiratrio; Urinrio;
Reprodutor; Endcrino; Sensorial; Tegumentar. Estes tpicos foram abordados de modo
comparativo entre os grandes txons animais (peixes, anfbios, rpteis, aves e mamferos).
Devido ao volumoso contedo de informaes contidas em cada captulo com esta
abordagem, a descrio pormenorizada irrelevante e dispensvel para o propsito desta
comunicao. Porm, dessa nova abordagem destacaram-se alguns tpicos descritos como
Apndices: Relaes intersistmicas, rgo e o organismo; Relaes entre a Forma e a Funo;
Relaes com Paleontologia, Antropologia e Evoluo; Relaes com patologia: aspectos gerais;
Relaes com anomalia e radiologia; Envelhecer o que acontece; Estado Fsico. Sobre cada um
destes segue uma sntese do que foi especificamente tratado e julgado como informao relevante
para abordagem da anatomia de maneira interdisciplinar e multidisciplinar.
Introduo Anatomia - Os Vertebrados
As 50.000 espcies atualmente descritas de vertebrados variam, em tamanho, de
menos de um grama a mais de 100.000 quilos e vivem em hbitats que vo do fundo dos oceanos
ao topo das montanhas. Esta extraordinria diversidade produto de cerca 500 milhes de anos
de evoluo, desde os primrdios das primeiras linhagens de vertebrados primitivos. Evoluo
significa mudana nas freqncias relativas de alelos no conjunto gnico de uma espcie. A
variabilidade hereditria dos indivduos de uma espcie a matria prima da evoluo, e a seleo
natural o mecanismo que produz mudana evolutiva. A seleo natural atua atravs da
reproduo diferencial e o valor adaptativo descreve a contribuio do diferencial dos indivduos
para as geraes futuras. A maior parte da seleo provavelmente opera ao nvel dos indivduos,
mas possvel que tambm atue ao nvel dos alelos, populaes, ou mesmo espcies. Em adio
variabilidade individual as espcies freqentemente exibem dimorfismo sexual e variao
geogrfica. O dimorfismo sexual reflete as diferentes foras seletivas atuando sobre machos e
fmeas de uma espcie, como resultado da assimetria do investimento reprodutivo.
natural pensarmos no ser humano como o vertebrado mais altamente evoludo,
especializado em muitas estruturas - mos, ps, coluna vertebral, crebro -, mas a estrutura e
organizao do corpo humano foram determinadas no longo e complexo curso da evoluo.
Quando deixamos de lado as caractersticas particulares dos humanos e os comparamos com
293
outros vertebrados, um plano bsico do corpo pode ser identificado. Presumivelmente, o plano
ancestral consiste em uma organizao bilateral tubular, com caractersticas como notocorda,
fendas farngeas, tubo nervoso dorsal oco, vrtebras e crnio. Um protocordado, o anfioxo, e a
larva amocete das lamprias do uma idia de como podem ter sido os primeiros vertebrados. Os
vertebrados mais antigos conhecidos so os ostracodermes, animais aquticos primitivos sem
maxilas, aparentados com as lamprias e feiticeiras, que aparecem pela primeira vez no
Cambriano superior e Ordoviciano. Eles eram completamente recobertos por uma pesada
armadura drmica ssea. No foram encontrados fsseis intermedirios entre os ostracodermes e
qualquer dos supostos progenitores invertebrados dos primeiros vertebrados, mas algumas idias
da possvel origem destes ltimos podem ser inferidas pela comparao das formas atuais. A
notocorda, fendas farngeas e o tubo nervoso dorsal oco so compartilhados com certos animais
protovertebrados, e mais provvel que os vertebrados tenham se originado de cordados com os
caracteres gerais do anfioxo. Retrocedendo na histria evolutiva, os cordados so mais
proximamente aparentados aos Echinodermata e certos grupos de lofoforados que em relao a
qualquer outro filo de invertebrados. Os primeiros animais que podem ser chamados de
vertebrados provavelmente evoluram nos mares cambrianos. Embora esta seqncia de eventos
no constitua a histria comprovada das origens dos vertebrados, ela um bom exemplo de como
os bilogos elaboram hipteses evolutivas a partir de estudos comparados de animais fsseis e
atuais.
Sistema de rgos dos vertebrados e sua evoluo
As atividades de vertebrados so realizadas por uma morfologia complexa. As
interaes entre diferentes tecidos e estruturas constituem o ponto central no desenvolvimento
embrionrio de um vertebrado e da sua funo como organismo. Os padres de desenvolvimento
embrionrio so geralmente conservativos do ponto de vista filogentico e muitos caracteres
derivados compartilhados pelos vertebrados podem ser traados em suas origens no embrio
jovem. Em particular, as clulas da crista neural que so prprias dos vertebrados participam
durante o desenvolvimento embrionrio de certo nmero de caracteres derivados destes animais.
Um vertebrado adulto pode ser visto como um conjunto de sistemas que interagem continuamente.
O tegumento separa o vertebrado de seu meio ambiente e participa da troca de matria e energia
entre o organismo e o meio. Suporte e movimento o campo de ao do aparelho locomotor,
formado por msculos, ossos, articulaes e ambos so necessrios para a funo efetiva dos
sistemas de apreenso e processamento do alimento. A respirao e a circulao transportam
substratos metablicos e oxignio para os tecidos e removem resduos. Os resduos nitrogenados
do metabolismo protico so eliminados pelo tegumento nas formas primitivas e pelo sistema renal
294
de outros vertebrados. O sistema renal tambm participa na regulao do balano hdrico-salino e
da manuteno do pH do sangue. A coordenao destas atividades realizada pelos sistemas
nervoso e endcrino e o sistema reprodutor transmite a informao gentica de gerao a
gerao.
Relaes intersistmicas, rgo e o organismo.
Quando utilizamos o termo rgo estamos fazendo referncia a uma estrutura
anatmica de forma e caractersticas bem definidas que junto de outros rgos compem um
conjunto denominado sistema orgnico. Quando aplicamos ao estudo das vsceras facilmente
compreendido, por exemplo, que os rgos esfago, estmago, fgado, pncreas, reto e nus,
alm de outros, esto especialmente unidos constituindo o sistema digestrio, e que tem funes
bem definidas.
Quando o estudo da anatomia sistmica ou orgnica realizado no sistema
locomotor, que a associao morfofuncional dos sistemas esquelticos, articular e muscular,
podemos apontar que h uma relativa dificuldade de identificar quais so os rgos.
Respectivamente cada rgo pertencente a estes sistemas um osso, uma articulao e cada
msculo. Entre estes componentes h uma associao de dependncia muito mais evidente, ou
seja, se isolados, os msculos vo constituir o sistema muscular, mas sem os ossos sequer a
forma do corpo seria mantida, sem junturas que permitem certa mobilidade entre partes do corpo
sequer um nico movimento seria possvel. Isso somente ocorre, pois a interao destes rgos
de diferentes sistemas constitui alavancas biolgicas.
Para facilitar a compreenso da inter-relao existente entre os vrios sistemas que,
em conjunto, formam o corpo, tomamos como exemplo a seguinte viso: o sistema digestrio
prov a gua e nutrientes, que so necessrios para constituir e manter o organismo, provendo o
substrato energtico. Necessariamente o que foi absorvido deve ser transportado at os locais que
faro uso dessas substncias e, ao serem utilizadas, geram resduos que em algum momento
devem ser eliminados para o exterior. Referimo-nos aos sistemas vascular sangneo e linftico
(sistema circulatrio). Para as reaes de obteno de energia, contamos com o sistema
respiratrio que capaz de retirar do ar, o oxignio e devolver o gs carbnico, aps as reaes
qumicas que ocorreram no interior de cada clula. Cada uma independente das suas funes tem
um metabolismo que controlado por hormnios produzidos e ou armazenados em glndulas
endcrinas (que constituem o sistema endcrino). Aqueles resduos devem ser eliminados, em
parte pelo sistema respiratrio e pela pele (sistema tegumentar), mas o sistema urinrio tem uma
funo essencial, a de depurar o sangue (de certa forma, filtrar o sangue) quando este levado
295
aos rins, pois est com excesso de substncias txicas a serem eliminadas. O resultado e no a
funo dos rins a produo da urina, que eliminada para o meio externo.
Se todas essas funes ocorrem simultaneamente e ininterruptamente devemos
deduzir que h um controle extremamente complexo e muito preciso, que ocorre automaticamente
e sem a influncia da nossa vontade. Essa tarefa executada pelo sistema nervoso autnomo,
que envolve nervos e partes especficas do sistema nervoso central. A esse conjunto ainda mais
difcil empregar o termo rgos, pois so vrias estruturas contnuas, de limites puramente
didticos. Ao sistema nervoso, cabe receber todas as informaes do meio externo e do prprio
corpo, a partir das quais podem ser encaminhadas respostas at um pequeno grupo de clulas de
uma minscula regio do corpo desencadeando uma determinada ao.
J podemos deduzir que outro conjunto de rgos podem se agrupar em dois
sistemas intimamente relacionados, os sistemas sensorial e tegumentar. evidente a relao
dentre diferentes rgos do sistema sensorial, como o olho e a orelha, tambm por estruturas
microscpicas sediadas em outros sistemas, os receptores olfatrios, gustativos e as terminaes
sensoriais da pele. Outros receptores esto localizados no aparelho locomotor, so os chamados
proprioceptores; outros nas vsceras, os visceroceptores. O conjunto de todos os milhares de
receptores monitora e indica as condies do corpo e do ambiente circundante. Estes dados so
necessrios para equilibrar o meio corporal e para se relacionar com o ambiente.
Concluindo o raciocnio quando iniciamos pelo sistema digestrio e, na seqncia,
circulatrio, respiratrio, endcrino, urinrio, nervoso, sensorial e tegumentar, deixamos o nico
sistema cuja ausncia no incompatibiliza a sobrevivncia do indivduo: os sistemas reprodutor
masculino e feminino. Porm, o sucesso reprodutivo exige uma interao entre todos os sistemas
do corpo, alm de uma condio principal que o inter-relacionamento entre indivduos que so
portadores de rgos complementares.
Por conseguinte, mais importante que o prprio indivduo a espcie, que abrange
os seres vivos com caractersticas morfolgicas relativamente comuns e propriedades funcionais
que formam essa entidade biolgica. Podemos encerrar analisando a importncia da biologia
reprodutiva, de mecanismos e estratgias das mais simples s surpreendentes, mas esta mesma
seria to incua se o indivduo no fosse suficientemente habilitado a sobreviver para reproduzir.
Logo a integridade do indivduo se apresenta como condio essencial existncia da espcie.
296
Relaes entre a Forma e a Funo
A Anatomia um ramo do conhecimento que estuda a forma, a disposio e a
estrutura dos tecidos e rgos que compem os seres vivos. Ocupar-se da anatomia clssica por
si s seria um trabalho exclusivamente descritivo.
Entretanto, se observarmos nossa volta, veremos que as formas de todas as
coisas esto, de certo modo, associadas as suas funes. Assim tambm com os seres vivos,
pois as formas de suas partes esto ligadas s funes e, sob uma anlise mais reflexiva, tambm
pode nos mostrar um pouco do caminho evolutivo pelo qual uma determinada linhagem percorreu.
Podemos dizer que atravs da observao, por exemplo, do esqueleto de um
animal identificamos vrios aspectos de sua vida e hbitos. Isso significa que a estrutura ssea de
um animal (a forma do esqueleto), como serve de apoio musculatura, relaciona-se aos
movimentos (que so funes). Tais estruturas e funes tambm esto ligadas intrinsecamente
aos hbitos e ao ambiente que este animal ocupa, demonstrando uma relao de similaridades
com os demais organismos que compartilham com ele o mesmo hbitat e recursos.
As diferenas nas estruturas sseas ocorrem para atender ao modo de vida e
hbitat aos quais os diversos animais precisam estar adaptados. Modificaes de conformao no
crnio, na caixa torcica, no comprimento do corpo e altura dos membros, esto relacionadas a
graus de potncia para andar, correr, voar, nadar, defender-se, etc.
Um animal carnvoro, como a ona, tem mandbula potente, com grande rea de
insero para msculos, para poder apreender suas presas, e dentes bastante pontiagudos para
dilacerar. Necessita tambm de grande fora fsica que lhe conferida pelos ossos robustos das
patas e, alm disso, seu corpo possui uma dinmica conformao que lhe permite alcanar
grandes velocidades em pouco tempo.
Outro exemplo de relao entre forma e funo pode ser observado pela estrutura
do gradil costal que revela a capacidade que o animal tem de movimentar-se. Quanto mais
compacto for o gradil costal, maior a movimentao. Analisemos como exemplo o esqueleto de
um bovino. Ele apresenta costelas largas e em grande nmero, chegando at prximo aos
membros posteriores. Tantos pontos de apoio aos msculos indicam que a massa muscular do
animal grande, sendo ele, portanto, um animal pesado e lento na movimentao.
J uma lebre, ao contrrio, possui costelas estreitas, afastadas, e em menor
nmero, prprias de um animal com massa muscular menor, gil, rpido e com grande
movimentao. Essa relao no to linear como se apresenta primeira vista, mas sendo
uma generalizao pode-se assumir que uma relao apropriada.
297
Tambm bem evidente a relao entre a forma e funo nos bicos das aves, pois
a forma, associada a funes diversas como catar, recolher, quebrar, filtrar, nos mostra claramente
o hbito alimentar das espcies.
Torna-se, portanto, muito coerente um estudo da anatomia aliado fisiologia um
dos objetivos propostos - onde a morfologia e o funcionamento so apresentados de forma
conjunta, otimizando o aprendizado sobre a mquina corporal.
Relaes com Paleontologia, Antropologia e Evoluo.
Esse tpico e todas as outras abordagens de assuntos relacionados anatomia tm
o intuito de instigar em voc o interesse ou curiosidade por uma das reas do conhecimento que
mantm associao, direta ou indireta, com a anatomia. Alis, de forma mais ampla, a biologia
estrutural - que compreende desde as propriedades e caractersticas macroscpicas de indivduos
aos minuciosos detalhes dos nveis subcelular e molecular. Os profissionais referidos acima so
morfologistas.
Procure estabelecer uma relao entre trs estudos que em algum momento
precisam se sobrepor para apresentar novas informaes: anatomia (dados da estrutura corporal);
paleontologia (dados dos seres pr-histricos conferidos pelos restos e vestgios fsseis), e
antropologia (estudo do homem, da evoluo que nos conduz s caractersticas atuais).
a partir de rarssimas peas sseas pouco alteradas e de milhares de fragmentos
sseos, quase sem afinidade e geralmente muito desgastados, que tentamos reconhecer um
passado perdido. Que incrvel a capacidade da mente humana, capaz de trazer luz o
provvel hbitat de nossos ancestrais (dos mais recentes homindeos relativamente distante
linhagem de algum ser invertebrado comum).
Podemos inferir com certa preciso, mas jamais exatido, seus hbitos e costumes,
aparncia fsica e alimentao, sua relao com o ambiente e seu importante papel evolutivo. No
precisamos argumentar em demasia para convenc-lo de que alguns desses estudos exigem
slidas noes de anatomia, para uma confivel identificao, descrio e interpretao dos restos
esquelticos preservados (fsseis). Mas apenas essas habilidades ainda seriam insuficientes e,
portanto um atributo mais valioso tem o profissional que compreende as relaes dessas reas
com a maioria das outras aparentemente distantes.
Encontrada uma arcada dentria que contm robustos dentes molares e cujo
esmalte dentrio espesso e, em outro local, o achado de outra arcada, mas com molares
pequenos e esmalte fino, o que poderamos apresentar de raciocnio.
298
Ser que algum conhecimento irrelevante? Permita-me obviamente responder -
no. Se tivermos algumas informaes das reas mais afins s aparentemente no relacionadas,
e se no estabelecermos limites entre estes campos do saber, h uma possibilidade
evidentemente maior de constatar e interpretar a situao ou o fato.
Conhecer um pouco sobre formaes vegetais e ambientais que caracterizam, por
exemplo, o cerrado, a caatinga, uma floresta densa e uma mais dispersa, ou uma formao
campestre, dentre outras vrias, somado ao fato que o esmalte dos dentes constitui a mais
resistente e dura substncia do corpo, tambm a parte do corpo menos susceptvel a degradao
aps a morte, podemos estabelecer uma relao, inferindo que aquele primeiro achado pertence
ao corpo de um indivduo de uma determinada espcie que possua caractersticas estruturais
peculiares e, com a observao da alimentao dos animais viventes mais prximos daquele ser
vivo, h indcios confiveis de que a dieta era baseada em alimentos vegetais de certa dureza,
possivelmente de reas mais abertas ou regies campestres.
Estes animais teriam um crnio resistente para dar suporte a uma rigorosa massa
muscular dos msculos mastigatrios. Um raciocnio similar para o outro fssil, um ser cuja
alimentao seria mais rica em frutos ou folhagens, vegetais moles, que so mais tpicos de reas
arbreas.
Contudo, essas concluses no so excludentes, podendo at os seres habitarem
os lugares opostos, mas o que nos proporciona uma convico que estas informaes ainda so
e sero relacionadas a vrios outros aspectos. O esclarecimento sobre essas criaturas
gradativamente compreendido e ser aceita quanto mais dados corroborarem a hiptese. Embora
parea simplista apresentamos algo que essencialmente pesquisa cientfica, a cincia est mais
prxima de voc do que poderia supor, alis, esta propriedade de pensar, que voc possui o que
gera a cincia.
Analisando alguns antropides, quanto estrutura dos ossos do crnio, como a
robustez da mandbula, o grau de mobilidade articular da ATM (articulao tmporo-mandibular), a
crista sagital na calota craniana (local de firme insero muscular), a dentio, anlise das reas
cranianas neurais e viscerais, dentre outras caractersticas sseas podemos complementar nosso
raciocnio com outras implicaes: a musculatura mais ou menos desenvolvida para
determinadas habilidades, a rea dos crnios que constitui a face, possui certas medidas e
propores que dotam esses animais de algumas propriedades neurolgicas (crnio neural) e
sensoriais (crnio facial), visto que os rgos dos sentidos especiais (olfato, gustao, viso,
equilbrio e audio) esto localizados nessa regio. Portanto dados sobre as habilidades motoras
299
e percepes sensoriais, capacidade intelectual (cerebral) e, por conseguinte, as interaes destes
seres com o ambiente podem ser extradas com a devida cautela.
Como recomendao para professores, ao lidar com esses ensinamentos
interessante e eficiente a realizao de aulas temticas, visitas em museus, instituies,
laboratrios, leituras extracurriculares de temas afins, discusses no molde de debates ou mesas
redondas, etc.
Outra questo interessante quanto ao aparelho locomotor (esqueleto, musculatura
e articulaes) que confere no s a forma do animal, mas confere a maneira mais eficiente de se
locomover, quer para busca de alimento quer para fugir de possveis predadores. A locomoo
ocorre em diferentes meios fsicos.
A natao no ambiente aqutico, mas devemos mencionar que os animais podem
estabelecer relaes surpreendentes e no especficas como as aves que mergulham para obter
seu alimento; o vo no ambiente areo, da mesma maneira, h peixes voadores que planam
como tambm o fazem certos anfbios e rpteis; e finalmente no ambiente terrestre, pelo rastejar,
andar, correr e saltar.
Poderamos citar exemplos de hbitos locomotores tpicos e esperados para aquela
espcie que provida de caractersticas estruturais prprias e que possui certo tipo constitucional,
mas tambm podemos exemplificar inmeras espcies que surpreendentemente tm a capacidade
de explorar as inmeras alternativas entre locomoo e espao fsico.
O ato da natao uma virtude de animais que apresentam um conjunto de
adaptaes necessrias a esta adaptao evolutiva, mas tambm uma possibilidade concreta para
muitos animais que no so to aptos. Citamos como exemplos de animais nadantes a grande
maioria dos peixes, muitos anfbios e rpteis, e aves especializadas como os pingins e muitos
mamferos aquticos (principalmente cetceos, sirnios e pinpedes).
No ambiente areo as aves voadoras so primorosas, mas esse espao constitui
tambm uma ampla rea de ao para morcegos e at animais pertencentes a outros txons onde
h exemplos de excelentes planadores (peixes e rpteis). Na terra a diversidade ainda maior.
Encontramos alguns peixes que toleram por perodos de tempo prolongado fora da
gua um rastejamento em busca de outro ambiente; diversos anfbios podes e as serpentes
rastejam (estas ltimas, apresentando elaborados e eficientes mecanismos). A partir desse
momento da escala evolutiva, uma grande barreira natural foi transposta por seres que, tendo
apndices corporais na forma de membros locomotores adaptados ao ambiente terrestre,
conquistaram tantas modificaes que lhe permitiram andar e posteriormente saltar e correr.
300
Surgiram os quadrpedes dos quais, em algum momento do processo evolutivo,
originaram seres bpedes, o que exigiu outro enorme passo evolutivo, pois os membros craniais
(anteriores) foram aperfeioados para outras tarefas e aos posteriores coube a sustentao
corporal e a prpria locomoo.
Quando a evoluo apresentada de modo to simplista, no podemos relatar que
essas mudanas no ocorreram apenas no aparelho locomotor, mas tudo resultado de uma
somatria de alteraes e propriedades de vrias partes ou rgos, e de diversos sistemas. Essas
modificaes estruturais ocorreram simultaneamente a uma cadeia de outras implicaes e
modificaes (genticas, neurais, hormonais, comportamentais) alm daquelas relativas ao prprio
ambiente. Portanto outros diversos fatores biolgicos e abiticos foram, de certa maneira, forjando
lentamente os seres vivos, num processo denominado seleo natural que a essncia de uma
teoria, a Evoluo.
Apenas uma observao, algumas espcies podem ter hbitos exclusivos quanto a
sua locomoo, porm outras podem ocupar dois ambientes em situaes ou condies
diferentes, mas naturais dentro das suas possibilidades e estilo de vida.
Para encerrar essa abordagem vamos analisar aquilo que est envolvido com a
deambulao (andar) entre primatas antropides e macacos. Inicialmente precisamos idealizar os
animais parados e em posio ortosttica natural. Um bpede (humano) nessa posio e em
repouso tem o peso da massa corporal projetado numa rea que equivalente rea de contato
das plantas dos ps com o cho. Suponhamos que nessa rea quadrangular formada est sendo
projetado, aproximadamente entre os dois ps, o vetor fora partindo do centro de gravidade
corporal. Para o quadrpede, tal rea retangular e corresponde aos vrtices de contato das
patas com o cho. O centro de gravidade desse animal tambm estar em algum ponto dentro
dessa figura.
A estabilidade de ambos em repouso e em posio ordinria , relativamente, ideal.
Uma sensvel desestabilidade ou desconforto j pode ser notado diante das seguintes situaes:
quando o bpede assume a postura quadrpede, em repouso, e quando o quadrpede se
posiciona em p sobre as duas patas, o que ocorre sem maiores complicaes e relativamente
comum - at animais pesados, como elefantes, o faz para apreenso alimentar caso necessrio.
As dificuldades surgem quando se inicia o movimento e este deve ser estvel para que haja um
deslocamento eficiente sem causar leses.
Vamos analisar o andar bpede, observando ventralmente o caminhar (vista frontal).
Primeiro idealize um plano mediano corporal e perceba que, em marcha, os ps so lanados
301
alternadamente, mas ainda continuam prximos ao plano mediano - o centro de gravidade se
desloca, mas apenas alguns centmetros.
Podemos constatar que o bipedalismo uma propriedade que est associada a
muitas caractersticas estruturais, dentre as quais o alinhamento do fmur com a tbia e fbula em
linha vertical que se estende da articulao do coxal (bacia, quadril ou pelve) at o apoio dos ps
no cho. Um chimpanz posicionado sobre as duas patas inicia o andar deslocando
alternadamente os membros e imediatamente constata-se uma oscilao pendular com o prprio
corpo: isto nada mais que uma conseqncia inevitvel pela prpria estrutura anatmica dos
membros que, estando afastados daquela distncia mnima do plano mediano bpede, faz com que
o centro de gravidade corporal seja a cada passo projetado em cada um dos ps alternadamente,
gerando a pendulao. Tambm a distncia dos joelhos e a direo dos ossos envolvidos
concorrem para permitir ou facilitar o livre e natural movimento destas alavancas biolgicas.
Tambm devemos associar que as articulaes tm diferentes possibilidades e amplitudes de
movimento. Podemos concluir que o andar sem a conformao motora apropriada alm de ser
instvel, consome muito mais energia e portanto muito menos eficiente. Porm, milhares de anos
onde centenas de geraes cujos indivduos acumularam sucessivas modificaes, incorporadas
ao cdigo gentico de um organismo, e que foram transmitidas pelo processo reprodutivo aos
atuais primatas nos trs luz que em algum passado houve um ancestral comum e diferente das
duas formas atuais. Linhagens descendentes que por alguma razo ou barreira se separaram e
tiveram como conseqncia a origem de duas outras espcies. Esse processo denominado
especiao, e que tambm parte da teoria da Evoluo. Ao estudo do grau de parentesco e
relao evolutiva entre estes organismos denominamos Filogenia.
Relaes com patologia: aspectos gerais.
Quando nosso corpo apresenta certas alteraes em seu funcionamento normal,
podemos estar em um estado de doena e, freqentemente, nessa situao constatamos o quanto
desejvel estar com sade. A rea que se dedica ao estudo dessas doenas a Patologia e
envolve muitos profissionais. Mas, para esclarecer alguns aspectos e adentrarmos o mbito geral
do estudo das enfermidades que nos acomete, devemos partir de uma base slida que permita
compreender quais so os mecanismos, o que desencadeou a doena e quais as conseqncias
para o corpo, quais os meios que visam diminuir os possveis danos ou buscar a cura completa e o
que precisamos saber para evitar a instalao dessas enfermidades o que denominamos
preveno ou profilaxia.
No estudo patolgico conveniente o estudo das unidades bsicas que constituem
o corpo, as clulas. So estas que inicialmente apresentam os distrbios, nos nveis celulares e
302
subcelulares e, s ento, sero comprometidos tecidos, rgos e sistemas. o organismo, atravs
de uma intrnseca cadeia de informaes e respostas fisiolgicas, que apresentar o problema e
buscar a soluo. Assim, se o indivduo souber as causas e conseqncias e a gravidade de
cada enfermidade, a busca e alcance da cura ser mais rpida, trar menos transtornos e poupar
tempo para outros fins.
Uma clula normal se ajusta, na funo e estrutura, constantemente s mudanas
do meio em que est. Alm disso, est confinada a parmetros limitados por seus prprios
programas genticos de diferenciao e especializao, s suas disponibilidades metablicas e s
restries das clulas vizinhas. Uma analogia pode ser feita com o prprio indivduo: o tremor
uma resposta adaptativa de alguns animais devido a baixas temperaturas, em cada clula
muscular, o calor gerado pela contrao compensa a perda de calor para o ambiente; outro
exemplo, a musculatura bem desenvolvida de um operrio ou atleta o aumento da massa
muscular causado pela sntese de componentes de cada clula muscular, que sendo estimulada
com freqncia e gradativamente, se fortaleceram para escapar agresso e leso.
Algumas condies desse ajuste celular so bem conhecidas como hipertrofia e
atrofia, outros envolvem hiperplasia, metaplasia, displasia, hipoplasia. Na hipertrofia ocorre
aumento do tamanho das clulas, atravs da sntese de mais componentes estruturais, e
conseqente aumento do rgo. A atrofia consiste na reduo do tamanho da clula por perda da
substncia celular - eventuais causas dessa situao podem ser: a diminuio da carga de
trabalho, nutrio inadequada ou diminuio do fornecimento sanguneo, a perda da ao
hormonal ou da inervao. A hiperplasia um aumento do numero de clulas que acarreta um
aumento no volume do rgo.
Um bom e clssico exemplo pode ser ilustrado em um acidente com fratura que
exige a imobilizao por um determinado perodo. Um brao quebrado e engessado por 40 dias
sofrer um processo de atrofia por impossibilidade das clulas musculares (dos msculos)
trabalharem, mas as mesmas, assim que o brao estiver livre para executar os movimentos,
entram em processo de hipertrofia at que se restabelea o volume ideal. Outro exemplo
visivelmente identificado o condicionamento do aparelho locomotor, evidenciado principalmente
pelo desenvolvimento da musculatura, quando se pratica esportes ou se trabalha com esforo de
carga.
Devemos recordar que as clulas possuem limites. Assim, os msculos (e tambm
o indivduo) tm propriedades genticas e disponibilidade metablica que conferem as variaes
anatmicas, os diferentes tipos constitucionais (longilneo, mediolneo e brevelneo), o dimorfismo
sexual e as caractersticas tnicas.
303
A tolerncia do organismo s adversidades est limitada capacidade da clula
resistir agresso. Assim, se a capacidade de se ajustar for superada, ocorrer uma leso, que
pode ser branda e recupervel ou severa, resultando na morte celular.
A leso um estmulo nocivo ou influncia adversa, de origem interna ou externa,
que atua sobre a clula e compromete sua capacidade de equilbrio (homeostasia). Degenerao
o conjunto de alteraes morfolgicas causadas por leses reversveis. A extenso da leso
resultante da gravidade e durao da agresso em oposio capacidade de ajuste. Logo to
difcil para a clula como para o organismo, estabelecer o limiar entre vida e morte.
Necrose constitui a soma das alteraes morfolgicas causadas pela degradao
progressiva de enzimas das clulas letalmente lesadas, irreversvel. Podemos agrup-las
didaticamente nas seguintes categorias:
Hipxia: perda do suprimento sangneo, diminuio do nvel de oxignio no
sangue ou alterao nas enzimas oxidativas que participam da produo de
energia;
Agentes Fsicos: traumas mecnicos, grandes variaes de temperatura e
presso atmosfrica, radiaes e choques eltricos;
Agentes Biolgicos: vrus, bactrias, fungos, protozorios;
Agentes Qumicos: qualquer substncia que tenha efeito txico;
Desequilbrios nutricionais: tanto excesso como a falta de alguns nutrientes e
substncias essenciais.
Distrbios Genticos e Imunolgicos: defeitos genticos (evidentes, como mal
formao ou sutis, como anemia falciforme) e resposta imune alterada.
Relaes com anomalia e radiologia.
As anomalias so conseqncias de desvios durante a morfognese que leva o
organismo a uma cadeia de defeitos estruturais consecutivos. Em sntese so classificadas como:
m formao (resulta de um processo de desenvolvimento intrinsecamente anormal); disrupo
(resulta da ao de um fator extrnseco infeco, trauma, teratgenos); deformao (decorrente
de foras mecnicas que a modificam).
Diversas so as utilidades da radiologia na cincia. Sua aplicao, em radiografias,
demonstrou-se particularmente valiosa na deteco de fases precoces de vrias patologias de
localizao profunda que, diagnosticadas no estgio inicial, possibilitam um tratamento muito mais
eficiente. O radiodiagnstico o mais importante mtodo de investigao corporal no destrutiva e
suas aplicaes so variadas nas diversas reas.
Um reconhecimento deve ser atribudo aos diversos profissionais das mais distantes
reas que contriburam para este fim (bilogos, mdicos, fsicos, engenheiros e muitos outros que
304
colaboraram direta ou indiretamente). Dos aspectos tcnicos e prticos, a radiao (corpuscular ou
eletromagntica) a propagao de energia atravs do espao e de acordo com suas
propriedades foram desenvolvidos equipamentos que possibilitam anlises de diferentes partes
corporais, dadas as suas caractersticas estruturais. Os principais mtodos e tcnicas so: raios-x
ou radiografia; tomografia convencional e a computadorizada; ultra-sonografia Doppler e a
diagnstica; ressonncia magntica; e cintilografia.
A contribuio dos estudos anatmicos gera um conhecimento que, associado s
tcnicas cada vez mais avanadas de radiologia, trouxe uma preciosa contribuio sade,
qualidade de vida e longevidade.
Envelhecer o que acontece.
Algumas teorias que se baseiam em mecanismos genticos e no ambiente
procuram explicaes do destino, ou qualidade inevitvel e finita da vida. A longevidade regulada
por determinantes genticos que constituem uma barreira fisiolgica alm da qual no possvel
manter a vida. O envelhecimento biolgico caracterizado pela perda da integridade e da reserva
fisiolgica em todos os sistemas e, conseqentemente, pelo surgimento de doenas, que mantm
relao com a idade e so com freqncia letais. Envelhecer um efeito de muitos danos e erros
acumulados, nos nveis molecular e celular, que ocorre naturalmente com o passar do tempo. Mas
tambm envelhecemos por existir programas genticos que regulam o ciclo de desenvolvimento e
atividade celular que ocorre da concepo sensibilidade.
gua, alho, aveia, azeite de oliva, castanha-do-par e noz, sardinha e bacalhau,
soja, ma e tomate, suco de uva e vinho tinto, de modo geral todas as frutas, verduras e legumes
se consumidos regularmente, certamente aumentaro a sua longevidade e podem retardar o
envelhecimento em at 20 anos para a espcie humana.
Um dos processos essenciais manuteno da vida a obteno energtica a
partir dos alimentos, porm nas reaes qumicas e bioqumicas envolvidas sempre sero
formados subprodutos, os radicais livres, que so molculas txicas que agem lenta e
continuamente e levam aos danos moleculares e celulares referidos antes. Os radicais livres so
tomos ou molculas que numa reao qumica alteram outro tomo ou molcula estvel, num
processo denominado oxidao e, portanto, os radicais so oxidantes.
Por contraditrio que poderia parecer numa anlise primria, radicais oxidantes so
propositadamente produzidos pelo nosso corpo, mas por clulas especiais, macrfagos e
neutrfilos, em situaes especiais, com caracterstica de defesa imunolgica, pois permitem que
outras clulas realizem uma rpida lise de bactrias fagocitadas, alis, estas clulas so ativadas
305
em vrias situaes inflamatrias, e estes radicais so oxidantes endgenos; assim possvel
entender a associao entre maior suscetibilidade de um indivduo a doenas e sua menor
longevidade, de modo geral.
Mais graves so os oxidantes exgenos e as fontes principais so o fumo, lcool,
drogas diversas, estresse, gorduras, poluio, etc. e, agora, ocorre um acmulo dos efeitos dos
radicais livres oxidantes que silenciosamente atingem seus alvos: inativao de enzimas; alterao
no DNA e na sua replicao; destruio das membranas das clulas e de algumas organelas;
alteraes estruturais, metablicas e funcionais dos lipdios e polissacardeos constitucionais das
clulas. Esses efeitos so erros e danos que acumulados vo comprometer o bom funcionamento
do rgo e assim se tornar mais suscetvel a diversas molstias ou disfunes.
To importante saber quais so os hbitos ruins para evit-los como saber quais
sos os bons hbitos que podem aumentar a longevidade. Assim dormir bem e, o tempo ideal para
cada um, essencial, pois as clulas se renovam durante o sono. Atividade fsica, para prevenir
males associados terceira idade, porm, mais de 3h consecutivas de esforo intenso por dia ao
invs de retardar ir acelerar o envelhecimento. Os exerccios fsicos ajudam o corpo a perder
menos massa muscular e os ossos a reter clcio. A alimentao deve ser uma dieta equilibrada e
completa, cuidado que deve existir desde a mais tenra idade. Alimentar-se com restrio
moderada da ingesto calrica total e de protenas e gordura comprovadamente prolonga a vida.
Um cuidado indispensvel para melhorar a sade ou manter-se em bom estado estar bem
hidratado e alimentado buscando com isso a gua e todos os demais nutrientes e substncias que
sero devidamente utilizadas por cada clula proporcionando a homeostasia. Alis, em 400 ac o
filsofo Hipcrates j recomendava Faz da comida o teu remdio. Atualmente adotamos o termo
alimentao ou dieta funcional, alm de ser saudvel tambm tem a propriedade de prevenir e at
tratar de alguns males, obviamente a desacelerao do envelhecimento ser mais eficiente se for
combinada a bons hbitos. O que de fato ocorre que vrios nutrientes, vitaminas e alguns
hormnios so substncias anti-oxidantes, reduzindo as aes prejudiciais dos radicais livres com
efeitos txicos.
Manter a atividade cerebral, como qualquer outra parte do corpo, o sistema nervoso
tambm responde na medida em que solicitado. Uma incrvel estrutura com propriedades
funcionais fantsticas que se fortalece com desafios, leituras, imagens, sons, emoes no
vivenciadas, lugares desconhecidos, novos odores e sabores dentre outras sensaes e
percepes. Quanto mais fatores motivadores para seu crebro tanto maior ser sua influncia
benfica sobre o corpo.
306
Manter a cabea fria pois nos aborrecimentos e estresse do cotidiano h
descargas hormonais que dentre outros efeitos tambm podem causar danos como a tenso
arterial, enfraquecer o sistema imunolgico e aumentar a liberao dos radicais livres. Curiosa mas
no coincidentemente esto associadas ao pavor e tristeza. O raciocnio inverso com aes que
visem alcanar um bem-estar, por exemplo da liberdade e do riso, so traduzidos no corpo como
bom funcionamento visceral e equilbrio nas aes nervosas reflexas e decises mentais da vida
de relao. Tambm no coincidentemente esto associadas com emoes de prazer e alegria.
Antes de relacionar os efeitos de envelhecimento sobre alguns rgos ou estruturas,
deixamos a seguinte questo: de que adianta uma frentica vida profissional sem desfrutar do
prazer com o tempo que lhe for desejado para alimentar-se, descansar, divertir, pensar em nada
ou se despreocupar, enfim, poder viver plenamente, ao invs de apenas sobreviver.
Tempo de envelhecer
Cada rgo tem um determinado tempo para comear a envelhecer. Enquanto
alguns rgos e estruturas manifestam seu desgaste mais cedo ou de modo mais evidente, outros
tm alteraes que mal percebemos ou tardiamente. As vsceras envelhecem mas no notamos
seus efeitos opostamente o que ocorre com a pele, principalmente do rosto, e no aparelho
locomotor. Poderamos apresentar uma anlise longitudinal do envelhecimento natural, ou seja, o
que ocorre com cada rgo ou estrutura a cada perodo de anos. Porm, julgamos mais proveitoso
apenas ilustrar algumas alteraes e conseqncias em alguns rgos, inicialmente a pele e seus
anexos, os ossos, msculos e articulaes e algumas vsceras.
As clulas da ctis (pele) nascem da base da epiderme e em um ms quando
chegam superfcie j esto mortas. Assim mantm a umidade e so unidas por fibras firmes
protegendo o corpo de agresses diversas. Comea a envelhecer aos 20 anos quando suas
clulas produzem toxinas e radicais livres sob ao do sol e poluio. Isso destri a prpria
sustentao e as camadas da pele saem do lugar criando vales e relevos, surgem as rugas,
manchas, alguns anexos como os cabelos perdem a pigmentao tornando-se grisalhos e com o
enfraquecimento e morte do folculo ocorre a queda capilar calvcie. Obviamente um processo
gradativo e bastante varivel, dependendo de vrios fatores (ambientais e genticos). A
musculatura facial a partir dos 35 anos torna-se mais flcida e acentuam-se as rugas e linhas de
expresso. As cartilagens que constituem o rosto (orelha e nariz) comeam a crescer refletindo
num aumento ntido da orelha e do nariz.
307
Depois dos 35 anos, o organismo precisa cada vez menos de alimento e,
continuando a ingesto acima do necessrio a tendncia engordar. Nesse perodo todo o
metabolismo (atividade orgnica) torna-se mais lento, por alteraes nas glndulas endcrinas que
afetam a produo e nveis dos hormnios, o que constatado, por exemplo, na tireide.
As peas sseas, a partir dos 35, perdem massa ssea o que acarreta
enfraquecimento. Os ossos de todo esqueleto so modelados constantemente e assim o osso
reestruturado dependendo do uso. Na mulher, aps a menopausa, comum acontecer alteraes
hormonais que interferem intensamente na matriz ssea, culminando com a osteoporose. A coluna
vertebral, aos 40, se enfraquece, cedendo gravidade as vrtebras se aproximam, com
diminuio da estatura, 0,5 cm aos 50 anos e 2 cm aos 70 anos, sem mencionar alteraes nas
curvaturas das regies da coluna, o que pode ser uma escoliose, lordose e cifose (corcunda). As
articulaes a partir dos 50 anos se desgastam e atrapalham os movimentos, portanto diminuem a
amplitude e eficincia das aes musculares.
A massa corporal, aos 30, que corresponde aos msculos de 35 a 40%. Mas a
cada ano 2% dessa massa ser perdida comeando pela atrofia e quando a fibra muscular morre
o processo inevitvel. Aos 65 anos a fora muscular ser reduzida a 75%. Da mesma maneira
que os ossos, se o aparelho locomotor for submetido a uma atividade fsica constante, equilibrada
e adequada para cada faixa etria, pode-se retardar esses efeitos em dezenas de anos.
Nos rgos sensoriais tambm notamos, por exemplo, que o paladar se altera
gradativamente como na densidade dos botes gustativos (os receptores nervosos do gosto) onde
a lngua possui 245 botes/mm aos 70 anos. Nos olhos o cristalino endurece e muda sua
transparncia a partir dos 45, e o msculo ciliar fica menos eficiente, da surge a dificuldade de
focar e a vista se torna cansada. A partir dos 60 anos a distino entre tons de azul e verde
dificultada. Alm disso, alguns distrbios visuais como miopia, hipermetropia, astigmatismo e
catarata comprometem a viso progressivamente.
A orelha tambm manifesta o envelhecimento, o indivduo perde a acuidade sonora
e pela deficincia da irrigao sangunea (oxigenao) da poro vestibular ter mais
desequilbrios e tonturas, sintomas de labirintite.
No aparelho cardiorrespiratrio, o corao de um jovem submetido a esforo fsico
contrai cerca de 200 vezes/minuto, mas aos 60 anos chegar a 160 por minuto. Entre 30 e 55
anos, fibras cardacas perdem miofibrilas e as valvas enrijecem lentamente, dificultando e em
conseqncia diminuindo os batimentos. A partir dos 40 as artrias sero menos elsticas e
aumenta riscos de doenas vasculares coronarianas e AVC (acidentes vasculares cerebrais). Pela
obstruo gradativa das artrias, dos 50 anos em diante a chance de um infarto 200 vezes
308
maior. Mas a natureza tambm foi seletiva e proporcionou ao indivduo alguns mecanismos
morfolgicos de sobrevivncia: nessa idade so estabelecidas pontes de artrias entre os ramos
das artrias coronrias, as anastomoses, so ligaes entre vasos que formam caminhos
alternativos para o sangue chegar a um local do miocrdio quando o vaso principal tiver alguma
obstruo e por essa razo comum esses indivduos terem vrios infartos mas no fulminantes
como ocorre em alguns jovens ou adultos. Os pulmes tm sua eficincia pulmonar comprometida
a partir dos 40 anos com a diminuio da elasticidade passiva, dificultando a expirao, com
menor eficincia da musculatura da caixa torcica responsvel pela inspirao: a respirao
mais difcil e ocorrem menos trocas gasosas. O epitlio ciliado da rvore brnquica e a secreo
mucosa da via aerfera tambm sofrero gradativa diminuio, logo o ar ter pior qualidade do que
seria a pureza e propriedades ideais para a respirao.
No sistema digestrio, a partir dos 45 anos, o estmago produz menos secreo
gstrica, aumentando a dificuldade de ingerir alimentos gordurosos, o que se deve tambm a
alteraes hepticas e pancreticas, com isso a ingesto mais comum e a comida pesa mais na
barriga. Aos 60 anos a parede intestinal perde parte da capacidade de absoro e os alimentos
sero aproveitados com menor intensidade comeam algumas deficincias nutricionais.
Os rins comeam a atrofiar desde os 30 anos e aos 50 anos j perderam 30% do
peso. Por isso o sangue demora mais a ser filtrado (depurado) e da a incidncia maior de
intoxicao em idosos.
Analisando os rgos sexuais e as funes reprodutivas, a mulher adentra o
perodo de menopausa perdendo a capacidade reprodutiva por volta dos 45 anos. A diminuio
dos nveis hormonais sexuais (testosterona nos homens e estrgeno nas mulheres) afeta mais do
que os prprios rgos do sistema alterando o organismo, da flacidez corporal alterao do
desejo sexual.
Mesmo sabendo que no crebro, at antes dos 30 anos, os neurnios comeam a
morrer o que afeta diretamente os circuitos nervosos e que, a irrigao diminuindo e,
conseqentemente, a menor oxigenao, tambm so agravantes, devemos realizar todas
aquelas atividades e usar todas as ferramentas para retardar um processo inerente ao ser vivo, o
envelhecimento.
309
Estado fsico natural
O ndice de Massa Corporal (IMC), tambm chamado de ndice de Quetelet, um
clculo que se faz com base no peso e na altura da pessoa e serve para avaliar se determinado
peso excessivo ou no para determinada altura. O ndice de Massa Corporal obtido dividindo-
se o peso em quilogramas (kg) pelo quadrado da altura em metros (m): IMC = kg/(m x m)
Ex: suponhamos que uma pessoa tenha 56 Kg e 1,62 m de altura. Seu ndice de
massa corporal ser: 56/(1,62 x 1,62) = 56/2,6244 = 21,33. Portanto, seu IMC ser
aproximadamente 21, demonstrando que essa pessoa tem um peso adequado para sua altura.
A Organizao Mundial de Sade considera os seguintes valores para avaliao do
estado nutricional: valores menores que 18,5 - magreza patolgica; valores de 18,5 a 20 -
magreza; valores de 20 a 25 - peso normal, sendo que o peso ideal corresponderia a um IMC de
22,5; valores de 25 a 30 - sobrepeso; valores maiores que 30 - obesidade;
Embora o IMC tenha sido desenvolvido para avaliar obesidade, ele tambm pode
ser utilizado para avaliar magreza. ndices entre 18,5 e 20, embora no considerados normais, no
significam necessariamente que haja algum problema, podendo ser simplesmente devidos
prpria constituio da pessoa.
O tratamento do sobrepeso e da obesidade importante, pois j foi constatado por
diversos estudos que a obesidade acarreta em maior risco de doenas cardacas, como
hipertenso, hiperglicemia e dislipidemia (alterao de colesterol e triglicrides). Alm disso, outras
doenas, como diabetes, acidente vascular cerebral (AVC) e doenas do trato digestrio ocorrem
mais freqentemente em pessoas obesas.
O tratamento com dietas o mais importante. Deve-se evitar aqueles tratamentos
que prometem a reduo de peso a um curto espao de tempo. Embora alguns sejam realmente
eficazes, eles podem trazer srios efeitos colaterais sua sade. O ideal encarar a obesidade
como um problema crnico, que deve ser tratado por uma verdadeira mudana na dieta e no estilo
de vida. Emagrecer por um ms e depois voltar a comer tudo como antes no adianta!
O ideal adotar uma dieta hipocalrica, mas diversificada, que consista de 50 a
60% de carboidratos, 30 a 40% de protenas e o mnimo possvel de gorduras. Outra atitude
importante a incorporao de exerccios fsicos no seu dia-a-dia, de forma a queimar calorias em
excesso.
Algumas dicas para quem quer diminuir de peso: busque o hbito de comer
lentamente (de 20 minutos a meia hora), ingerindo lquidos somente ao final da refeio; procure
opes de alimentos menos gordurosos; evite acar em excesso e procure comer mais frutas,
310
vegetais; prefira fazer de 4 a 6 refeies diariamente, comendo em pouca quantidade, do que 3
refeies volumosas;
Se essas atitudes no surtirem efeito, procure acompanhamento mdico ou
orientaes de um nutricionista. Em casos mais graves, o mdico poder utilizar ainda medicaes
especiais para emagrecimento (que NUNCA devem ser utilizadas sem acompanhamento mdico)
ou mesmo indicar uma cirurgia para diminuio de peso (para aqueles casos acima de 35 a 40 de
ndice de massa corporal).
CONSIDERAES FINAIS
Outras informaes anatmicas e morfolgicas como, por exemplo: O Bico das
aves, As cores e o brilho dos vertebrados, Vertebrados peonhentos e venenosos, Escamas dos
Peixes, Patologias dos Sistemas Tegumentar, Esqueltico, Circulatrio, Urinrio e Reprodutor,
foram abordados quanto aos aspectos particulares e caractersticas gerais.
Com a proposta de estudar o corpo humano na perspectiva interdisciplinar nas
reas de anatomia, fisiologia e zoologia geral, produziu-se um instrumento didtico, com
informaes atualizadas, articulando morfologia e funcionamento do corpo, provendo outras
informaes sobre as formas e funes de estruturas similares em outros grupos animais (peixes,
anfbios, rpteis, aves e demais mamferos). Elaboramos esse instrumento que, embora
despretensioso e muito distante de desprestigiar o slido conhecimento sobre o assunto que se
encontra nos livros didtico-instrucionais, esperamos ser til como subsdio para que professores
possam adquirir informaes mais amplas sobre esses assuntos. Em nossa particular viso,
buscou-se uma aplicvel contextualizao do homem no meio em que vive e das relaes
evolutivas que este apresenta com os demais seres vivos vertebrados.
BIBLIOGRAFIA
CARVALHO, H.F. A clula 2001. Tambor: Manole, 2001. 287p.
DANGELO, J.G., FATTINI, C.A. Anatomia Humana Bsica. So Paulo: Atheneu, 1988. 184p.
HILDEBRAND, M. Anlise da estrutura dos vertebrados. So Paulo: Atheneu, 1995. 700p.
JACOB, S.W.; FRANCONE, C.A.; LOSSOW, W.J. Anatomia e Fisiologia Humana. 5 ed. Rio
Janeiro: Editora Guanabara Koogan.1990. 569p.
JUNQUEIRA, L.C., CARNEIRO, J. Histologia Bsica, 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1999. 427p.
ORR, T.R. Biologia dos vertebrados. 5 ed. So Paulo: Rocca, 1986. 508p.
POUGH, F.H.; HEISER, J.B.; MCFARLAND, W.N. A Vida dos Vertebrados. 2 ed. So Paulo:
Atheneu, 1999. 798 p.
ROMER, A.R. PARSONS, T.S. Anatomia Comparada dos Vertebrados. So Paulo: Atheneu, 1985.
559p.
Você também pode gostar
- "A Árvore Relâmpago" Por Pat Rothfuss PDFDocumento42 páginas"A Árvore Relâmpago" Por Pat Rothfuss PDFAline Krei100% (1)
- Modelo de Resenha Critica-FilmeDocumento4 páginasModelo de Resenha Critica-FilmeCaroline Eugênio de GoisAinda não há avaliações
- Direito de VizinhançaDocumento24 páginasDireito de VizinhançaLéa FreitasAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO - Citogenética e Palinologia Das Subfamílias Caesalpinioideae e Faboideae (Fabaceae) Do Sul de Minas GeraisDocumento129 páginasDISSERTAÇÃO - Citogenética e Palinologia Das Subfamílias Caesalpinioideae e Faboideae (Fabaceae) Do Sul de Minas GeraisThamms LAinda não há avaliações
- ESTUDO ORIENTADO 2021 - QuestionáriosDocumento2 páginasESTUDO ORIENTADO 2021 - QuestionáriosRoseli_direitoAinda não há avaliações
- A Organização Dos Ambientes Da Escola de Educação Infantil: Um Diálogo Entre A Pedagogia e A ArquiteturaDocumento38 páginasA Organização Dos Ambientes Da Escola de Educação Infantil: Um Diálogo Entre A Pedagogia e A ArquiteturaStelle GosoAinda não há avaliações
- Patrimônio Geológico: Síntese Terminológica e EvoluçãoDocumento8 páginasPatrimônio Geológico: Síntese Terminológica e EvoluçãoDaiana Paula SalesAinda não há avaliações
- Exerc Aula 6 Fis Esp Cons Energia Qtde MovimenDocumento6 páginasExerc Aula 6 Fis Esp Cons Energia Qtde MovimenLucas HenriqueAinda não há avaliações
- Claudia Lopez Objetos Indigenas 2015Documento22 páginasClaudia Lopez Objetos Indigenas 2015artur ribeiroAinda não há avaliações
- Apostila Filosofia Política e Contemporânea 4Documento39 páginasApostila Filosofia Política e Contemporânea 4Xyko YouTubeAinda não há avaliações
- História Da LogísticaDocumento9 páginasHistória Da Logísticaleolfs5Ainda não há avaliações
- Lei #10.670, de 31 de Agosto de 2017Documento2 páginasLei #10.670, de 31 de Agosto de 2017Remulo Remak Romano Carvalho FrançaAinda não há avaliações
- Aquário Vasco Da GamaDocumento2 páginasAquário Vasco Da GamaPlaneta TraquinasAinda não há avaliações
- Tutorial ACD LABDocumento40 páginasTutorial ACD LABDanilo BatistaAinda não há avaliações
- LDP I PDFDocumento13 páginasLDP I PDFnuro2010Ainda não há avaliações
- Kit de Sobrevivencia em Tempos de CaosDocumento11 páginasKit de Sobrevivencia em Tempos de CaosCarol DiasAinda não há avaliações
- TICT - Patricia Teles PDFDocumento124 páginasTICT - Patricia Teles PDFLucas SilvaAinda não há avaliações
- A Filosofia e Os Seus InstrumentosDocumento33 páginasA Filosofia e Os Seus InstrumentosInes GoncalvesAinda não há avaliações
- Apresentação Corpo e CulturaDocumento24 páginasApresentação Corpo e CulturaAngela Santana AtanazioAinda não há avaliações
- GE - Empreendedorismo Social e Administração Pública Gerencial - 02Documento11 páginasGE - Empreendedorismo Social e Administração Pública Gerencial - 02Aline DeiróAinda não há avaliações
- Entrevista Texto 2Documento3 páginasEntrevista Texto 2Swammy AlvesAinda não há avaliações
- Programa Base (Escola Primaria) #29753 Braulio MagnumDocumento2 páginasPrograma Base (Escola Primaria) #29753 Braulio MagnumBraulio100% (1)
- 23 OriginalDocumento14 páginas23 OriginalRui MotaAinda não há avaliações
- 1 A Política Nacional de Educação Especial Na Perspectiva Da Educação InclusivaDocumento21 páginas1 A Política Nacional de Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusivakamorset limaAinda não há avaliações
- PM Final2 EadDocumento12 páginasPM Final2 EadAdivaniaAinda não há avaliações
- Unique ButterflyDocumento139 páginasUnique ButterflyMaria ClaraAinda não há avaliações
- Manual de Adverbios - Trabalho de Lingua Portuguesa - Augusto Kengue Campos - Advérbio de Modo, Advérbio de Intensidade, Advérbio de Lugar, Advérbio de NegaçãoDocumento11 páginasManual de Adverbios - Trabalho de Lingua Portuguesa - Augusto Kengue Campos - Advérbio de Modo, Advérbio de Intensidade, Advérbio de Lugar, Advérbio de NegaçãoAgostinhoAinda não há avaliações
- Schulz - Manual Secador de Ar SRS 60Documento27 páginasSchulz - Manual Secador de Ar SRS 60Valdenio AraujoAinda não há avaliações
- Prova 39 Tecnico de Manutencao Jnior MecanicaDocumento13 páginasProva 39 Tecnico de Manutencao Jnior MecanicaDiegoAinda não há avaliações
- Simulado - CAS 1 - 2023Documento41 páginasSimulado - CAS 1 - 2023Felipe de Carvalho SallesAinda não há avaliações