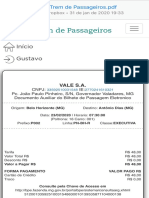Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
TESOURO NACIONAL OTIMA Estabilizacao - Crescimento
TESOURO NACIONAL OTIMA Estabilizacao - Crescimento
Enviado por
Thaty Cris0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações48 páginasTítulo original
TESOURO NACIONAL OTIMA Estabilizacao_crescimento
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações48 páginasTESOURO NACIONAL OTIMA Estabilizacao - Crescimento
TESOURO NACIONAL OTIMA Estabilizacao - Crescimento
Enviado por
Thaty CrisDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 48
Tema I
Poltica Fiscal e Dvida Pblica
Dvida Interna, Infao e Desinfao
(1964-2004): o fnanciamento do Estado
brasileiro sob a perspectiva da vulnerabilidade
externa e da preferncia pela liquidez do
mercado de ttulos pblicos
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Terceiro Lugar
Carlos Alberto Lanzarini Casa *
* Mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Resumo
Esta monografa se baseia na codifcao dos parmetros de vulnerabilidade ex-
terna e de preferncia pela liquidez do mercado de ttulos pblicos para a explicao
do perfl da dvida interna brasileira nos anos de indexao (1964-1994) e nos dez
primeiros anos de estabilizao (1994-2004). A estrutura de curto prazo, quanto ao res-
gate dos ttulos pblicos, enraizou-se no mercado nacional a despeito de todo esforo
fscal realizado nos ltimos anos. A generalizao das regras de indexao para todos os
contratos da economia, ao longo de trinta anos de vigncia da correo monetria, em
conjunto aos sucessivos abalos externos vivenciados pela economia brasileira, desde
ento, moldaram o quadro de incerteza no que tange noo de curto prazo em rela-
o aceitao dos ttulos pblicos emitidos. O principal eixo desta monografa visa
a demonstrar a predominncia da emisso de ttulos pblicos ps-fxados tanto nos
perodos de alta infao, quanto no prprio perodo de estabilizao, ps-Plano Real.
O balizamento entre infao e desinfao diante da emisso majoritria de ttulos
pblicos ps-fxados tem a ver com o fato de a estruturao das fnanas pblicas ter
sido baseada, por vrias dcadas, em uma captao frgil de recursos internos e exter-
nos, ora num quadro de infao crnica, ora sob conjunturas externas desfavorveis.
Os exemplos clssicos dessa fragilidade foram sem dvida: a Conta-Movimento, a Lei
Complementar n
o
12, de 1971, a qual formatava o ento oramento monetrio, e
o famoso mecanismo de boca do caixa, alm desses, se destacaram a zeragem au-
tomtica de ttulos pblicos, em vigor at 1995, e de sobremaneira as operaes de
esterilizao, as quais representaram a meta de conteno da expanso monetria di-
ante da aquisio de reservas internacionais, e que sempre acabaram por converter,
em momentos distintos, dvida externa em dvida interna, nos anos 1980, e entrada de
capitais externos em dvida interna, nos anos 1990. O ponto essencial, frisado por esta
monografa, diz respeito rigidez quanto forma predeterminada de aceitao dos
ttulos pblicos pelo mercado nacional (de curto prazo e essencialmente ps-fxados),
oriunda de um processo histrico, resultante de dcadas de desconfana quanto
sade fnanceira do Estado brasileiro, no s em funo das diversas oscilaes das
regras de indexao, mas tambm por conta das incertezas geradas diante da eterna
necessidade de captao de poupana externa. O resultado desse processo se traduz
numa das maiores barreiras atuais para a execuo das fnanas pblicas: o alongamen-
to dos prazos de resgate dos ttulos pblicos. Isto posto, constata-se que este quadro
de incerteza demandar anos para sua superao, mesmo sob o vigoroso cumprimento
das metas de infao e da progressiva formao de superavits primrios.
Palavras-chave: Vulnerabilidade externa. Preferncia pela liquidez. Dvida interna.
Sumrio
1 INTRODUO, 5
2 A LGICA DO FINANCIAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO DIANTE DA INDEXAO (1964-1980), 6
3 A LGICA DO FINANCIAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO DIANTE DA INDEXAO (1981-1993), 11
4 ESTABILIZAO INTERNA VIA POUPANA EXTERNA: A ATUAO DOS FLUXOS DE CAPITAIS EXTERNOS SOBRE A
DINMICA DA DVIDA INTERNA, 22
5 A LGICA DO FINANCIAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO DIANTE DA ESTABILIZAO PSPLANO REAL
(1994-2004), 28
6 A ESTRUTURA DA DVIDA MOBILIRIA FEDERAL (1994-2004), 32
7 A ESTRUTURA DOS PRAZOS DOS TTULOS PBLICOS APS A FLUTUAO CAMBIAL DE 1999, 36
8 CONSIDERAES FINAIS, 39
REFERNCIAS, 41
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
5
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
1 Introduo
O objetivo desta monografa se faz em demonstrar a relao existente entre
o papel da preferncia pela liquidez do mercado de ttulos pblicos na economia
brasileira, somado ao quadro crnico de vulnerabilidade externa, em relao di-
nmica do crescimento da dvida interna, desde a formalizao dos ttulos pblicos
sob a gide da correo monetria at 2004, dez anos aps o Plano Real. O conceito
de dvida pblica, parte do princpio do poder do Estado em colocar papis no mer-
cado fnanceiro, como forma de se fnanciar sem ter de recorrer emisso mone-
tria. A anlise sobre como se posiciona o mecanismo de fnanciamento do Estado
para a aquisio de recursos extraoramentrios, via emisso de ttulos pblicos,
gera implicaes de como se d o comportamento do estoque desta dvida pblica
diante de um quadro infacionrio ou no.
A demarcao de trs perodos para esta anlise se enquadra na necessida-
de de se estabelecer dois cortes transversais quanto forma de fnanciamento do
Estado brasileiro, desde as reformas do Plano de Ao e Estruturao do Governo
(Paeg) em 1964, passando pelos perodos do milagre econmico e do II PND. In-
cluindo a turbulncia gerada pelos choques do petrleo e dos juros nos anos 1970,
pelo quadro de infao crnica, estabelecido ao longo dos anos 1970, 1980 e 1990,
e por ltimo se analisa a dinmica da dvida interna dentro da lgica de estabiliza-
o implantada a partir do Plano Real.
De fato, esta anlise compreende o perodo que vai desde 1964 at 2004,
quando se completam dez anos de lanamento do Plano Real. O objeto de trabalho
deste captulo est focado na comparao das implicaes resultantes da questo
infacionria brasileira sobre a dvida interna nesses trs perodos detalhados: 1964-
1980, da formulao da correo monetria at o incio da crise da dvida externa,
impulsionando o crescimento da dvida interna; 1981-1993, do acirramento do ajus-
te externo at o maior perodo de convivncia com nveis inditos de infao, alm
dos respectivos planos de estabilizao; 1994-2004, retratando o papel do modelo
de estabilizao em vigor at os dias de hoje sobre a composio da dvida interna,
e como esta acabou por se transformar na maior efeito colateral da execuo do
Plano Real. Na ltima seo, analisa-se o perfl da dvida interna aps a liberao
cambial de 1999, cujo foco se faz na elucidao da rigidez dos prazos de resgate
dos ttulos pblicos entre 1999 e 2004, apesar de ter havido mudanas conjunturais
signifcativas nesse perodo.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 6
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
2 A lgica do financiamento do Estado
brasileiro diante da indexao (1964-1980)
As reformas, bancria, fnanceira e monetria, introduzidas pelo regime
militar, aps o golpe de 1964, resumidas na fgura do Plano de Ao e Estrutu-
rao do Governo (Paeg), criaram como eixo essencial desse sistema fnanceiro
a instituio da correo monetria. Esta ltima tinha como justifcativa a in-
troduo de um mecanismo automtico de proteo dos ttulos pblicos contra
a corroso gerada pela acelerao infacionria e, com isso, visava instituir um
mercado de capitais a partir da captao de recursos no mercado interno, em que
esses ttulos, ao serem blindados contra quaisquer perdas causadas pela infao,
serviriam de base slida para o Estado poder coloc-los no mercado e, assim, te-
rem aceitao rpida. Proporcionando uma fonte extra de recursos que, em tese,
seriam oriundos de um processo no infacionrio, apenas transferindo meios de
pagamentos para outras modalidades de agregados monetrios.
O primeiro ttulo institudo sob a lgica da correo monetria foi a Obriga-
o Reajustvel do Tesouro Nacional (ORTN)
1
, com a Lei n
o
4.357, de 16 de julho
de 1964, e anos mais tarde tendo sido resgatada toda a dvida mobiliria anterior
ORTN, pelo Decreto-Lei n
o
263, de 21 de julho de 1967 (ALM; GIAMBIAGI,
1999, p. 108), ao mesmo tempo em que foi institudo o mecanismo da correo
monetria, o bojo de reformas lideradas pelo Paeg criou no ano seguinte, em 1965,
o Banco Central do Brasil (Bacen) como autoridade monetria. A contrapartida da
extino da Superintendncia Monetria e Creditcia (Sumoc), de responsabilidade
do Banco do Brasil, veio por meio da Conta-Movimento. Conta esta que permitia
ao Banco do Brasil zerar todo o seu defcit de caixa dirio junto ao Banco Central,
produzindo na realidade uma monetizao deste defcit e uma fonte de recursos in-
fnitos para o Banco do Brasil. A duplicidade desta conta resultava do fato de que o
Banco do Brasil no s continuara a atuar como banco comercial, mas no deixara
de ser autoridade monetria, exercendo o direito de emitir moeda diariamente e
no possuindo nenhuma forma de restrio aos emprstimos concedidos. A Conta-
Movimento perdurou por mais de vinte anos, s sendo extinta em 1986, com o
lanamento do Plano Cruzado.
Outro aspecto da poltica de colocao de dvida pblica do governo militar foi
a Lei Complementar n
o
12, de 1971, que passou do Legislativo para o Executivo o
poder de administrar a colocao de ttulos pblicos, tornando o oramento monetrio
num instrumento que reunia a contabilidade das autoridades monetrias e permitindo
1
O prazo de resgate variava de 1 a 20 anos, e o valor nominal era reajustado periodicamente pelo valor da infao passada mais uma taxa de
juros de 6% ao ano. Os ajustes nos valores dos ttulos eram, inicialmente, trimestrais, passando a ser mensais no decorrer da dcada de 1960,
conforme os coefcientes de ajuste divulgados pelo Ministrio da Fazenda. Alm disso, para incentivar as ORTN, o governo determinou que
quem comprasse o ttulo at maio de 1966, poderia optar pela clusula de correo monetria, ou pelo reajuste de acordo com a variao do
dlar. A clusula de correo cambial estabelecia que os detentores das ORTN, poderiam optar, ou pela correo do valor dos ttulos em funo
dos coefcientes calculados pelo Banco Central, com base na variao da cotao da moeda em relao ao dlar ofcial.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
7
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
que este fosse integrado s execues oramentrias tradicionais. Como decorrncia
disso, a ainda recente poltica de formao de dvida interna, instituda pelo Paeg, se
somara ao leque de instrumentos responsveis pela formao de recursos a serem
disponibilizados para os investimentos pblicos. Pode ser dito ento que a base do
fnanciamento governamental implementao dos projetos de desenvolvimento
tanto no milagre econmico (1967-1973) quanto no II PND (1974-1979), do ponto
de vista da aquisio de recursos internos (desconsiderando-se tanto o fnanciamento
externo quanto os recursos do ento Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico
BNDE) se pautou nesses instrumentos: a Conta-Movimento do Banco do Brasil e
o oramento monetrio, viabilizado pela Lei Complementar n
o
12.
[...] Essa lei concedeu autoridade e fexibilidade absolutas s au-
toridades monetrias, na administrao da dvida mobiliria in-
terna, com a eliminao dos limites anteriormente existentes de
expanso da dvida. Ela permitiu ao Banco Central emitir ttulos
por conta do Tesouro Nacional, e contabilizar os correspondentes
encargos no prprio giro da dvida pblica, sem que estes tivessem
que transitar pelo Oramento Geral da Unio. A Lei Complemen-
tar n
o
12 outorgava s autoridades monetrias uma enorme fexibi-
lidade na administrao da dvida pblica interna, inclusive para o
fnanciamento de dispndios extra-oramentrios. A partir de en-
to, o Banco Central, como administrador da dvida pblica, fcou
encarregado de todas as ofertas pblicas de ttulos, bem como do
resgate e do pagamento dos juros, determinando o montante de
cada emisso, infuindo nas taxas de captao, e administrando os
recursos oriundos da colocao primria de ttulos. Alm disso,
cabia a ele baixar normas administrativas e a iniciativa de propor
alteraes legais que envolvessem a dvida mobiliria da Unio.
Assim, o Banco Central passava a realizar emisses primrias de
ttulos no s para atender ao giro da dvida interna, ou para fns
de poltica monetria na neutralizao dos efeitos expansionis-
tas das operaes cambiais, por exemplo, mas tambm para arcar
com os repasses de recursos para os programas de fomento, e para
demais operaes conduzidas pelas autoridades monetrias por
conta e ordem do Tesouro Nacional. Essas operaes no eram
registradas no Oramento Geral da Unio, mas fcavam embuti-
das no chamado oramento monetrio, no sendo explicitado o
montante do dfcit do governo em suas relaes com o restante do
sistema econmico (ALM; GIAMBIAGI, 1999, p.113).
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 8
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
Em conjunto s ORTN,
2
foi criada pelo Decreto-Lei n
o
1079, de 29 de janeiro de
1970, a Letra do Tesouro Nacional (LTN)
3
, cuja fnalidade era a de iniciar um processo
de sintonia fna no ajuste da oferta de moeda, sobretudo no que dizia respeito ao impacto
monetrio das operaes com ttulos pblicos federais.
4
Numa poltica de curto prazo, que
posteriormente passaria a ser conhecida por open market. Nesse contexto, a correlao
entre infao e dvida interna ainda no havia sido materializada como nas dcadas se-
guintes, dado o tambm ainda pequeno estoque da dvida interna, tal que os efeitos sobre a
no desvalorizao desta, em funo da correo monetria, apresentavam efeitos despre-
zveis sobre o oramento pblico. A dvida interna no possua, nesta poca, propores
considerveis para gerar qualquer forma de estrangulamento s fnanas pblicas.
5
A principal fonte de fnanciamento, no s pblico, mas tambm privado,
era o fnanciamento externo, num perodo favorecido pela quebra do padro Bretton
Woods, a partir de 1971, e pela reciclagem dos petrodlares (SERRANO, 2002). A
velocidade de crescimento da dvida interna no apresentava signifcncia mesmo
na presena do endividamento externo, pois os recursos externos captados no pre-
cisavam ser necessariamente esterilizados, porque a poltica monetria expansio-
nista fora a marca de um processo de crescimento que associava captao externa
com crdito interno e no com endividamento interno.
6
[...] aps o ajuste das contas pblicas, efetuado pelo PAEG, e com
os salrios rigidamente controlados, a infao passou a apresentar
um forte componente de custos, decorrente da grande capacidade
ociosa existente e dos altos custos fnanceiros. A soluo para a
continuidade da queda da infao seria a retomada do crescimen-
to econmico, tendncia verifcada em toda a economia mundial
da poca. Para isso, era fundamental que se adotasse uma polti-
ca monetria expansiva e que houvesse um grande aumento no
crdito ao setor privado, estimulando a produo para o mercado
interno e externo (MARQUES; REGO, 2002, p.111).
2
Em virtude da pontualidade de pagame-ntos, das taxas de juros reais positivas e da efciente campanha de divulgao, uma demanda volunt-
ria pelas ORTN surgiu de forma rpida. Entre 1966 e 1971, a demanda por ORTN cresceu mais do que a necessidade de captao do governo
federal. Este excedente de fnanciamento promoveu diversos programas de crdito e aumentou de forma expressiva os recursos disponveis
para os governos locais. As ORTN foram lanadas, a priori, com prazo de 1 ano, mas passaram a ser emitidas com prazos mais curtos, dado o
incremento de demanda por essa modalidade de ttulo indexado, uma amostra inicial do que seria, anos mais tarde, a exacerbao da preferncia
pela liquidez, manifestada pelas quase moedas. Apesar de no ter sido criada com o objetivo de ser unidade de conta, as ORTN ganharam um
espao notrio, por passarem a ser usadas com referncia de valor para outros contratos.
3
As LTN foram criadas em 1970 com prazos de 42, 91 e 182 dias. Por serem simples, eram mais apropriadas para as operaes de mercado
aberto. As LTN eram ttulos prefxados e alguns mecanismos de subscrio compulsria e iseno fscal garantiram a colocao desses ttulos
no mercado. Essa iseno fscal consistia na utilizao como lastro em depsitos compulsrios, como garantia na cobertura de reservas tcnicas
das seguradoras e composio de fundos, e na aplicao de recursos externos que no estivessem empregados nas operaes de repasses cam-
biais, no pagamento de tributos federais, entre outros.
4
As LTN representaram a demarcao ofcial do chamado processo de esterilizao, pois a combinao de expanses monetrias, provenientes da
entrada de recursos externos, e a colocao de dvida pblica interna no mercado fnanceiro resultaram da defnio do conceito de ajuste da poltica
monetria a curto prazo, para impedir que a emisso monetria, oriunda das divisas convertidas internamente, produzissem efeitos infacionrios.
5
As repercusses dos choques externos sobre as fnanas pblicas s comearam a ser sentidas no fnal dos anos 1970 e incio dos anos 1980,
at ento o crdito externo barato e a poltica econmica expansionista diluam os possveis efeitos de um endividamento que representasse o
fm da poupana pblica propriamente dita.
6
Parte das divisas, obtidas com a entrada de recursos externos, era esterilizada e convertida em dvida interna, porm a maior parte sem dvida
era direcionada para o crdito interno.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
9
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
A combinao de polticas fscais e monetrias expansionistas advinha de
um programa direcionado ao estmulo da demanda agregada, ao investimento p-
blico (via empresas estatais) e a todo um sistema de incentivos exportao de ma-
nufaturados (BONELLI, 2004, p. 315). As empresas estatais tiveram papel central
no milagre econmico e no II PND por serem as principais captadoras do fnancia-
mento externo, at mesmo repassando-o para a iniciativa privada.
[...] As empresas estatais, conforme determinao governamen-
tal, s podiam ter acesso ao sistema fnanceiro externo, estando
impedidas de recorrer ao crdito interno. As estatais, com seus
imensos ativos, eram o mercado ideal para o sistema fnanceiro
internacional, que j estava reciclando os petrodlares, isto , os
imensos excedentes que os pases rabes exportadores de petrleo
comeavam a acumular com o aumento dos preos do produto.
Nesse quadro de grande liquidez internacional, a conjuntura eco-
nmica mundial adversa reduzida os demandantes de crdito. O
governo brasileiro e suas grandes empresas passaram a ser prati-
camente os nicos grandes tomadores de recursos do sistema f-
nanceiro internacional. Dessa maneira, entraram no pas recursos
que fnanciaram nossos dfcits em transaes correntes, causados
pelo aumento dos dfcits das balanas comercial, e de servios.
A defcincia deste esquema de fnanciamento reside no fato de
que os emprstimos eram concedidos a taxas de juros futuantes,
em uma conjuntura econmica mundial em que j no se pratica-
vam as taxas de juros reais negativas dos anos 60 (MARQUES;
REGO, 2002, p. 123).
Esta constatao demonstrava o papel da vulnerabilidade externa sobre a
economia brasileira que seria sentida na virada dos anos 1970 para os 1980 e que,
com o processo de estatizao da dvida externa, determinaria o incio do colapso
das fnanas pblicas, incluindo as perdas acumuladas de receitas fscais em funo
da srie de renncias e subsdios; vide os exemplos do setor de bens de capital du-
rante o II PND e da gradual queda da carga tributria que passara a ser substituda
pelo ento lento e progressivo crescimento da dvida interna. A exacerbao do
problema da vulnerabilidade externa tomara dimenso com o choque do petrleo de
1973 e com o direcionamento da poltica econmica em favor da continuidade do
crescimento pautado no fnanciamento externo, que acentuara o defcit em transa-
es correntes. O consumo de petrleo passou de 21 milhes de m em 1967, para
46 milhes de m em 1973, e a importao passou de 59% para 81% do consumo
interno (HERMANN, 2004, p. 95), podendo-se atribuir questo da substituio
energtica um dos pontos centrais da execuo do II PND, como tentativa de redu-
o da vulnerabilidade do balano de pagamentos.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 10
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
TABELA 1
DVIDA INTERNA, CARGA TRIBUTRIA, CRESCIMENTO DO PIB E INFLAO
Anos Dvida interna (% PIB)
Carga tributria
(% PIB)
Cresc. PIB (%) Infao (IGP)
1964 0,6 17,0 3,4 92,1
1965 0,4 19,0 2,4 34,2
1966 1,8 21,0 6,7 39,1
1967 3,8 20,5 4,2 25,0
1968 3,3 23,3 9,8 25,5
1969 3,2 24,9 9,5 19,3
1970 4,4 26,0 10,4 19,3
1971 5,9 25,3 11,3 19,5
1972 7,5 26,0 11,9 15,7
1973 4,3 25,1 14,0 15,6
1974 4,6 25,1 8,2 34,6
1975 6,0 25,2 5,2 29,4
1976 9,4 25,1 10,3 46,3
1977 9,7 25,6 4,9 38,8
1978 9,9 25,7 5,0 40,8
1979 8,6 24,7 6,8 77,2
1980 6,7 24,5 9,2 110,2
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE, FGV.
Na questo infacionria, em pleno perodo de aumento do preo do princi-
pal insumo industrial importado e, de modo bvio, de seus derivados, fcava cada
vez mais impossvel amortecer os repasses em cadeia destes reajustes por instru-
mentos que proporcionassem economias de escala, de modo semelhante ao pratica-
do durante o milagre econmico. Por conta disso, o ano de 1976 marcou o incio da
reverso na poltica monetria pelo aumento da taxa bsica de juros, por instrumen-
tos de controle ao crdito e pela respectiva elevao destas taxas de juros praticadas
pelo mercado.
A repercusso dessa estratgia sobre o estoque da dvida interna resultou
no s no seu crescimento, mas no crescimento da parcela no monetizada,
7
pas-
sando de 12,7% do total da dvida interna em 1970, para 44,6% em 1976, e 59,3%
em 1980 (DIAS CARNEIRO, 1989, p. 315). Num processo ntido de reduo da
demanda por moeda com o crescimento da infao, transferindo base monetria em
favor dos ttulos pblicos na composio dos agregados monetrios. Outro ponto
determinante para o crescimento da emisso de ttulos nesse perodo, como pro-
poro do PIB, correspondia, durante o II PND, s operaes de esterilizao da
entrada de capital no mercado cambial (HERMANN, 2004, p. 104). A esterilizao
era utilizada por motivo do modelo de cmbio fxo empregado.
8
At o fnal da dca-
da de 1970, a poltica de esterilizao j representava um elemento signifcativo no
crescimento da dvida interna, em conjunto ao defcit pblico primrio.
7
Exatamente a parcela correspondente aos ttulos pblicos (ORTN e LTN).
8
Esse mecanismo difere da poltica monetria expansionista empregada durante o milagre econmico, pois durante o II PND o estmulo
demanda era praticado de acordo com os setores predeterminados, sobretudo na substituio de importaes de insumos industriais e bens de
capital vis--vis que em meados da dcada de 1970, por razo da acelerao infacionria, o crdito interno comeava a sofrer restries.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
11
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
Nesse contexto, a infao acabara por exercer dois efeitos distintos sobre
o estoque da dvida interna de 1976 a 1980. No primeiro momento, a acelerao
infacionria fez, por conseguinte, elevar a correo monetria e por extenso as ta-
xas nominais de juros. No segundo momento, a estratgia de prefxao da correo
monetria, no incio de 1980, imps uma corroso remunerao destes ttulos, na
desvalorizao do estoque total da dvida interna, apesar do recrudescimento ainda
maior da infao. Nesse perodo, a dvida interna passou de 9,4% do PIB em 1976,
para 6,7% em 1980, quando a infao saltara de 46,3% para 110,2% (ver tabela 1).
No perodo 1979-1980,
9
a senhoriagem atuou na monetizao de parte dessa dvida,
no momento em que a carga tributria tambm fora achatada pela corroso infa-
cionria sobre as receitas pblicas, fechando a dcada em 24,5% do PIB, apesar de
ter registrado valores superiores casa dos 25% durante a dcada de 1970, tendo
atingido 26,0% em 1970 e tambm em 1972.
3 A lgica do fnanciamento do Estado brasileiro
diante da indexao (1981-1993)
O incio defnitivo do processo de endividamento interno com propores
considerveis foi sem dvida o ano de 1981 (LUPORINI, 2001). A acelerao infa-
cionria por conta do fracasso da tentativa de pr-fxao da correo monetria no
ano anterior empurrou o governo a se refugiar num bojo de medidas ortodoxas, e o
peso desta nova modalidade de poltica monetria recaiu diretamente sobre a dvida
interna. Agora o governo federal passara a emitir ttulos como forma de cobrir os
defcits em caixa e esterilizar a entrada de divisas. A ordem era impedir qualquer
forma de monetizao vis--vis o controle sobre a demanda agregada. O instrumen-
to da dvida pblica entrava em defnitivo na rota do arsenal anti-infacionrio, e
isto como consequncia assumiu contornos irreparveis, sendo o incio do estran-
gulamento da capacidade de promoo do desenvolvimento liderado pelo Estado.
Todo o esquema de ajuste recessivo para a reduo da absoro interna, no
perodo 1981-1983, resultou no crescimento do estoque da dvida interna e na pro-
poro desta no PIB. O crescimento da dvida externa gerou o proporcional cresci-
mento da dvida interna, via mecanismo de esterilizao. Vem justamente desse pe-
rodo a solidifcao do processo de transferncia da riqueza pessoal sob a forma de
haveres monetrios para os haveres no monetrios. As quase moedas substituram
a moeda clssica neste processo de explicitao da preferncia pela liquidez. Os
ttulos pblicos se prontifcaram como ativos de alta liquidez e segurana e acima
de tudo de curto prazo, prazo este que cada vez mais vinha sendo comprimido.
9
Em agosto de 1979, o governo fxou a taxa de cmbio, a taxa de juros e a correo monetria, o que promoveu uma queda abrupta no valor
real da dvida interna e um desaquecimento da demanda por ttulos.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 12
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
[...] A dcada de 1980 foi, em sua totalidade, dominada pela ques-
to do endividamento externo e suas implicaes. Entre estas se
incluem, com destaque, a acelerao infacionria e a recesso do
trinio 1981-1983, iniciada por um conjunto de medidas visando
contrair a absoro interna e incentivar as exportaes para au-
mentar as exportaes lquidas. Essa estratgia foi seguida ao lon-
go do quadrinio 1981-1984 (BONELLI, 2004, p. 317).
E ao contrrio das dcadas anteriores, tanto o perodo 1981-1993, quanto
o perodo 1994-2004, o qual ser retratado na prxima seo, apresentaram como
marca comum a desacelerao do crescimento ou, de certa forma, perodos prolon-
gados de estagnao, alternados por pequenas fases de recuperao da atividade
econmica. O abandono do modelo de desenvolvimento, institudo dos anos 1930
aos 1970, veio seguido por dcadas de debilidade fscal, em que a presena da d-
vida interna simbolizou o estancamento da capacidade empreendedora do Estado
brasileiro.
10
Entre 1980 e 1984, houve uma modifcao considervel na composio
dos ttulos pblicos na direo das ORTN. A dvida interna do governo federal
passou a consistir quase que exclusivamente de dois tipos de ttulos: a) Letras do
Tesouro Nacional (LTN), em poro minoritria, com vencimento de 91 a 182
dias, medidas com base em descontos; e b) em na maior parte de Obrigaes Re-
ajustveis do Tesouro Nacional (ORTN), de duas categorias dois anos a 6% e
cinco anos a 8% vendidas em leilo.
O estoque nominal das letras em circulao aumentou, entre o fm de 1980
e o fm de 1984, de 250 bilhes de cruzeiros para cerca de 5,5 trilhes, decaindo as-
sim de 1,4% para 0,8% do PIB. Em contraste, o estoque nominal das Obrigaes do
Tesouro aumentou de aproximadamente 600 bilhes de cruzeiros, no fm de 1980,
para aproximadamente 85 trilhes de cruzeiros quatro anos depois, ou de 3,2%
para cerca de 13% do PIB. Sua participao na dvida interna do Tesouro cresceu
de 4,6% do produto interno em 1980, para 14% em 1984.
11
Tendo havido, portanto,
um aumento de 70% para 94% no total da dvida interna, representando assim a
preferncia do mercado por ttulos indexados (GOLDSMITH, 1986, p. 548).
No mesmo perodo, a dvida externa pblica saltou de US$ 37 bilhes para
US$ 70 bilhes, ou seja, de 12% para 30% do PIB. Quanto dvida total, vale lem-
brar o efeito da correo monetria sobre os dbitos internos indexados e a desva-
lorizao do cruzeiro de 30% em 1983, refetindo sobre o nus do governo federal
quanto ao dispndio em moeda nacional, referente aos pagamentos dos juros da
10
Ver GONALVES; POMAR, 2002, p. 48.
11
Nos primeiros meses de 1984, visando reduzir o grau de risco das instituies fnanceiras, o Banco Central iniciou a recompra das ORTN com
correo cambial e incentivou a compra de ttulos com correo monetria. Algumas alteraes foram feitas em relao s ORTN; o vencimen-
to passou a ser no primeiro dia de cada ms (em vez do dia 15), o clculo dos juros passou a ser feito pelo valor fnal corrigido do papel (e no
mais pelo valor mdio) e por fm revogou-se a clusula cambial das ORTN de cinco anos emitidas a partir de 1985. Ainda em 1985, ocorreram
mais trs alteraes na metodologia de clculo da correo monetria. Essa era baseada no IGP-DI do ms anterior e passou a ser calculada a
partir da mdia geomtrica dos trs meses anteriores ao ms de referncia. Posteriormente, a correo monetria voltou a ser estabelecida com
base no ms anterior, e, por fm, o IPCA passou a ser utilizado como ndice ofcial da correo monetria.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
13
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
dvida externa. Alm do papel das polticas de esterilizao, que foi sem sombras
de dvidas o fator desencadeador da converso de dvida externa em dvida interna
nesse perodo, ao contrrio da afrmao de que a exploso da rota do processo de
endividamento interno seria herana dos gastos pblicos com os investimentos do
II PND. Afnal de contas, como explicar que as trajetrias da dvida interna e da
infao tenham disparado justamente no perodo em que mais se praticou cortes
de gastos e de investimentos pblicos em todos os setores? Simples, a resposta est
na juno da elevao ostensiva de juros com uma realidade de uma economia ple-
namente indexada. Quando houve meramente o repasse dos aumentos dos custos
fnanceiros para os preos fnais praticados no mercado livre, em acrscimo se dava
o processo de esterilizao da entrada de recursos externos diante da questo de se
manter controlado o nvel da absoro interna, impedindo a expanso da demanda
agregada conforme o receiturio ortodoxo.
Esse processo mostrou uma reestruturao da concepo original da LTN,
instituda como instrumento de open market na lgica de curto prazo, tendo seu
espao reduzido em favor da ORTN durante as fases mais agudas do ajuste reces-
sivo, que perdurou at 1984; mesmo pelo fato da LTN ter sido concebida como
precursora das operaes de esterilizao, pois os ttulos indexados que passaram
a ser realmente os papis de maior aceitao do mercado. A dimenso do processo
infacionrio, assumido a partir de 1983, acabou por agravar a tendncia ascendente
do endividamento interno pelas razes mais peculiares e at ento impossveis de
ter sido previstas. A poltica fscal pr-cclica servira de contrapeso poltica de
juros praticada, num contexto em que os superavits primrios representaram 36,3%
e 64,7% do total da carga de juros, respectivamente em 1983 e 1984 (CARNEIRO,
2002, p. 188). O superavit primrio alcanado, como proporo do PIB, nesses 2
anos foi de 2,4% em 1983, e de 4,6% em 1984 (ver tabela 2).
A queda do superavit primrio a partir de 1986 pde ser observada como
um exemplo de deteriorao fscal resultante do enrijecimento das expectativas in-
facionrias aps as tentativas de controle por meio de congelamento de preos e
salrios. A taxa mdia registrada dos superavits primrios entre 1986 e 1989 se
situara acima de 1%, enquanto a taxa do perodo 1983-1985 superara os 3%, o que
demonstra o grau de corroso s fnanas pblicas gerado pelos picos de acelerao
infacionria entre 1986 e 1989. J a taxa mdia do defcit operacional superou os
5% por razo da manuteno da carga de juros tambm superior taxa de 5% nesse
mesmo perodo. Um claro sinal da insistncia no gradualismo ortodoxo a cada fra-
casso na execuo dos pacotes de combate infao.
[...] O aumento dos gastos com as correes monetria e cambial
da dvida pblica e, simultaneamente, a queda da carga tributria e
da demanda real por base monetria reforaram a tendncia de es-
treitamento das fontes de fnanciamento pblico. As conseqncias
foram a crescente presso sobre a dvida pblica e o aumento da
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 14
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
liquidez da economia, com a expanso monetria e a transformao
da dvida mobiliria em ativo quase monetrio, contribuindo para
ampliar o grau de instabilidade econmica (BATISTA JR., 1989).
O perodo 1986-1989 representou uma relativa estabilidade na razo dvida
interna/PIB, alcanada mediante a manipulao de diversos ndices de correo
monetria durante os planos econmicos, tais expurgos tinham a funo de contra-
balanar as perdas de arrecadao com determinados impostos, que at ento no
estavam plenamente indexados, os quais eram responsveis at mesmo pela redu-
o dos superavits primrios poca.
TABELA 2
DEFICIT PBLICO POR COMPONENTE (%) PIB (1983-1989)
Anos Defcit operacional Carga de juros Superavit primrio
1983 4,2 6,6 2,4
1984 2,5 7,1 4,6
1985 4,3 6,9 2,6
1986 3,6 5,1 1,5
1987 5,5 4,6 0,9
1988 4,3 5,6 1,3
1989 6,9 5,9 1,0
Fonte: Carneiro, 2002.
A relao clssica entre defcit pblico e infao foi refutada nesse nterim, pois
a to citada correlao perdeu seu valor notrio diante da constatao de que a acele-
rao infacionria se dera justamente num perodo de formao de superavits prim-
rios. Ficava evidente o crescimento da dvida interna e da infao, a exemplo de 1981,
quando a dvida interna chegara a 12,6% do PIB, com uma infao anual de 95,2%; e,
em 1984, quando fora registrado um patamar de 25,3% do PIB para a dvida interna,
com uma infao de 223,9% (ver tabela 3). Em contraponto a uma poltica fscal con-
tracionista, com nfase no corte de gastos e investimentos.
12
Como justifcativa, havia
o funcionamento de uma tambm poltica monetria contracionista, que elevara a carga
de juros reais, cujo eixo se dava na compresso da absoro interna e operava por meio
do refnanciamento dos encargos da dvida externa, enfocando na gerao de superavits
comerciais,
13
enquanto a poltica fscal se encarregava dos superavits primrios.
12
A precariedade de tal ajuste estava no fato de a carga tributria continuar se reduzindo, o que tornaria difcilmente sustentvel. Em outras
palavras, a infao e a nova orientao do crescimento, somados ao aumento da carga de juros, continuavam erodindo a carga tributria liquida.
Dessa forma, a continuidade da reduo do defcit pblico para patamar baixssimo, incluindo a realizao de novos cortes, incompatveis com
as necessidades mnimas do crescimento econmico (CARNEIRO, 2002, p.186).
13
No processo de estatizao da dvida externa e da centralizao das obrigaes em mos do governo federal, instituiu-se a conta Aviso MF-
30. Conta cujo saldo lquido do setor pblico consolidado zero, e registra os crditos da Unio junto a Estados, Municpios e suas empresas
estatais, e os dbitos desses nveis de governo para com a Unio, decorrentes da assuno, pelo governo federal, de passivos externos dessas
entidades (GONALVES; POMAR, 2002, p. 34). Esta conta se somara s outras formas de expanso da dvida mobiliria interna.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
15
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
TABELA 3
DVIDA INTERNA, CARGA TRIBUTRIA, CRESCIMENTO PIB, INFLAO
Anos Dvida interna (%PIB)
Carga tributria
(%PIB)
Cresc. PIB (%)
Infao
(IGP)
1981 12,6 25,2 - 3,7 95,2
1982 16,1 26,2 0,8 99,7
1983 21,4 26,9 - 2,9 211,0
1984 25,3 24,2 5,4 223,9
1985 21,7 23,8 7,8 235,0
1986 23,7 26,5 7,5 65,0
1987 19,3 24,3 3,5 415,8
1988 21,3 23,4 0,1 1037,6
1989 21,7 23,7 3,2 1782,9
1990 17,8 29,6 - 4,3 1476,6
1991 13,9 24,4 1,0 480,2
1992 18,5 25,0 - 0,5 1157,9
1993 18,6 25,3 4,9 2708,6
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE, FGV.
A principal peculiaridade dessa poca est no fato de que a poltica mone-
tria contracionista promovera o endividamento via despesas com juros reais,
ao passo que a poltica fscal contracionista reduzira o defcit pblico. No ba-
lano fnal, vencia a poltica monetria, ao impulsionar o endividamento interno,
demonstrando que o acirramento da ortodoxia, que tinha como promessa o controle
da infao, no apenas falhara, mas conduzira o funcionamento da economia para
bases fnanceiras no produtivas. Bases estas que tinham na dvida pblica um re-
fgio diante da perda da confana da moeda corrente e que direcionavam o fuxo
de liquidez da economia (em sua maior parte) para o circuito fnanceiro. Numa
confgurao oriunda da combinao entre poltica monetria e correo monetria,
que se estendeu at a introduo do Plano Real, em 1994, cuja lgica se baseava na
formao de lucros a partir de ativos fnanceiros plenamente indexados. Desviando
recursos da esfera produtiva e sendo autoalimentados por toda uma rede bancria e
fnanceira, cujo alicerce era a colocao de papis da dvida pblica.
14
Dentro da realidade de infao crnica, a anlise da dvida interna na se-
gunda metade dos anos 1980 feita sobre a presena das regras de indexao dos
planos econmicos. O Plano Cruzado,
15
em 1986, extinguiu a Conta-Movimento,
que permitia a monetizao automtica e diria dos defcits de caixa e tambm pro-
moveu a reduo do estoque da dvida interna, por conta da monetizao de parte
dos ttulos pblicos.
14
Apenas durante as fases de congelamento, nas execues dos planos econmicos, incluindo o bloqueio de liquidez ocorrido no Plano Collor
I, que ocorreu uma parcial ruptura do esquema fnanceiro montado entre a correo monetria e a poltica monetria. Fora disso, a dvida
interna, com os prazos de vencimento de seus ttulos cada vez mais curtos, se mostrara como uma ponte entre o fnanciamento lucrativo do
setor privado e o prprio fnanciamento do governo.
15
No Plano Cruzado, a ORTN foi transformada em OTN, passando a ter valor nominal fxo, visando ao fm da indexao nos contratos da
economia.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 16
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
A concepo do Plano Cruzado, sob taxas de juros reais negativas, tinha
como meta no somente a reorientao das expectativas embutidas nos contratos,
mas a preocupao quanto ao descontrole do crescimento da dvida interna, caso
fossem praticada taxas bsicas de juros elevadas num cenrio de estabilizao de
preos (MODIANO, 1989, p. 360). O crescimento do estoque total da dvida in-
terna
16
entre 1986 e 1989 o retrato do fracasso dos processos de congelamento e
descongelamento de preos e salrios no controle da infao. Vindo a produzir uma
exacerbao da preferncia pela liquidez dos detentores de ttulos pblicos, que
refetiu no crescimento das taxas de juros e no respectivo encurtamento dos prazos
de resgate dos ttulos pblicos.
As tentativas malogradas de combate infao por meio dos Planos Cruzado,
Bresser e Vero tiveram como reverso o enrijecimento das expectativas infacionrias
diante de sucessivos congelamentos, o que sob a tica da composio da dvida pblica
fez prevalecer os ttulos sob a forma de overnight, de rolagem diria. O resultado foi
um crescimento do estoque nominal da dvida interna (medido em dlares) de US$ 58,4
bilhes em 1986, para US$ 99,81 bilhes em 1989 (ver tabela 4), mantida estvel, entre-
tanto, a razo dvida interna/PIB nesse perodo, conforme os dados da tabela 3.
Ao fnal de 1986, o Plano Cruzado II trouxe o descongelamento do valor da
OTN, a adoo de um novo ndice ofcial de infao, o ndice de Preos ao Con-
sumidor (IPC), e as LBC substituram as OTN no papel de indexadores de ativos.
As mudanas que ocorreram durante esse ano alteraram bastante o perfl da dvida
mobiliria; o congelamento de preos promoveu uma expanso do consumo e as
incertezas quanto s regras de indexao fzeram com que a demanda por ttulos
casse e, assim, grande parte da dvida foi absorvida pelo Banco Central. Em 1987,
por causa da confuso gerada pelo duplo papel das LBC (instrumento de polti-
ca monetria e indexador da economia), a atualizao do valor nominal da OTN
passou a ser somente baseada no IPC. E, por fm, as LTN deixaram o mercado por
razo do grande aumento da infao. Na mesma poca foram criadas tambm as
Letras Financeiras do Tesouro (LFT),
17
com caractersticas semelhantes s LBC,
tendo sido o Banco Central, poca, proibido de emitir novos ttulos.
A moratria da dvida externa de 1987 estabilizou em parte o grau de endivi-
damento pblico lquido, que apesar do saldo de 1987 ter crescido em mais de US$
10 bilhes em relao a 1986 em razo do acmulo de juros vencidos, o dispndio
interno, decorrente dos servios externos, fora amenizado; a dvida interna registra-
ra assim uma relativa estabilizao de seu estoque, de US$ 58,40 bilhes em 1986
para US$ 60,88 bilhes em 1987. No entanto, os juros altos, provenientes da pol-
tica feijo com arroz de 1988 e 1989, fzeram com que a dvida interna saltasse
16
O aspecto a ressaltar no fnanciamento do defcit e na composio da dvida lquida do setor pblico o carter de curtssimo prazo que
assume o fnanciamento, principalmente pela dvida mobiliria que, do ponto de vista dos aplicadores, possui liquidez imediata. A crescente
liquidez dos ttulos pblicos tem dois determinantes principais: a progressiva precariedade das fnanas pblicas e a acelerao da infao
associada manipulao dos indexadores, que exacerbam os riscos de perda patrimonial. Num contexto em que parcela crescente da riqueza
dos agentes superavitrios consiste em riqueza fnanceira de grande liquidez, a contrapartida da deteriorao do fnanciamento pblico a
possibilidade de converso dessa liquidez em poder de compra, desencadeando a hiperinfao (CARNEIRO, 2002, p. 203).
17
Ambas, a LFT e a LBC, possuam as mesmas caractersticas de indexao e correspondiam a um ativo vendido com desconto sobre seu valor
de face corrigido diariamente pela mdia dos juros.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
17
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
de US$ 69,54 bilhes em 1988, para US$ 99,81 bilhes em 1989, a maior variao
da dcada para um nico binio (ver tabela 4). Enquanto a dvida externa variara
apenas de US$ 84,26 bilhes em 1988, para US$ 87,85 bilhes em 1989, graas aos
expressivos superavits comerciais, mesmo com as difculdades vivenciadas pelo
balano de pagamentos, em virtude do fechamento de linhas de crditos internacio-
nais por conta ainda da decretao da moratria de 1987.
Linhas essas que se mostravam indisponveis apesar do pagamento de parte
dos juros atrasados a partir de 1988, e que s retornaram gradativamente no incio
da dcada de 1990 com a abertura da conta de capitais para o recebimento de in-
vestimentos estrangeiros de portfolio, e com o processo de renegociao da dvida
externa, em 1994. A aceitao das regras do Plano Brady
18
foi uma condio mais
do que imposta pelos organismos internacionais para o lanamento de ttulos brasi-
leiros no mercado internacional (bradies).
TABELA 4
DVIDA LQUIDA DO SETOR PBLICO (1982-1990). SALDO EM US$ MILHES
Discriminao 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Dvida lquida 86.625 96.776 105.467 118.998 140.207 152.841 153.807 167.676 162.770
Total
(A+B=I+II+III)
A/dvida interna 38.534 34.787 42.363 49.084 58.400 60.888 69.540 99.817 71.614
B/dvida externa 40.091 61.989 63.104 69.914 81.807 91.953 84.267 87.859 91.163
I. Governo federal 23.518 35.812 41.074 42.807 56.692 60.720 61.869 89.884 68.057
E Banco Central
II. Governos estaduais 14.478 12.034 13.334 16.029 18.652 21.383 21.827 27.612 26.294
e municipais
III. Empresas estatais e 48.629 48.930 51.059 60.162 64.162 70.205 70.111 70.180 68.426
ag. descentralizadas
Fonte: Almeida e Belluzzo (2002).
[...] O governo permitiu um progressivo encurtamento do prazo das
aplicaes fnanceiras e aperfeioou o ttulo pblico que servia de base
emisso de depsitos de curtssimo prazo pelos bancos. No primeiro
caso, deu segmento a uma tolerncia iniciada j durante o ajustamento,
foi reduzido de trs meses para um ms o prazo de resgate dos depsitos
populares de poupana. Podemos afrmar que na estrutura fnanceira vi-
gente aps 1985, no Brasil, o prazo de 30 dias passou a ser, virtualmente,
o prazo mximo das aplicaes fnanceiras e da maioria dos contratos de
dvida. Quanto ao aperfeioamento dos ttulos pblicos que davam fun-
damento emisso da moeda indexada, a principal inovao consistiu na
criao, em 1986, da Letra do Banco Central (LBC), substituda em 1987
18
Regras que incluam a liberalizao de diversos setores da economia, com destaque movimentao de capitais fnanceiros e realizao de
um amplo programa de privatizaes.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 18
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
pela letra fnanceira do tesouro (LFT). A caracterstica da LBC (LFT) re-
sidia na forma do seu rendimento, equivalente taxa do mercado aberto.
O governo assegurava liquidez aos ttulos que emitia, a qualquer prazo,
mantidos pelas instituies fnanceiras. Com a introduo da LBC, pas-
sou a no haver descompasso, nem em termos de liquidez, nem quanto
rentabilidade, entre os depsitos de curto prazo que as instituies acei-
tavam do pblico e suas prprias aplicaes. Cabe observar que antes da
criao da LBC (LFT) o rendimento dos ttulos pblicos, que compunha
a carteira das instituies, era prefxado pela Letra do Tesouro Nacio-
nal (LTN). De acordo com um desgio defnido no ato da aquisio, ou
ps-fxado (Obrigaes do Tesouro Nacional OTN) segundo os ndices
de correo monetria ou cambial. Dada a instabilidade das taxas de ju-
ros de curtssimo prazo, isso freqentemente causava desequilbrio na
rentabilidade da carteira das instituies fnanceiras. Por isso, o governo
desenvolveu tambm os mecanismos de indexao diria da economia.
A fxao do valor do Bnus do Tesouro Nacional (BTN um ttulo
escritural e de referncia para os contratos, criado em 1989), com base
em projees da infao mensal, permitiu no apenas que o cmbio (cuja
indexao diria foi inaugurada em 1985), mas todo e qualquer tipo de
pagamento (recebimento contratual, aplicaes fnanceiras, contratos de
prestao de servios, dvidas, etc.) e at mesmo os preos de bens e
servios fossem indexados taxa do dia. Ao aceitar a regulao a emis-
so do dinheiro fnanceiro, pelos bancos, permitir a reduo dos prazos
e assegurar liquidez e indexao diria, a gesto monetria aperfeioou
condies para o desenvolvimento da moeda indexada e, assim, san-
cionou a existncia, na prtica de duas moedas na economia (ALMEIDA;
BELLUZZO, 2002, p. 151).
O Plano Vero, de 15 de janeiro de 1989, como de costume, determinou
o congelamento de preos e salrios e a desindexao da economia, eliminou a
correo monetria, causando perdas para os detentores de ttulos com retorno
fxo e colocou-se no mercado mais OTN com correo cambial, com a troca das
OTN
19
existentes por LFT. A poltica de juros reais elevados fez com que as LFT
20
aumentassem mais ainda o custo da dvida. A resistncia do processo infacionrio
diante de uma nova rodada de congelamentos e descongelamentos obrigou a equipe
econmica a retomar a correo monetria, criando um novo indexador, o Bnus
do Tesouro Nacional (BTN), e em seguida o BTN-fscal de reajuste dirio. Com
o crescente clima de instabilidade, introduziu-se a indexao diria e se retornou
ao processo de minidesvalorizaes dirias, havendo at mesmo a opo pelo
lanamento de BTN com clusula de correo cambial. Os prazos desses ttulos
19
Com o Plano Vero, foram extintas a OTN, a OTN-fscal e a URP, no intuito de eliminar a indexao da economia.
20
Ao fnal de 1989, quase todo o estoque da dvida interna era composto por LFT, numa demonstrao bvia do papel da preferncia pela
liquidez num cenrio de descontrole infacionrio. Comportamento este, no s dos compradores dos ttulos pblicos, mas dos prprios bancos
ao direcionarem seus respectivos ativos para as quase moedas mais lquidas possveis.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
19
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
eram de at 25 anos com juros mximos de 12% a.a., calculados semestralmente
sobre o valor nominal reajustado, ou de acordo com a variao do dlar de venda
no mercado de cmbio.
A chamada reestruturao da dvida interna, ou melhor dizendo o default da
dvida pblica s ocorreu com o Plano Collor I, em 16 de maro de 1990, quando
o bloqueio de 75% dos ativos fnanceiros permitiu ao governo promover a troca
compulsria de LFT por BTN mais um rendimento de 6% a.a., e ao Banco Central
recomprar LFT no mercado e trocar ttulos privados por LBC, visando fnanciar
instituies com defcincias de recursos em funo da extrema carncia de liqui-
dez por conta do bloqueio de seus ativos. O rearranjo das contas pblicas por meio
do confsco temporrio dos haveres fnanceiros, com destaque ao M2 (meios de
pagamento mais ttulos pblicos), resultou na reduo da razo dvida interna/PIB
de 21,7% em 1989, para 17,8% em 1990 e na reduo de seu estoque de US$ 99,81
bilhes em 1989, para US$ 71,61 bilhes em 1990 (ver tabelas 3 e 4).
Corroborou-se de tal modo a tese de que a infao brasileira possua carac-
tersticas prprias, inerciais e que at o maior choque monetarista de toda a histria
no fora capaz de eliminar as razes de sua natureza inercial, as quais estavam
arraigadas na prpria lgica de fnanciamento do Estado brasileiro, a indexao.
A mentalidade infacionria embutida no funcionamento dos contratos, at mesmo
nos tributos, retornara conforme os primeiros sinais do reaparecimento da liquidez,
em meados de 1990, o que demonstrou a ingenuidade terica da ortodoxia ao con-
ceber que feito o ajuste fscal, este eliminaria a razo da existncia do processo
infacionrio, ou seja, da necessidade de emisso de moeda para a cobertura dos
defcits pblicos.
A volta da infao, em patamares semelhantes aos das vsperas de lana-
mento de todos os planos econmicos anteriores, forou criao de um novo ttulo
pr-fxado, o Bnus do Banco Central
21
(BBC), numa remota tentativa de reduzir os
custos gerados pelas LFT (ps-fxadas), baseadas no mecanismo de overnight (de
rolagem diria).
A viabilizao do mecanismo overnight s era possvel mediante outro me-
canismo, o da zeragem automtica, que consistia na recompra automtica de todos
os ttulos no comercializados que excediam na carteira dos bancos ao fnal de cada
dia. Com isso, na prtica, exercia-se uma poltica monetria passiva, obrigada a
sempre recompor o estoque de moeda indexada dada a perda constante do valor da
moeda.
22
A aplicao fnanceira denominada overnight s foi extinta em 1991, no
21
Entre 1991 e 1993, a criao de diversos ttulos ps-fxados serviu como mostra do perodo de maior acelerao infacionria, quando se es-
gotara em defnitivo a credibilidade do recurso do congelamento de preos e salrios, at ento empregados por todos os planos de estabilizao
desde 1986. Os principais ttulos ps-fxados criados nesse foram os seguintes: Nota do Banco Central (NBC), indexada Taxa Referencial
Diria (TRD), em 1991; Notas do Tesouro Nacional (NTN), tambm em 1991, que podiam ser indexadas ao IGP-M, correo cambial e TR.
Em 1992, o Tesouro Nacional passou a ofertar NTN-C, que tinham seu valor indexado ao IGP-M do ms anterior, e NTN-D, que rendiam uma
taxa de 6% a.a. e tinham seu valor nominal corrigido pela variao da cotao do dlar comercial. Posteriormente, o governo passou a emitir
NTN-H, corrigida pela TR, e NTN-B, semelhantes s NTN-C, no entanto, pagavam seus retornos apenas no momento de resgate e tinham
seus valores nominais corrigidos pelo IPCA. Outro ttulo criado foi a Nota do Tesouro Nacional subsrie R2 (NTN-R2), tambm indexado
ao cmbio, mas com prazo de dez anos, taxa de juros de 12% a.a. paga mensalmente e resgatvel em dez parcelas anuais. No fnal de 1993, o
Banco Central deixou de ofertar NTN-C, passando a ofertar somente NTN-D (cambial), por razo do anncio do Plano Real, cuja meta inicial
era a de indexar a maior parte da dvida mobiliria ao cmbio.
22
DE PAULA, 1998.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 20
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
Plano Collor II.
23
Nesse perodo, foram criados os fundos de investimento, que eram
casados a esse mecanismo de zeragem automtica, por darem liquidez diria.
24
No entanto, a maior inveno tcnica na administrao do oramento p-
blico (que predominou na primeira metade dos anos 1990 at as vsperas do Plano
Real) fcou conhecida como regime boca do caixa, em que o governo contava
com receitas indexadas
25
e, na outra ponta, segurava ao mximo a liberao de
verbas no indexadas, pois quanto maior fosse a acelerao infacionria, maior
tambm seria o excedente de caixa, para sempre equilibrar o oramento. Esse pro-
cesso foi comumente utilizado entre 1991 e 1993. De forma irnica, o efeito sobre a
equalizao das fnanas pblicas, com destaque reduo do estoque nominal e do
percentual da dvida interna com proporo do PIB, foi mais efcaz que o bloqueio
dos haveres fnanceiros e dos passivos bancrios no Plano Collor I;
26
at mesmo as
operaes de esterilizao eram diludas em meio a esse esquema, dado que o cres-
cimento do estoque de reservas internacionais, oriundo da liberalizao da conta de
capitais, em 1991, e dos juros elevados, desde 1992, no impusera um descontrole
na rota de endividamento pblico de modo semelhante primeira metade da dcada
de 1980, durante a crise da dvida externa.
Esse regime boca de caixa invertia o funcionamento do efeito Tanzi
27
na economia brasileira, pois o arrasto fscal perdera notoriedade, no momento
em que os impostos totalmente indexados em conjunto aos gastos pblicos,
expressos em valores nominais, condicionavam o superavit em caixa de forma
positivamente correlacionada com a infao. Desse modo, o aumento de gastos
e transferncias determinados pela Constituio de 1988
28
que num primeiro
momento representaram um aumento do defcit operacional, em conjunto
23
No Plano Collor II foi extinto o BTN (Bnus do Tesouro Nacional), que servia de base para a indexao dos impostos, e tambm todos os
fundos de investimento de curto prazo (inclusive os que eram cobertos por operaes de overnight). Em seu lugar, foi criado o FAF (Fundo de
Aplicaes Financeiras), que teria por rendimento a TR (Taxa Referencial), baseada numa mdia das taxas do mercado interbancrio. A TR,
porm, ao contrrio dos antigos indexadores, introduzia um elemento forward looking para a indexao no Brasil. Em vez de a indexao se
basear em movimentos da infao passada, como no mecanismo antigo da correo monetria, a TR embutia expectativas de infao futura
(BARROS DE CASTRO, 2004, p.150).
24
Os fundos de investimento foram criados ainda sob a administrao Collor de Melo (1990-1992). No perodo de alta infao (at junho de
1994), cumpriram somente a funo de preservar o poder de compra dos depsitos vista, ento convertidos em aplicaes, muitas vezes au-
tomticas, em fundos. Eram, portanto, aplicaes de curtssimo prazo, que no se diferenciavam dos depsitos vista e serviam basicamente
rolagem diria da dvida mobiliria pblica. Em julho de 1995, o Conselho Monetrio Nacional determinou uma srie de modifcaes no mer-
cado de fundos, incentivando a expanso dos prazos de maturao de suas aplicaes por meio de um sistema diferenciado do recolhimento dos
depsitos compulsrios. Tambm foram criados, nessa ocasio, os Fundos de Investimento Financeiro (FIF) com prazos mnimos de reteno
de trinta, sessenta e noventa dias, sendo os dois ltimos isentos de recolhimento compulsrio. Essas modifcaes tm levado a um alargamento
dos prazos de maturao, mesmo que ainda tmido, das aplicaes dos fundos no Brasil (STUDART, 2004, p. 344-345).
25
A Ufr ganhou expresso como o principal indexador dos impostos federais, com destaque ao imposto de renda para pessoas fsicas e jur-
dicas.
26
A base do Plano Collor I, no que se referia s fnanas pblicas, focou-se no somente num corte vertiginoso dos gastos pblicos, mas num
bloqueio inusitado dos ativos fnanceiros, que recolheu 75% da liquidez de toda a economia, incluindo as quase moedas (ttulos pblicos). O
bloqueio desses ativos por 18 meses implicou num alongamento forado do vencimento dos ttulos e tambm na promoo da desvalorizao
do estoque total desses. Esses ativos bloqueados representaram uma extenso dos agregados monetrios, os chamados Valores a Ordem do
Banco Central (VOBS), que compunham o M5; tendo sido liberados em 12 parcelas, (os chamados DER Depsitos Especiais Remunerados),
a partir de agosto de 1991.
27
Efeito que produz o chamado arrasto fscal, por que a infao gera perdas ao oramento pblico, pelo fato de que a arrecadao de determi-
nado tributo corroda quanto maior for registrada a acelerao infacionria por causa da defasagem temporal entre a data de incidncia e a
data de arrecadao; ademais as despesas acompanham o ritmo da infao.
28
As determinaes quanto ao Oramento Geral da Unio, estabelecidas pela Constituio de 1988, extinguiram os efeitos da Lei Comple-
mentar n
o
12, pois as execues oramentrias passaram a ser vinculadas aprovao do Legislativo. Com isso, encerrava-se em defnitivo o
formato do oramento monetrio que perdurou por dcadas, o qual se baseava na Lei Complementar n
o
12 e na Conta-Movimento.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
21
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
poltica monetria ativa,
29
praticada em 1988 e 1989
30
foi posteriormente
amenizado e diludo em meio acelerao infacionria.
De fato, esse rearranjo operacional transformou o Estado brasileiro no
maior scio da infao, em conjunto ao prprio sistema fnanceiro. A gerao de
superavits primrios passara a ser um processo intrnseco acelerao infacion-
ria, e como maior perdedor se dava o contribuinte, por que o elemento-chave do
sucesso da poltica fscal se dava na promoo de atrasos sistemticos na liberao
de verbas. Diante dessa conjuntura, reforaram-se, at mesmo, as receitas de senho-
riagem, mesmo com a perda notria do valor corrente e dirio da moeda emitida.
As receitas pblicas j estavam blindadas contra quaisquer futuaes da atividade
econmica, e o descontrole infacionrio que tornara a poltica monetria passiva
permitira um maior reforo aos cofres pblicos, por que o imposto infacionrio se
encaixara no como uma fonte da infao, mas como consequncia (endgeno)
desse processo.
Quanto maior fosse a infao anual acumulada, maior seria o superavit
primrio e maior seria o montante amortizado do estoque da dvida interna,
podendo-se afrmar que a dvida interna deixara de ser um problema notrio s
vsperas da introduo do Plano Real, representando somente 18,6% do PIB em
1993, num cenrio em que o IGP fechara o ano em 2.708,6% (ver tabela 3). A
diferena fundamental desse mecanismo de fnanciamento, via emisso monetria
em comparao a outros perodos da histria econmica, consistia na perda
acelerada do valor da moeda nesse ltimo perodo. As receitas de senhoriagem
num quadro de infao alta, beira da hiperinfao, somente serviram para
fechar as contas do oramento pblico, a curto prazo, ao contrrio da aplicao
das receitas de senhoriagem por meio da Conta-Movimento do Banco do Brasil e
da Lei Complementar n
o
12, at a dcada de 1970. De modo contrrio lgica de
fnanciamento do governo federal, o perodo 1991-1993 representou o pior perodo
de toda a histria no que tange s fnanas estaduais e municipais. As unidades
subnacionais tiveram suas fnanas praticamente estranguladas pelo processo
infacionrio por mais que essas tambm conseguissem arranjar meios de indexar
suas receitas, conforme fzera o governo federal. A questo fundamental desse
estrangulamento residia no fato de que a garantia do ajuste das fnanas pblicas,
em mbito federal, provinha de um recurso exclusivo do governo federal: receitas
de senhoriagem, ou de modo especfco, emisso de moeda, responsvel poca
por cobrir os defcits de caixa a cada fnal de perodo.
A dvida mobiliria, plenamente indexada (na primeira metade dos anos 1990),
foi o estgio mais crnico at ento alcanado pela indexao desde a introduo da
correo monetria em 1964. A conciliao dos interesses pblico e privado, no giro
29
A poltica monetria tinha de certo modo um carter ambguo por que a fxao de elevadas taxas reais de juros, no intento do controle da
infao via demanda, apresentava uma face passiva, ao admitir o uso da zeragem automtica, o qual sancionava a infao, ao expandir diaria-
mente o estoque nominal dos meios de pagamentos.
30
Os anos de 1988 e 1989 foram caracterizados pela poltica do feijo com arroz do ministro Malson da Nbrega, que se baseava no gra-
dualismo ortodoxo, preconizando o corte de gastos e investimentos e adotando de taxas de juros reais positivas na ordem de 12%, em 1988, e
de 34,5%, em 1989.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 22
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
infacionrio por meio da colocao e resgate dirio dos ttulos pblicos, invertera em
defnitivo a correlao positiva entre defcit pblico e infao, e por incrvel que pa-
rea entre indexao e dvida interna, observada at os anos 1980. A acelerao infa-
cionria passara a ser o principal instrumento catalisador da poupana interna, tanto
pblica quanto privada, promovendo a acumulao de capital por bases fnanceiras;
o que por si s j inviabilizava a perspectiva, por parte do grande empresariado, de
expanses considerveis de novos investimentos em setores produtivos, vide o custo
de oportunidade quanto manuteno deste mesmo capital sob esta forma fnanceira,
quer dizer, a forma mais lquida possvel. Da se extrai um exemplo ntido e concreto
do poder do mercado fnanceiro e, antes de mais de nada, da especifcidade da prefe-
rncia pela liquidez
31
desse mercado ao longo das dcadas at aqui mencionadas.
4 Estabilizao interna via poupana externa:
a atuao dos fuxos de capitais externos sobre
a dinmica da dvida interna
A questo bsica da exacerbao da vulnerabilidade externa a partir do Plano
Real se fez como decorrncia da atribuio da poupana externa como sendo a pea
de salvao da economia brasileira. A formatao da ncora cambial, a partir da com-
binao de valorizao cambial, defcits em transaes correntes e por ltimo pela
conta de capitais (tudo isto tendo como mola a taxa de juros interna), condicionou o
acmulo de passivos externos e a presena artifcial de um elevado estoque de reser-
vas internacionais. A dvida interna representou a reciclagem interna da absoro da
poupana externa pelo mercado fnanceiro, sobretudo na administrao dos fundos
de renda fxa. O total de movimentao na balana de capitais durante a vigncia
da ncora cambial saltou de US$ 9,93 bilhes em 1994, para US$ 52,29 bilhes em
1998, e no mesmo perodo o defcit em transaes correntes se aproximou de US$
110 bilhes; sendo que do total de capitais recebidos, a maior parte correspondia a
investimentos externos diretos, baseados na sua maioria em aquisies e fuses de
empresas nacionais, em vez da fundao de novas empresas em territrio nacional.
O fnanciamento externo, que por dcadas serviu para o incremento da produo na-
cional, passara a ser utilizado especialmente pelas empresas privadas de grande porte,
como forma de fugir do spread entre as taxas de juros interna e externa. Em 1994, o
setor privado detinha 41,1% do total da dvida externa (US$ 60,9 bilhes), atingindo,
em 1998, quase 60% (US$ 140,2 bilhes) (FILGUEIRAS, 2003, p. 184).
31
Partindo da pressuposio de que h um hard core consensual entre os ps-keynesianos (que confguraria uma Teoria Alternativa da Moeda),
cabe enfatizar a necessidade cientfca do teste de falseamento das teorias derivadas em diferentes contextos (histricos ou locais) e nveis de
abstrao. Por exemplo, a Teoria da Preferncia pela Liquidez deve sofrer uma adequao de seu conceito-chave, para ser aplicvel de forma
analtica. Pode-se falar de uma preferncia pela liquidez absoluta ou convencional, em contexto de armadilha de liquidez (como ocorre, hoje,
no Japo), mas a preferncia pela liquidez torna-se relativa ou heterognea em contexto de desmonetizao, indexao e/ou dolarizao (como
ocorreu no regime de alta infao do Brasil) (COSTA, 1999, p.134).
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
23
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
[...] O sucesso dos programas de estabilizao na Amrica Latina est
diretamente vinculado retomada de liquidez internacional nos anos 90 e
ruptura do crculo vicioso entre as polticas cambial, fscal e monetria
que havia se estabelecido em decorrncia da obrigatoriedade da sustenta-
o de transferncias de recursos reais para o exterior, desde os anos 80,
por conta da crise da dvida externa. A estabilizao s se tornou vivel
quando foi possvel fnanciar o dfcit externo e usar a ncora cambial. A
estabilizao do cmbio redefniu as formas de articulao entre a polti-
ca fscal, o cmbio e os juros, debelando o quadro de infao crnica. A
discusso colocou-se, ento, em outros termos, ou seja, como sustentar o
baixo nvel infacionrio e a convergncia com o padro das economias
avanadas. A nova forma de insero dos pases latino-americanos favo-
receu o controle da infao, mas, por outro lado, estabeleceu regras de
articulao comercial e fnanceira com implicaes no quadro macroeco-
nmico. O direcionamento da demanda de bens ao mercado no exterior
e o crescente endividamento externo provocaram a situao de vulnera-
bilidade do balano de pagamentos e a necessidade de elevado fnancia-
mento internacional. A dependncia em relao ao humor do mercado
fnanceiro internacional determinou o patamar interno de juros, o qual
teria de ser sufcientemente atrativo para garantir a continuidade deste
mesmo fnanciamento externo (LOPREATO, 2002a).
O modelo de estabilizao ancorado na captao externa propiciou uma
maior exposio da economia brasileira s oscilaes externas, algo notrio com
as crises do Mxico em 1994, da sia em 1997 e da Rssia em 1998, alm de exa-
cerbar a preferncia pela liquidez do mercado nacional, responsvel pela exigncia
de colocaes de ttulos pblicos com altas taxas de remunerao e de curto prazo.
Esta, at mesmo, foi uma razo essencial para as altas taxas de juros reais, logo na
implementao do Real em 1994, porque a transio da velha ciranda fnanceira
para o novo mercado de ttulos exigiu a manuteno das bases de remunerao e de
acumulao de capital anteriores.
Como marca da continuidade desse esquema de fnanceirizao, de modo es-
pecfco quanto questo da emisso dos ttulos pblicos, a taxa de juros de overnight
(Selic)
32
fora estabelecida em 64% a.a. em julho de 1994, e em 65% a.a. em maro de
1995, aps a crise mexicana.
33
Um exemplo direto do papel da preferncia pela liqui-
dez dos agentes dos mercados (domstico e externo) diante do chamado risco para a
aceitao destes ttulos. A fxao das taxas bsicas de juros (sobretudo reais, em pata-
mares altssimos) a partir da introduo da nova moeda, foi o instrumento direto para
a induo da captao de poupana externa e da sinalizao quanto manuteno de
expressivos rendimentos para quem adquirisse os ttulos pblicos emitidos em reais.
32
A Selic teve uma atuao no incio do Plano Real como taxa de overnight, remuneradora dos ttulos ps-fxados, s sendo escolhida como
taxa bsica de juros a partir de 1997.
33
ANDREI, 1998.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 24
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
A atrao de capitais especulativos de curto prazo, com maior fora
durante o segundo semestre de 1994, garantiu uma valorizao cambial (com
o cmbio oscilando abaixo de R$ 1,00) capaz de gerar um ciclo contnuo de
entrada desses capitais, direcionados em sua maior parte para a compra dos
ttulos da dvida interna brasileira. Ttulos esses que tinham (no perodo em
foco) como motor o mecanismo de esterilizao, pois a juno de sobrevalori-
zao cambial com altas taxas nominais de juros resultou na constante entrada
de recursos externos para a compra de novos ttulos, dada a atraente taxa real
de remunerao dos ttulos brasileiros, expressa em dlares poca.
Por conta desse considervel spread internacional, o ano de 1994 fcou
marcado como o ano em que a maioria absoluta dos recursos movimentados na
conta de capitais se dirigiu para os fundos de renda fxa; em vez de aquisies
de aes, como ocorrera tanto no incio da dcada de 1990 (com o processo de
liberalizao da conta de capital), quanto no perodo 1995-1998, durante a vi-
gncia da ncora cambial. Um fato peculiar desse novo mercado de ttulos pde
ser evidenciado pela rpida transio do lanamento majoritrio de ttulos ps-
fxados, no primeiro semestre de 1994, s vsperas do Plano Real, para os ttulos
pr-fxados, como as LTN e os BBC, j no segundo semestre de 1994, assunto at
mesmo a ser tratado na prxima seo.
Utilizando-se os dados da tabela 5, pode-se constatar que somente
em 1994 entraram no pas US$ 43,7 bilhes destinados de forma exclusiva
para as aplicaes em fundos de renda fixa e aplicaes do gnero. A mdia
anual do perodo 1991-1993 fora de US$ 7,4 bilhes e de US$ 11,3 bilhes
para 1995-1998. O investimento estrangeiro em carteira fechou esse ano em
US$ 50,6 bilhes,
34
contra tambm uma mdia anual de US$ 10,6 bilhes para
1991-1993 e US$ 15,4 bilhes para 1995-1998. Outro ponto mensurvel do
modelo de atrao de capitais adotado no ps-Plano Real se refere questo
do papel das privatizaes terem guiado a captao dos investimentos diretos
estrangeiros no perodo 1995-1998, apresentando uma mdia anual de US$
14,6 bilhes. Uma diferena considervel em relao ao prprio ano de 1994,
quando esta modalidade de investimento externo captou apenas US$ 1,5 bi-
lho, alm do perodo 1991-1993, com US$ 0,9 bilho.
34
A maior parte dessa movimentao correspondeu s aplicaes em derivativos.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
25
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
TABELA 5
CONTAS EXTERNAS DO BRASIL
MDIAS ANUAIS E ANO SELECIONADO DE 1994/US$ BILHES
1991-1993 1994 1995-1998
1. Balana comercial 13,0 10,5 -5,6
2. Balana de servios -13,5 -14,7 -23,2
3. Transaes correntes 1,4 -1,7 -26,4
4. Investimento direto 0,9 1,5 14,6
5. Investimentos em carteira 10,2 50,6 15,4
5.1. Aes 2,8 6,9 4,1
5.2. Renda fxa e similares 7,4 43,7 11,3
6. Reservas internacionais 21,8 38,8 52,2
7. Financiamento lquido -4,3 -43,6 -0,7
(entrada e sada de divisas)
8. Dvida externa total 135,2 148,3 195,2
Fonte: Cintra e Prates, 2004.
O retorno do crdito externo e o acordo da dvida externa de 1994 viabilizaram
o redirecionamento do fuxo da liquidez internacional para o mercado brasileiro, que
sofrera uma ruptura desde a decretao da moratria da dvida externa, em 1987.
Fluxo responsvel pelo acmulo prvio de um estoque de reservas internacionais
de US$ 40 bilhes, em julho de 1994, o qual passara a se formar desde 1992;
cabendo, entretanto, reparar o carter pouco dinmico para a expanso da atividade
produtiva deste novo ciclo de investimentos externos diretos (LAPLANE; SARTI,
1999), tendo sido muito concentrada na captao de emprstimos externos e de
investimentos externos em portfolio.
35
A volta da liquidez internacional s foi
possvel, no caso brasileiro, por causa da liberalizao da conta de capitais, ainda
em 1991, e que sofreu vrias adequaes ao longo da dcada de 1990. Os dois
eixos principais da abertura fnanceira, nos anos 1990, foram: a permisso do
investimento estrangeiro de portfolio no mercado fnanceiro local
36
e a emisso de
35
Se, por um lado, o retorno dos fuxos de capitais voluntrios constituiu uma precondio para o sucesso desse plano, por outro lado, o grau
de vulnerabilidade externa da economia reverso dos fuxos dependeu das caractersticas do programa de estabilizao, que se distinguiu em
relao a dois fatores: a gesto macroeconmica dos fuxos de capitais e o grau de abertura fnanceira da economia (PRATES, 1998, p. 21).
36
1991: Anexo IV Resoluo n
o
1.289/87. Ao contrrio dos demais anexos dessa resoluo, permitia a entrada direta de investidores institucionais
estrangeiros no mercado acionrio domstico (segmentos primrio e secundrio) e no estava sujeito a critrios de composio, capital mnimo inicial e
perodo de permanncia. Aquisio de cotas de fundos de investimento, que se diferenciavam em relao s modalidades de aplicao permitidas: Fundos
de Privatizao Capital Estrangeiro, institudos em 1991; Fundos de Renda Fixa Capital Estrangeiro, criados em 1993; e dois fundos de investimento
no pas, que foram abertos participao estrangeira em 1996 (Fundos de Investimento em Empresas Emergentes e Fundos de Investimento Imobilirio).
Contas de no residentes do mercado de cmbio futuante (CC-5): nica modalidade de aplicao que no estava sujeita s restries quanto ao tipo de
aplicao. Mediante a conta especfca de Instituio Financeira, as instituies credenciadas pelo Banco Central podiam negociar moeda estrangeira
com instituies fnanceiras do exterior, em quantidade ilimitada. Em contrapartida, as aplicaes por meio das CC-5 incorriam em um maior risco cam-
bial j que as cotaes dos mercados comercial e futuante no eram unifcadas e recebiam o mesmo tratamento.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 26
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
ttulos no exterior.
37
Todavia, tal abertura ainda passara por mudanas,
38
em 2000,
durante a gesto de Armnio Fraga, frente do Banco Central (CINTRA; PRATES,
2004). No que tange captao externa nos anos 1990, e com maior relevncia a
partir do Plano Real, a converso de dvida externa em dvida interna no contribuiu
para a alavancagem signifcativa do crdito interno conforme ocorrera nas dcadas
de 1960 e 1970.
[...] Segundo estimativas dos principais bancos repassadores de recur-
sos externos, 80% dos repasses foram utilizados para alongar e reduzir
o custo do passivo das empresas, que trocaram uma dvida de curto pra-
zo em moeda nacional, com juros elevados, por uma dvida de mdio
prazo indexada variao cambial. Assim, pode-se afrmar que grande
parte, dos recursos externos, captados pelos bancos, foram utilizados
em operaes de arbitragem, por intermdio da compra dos ttulos p-
blicos. Ou seja, os recursos internalizados pelo setor privado fnanceiro
foram repassados para o setor pblico mediante operaes de esterili-
zao com ttulos do BACEN e do Tesouro Nacional. A parcela restan-
te, que foi realmente emprestada ao setor produtivo, no se direcionou
para o fnanciamento do investimento do pas (PRATES, 1998, p. 47).
Os bancos privados nacionais se apresentam como os maiores repassadores
desses recursos externos, ao mesmo tempo em que so os principais compradores
dos ttulos da dvida pblica federal.
39
No entanto, o que seria o maior indicador dos
verdadeiros donos dos ttulos pblicos emitidos, informando de forma pormenorizada
o ranking dos maiores compradores desses ttulos, no disponibilizado pelo Banco
Central. Essa ausncia de uma desagregao precisa impede uma identifcao social
concisa dos credores; sabido que as instituies fnanceiras so as principais de-
tentoras dos ttulos pblicos. Em 1999, a carteira prpria das instituies fnanceiras
absorveu 37,7% do estoque total dos ttulos federais em poder do pblico.
40
37
Alm dos eurobnus e das euronotas, foi autorizada a emisso de novos ttulos de dvida direta Commercial Papers, Export Securities,
Ttulos e Debntures Conversveis em aes pelas empresas e Certifcados de Depsitos ou Depositary Receipt (DR), que constitui um cer-
tifcado representativo de aes de empresas estrangeiras emitidas e negociadas nos mercados de capitais dos Estados Unidos (ADR) ou em
diferentes mercados simultaneamente (Global Depositary Receipt, GDR).Os investimentos estrangeiros por meio de DR constituam o anexo
V Resoluo n
o
1.289/87. Permisso, em 1991, da emisso de ttulos de dvida pelos bancos nos termos e nos fns previstos pela Resoluo
n
o
63/67. As modalidades de repasse desses recursos tambm foram ampliadas. Alm dos emprstimos para a indstria, comrcio e servios,
foram autorizados os crditos com funding externo para os setores imobilirio e rural (em 1995) e para empresas exportadoras (em 1996).
38
Resoluo n
o
2.689, de 26 de janeiro de 2000: extinguiu as diferentes modalidades de aplicaes mediante o mercado de cmbio comercial (com exceo do
anexo III, que regulamenta os investimentos estrangeiros de portflio em fundos fechados, negociados em bolsas de valores estrangeiras) e instituiu uma nova
modalidade de investimento no mercado fnanceiro, na qual os investidores no residentes tm acesso s mesmas aplicaes disponveis aos investidores resi-
dentes. Os investidores, tanto em renda fxa quanto em varivel, precisam constituir um representante no pas (e um correpresentante, se este no for instituio
fnanceira), responsvel pela efetivao e atualizao do registro, bem como pelo fornecimento de informaes ao Banco Central e CVM. O representante
tambm precisa efetuar o cadastramento, ou recadastramento, no caso dos investidores dos anexos I, II e IV, que concede um cdigo CVM individual para cada
investidor. Somente aps a posse desse cdigo, os investidores podem aplicar dinheiro novo e realizar as transferncias de recursos dos antigos instrumentos
para a nova modalidade de aplicao. O Conselho Monetrio Nacional (CMN) por meio da Resoluo n
o
2.270, de 30 de agosto de 2000, revogou 237 norma-
tivos que disciplinavam as operaes de emisso de ttulos de renda fxa no exterior. Foi eliminada a exigncia de autorizao do Banco Central do Brasil para
qualquer tipo de captao de recursos assim, o regime passou de autorizativo para declaratrio e o direcionamento compulsrio dos repasses de recursos
externos pelos bancos. A nica restrio mantida foi a cobrana de IOF de 5% sobre as operaes com prazo inferior a noventa dias.
39
Em dezembro de 2004, os bancos radicados no Brasil, foram os principais compradores dos ttulos da dvida pblica federal, adquirindo
65,9% das ofertas.
40
GONALVES; POMAR, 2002, p. 35.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
27
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
TABELA 6
CONTA CAPITAL E FINANCEIRA E POUPANA EXTERNA
CCF Poupana externa (%PIB)
1994 US$ 8,69 bilhes 0,33
1995 US$ 29,09 bilhes 2,61
1996 US$ 33,96 bilhes 3,03
1997 US$ 25,80 bilhes 3,77
1998 US$ 29,70 bilhes 4,24
1999 US$ 17,31 bilhes 4,72
2000 US$ 19,32 bilhes 4,03
2001 US$ 27,05 bilhes 4,55
2002 US$ 8,80 bilhes 1,67
2003 US$ 5,54 bilhes -0,82
2004 US$ 6,70 bilhes -1,94
Fonte: IBGE, Banco Central.
A captao externa, impelida pelas altas taxas bsicas de juros e pelo pro-
cesso de privatizaes (1995-1998), registrou os maiores volumes justamente quan-
do os percentuais de utilizao de poupana externa ultrapassaram a casa dos 3%
e 4% do PIB. Havendo com isso um repasse direto do quadro defcitrio externo
para a dinmica interna de funcionamento da economia. Alguns exemplos dessa
conjuntura podem ser vistos por meio da tabela 6: 1995, US$ 29,09 bilhes capta-
dos (2,61% de poupana externa); 1998, US$ 29,70 bilhes (4,24% de poupana
externa) e 2001, US$ 27,05 bilhes (4,55% de poupana externa). J a partir de
2003, observou-se a reverso desse quadro de captao externa, dada a no mais
dependncia da poupana externa. Nesse ano, a conta de capitais fechara em US$
5,54 bilhes, com um superavit em conta corrente de 0,82% do PIB.
Por conta da necessidade de captao de poupana externa, a fxao interna
da taxa bsica de juros virara refm da argumentao neoclssica de incerteza.
41
Isto
signifca que somado s condies histricas de consolidao do mercado fnanceiro
brasileiro, as regras da globalizao cristalizaram uma rede de agentes determinan-
tes nos mercados internacionais no que se refere ao conceito de riscodos pases
emergentes. Este fato transformou a fxao das taxas bsicas de juros, por parte
das autoridades monetrias desses pases, num mecanismo tomador de informaes
referente disposio dos mercados, quanto aquisio dos ttulos do governo
dadas as inmeras debilidades fscais e de fundamentos, alm das defcincias
41
A questo keynesiana de expectativas autorrealizveis emerge de um modelo heterodoxo completamente diferente. No caso de Keynes,
fundamentos no so importantes j que eles no podem ser a base para expectativas do futuro em um mundo onde prevalece o estado de
incerteza radical, pois mesmo se variveis fundamentais de distribuio de probabilidade condicional existissem no seria possvel realizar
previses confveis em um mundo no ergdico. De acordo com Keynes, os fundamentos seriam dependentes das expectativas dos agentes
e mais especifcamente do animal spirits. No h uma separao clara possvel entre fundamentos e bolhas, de certa forma ambos so parte de
um mesmo fenmeno e dependentes do estado das expectativas. No caso das taxas de juros, se mais agentes acreditarem que elas iro subir e
por isso vendem os ttulos, maior ser o aumento das mesmas (FALCO SILVA, 2002).
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 28
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
crnicas das contas externas, que seriam assim retroalimentadoras da possibilidade
de default na dvida pblica.
O histrico da dvida pblica brasileira demonstra o contrrio neste aspecto
quanto ao pagamento dos ttulos pblicos, exceto em raros momentos de tentativa
de subindexao e de alongamento unilateral do estoque, como as ocorridas nos
Planos Cruzado e Collor I, respectivamente. No obstante, a demanda por esses
papis sempre foi alta porque a fnanceirizao da economia brasileira sempre teve
na dvida pblica um alicerce seguro. No h como classifcar o ttulo pblico bra-
sileiro numa categoria elevada de risco, pois se olharmos o retrospecto do endi-
vidamento interno em conjunto ao crescimento do setor fnanceiro na economia
brasileira, veremos que ambos emergiram em conjunto, no havendo risco algum
de tal ruptura, conforme afrma a teoria convencional.
[...] Ttulos pblicos em mercados normais oferecem um trade-off
entre retorno e risco de mercado, varivel com a maturidade efeti-
va do ttulo. O risco de crdito geralmente inexistente, dado que
os ttulos carregam consigo o pleno crdito da entidade emissora,
e o risco de liquidez normalmente administrado pelo gestor da
dvida, ao distribu-lo pelas maturidades em que o papel nego-
ciado. No Brasil, nos ltimos anos, o risco de crdito inexistente
(exceto nas ocasies em que raramente h razes para se esperar
iniciativas de polticas de default). O risco de mercado foi elimi-
nado pela indexao e pela taxa de juros de curto prazo (Selic), e o
risco de liquidez mantido baixo, pela disposio sempre elevada
das instituies participantes, especialmente o Banco Central, em
servir de comprador de ltima instncia destes ttulos (CARDIM
DE CARVALHO, 2004, p. 15-16).
5 A lgica do fnanciamento do Estado brasileiro
diante da estabilizao ps-Plano Real (1994-2004)
As fnanas pblicas, de modo oposto aos planos de estabilizao anteriores,
pautaram-se num ajuste prvio do oramento pblico, ao fnal de 1993, por meio do
Fundo Social de Emergncia, posteriormente chamado de Fundo de Estabilizao
Fiscal, que permitira inicialmente a desvinculao de 20% das receitas da Unio para
fns de contingenciamento oramentrio de forma provisria. A base do fnanciamen-
to pblico se mostrava incerta diante da expectativa do fm do processo infacionrio
a partir de julho de 1994, por que o regime de administrao de boca do caixa
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
29
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
perderia em si sua essncia num ambiente de estabilidade infacionria, tanto no lado
da receita quanto do lado da despesa. No lado da receita, por mais que prevalecesse
a converso dos impostos federais em Ufr, a prpria Ufr perderia a velocidade de
reajuste se comparada aos tempos da antiga acelerao infacionria.
No lado da despesa, a corroso oriunda da infao desaparecera, e o
prprio crescimento natural do gasto pblico, referente ao crescimento vegetativo
da populao, com destaque s novas aposentadorias a cada ano (englobando
o funcionalismo pblico e o regime geral do Instituto Nacional de Seguridade
Social INSS), iria impor um incremento nas execues oramentrias; agora
de modo real, em substituio s velhas correes nominais, fceis de serem
manipuladas. A soluo do ponto de vista da poltica fscal fora, desde ento, a
adoo de uma poltica fscal rgida, a qual contemplou a elevao progressiva
da carga tributria e o corte de despesas e de novos investimentos que vieram
estabelecer o equilbrio oramentrio num ambiente de uma moeda estvel sem
os velhos esquemas de indexao.
O crescimento gradual e contnuo da carga tributria foi o verdadeiro ter-
mmetro do processo de desinfao sofrido pela economia brasileira ao longo do
perodo supracitado, passando de 28,6% do PIB em 1996 e 1997, para 32,6% em
2000, e por fm para 35,9% em 2004, quando a dvida interna como proporo do
PIB sara da casa dos 20,7% para 44,3% (ver tabela 7). O efeito da desinfao so-
bre o fnanciamento pblico e sobre a dvida interna foi, sem dvida, o da prtica
de um aperto fscal e monetrio para o primeiro e o de um crescimento exponencial
para a dvida interna. Em tempos de infao sob controle (sem regras de indexao
generalizada), possvel auferir receitas pblicas via aumentos de impostos sem
haver presses infacionrias em cadeia, dado o represamento da demanda agre-
gada, o que possibilitara o crescimento real da carga tributria, a despeito de seus
contraefeitos. Como exemplos desses contraefeitos se destacaram o desestmulo
expanso de investimentos de capital fxo, pelo setor privado (ver o crescimento
das alquotas do PIS/Cofns, entre outros impostos incidentes sobre a produo), e
a perda de poder aquisitivo de segmentos sociais, como a classe mdia. Segmento
de renda este que sofrera um achatamento de seus rendimentos reais por conta do
aumento do IR para pessoas fsicas, resultante do congelamento da tabela do IR,
praticado de 1996 a 2003.
Esse crescimento da carga tributria derivou do crescimento dos ser-
vios da dvida pblica, com maior nfase s despesas com juros reais. Nada
mais do que uma transferncia contnua de renda entre os setores produtivo e
fnanceiro, utilizando para isto o represamento da poupana pblica como canal
de transmisso desta lgica de concentrao de renda. A dvida interna, que j
se estabelecera desde os anos 1980 como um elemento alimentador da especu-
lao fnanceira, pautada nos instrumentos da correo monetria e cambial, se
fortalecera e assumira em defnitivo o comando sobre a base de remunerao
do sistema fnanceiro. A restaurao do padro monetrio e de todas as funes
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 30
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
clssicas da moeda no inverteu a lgica especulativa do mercado fnanceiro,
construda ao longo de mais de trinta anos desde a introduo da correo mo-
netria e consolidada com a convivncia de uma infao de mais de dois dgitos
mensais:
42
o que de fato deu continuidade desacelerao da atividade produ-
tiva, no momento em que os custos de oportunidade referentes rentabilidade
dos ativos fnanceiros se transformaram na melhor alternativa lquida para a
execuo dos investimentos de capital.
[...] Num mundo de incerteza, a escolha de investir em ativos menos
lquidos ir demonstrar um elevado grau de confana no futuro e
vice-versa. Como moeda e ativos fnanceiros so vistos, numa eco-
nomia monetria, como ativos que competem com os fxos, o ritmo
dos investimentos em ativos de capital depender do estado das ex-
pectativas. Assim, as expectativas sobre a lucratividade da aplicao
e a preferncia pela liquidez so os guias para a implementao de
planos de investimento (FEIJ, 1999, p. 121).
A desinfao, reforada pelas aberturas comercial e fnanceira, na ver-
dade, acirrou o direcionamento da economia para a esfera fnanceira, desviando
recursos da poupana interna, que certamente contribuiriam para a expanso da
taxa de investimento e de toda a produo agregada. A taxa de investimento,
desde 1994, caiu de 20,75% para valores que oscilaram entre 18% e 19%, como
exemplo o ano de 1999 com 18,91% (GONALVES, 2005, p. 198).
[...] o crescimento da dvida pblica, que nos anos 80, perodo de
altas taxas de infao se constituiu em pea chave da ciranda fnan-
ceira e alimentou os lucros das instituies fnanceiras, no desa-
pareceu com a queda da infao. No perodo ps-Real, ao contrrio
da expectativa dominante, a dvida pblica continuou sendo o ponto
de apoio fundamental da especulao fnanceira, principalmente a
partir de maro de 1995 (FILGUEIRAS, 2003, p. 166).
42
A desindexao e o estabelecimento de uma referncia monetria, o Real, apenas cumpriram a atribuio de debelar a infao, entretanto,
a dinmica fnanceira no foi modifcada na essncia, por mais que se tenha restabelecido a demanda por moeda. O sistema fnanceiro, at
mesmo, aprimorou seus lucros por meio do mercado de ttulos em substituio velha ciranda fnanceira.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
31
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
TABELA 7
DVIDA INTERNA, CARGA TRIBUTRIA, CRESCIMENTO DO PIB E INFLAO
Anos Dvida interna (%PIB) Carga tributria (%PIB) Cresc. PIB (%) Infao (IPCA)
1994 20,7 27,9 5,9 2312,0
1995 24,9 28,0 4,2 22,41
1996 29,4 28,6 2,7 9,56
1997 30,2 28,6 3,3 5,22
1998 36,9 29,3 - 0,1 1,65
1999 39,0 31,1 0,8 8,85
2000 39,7 32,6 4,4 5,97
2001 42,2 34,0 1,3 7,67
2002 41,2 35,6 1,9 12,53
2003 46,3 34,9 0,2 8,5
2004 44,3 35,9 4,9 5,5
Fonte: Banco Central, IBGE, FGV.
De modo semelhante ao que ocorrera na primeira metade dos anos 1980, as
operaes de esterilizao
43
e as altas taxas bsicas de juros, como componentes de uma
poltica monetria contracionista, atuaram no crescimento explosivo da dvida interna.
S que na dcada de 1990, a compra de divisas pelo Banco Central se direcionara para
a formao de reservas internacionais, dentro do esquema de estabilizao do Real, ao
contrrio da crise da dvida externa, em que a compra de divisas se dera para o paga-
mento de juros em moeda estrangeira. A diferena na aquisio dessas divisas est no
fato de que nos anos 1980 elas proviam dos saldos comerciais, e na segunda metade dos
anos 1990 proviam do saldo da conta de conta de capitais. O que importa frisar que
em ambas as situaes o endividamento interno fora impulsionado pela mesma razo:
pela crise do balano de pagamentos, mais precisamente, por conta da vulnerabilidade
externa da economia brasileira (GONALVES, 2005, p. 124).
[...] Como bem salienta Kregel (1999), a dependncia excessiva de
fuxos de capitais externos leva a que aes de poltica monetria sejam
contrrias estabilizao macroeconmica. Participao crescente dos
juros entre as despesas do governo compromete o carter estabilizador do
multiplicador keynesiano. No Brasil, no perodo recente, destaca Kregel
(1999), os gastos do governo federal com o pagamento dos juros da dvida
pblica so superiores a seus dispndios com salrios e ordenados. Ao
mesmo tempo as taxas de juros elevadas acabam induzindo aritmtica
perversa destacada por Sargent (1986) e que impede qualquer regra de
poltica monetria. O crescente estoque de ttulos, relativamente aos meios
de pagamentos, resultantes de uma forte poltica de esterilizao, de um
43
No perodo 1994-1997, a entrada lquida de capitais promoveu a expanso do passivo externo e das reservas do Bacen, cuja poltica de este-
rilizao monetria levou ao crescimento da dvida pblica interna. Na fase de sada lquida, a queda das reservas foi acompanhada da elevao
dos juros, o que encareceu o servio da dvida e determinou o rpido crescimento da relao dvida/PIB (BELLUZZO, 2004).
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 32
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
lado, e do fnanciamento do dfcit pblico operacional, de outro, pode ser
interpretado como uma pr-condio para um ataque especulativo liderado
por ativos fnanceiros. Assim, entre as lies que aprendemos com os
programas de estabilizao com ancoragem cambial, implementados na
Amrica Latina nos anos 1990, podemos salientar os problemas derivados
da vulnerabilidade do setor externo e da vulnerabilidade fnanceira interna,
que se somam dinmica do endividamento pblico; concluindo que a
evoluo da dvida interna passa a ser subordinada aos objetivos da poltica
de estabilizao e ao equilbrio de curto prazo (FALCO SILVA, 2002).
6 A estrutura da dvida mobiliria
federal (1994-2004)
Conforme demonstrado na tabela 8, a evoluo do perfl da dvida mobiliria
entre 1994 e 2004 retrata as diversas nuances da forma de fnanciamento do Estado
brasileiro via colocao de ttulos pblicos. A absoro de recursos da poupana interna,
por meio da rolagem da dvida interna, fzera com que houvesse a necessidade constante
de aumentos da carga tributria para fazer jus ao crescimento dos servios dessa dvi-
da. De forma concomitante, as modifcaes das carteiras de ttulos emitidos se deram
de acordo com as variaes do grau de preferncia pela liquidez de seus compradores
diante dos sucessivos abalos externos, alm das bolhas especulativas (outra marca da
preferncia pela liquidez), vide os exemplos de 1999, 2001 e de 2002.
44
TABELA 8
DVIDA MOBILIRIA FEDERAL 1994-2004 (PARTICIPAO PERCENTUAL POR INDEXADOR)
Perodo Saldo Cmbio TR IGP-M SELIC IGP-DI Prefxado TJLP Outros Total
(R$ bilhes)
1994 61,78 8,3 7,2 2,6 15,6 65,2 1,1 100
1995 108,48 7,6 6,9 2,2 15,2 65,8 2,3 100
1996 176,21 9,4 7,9 1,8 18,6 61,0 1,4 100
1997 255,50 15,4 8,0 0,3 34,8 40,9 0,6 100
1998 323,86 21,0 5,4 0,3 69,1 0,1 3,5 0,2 0,5 100
1999 414,90 24,2 3,0 0,3 61,1 2,1 9,2 0,1 100
2000 510,69 22,3 4,7 1,6 52,2 4,4 14,8 100
2001 624,08 28,6 3,8 4,0 52,8 3,0 7,8 100
2002 623,19 22,4 2,1 7,9 60,8 3,1 2,2 1,6 100
2003 731,85 10,8 1,9 8,7 61,4 2,4 12,4 2,4 100
2004 810,26 5,2 3,1 4,9 57,1 1,8 19,7 3,1 100
Fonte: Boletim do Banco Central, vrios nmeros (1994-2004).
44
Anos em que o mercado interno registrou as maiores procuras por ttulos indexados ao cmbio.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
33
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
Ao fnal de 1994, de um estoque de R$ 61,78 bilhes, R$ 40,28 bilhes (65,2%)
correspondiam a ttulos prefxados, como LTN e BBC, e R$ 9,63 bilhes (15,6%) a ttu-
los ps-fxados como as LFT.
45
A participao dos ttulos cambiais no montante total da
dvida pblica interna saltara vertiginosamente desde a adoo do Real, passando de R$
5,12 bilhes (8,3%) em 1994, para R$ 68,01 bilhes (21,0%) em 1998, refexo direto da
desconfana do mercado em relao continuidade do regime de bandas cambiais aps
os sucessivos choques externos; o mesmo fato pode ser dito para o crescimento da prefe-
rncia por ttulos ps-fxados, pois estes tiveram seus rendimentos fortemente majorados
conforme se davam as elevaes da taxa bsica de juros diante da necessidade de dar
prosseguimento captao de poupana externa. J ao fnal de 1998, de um estoque de
R$ 323, 86 bilhes, apenas R$ 11,33 bilhes (3,5%) correspondiam a ttulos prefxados,
sendo R$ 223,78 bilhes (69,1%) compostos por ttulos ps-fxados atrelados Selic, o
maior percentual registrado at hoje. Situao essa, originada das variaes da demanda
por ttulos pblicos entre 1994 e 1998,
46
durante a vigncia da ncora cambial, transpa-
recendo o peso da vulnerabilidade externa da economia brasileira sobre as decises de
composio das carteiras de investimento de portfolio.
Vulnerabilidade esta que impusera o retorno Brasil ao Fundo Monetrio
Internacional (FMI), em dezembro de 1998, como decorrncia dos solavancos
causados pela crise russa, numa demonstrao do nvel de deteriorao das contas
externas poca (em funo desses cinco anos de sobrevalorizao cambial, des-
de 1994); e que mesmo aps a captao desses emprstimos de regularizao, a
manuteno do sistema de futuao suja das bandas cambiais se tornara invivel
dadas as vultosas perdas dirias de reservas internacionais (nos primeiros dias de
1999) e a forte bolha especulativa formada em torno dos ttulos cambiais. Cul-
minando, durante o ano de 1999, na substituio do modelo de estabilizao via
45
Entre janeiro e julho de 1994, s vsperas do Plano Real, a parcela de ttulos indexados ao cmbio foi sendo reduzida, assim como a parcela indexada
infao e a parcela prefxada. A dvida mobiliria foi sendo rolada com a utilizao de ttulos ps-fxados. Em junho de 1994, apenas 10,7% da dvida
mobiliria federal se encontravam atrelado variao cambial. A maior parte, 45,7%, estava atrelada variao da taxa de overnight (os ttulos de
menor risco), enquanto 25,5%, do total da dvida, indexado ao IGP-M. O total de ttulos prefxados correspondia a 7%. Com infao menor e desin-
dexao da economia, o mercado de ttulos adotou novas caractersticas. A proporo de ttulos nominais, que chegou a zero em 1989, voltou a crescer
de forma expressiva aps o Plano Real. O governo pde ofertar mais ttulos prefxados e atuou no mercado com leiles de LTN e BBC. Dentro de um
programa de desindexao da economia, procurou-se evitar ttulos indexados a ndices de infao, mais pelo efeito psicolgico que isso poderia causar
do que pelo efeito infacionrio concreto, j que no existem evidncias empricas de que a indexao de ttulos infao seja infacionria.
46
Durante os anos de 1995 e 1996, ainda sobre o efeito do sucesso do Plano Real, foi aumentada a colocao de LTN e BBC, reduzindo a exposio
aos demais indexadores da dvida pblica. Em setembro de 1996, a parcela prefxada chegou ao pico de 62,4%, enquanto as parcelas indexadas ao
cmbio, infao e taxa de juros de curto prazo correspondiam a 7,9%, 2,0% e 17,9% respectivamente. Aps meses ofertando basicamente BBC,
LTN e NTN-D, no incio de 1997, o governo ofertou NBC-E e aumentou a parcela de NTN-D, tentando conter o aumento da demanda por dlares,
causada pelos resultados ruins da balana comercial. Em outubro de 1997, o Brasil comeou a sofrer contgio da crise asitica, e o Banco Central se
viu obrigado a aumentar a taxa de juros (Selic) de 20,70% para 43,41%. Nos ltimos quatro meses de 1997, com a deteriorao da situao na sia,
a procura por hedge contra a possvel desvalorizao do Real cresceu, e a participao de ttulos cambiais no total da dvida mobiliria chegou a
15,42%, em dezembro de 1997. Ao longo de 1998, a parcela cambial foi sendo gradativamente aumentada, sobretudo com a colocao de NBC-E e
NTN-D. A partir do segundo semestre j se comeou a sentir os efeitos do contgio da crise russa, quando o governo optou pela reduo da emisso
de ttulos prefxados, o que fez saltar a participao dos ps-fxados para 69,10% ao fm de 1998. Vale tambm ressaltar que, em setembro de 1998,
mais um ttulo cambial foi criado: a Nota do Banco Central-Srie F; com o objetivo de estender a possibilidade de hedge aos agentes na tentativa de
reduzir o fuxo de divisas para fora do pas. O prazo mnimo era de trs meses, com atualizao do valor nominal do ttulo de acordo com a variao
da cotao de venda do dlar no mercado, sendo consideradas as taxas mdias dos dias anteriores s datas de emisso e resgate do ttulo. A taxa de
juros contratada foi estabelecida em 6% a.a. com pagamentos semestrais. O principal seria pago em parcela nica no vencimento. Em outubro de
1998, a parcela prefxada ainda teve uma pequena elevao por causa da criao do Bnus do Banco Central-Srie A (BBC-A), mas esse aumento
no se sustentou dadas as presses do mercado. A reduo da maturidade foi causada pela colocao de ttulos prefxados e curtos, o que aproximou
os vencimentos e aumentou os riscos de rolagem da dvida. Com o aumento das incertezas quanto continuidade do regime cambial, at mesmo
os ttulos prefxados de maturidade curta no foram mais possveis de serem ofertados. Assim, a colocao de ttulos ps-fxados e indexados ao
cmbio (substituindo os prefxados) permitiu que a maturidade voltasse a crescer. J se percebia, entretanto, o custo nesta opo por estes ttulos
indexados, j que um futuro aumento na taxa de juros ou uma depreciao do cmbio elevaria os custos da dvida pblica.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 34
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
ncora cambial em favor da trade: superavit primrio, cmbio futuante e metas
de infao, transferindo para a poltica monetria, a responsabilidade absoluta
pelo novo modelo de estabilizao.
De 1999 a 2004, a participao percentual dos ps-fxados sofreu pe-
quena reduo, de 61,1% (R$ 253,50 bilhes) para 57,1% (R$ 462,98 bilhes),
apesar de continuar representando a maioria absoluta dos ttulos da dvida mo-
biliria. Os ttulos prefxados conseguiram melhorar sua posio, de 9,2% (R$
38,17 bilhes) para 19,7% (R$ 159,62 bilhes), mas ainda muito pequena dada
a necessidade de reduo dos custos relacionados aos ttulos presos variao
da Selic. A maior queda signifcativa se deu com os ttulos cambiais, saindo de
24,2% (R$ 100,40 bilhes) para 5,2% (R$ 42,13 bilhes), um sinal claro do fm
da necessidade de captao de poupana externa, quando o pas passara a apre-
sentar superavits nas contas externas, sobretudo em conta-corrente.
47
As bolhas
especulativas do perodo foram observadas em 1999, 2001 e 2002. Em todos
esses anos, a procura por ttulos cambiais evidenciara a estrutura especulati-
va do mercado fnanceiro nacional, ao requerer a constante emisso de ttulos
cambiais como forma de barganha em relao ao que seria uma possvel fuga
dos portflios fnanceiros na direo da compra de dlares. J que os sinais
da restrio externa, resultantes das defcincias do balano de pagamentos,
demonstravam um nvel insufciente de aquisio de divisas para o fechamento
das contas externas e ressaltavam a dimenso atribuda conta de capitais no
papel crucial deste fechamento. O cmbio futuante, instalado desde janeiro de
1999, ainda no havia trazido resultados expressivos para o saldo em conta cor-
rente, permanecendo, em tese, uma situao de vulnerabilidade externa quase
semelhante vivenciada nos anos da ncora cambial.
Conforme os dados da tabela 9 fcam evidentes os dois ttulos de maior
preferncia pelo mercado fnanceiro ao fnal de 2004: a LFT (atrelada Selic) e a
LTN (prefxada). No entanto, o peso dos ttulos ps-fxados (a exemplo das LFT)
refetiu o grau de exigncia do mercado fnanceiro quanto aos ttulos mais lqui-
dos possveis, tendo atingido, em 2004, o estoque de LFT em R$ 457,75 bilhes
(56,49%), seguido do estoque de LTN em R$ 159,95 bilhes (19,74%). Dentre
os ttulos de menor procura estavam as NTN-D, com um estoque de R$ 11,71
bilhes (1,45%), um exemplo da diminuio da procura por ttulos cambiais.
Este formato da dvida interna imps sem dvida uma perda de efcincia da
poltica monetria na tentativa de reduo de seu estoque, pois pelo fato de 57,14%
do estoque estar atrelado Selic, em 2004, poca, uma elevao de 1% na taxa Se-
lic corresponderia a um aumento mdio de R$ 4 bilhes no estoque total dessa dvi-
da. Uma soluo apontada por muitos analistas consiste em promover estmulos aos
ttulos atrelados variao do ndice de preos. Ttulos tais, a exemplo das NTN-C,
que registravam baixa participao na composio percentual do estoque da dvida
mobiliria em dezembro de 2004, somente 9,51% do total (R$ 77,07 bilhes).
47
O primeiro superavit em conta-corrente aps vrias dcadas foi da ordem de US$ 4 bilhes, em 2003.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
35
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
[...] preciso que se reduza a proporo de ttulos atrelados taxa
Selic e ao cmbio e seja aumentado o volume de ttulos indexados
infao. Desse modo, elevaes na taxa de juros para arrefecer pres-
ses infacionrias tambm contribuiriam para redues na razo D-
vida/PIB. Por conseguinte, haveria um incremento na credibilidade
da poltica antiinfacionria que favoreceria a estratgia de amplia-
o do prazo da dvida pblica (MENDONA, 2004, p. 139).
TABELA 9
ESTOQUE DA DVIDA PBLICA MOBILIRIA FEDERAL INTERNA EM PODER DO PBLICO POR
TTULO (R$ MILHES, DEZEMBRO DE 2004)
Negociveis
oferta pblica
Negociveis
emisso direta
Total
negociveis
Inegociveis Total geral
Banco Central
NBCE 13.583,94 13.583,94 13.583,94
Total 13.583,94 13.583,94 13.583,94
Tesouro Nacional
LFT 370.238,82 87.518,17 457.756,99 457.756,99
LTN 159.959,51 159.959,51 159.959.51
NTN-F 2.775,77 2.775,77 2.775,77
NTN-C 72.927,44 4.144,68 77.072,12 77.072,12
NTN-D 8.956,41 2.758,41 11.714,81 11.714,81
NTN-B 14.641,46 10.790,86 25.432,32 25.432,32
Outros 13.488,06 13.488,06 3.278,57 16.766,63
Dvida securitizada 25.288,77 25.288,77 159,72 25.448,49
Certifcados 0,34 13.955,56 13.955,90 3.387,04 17.342,94
LFT-E/M
TDA 2.410,78 2.410,78 2.410,78
Total 629.499,77 160.355,28 789.855,05 6.825,33 796.680,38
Total geral 643.083,71 160.355,28 803.438,99 6.825,33 810.264,32
Fonte: Boletim do Banco Central, dezembro de 2004 .
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 36
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
7 A estrutura dos prazos dos ttulos pblicos
aps a futuao cambial de 1999
A relativa rigidez dos prazos mdios de resgate dos ttulos pblicos entre 1999
e 2004 pode ser explicada por meio da preferncia pela liquidez,
48
pois os exemplos de
1999, 2001, 2002 e 2004 servem para um perfeito balizamento por se tratarem de perodos
completamente distintos. Em 1999, ocorreu a mudana no regime cambial, alm de um
acirramento da poltica monetria por conta do repique infacionrio. Em 2001 e 2002,
os movimentos de hedge do mercado fnanceiro fzeram dos ttulos cambiais o principal
destino das aplicaes, sendo que, em 2002, a especulao no mercado cambial (com
o dlar ultrapassando o valor de R$ 4,00) se baseara na argumentao para o chamado
risco eleitoral, acarretando numa infao acumulada de 12,53%. Em 2004, a realidade
do ponto de vista dos fundamentos macroeconmicos j era outra, a infao estava
controlada ao nvel prximo da meta acertada, o superavit primrio superara a marca
de 4% do PIB (R$ 81,1 bilhes, 4,63% do PIB) e o pas apresentara um superavit
operacional de R$ 38,07 bilhes (2,06% do PIB) e um superavit em conta-corrente
no balano de pagamentos de US$ 11,7 bilhes
49
(1,94% do PIB). No necessitando,
obviamente, de poupana externa. As mudanas nas preferncias do mercado por cada
modalidade de ttulo apenas representaram migraes internas das composies de
portfolio na direo do ttulo que demonstrasse a maior rentabilidade e liquidez em cada
momento distinto do perodo 1999-2004. Porm, os prazos mdios de resgate de toda a
carteira de ttulos oscilaram muito pouco, a despeito das melhoras tanto fscais quanto
externas, observadas ao fm desse perodo em questo.
Por mais que tivesse havido melhoras substanciais nas contas externas e no
controle da infao, a taxa de juros e os prazos mdios de vencimentos dos ttulos
pblicos se mantiveram praticamente inalterados. Quer dizer, a dvida interna acabou
apresentando uma trajetria estacionria, independente das condies vivenciadas
pela economia brasileira; demonstrando que a argumentao neoclssica de que o
problema relacionado dvida interna se refere s questes de fundamentos no
se verifca empiricamente, vindo tona que o mercado de ttulos j possui uma forma
predeterminada (de curto prazo) para a aquisio dos ttulos pblicos. Isto a clara
demonstrao do poder que este mercado exerce sobre a formulao da poltica
econmica brasileira, utilizando continuamente a retrica de um possvel risco de
default para justifcar o que na verdade corresponde manuteno da caracterstica
de preferncia pela liquidez, construda durante o perodo de alta infao dos anos
1980 e mantida at os dias de hoje.
48
Numa economia, sujeita incerteza no redutvel ao clculo de probabilidades, os indivduos valorizam a posse de ativos lquidos nos portfolios. Dessa
forma, eles s estaro dispostos a reter ativos ilquidos se lhes for oferecida uma recompensa explcita pela renncia posse de ativos lquidos. Essa
recompensa precisamente a taxa de juros. A Teoria da Preferncia pela Liquidez afrma, portanto, que ativos com diferentes graus de liquidez devem
proporcionar aos indivduos que os retm, recompensas monetrias inversamente proporcionais ao seu grau de liquidez (OREIRO, 1999, p. 229).
49
O maior superavit em conta-corrente at ento verifcado na histria brasileira, desde o incio da medio em 1947. No ano anterior, 2003,
o superavit fora de US$ 4,6 bilhes, superando os defcits de US$ 7,75 bilhes em 2002, US$ 23,21 bilhes em 2001, US$ 24,22 bilhes em
2000, US$ 25,33 bilhes em 1999 e US$ 33,41 bilhes em 1998.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
37
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
TABELA 10
PRAZOS MDIOS DA DVIDA MOBILIRIA FEDERAL POR TIPO DE RENTABILIDADE
Em meses
Prefxado Selic ndice de preos Cmbio TR Outros Total
Dez. 1999
Dez. 2000
Dez. 2001
Dez. 2002
Dez. 2003
Dez. 2004
2,00 19,88 63,02 24,71 118,58 11,27 27,13
5,15 27,61 59,11 28,50 101,82 11,04 29,85
3,45 36,39 68,45 25,36 91,43 18,21 34,97
3,06 21,83 79,18 35,47 98,46 15,27 33,24
6,50 22,74 77,88 40,51 92,75 10,17 31,34
5,63 17,49 76,74 58,41 94,95 5,87 28,13
Fonte: Boletim do Banco Central, vrios nmeros (1999-2004).
Como exemplos dessa rigidez da estrutura de prazos (utilizando-se os dados
da tabela 10), os ttulos atrelados Selic, sobretudo as LFT, passaram de um pra-
zo mdio de 19,88 meses em dezembro de 1999 para 17,49 meses em dezembro
de 2004. Signifca dizer que apesar da melhora de todos os fundamentos, ao
fm desses anos, os prazos mdios dos ttulos de maior peso na dvida mobiliria
federal, que deveriam, em tese, terem sido alongados, foram exatamente encurta-
dos, como prova da ainda desconfana do mercado fnanceiro adiante da solidez
das contas pblicas.
Observou-se, tambm, por estes mesmos dados que os prazos mdios dos
ttulos atrelados ao cmbio e ao ndice de preos se comportaram inversamente
em relao s respectivas demandas, os quais foram transformados em substitutos
diretos dos ttulos ps-fxados, e em parte aos prefxados, vide os exemplos dos
ttulos cambiais, passando de 24,71 meses em dezembro de 1999 (no auge de sua
demanda) para 58,41 meses em dezembro de 2004; o mesmo fato verifca-se com os
ttulos vinculados aos ndices de preos durante o mesmo perodo, de 63,02 meses
(quando o IPCA anual atingira 8,85% em 1999) para 76,74 meses (j com um IPCA
anual de 5,5%). O crescimento da demanda por ttulos ps-fxados foi resultado de
um processo contnuo da presso dos agentes do mercado fnanceiro por ttulos com
vultosos nveis de liquidez e de rendimentos reais, num universo em que o recurso
de utilizao da Selic se tornara em defnitivo como o instrumento nico do modelo
em vigor de estabilizao. De modo geral, fora verifcado o absurdo do contrassen-
so entre melhora dos indicadores macroeconmicos e rigidez dos prazos de resgate
do total dos ttulos pblicos, de 27,13 meses em dezembro de 1999, contra 28,13
meses em dezembro de 2004; um alongamento pfo diante das signifcativas mu-
danas conjunturais, apresentadas entre esses anos. Ironicamente, os anos de maior
especulao cambial, 2001 e 2002, foram justamente os anos de maior alongamento
do prazo total dos ttulos (34,97 meses em 2001 e 33,24 meses em 2002), em pero-
dos cujos indicadores do risco-pas atingiram os maiores nveis at hoje registrados,
anos estes, responsveis at mesmo por um novo pequeno ciclo de crescimento da
dvida pblica externa.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 38
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
No somatrio das dvidas interna e externa, a dvida pblica brasileira fe-
chou o ano de 2004 em R$ 1,047 trilho de reais, situando-se como uma das
maiores dentre as economias emergentes. De modo contrrio aos outros pases
emergentes e ao que ocorrera nos anos 1980 e incio dos anos 1990, a dvida ex-
terna no Brasil (a partir dos saldos externos positivos desde 2003) deixou de ser
um problema grave e seu peso se reduziu em comparao com a interna; sendo o
endividamento pblico interno o grande n atual da economia brasileira, princi-
pal responsvel pelos entraves rea fscal e retomada do crescimento, pelo fato
de os ttulos pblicos competirem diretamente com as oportunidades de retorno
dos investimentos em capital produtivo.
8 Consideraes fnais
A dvida interna cresceu junto com a infao, desde a criao da correo
monetria, porm no diminuiu com o fm do quadro crnico infacionrio pre-
senciado por mais de trs dcadas. A transio dos anos 1970 para os anos 1980,
com a defagrao de uma rota de acelerao infacionria irreversvel at ento,
representou a ruptura de toda a forma de confana sobre a moeda nacional, o que
num quadro resultante da combinao de uma economia integralmente indexada,
em conjunto a choques externos, impulsionou uma corrida por ativos lquidos. Os
ttulos pblicos exerceram a partir da o papel que cabia moeda na formulao
original da demanda especulativa de moeda, o papel de assegurar liquidez e garan-
tia de retorno em momentos de incerteza, especifcamente por se tratar de ttulos
indexados e respaldados na correo monetria.
A infao, ao longo dos anos 1980 e incio dos anos 1990, condicionou a
preferncia pela liquidez por meio das quase moedas e acelerou o crescimento do
estoque da dvida interna por conta da correo monetria. No entanto, o governo
interferiu no clculo da correo monetria por diversas vezes como meio de des-
valorizar o estoque total da dvida, a exemplo dos Planos Cruzado e Collor. Dessa
modifcao se originou a capacidade de utilizao da infao como instrumento
de reduo da dvida interna, de forma contrria a tudo que at ento se havia ob-
servado, no momento em que vrias formas de expandir a correo monetria, ou
indexao propriamente dita aos tributos, ps fm ao efeito Tanzi da receita pblica,
tendo como contrapartida a no indexao do gasto. Todo o esquema de indexao,
partindo de uma acelerao infacionria rumo hiperinfao, nos moldes clssi-
cos, provocou a reduo expressiva da demanda por moeda e a transferncia macia
do estoque de riqueza para a forma de depsitos indexados, criando um ambiente
de convivncia com uma infao cada vez mais alta. Todavia, sem haver alguma
forma explcita de dolarizao ou de especulao com ativos reais. A correo mo-
netria fazia do setor bancrio fnanceiro o melhor refgio diante da acelerao
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
39
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
infacionria, e as quase moedas eram a certeza da liquidez, destoando da tendn-
cia convencional dos exemplos histricos de hiperinfao.
A reduo da demanda por moeda inverteu o uso das receitas de senhoria-
gem dos tempos de infao alta e descontrolada (como nos anos 1980 e 1990) em
comparao aos nveis de infao moderada e ascendente (como nos anos 1960
e 1970). A principal razo para que os programas de desenvolvimento, dos anos
1960 e 1970, no tivessem resultado integralmente em endividamento interno,
fora o fato de que a maior parte das despesas de investimento do setor pblico
ter sido diluda no oramento monetrio; alm de recursos de fontes parafscais,
como os recursos do BNDES, sem ter gerado, com isto, a necessidade constante
de emisso de ttulos pblicos como meio de captao da poupana do setor pri-
vado. A nica fonte necessria de captao de recursos para a execuo desses
investimentos pblicos era a captao externa, dadas as razes estruturais do ba-
lano de pagamentos brasileiro.
A capacidade de uso da senhoriagem como receita pblica, desde o comeo dos
anos 1990, passara a integrar uma estratgia de fechamento das contas pblicas, em
complemento ao recurso de boca do caixa. Entretanto, a perda diria do valor real da
moeda fzera com que a emisso monetria passasse a apenas cumprir um papel contbil
quanto s execues oramentrias a curto prazo, muito aqum do papel exercido du-
rante dcadas, o de suprir recursos para a promoo de projetos de desenvolvimento.
A estabilizao dos nveis de infao no reverteu o sistema de fnancei-
rizao da economia, mas, ao contrrio, ressuscitara o crescimento da dvida in-
terna como forma de explicitao e capitalizao dessa fnanceirizao. E, nes-
te processo, tanto na infao, quanto na desinfao, a dvida interna representou
uma vlvula de escape, seno um amortecedor dos choques externos das ltimas
dcadas, convertendo vulnerabilidade externa em endividamento interno graas
presena da preferncia pela liquidez
50
dos agentes do mercado de ttulos pblicos,
uma caracterstica intrnseca, consolidada e herdada justamente dos tempos de alta
infao. Fato este que pode ser comprovado pelo fracasso da tentativa inicial de
se prefxar a maior parte do estoque da dvida interna, pois, ao fm de 2004, os
ttulos ps-fxados haviam assumido a liderana na composio total do estoque;
retornando praticamente aos mesmos nveis do primeiro semestre de 1994, antes do
lanamento do Real, em tempos cuja regra de ps-fxao dos ttulos era inerente
prpria existncia da indexao, algo desnecessrio, em tese, dentro de um cenrio
de preos estveis.
A formao de bolhas especulativas no mercado cambial, tanto na demanda
por ttulos atrelados ao cmbio, quanto na prpria demanda por moedas estrangei-
ras (nos anos de 1998, 1999, 2001 e 2002), nada mais foi do que uma reao defen-
siva do mercado fnanceiro nacional; em conjunturas cujo balano de pagamentos
se encontrava ainda debilitado.
50
A questo do curto prazo quanto ao resgate dos ttulos pblicos derivou justamente da preferncia pela liquidez, numa caracterstica intrn-
seca da dvida pblica brasileira, independente de qualquer conjuntura.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 40
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
O incremento da demanda por ttulos cambiais e ps-fxados, em momentos
distintos, era o retrato da convergncia das expectativas deste mesmo mercado em
relao a uma suposta volta da infao, exigindo, ento, a emisso destas moda-
lidades de ttulos como forma de um sinal quanto manuteno da estabilidade.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
41
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
Referncias
ABREU, M. P. Keynes e as conseqncias econmicas da paz. Rio de Janeiro:
Departamento de Economia PUC- Rio, 2002 (Texto para Discusso n. 454).
ANDREI, C. O Plano Real e o desempenho da infao nos primeiros quatro anos.
In: CARNEIRO, R. et al. (Org.). Gesto Estatal: armadilhas da estabilizao
(1995-1998). So Paulo: Edies Fundap, 1998.
ALM, A. C.; GIAMBIAGI, F. Finanas pblicas: teoria e prtica no Brasil. Rio
de Janeiro: Ed. Campus, 1999.
ALMEIDA, J. G.; BELLUZZO, L. G. M. Depois da queda: a economia brasileira
da crise da dvida aos impasses do Real. Rio de Janeiro: Ed. Civilizao Brasileira,
2002.
_______ . Enriquecimento e produo: Keynes e a dupla natureza do capitalismo.
In: LIMA, G. T.; SICS, J.; DE PAULA, L. F. (Org.). Macroeconomia Moderna:
Keynes e a economia contempornea. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1999.
BACEN. Boletim do Banco Central (vrios nmeros, 1995-2004).
_______. Dvida lquida e necessidades de fnanciamento do setor pblico. 1999.
BACHA, E. L. Plano Real: uma avaliao preliminar. Revista do BNDES, v. 2, n.
3, Rio de Janeiro, BNDES, 1995.
BATISTA Jr, P. N. O Brasil e a economia internacional: recuperao e defesa da
autonomia nacional. So Paulo: Ed. Campus, 2005.
_______ . A poltica econmica do incio do governo Lula: imposio irrecusvel,
escolha equivocada, ou opo estratgica? Os desafos e os equvocos do incio do
governo Lula. Belo Horizonte: Ed. Autntica, 2003.
________ . Novos ensaios sobre o setor externo da economia brasileira. So
Paulo: Fundao Getlio Vargas, 1988.
________. Ajustamento das contas pblicas na presena de uma dvida eleva-
da: observaes sobre o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Fundao Getlio Vargas,
Instituto Brasileiro de Economia, 1989.
________ . Supervit primrio, encargos fnanceiros e dvida do setor pblico
brasileiro. So Paulo: Iesp, Fundap, 1989.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 42
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
________. Keynes e a estabilizao do marco alemo. In: LIMA, G. T.; SICS,
J.; DE PAULA, L. F. (Org.). Macroeconomia moderna: Keynes e a economia
contempornea. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1999.
BARROS DE CASTRO, L. Privatizao, abertura e desindexao: a primeira me-
tade dos anos 90 (1990-1994). In: BARROS DE CASTRO, L.; HERMANN, J. et
al. (Org.). Economia brasileira contempornea 1945-2004. Rio de Janeiro; So
Paulo: Ed. Campus, 2004.
BELLUZZO, L. G. M. Desarranjo fscal. Carta Capital, ano XI, n. 323, So Paulo,
dez. 2004.
BIONDI, A. O Brasil privatizado I: o balano do desmonte do Estado. So Paulo:
Ed. Fundao Perseu Abramo, 1999.
BONELLI, R. O que causou o crescimento econmico no Brasil? In: BARROS DE
CASTRO, L.; HERMANN, J. et al. (Org.). Economia brasileira contempornea
1945-2004. Rio de Janeiro; So Paulo: Ed. Campus, 2004.
CALVO, G. A.; LEIDERMAN, L.; REINHART, C. M. The capital infows pro-
blem: concepts and issues. 1994. Disponvel em: <www.puaf.umd.edu/faculty/pa-
pers/reinhart.htm>. Acesso em: ago. 2005.
____________. Infows of capital to developing countries in the 1990s. Journal of
Economic Perspectives, v. 10, n. 2, Spring, 1996.
____________. Capital infows and real exchange rate appreciation in Latin Amer-
ica: the role of external factors. International Monetary Fund Staff Papers 40,
March, 1993.
____________. Capital infows to Latin America: the 1970s and the 1990. Dis-
ponvel em: <www.puaf.umd.edu/faculty/papers/reinhart.htm>. Acesso em: ago.
2005.
CANO, W. Soberania e poltica econmica na Amrica Latina. So Paulo: Edi-
tora Unesp, 1999.
CANUTO, O.; LAPLANE, M. Especulao e instabilidade na globalizao fnan-
ceira. Economia e Sociedade, n. 5, Campinas, dez. 1995.
CARDIM DE CARVALHO, F. J. Investimento, poupana, e fnanciamento: f-
nanciando o crescimento com incluso. Texto para Discusso. Disponvel em:
<www.unesp.br>. Araraquara, 2004.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
43
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
__________. On the ownership of reform proposals. How social policies found
their way into IMF adjustment programs. Econmica, v. 3, n.1, Niteri, 2001.
__________. A infuncia do FMI na escolha de polticas macroeconmicas: o caso
do Brasil. In: Agenda Brasil. So Paulo: Ed. Manole, 2003.
__________. Sistema fnanceiro, crescimento e incluso. In: CASTRO, A. C.; LI-
CHA, A. et al. (Org.). Brasil em desenvolvimento economia, tecnologia e com-
petitividade. vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. Civilizao Brasileira, 2004.
__________ . Polticas econmicas para economias monetrias. In: LIMA, G. T.;
SICS, J.; DE PAULA, L. F. (Org.). Macroeconomia moderna Keynes e a eco-
nomia contempornea. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1999.
CARNEIRO, R. Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no ltimo quar-
to do sculo XX. So Paulo: Ed. Fundao Unesp; I. E. Unicamp, 2002. (Coleo
Economia Contempornea).
CARVALHO, C. E. As fnanas pblicas no Plano Real. In: CARNEIRO, R. et al.
(Org.). Gesto Estatal: armadilhas da estabilizao (1995-1998). So Paulo: Edi-
es Fundap, 1998.
CAVALCANTI, C. B. Transferncias de recursos ao exterior e substituio de
dvida externa por dvida interna. Rio de Janeiro: BNDES, 1988.
CHESNAIS, F. Mundializao fnanceira e vulnerabilidade sistmica. In:_____. A
mundializao fnanceira: gnese, custos, e riscos. So Paulo: Editora Xam, 1998.
CINTRA, M. A. M.; PRATES, Daniela Magalhes. Os fuxos de capitais internacionais
para o Brasil desde os anos 90. Disponvel em: <www.desempregozero.org.br>.
Acesso em: 10 set. 2006.
CONSULTORIA de Oramento da Cmara dos Deputados. Disponvel em:
<www.camara.gov.br>. Acesso em: 19 maio 2005.
COUTINHO, L. B. L. G. M. Desenvolvimento capitalista no Brasil: ensaios so-
bre a crise. Volume II So Paulo: Ed. Brasiliense, 1983.
_________. Desenvolvimento e estabilizao sob fnanas globalizadas. Economia
e Sociedade, n. 7, Campinas, 1997.
CORRA DO LAGO, L. A. A retomada do crescimento e as distores do mila-
gre 1967-1973. In: ABREU, M. P. (Org.). A Ordem do Progresso: cem anos de
poltica econmica republicana 1889-1989. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1989.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 44
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
COSTA, F. N. Ps-keynesianismo e horizontalismo: preferncia pela liquidez e
circuito monetrio. In: LIMA, G. T.; SICS, J.; DE PAULA, L. F. (Org.). Macro-
economia moderna Keynes e a economia contempornea. Rio de Janeiro: Ed.
Campus, 1999.
DELFIM NETTO, A. Meio sculo de economia brasileira: desenvolvimento e
restrio externa. In: BARROS DE CASTRO, L.; HERRMAN, J. et al. (Org.).
Economia brasileira contempornea (1945-2004). Rio de Janeiro; So Paulo: Ed.
Campus, 2004.
DIAS CARNEIRO, D. Crise e esperana: 1974-1980. In: ABREU, M. P. (Org.). A
Ordem do Progresso: cem anos de poltica econmica republicana 1889-1989. Rio
de Janeiro: Ed. Campus, 1989.
DIAS CARNEIRO, D.; MODIANO, E. Ajuste externo e desequilbrio interno:
19801984. In: ABREU, M. P. (Org.). A Ordem do Progresso: cem anos de polti-
ca econmica republicana 1889-1989. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1989.
DE PAULA, L. F. Comportamento dos bancos em alta infao: uma abordagem
terica. Synthesis. Vol. III. Caderno do Centro de Cincias Sociais. Rio de Janeiro:
Ed. UERJ, 1998.
DOBB, M. Collected Keynes. New Statesman, 18 jun. 1971.
FALCO SILVA, M. L. Plano Real e ncora cambial. Revista de Economia Poltica,
v. 22, n. 3 (87), jul./set. 2002.
FEIJ, C. A. Decises empresariais em uma economia monetria de produo. In:
LIMA, G. T.; SICS, J.; DE PAULA, L. F. (Org.). Macroeconomia moderna:
Keynes e a economia contempornea. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1999.
FGV. Conjuntura econmica (vrios nmeros, 1995-2004).
FILGUEIRAS, L. A. M. Histria do Plano Real: fundamentos, impactos, e contra-
dies. So Paulo: Boitempo Editorial, 2003.
FRAGA, A. German reparations and Brazilian debt: a comparative study. Inter-
national Financial Section, Department of Economics, Princeton University, Essays
in International Finance, n. 163, Princeton, 1986.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
45
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
FREITAS, M. C. P. Poltica fnanceira, fragilidade, e reestruturao bancria. In:
CARNEIRO, R. et al. (Org.). Gesto estatal no Brasil: armadilhas da estabilizao
(1995-1998). So Paulo: Ed. Fundap, 1998.
GALBRAITH, J. K. Moeda: de onde veio, para onde foi. So Paulo: Ed. Pioneira,
1997.
GIAMBIAGI, F. Estabilizao, reformas, e desequilbrios macroeconmicos: os anos
FHC (1995-2002). In: BARROS DE CASTRO, L.; HERRMANN, J. et al. (Org.).
Economia brasileira contempornea (1945-2004). Rio de Janeiro; So Paulo: Ed.
Campus, 2004.
GOLDSMITH, R. W. Brasil 1850-1984: desenvolvimento fnanceiro sob um scu-
lo de infao. So Paulo: Ed. Harper & Row, 1986.
GONALVES, R. Desestabilizao macroeconmica e incertezas crticas: o go-
verno FHC e suas bombas de efeito retardado. In: MERCADANTE, A. (Org.). O
Brasil ps-Real. Campinas: Unicamp, 1997.
___________. Economia poltica internacional: fundamentos tericos e as rela-
es internacionais do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2005.
___________. Globalizao e desnacionalizao. So Paulo: Ed. Paz e Terra,
1999.
___________. Globalizao fnanceira, liberalizao cambial, e vulnerabilidade
externa da economia brasileira. In: BAUMANN, R. (Org.). O Brasil e a economia
global. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1996.
___________. abre-alas: a nova insero do Brasil na economia mundial. Rio
de Janeiro: Ed. Relume Dumar, 1994.
GONALVES, R.; POMAR, V. A armadilha da dvida. So Paulo: Ed. Fundao
Perseu Abramo, 2002. (Coleo Brasil Urgente).
__________. O Brasil endividado. So Paulo: Ed. Fundao Perseu Abramo,
2000.
HERMANN, J. Reformas, endividamento externo, e o milagre econmico (1964-1973).
In: BARROS DE CASTRO, L.; HERMANN, J. et al. (Org.). Economia brasileira
contempornea 1945-2004. Rio de Janeiro; So Paulo: Ed. Campus, 2004.
___________ . Auge e declnio do modelo de crescimento com endividamento: o
II PND e a crise da dvida externa (1974-1984). In: BARROS DE CASTRO, L.;
HERMANN et al. (Org.). Economia brasileira contempornea 1945-2004. Rio
de Janeiro; So Paulo: Ed. Campus, 2004.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 46
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
IBGE. Contas nacionais (19942004).
__________. Anlise dos principais resultados de 1999.
KEYNES, J. M. A teoria geral do emprego, do juro, e da moeda (1936). So
Paulo: Ed. Atlas, 1992.
_________ . The economic consequences of peace. The collected writings of
John Maynard Keynes. vol. II. Macmillan for the Royal Economic Society, Londres
e Basingtoke, 1971.
_________ . Activities 1922-1932: The end of reparations. The collected writings
of John Maynard Keynes, edited by Elizabeth Johnson, Macmillan St Martin Press
for the Royal Economic Society, Londres e Basingstoke, 1978.
KREGEL, J. A. Risks and implications of fnancial globalisation for national
policy autonomy. In: CONFERNCIA INTERNACIONAL MACROECONO-
MIA EM FACE DA GLOBALIZAO. Organizado por Corecon, Braslia, 1996.
__________. Was there an alternative to the Brazilian crisis? Brazilian Journal of
Political Economy, 19 (3), p. 23-38, July-September, 1999.
LACERDA, A. C. Brasil na contramo? Refexes do Plano Real, da poltica
econmica e da globalizao. So Paulo: Ed. Saraiva, 2003.
LAPLANE, Mariano; SARTI, Fernando. Investimento direto estrangeiro e o impacto
na balana comercial nos anos 90. Braslia: Ipea, 1999. (Texto para Discusso, n. 629).
LOPREATO, F. L. C. Um olhar sobre a poltica fscal recente. (Texto para Discusso).
IE/Unicamp, n. 111, 2002a.
__________. O colapso das fnanas estaduais e a crise da federao. So Paulo:
Ed. Fundao Unesp; I E Unicamp, 2002b. (Coleo Economia Contempornea).
LUPORINI, V. A sustentabilidade da dvida mobiliria federal brasileira: uma in-
vestigao adicional. Revista Anlise Econmica, ano 19, n. 36. FCEUFRGS.
Porto Alegre, 2001.
MACEDO E SILVA, A. C. Macroeconomia sem equilbrio. Rio de Janeiro: Ed.
Vozes, 1999.
MARQUES, R. M.; REGO, J. M. (Org.). Economia brasileira. So Paulo: Ed.
Atlas, 2002.
MEDEIROS, O. L. Dvida pblica como indicador de sustentabilidade fscal e
sinalizador de poltica governamental. Finanas Pblicas. VIII Prmio Tesouro
Nacional, 2003. Braslia, 2004.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008
47
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
MENDONA, H. F. Trs ensaios sobre a dvida pblica e a determinao da
taxa de juros na economia brasileira. Finanas Pblicas, VIII Prmio Tesouro
Nacional, 2003. Braslia, 2004.
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO, E GESTO. Disponvel
em: <www.planejamento.gov.br>. Acesso em: 12 out. 2005.
MINSKY, H. P. Stabilizing an unstable economy. New Haven: Yale University
Press, 1986.
MODIANO, E. A pera dos trs cruzados: 1985-1989. In: ABREU, M. P. (Org.). A
Ordem do Progresso: cem anos de poltica econmica republicana 18891989.
MOREIRA, M. M.; GIAMBIAGI, F. (Org.). A economia brasileira nos anos 90.
Rio de Janeiro: BNDES, Finame, BNDESPAR, 1999.
MUSGRAVE, R.; MUSGRAVE, P. Finanas pblicas: teoria e prtica. So Paulo:
Ed. Campus, 1980.
OBSTFELD, M.; ROGOFF, K. Foundations of international macroeconomics.
Cambridge, Mass: MIT Press, 1996.
O CONNOR, J. The fscal crisis of the state. New York: St. Martin Press, 1973.
OREIRO, J. L. O debate sobre os determinantes da taxa de juros. In: LIMA, G. T.;
SICS, J.; DE PAULA, L. F. (Org.). Macroeconomia moderna Keynes e a eco-
nomia contempornea. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1999.
PGO FILHO, B.; PINHEIRO, M. M. S. Os passivos contingentes e a dvida
pblica no Brasil. Finanas Pblicas: VIII Prmio Tesouro Nacional, 2003. Bra-
slia, 2004.
PLIHON, D. Desequilbrios mundiais e instabilidade fnanceira: a responsabilidade
de polticas liberais. Um ponto de vista keynesiano. In: CHESNAIS, F. A mundia-
lizao fnanceira gnese, custos e riscos. So Paulo: Ed. Xam, 1998.
POSSAS, M. L. Para uma releitura terica da Teoria Geral. In: LIMA, G. T.; SICS,
J. (Org.). Macroeconomia do emprego e da renda. So Paulo: Ed. Manole, 2003.
PRATES, D. M. Abertura fnanceira e vulnerabilidade externa. In: CARNEIRO, R.
et al. (Org.). Gesto Estatal: armadilhas da estabilizao (1995-1998). So Paulo:
Edies Fundap, 1998.
Finanas Pblicas XIII Prmio Tesouro Nacional 2008 48
Poltica Fiscal e Dvida Pblica Carlos Alberto Lanzarini Casa
__________. A abertura fnanceira dos pases perifricos e os determinantes dos
fuxos de capitais. Revista de Economia Poltica, v.19, n. 1, jan./mar. 1999.
RGO FILHO, L. Privatizao, ajuste patrimonial, e contas pblicas no Brasil.
Rio de Janeiro: Ipea, 1999. (Texto para Discusso, n. 668).
SARGENT, T. J. Rational expectations and infation. New York: Harper & Row,
1986.
SERRANO, F. Do ouro imvel ao dlar fexvel. Revista Economia e Sociedade,
v. 11, n. 2 (19), Campinas, Instituto de Economia da Unicamp, p. 237-253, 2002.
SIMONSEN, M. H. Trinta anos de indexao. Rio de Janeiro: Fundao Getlio
Vargas, 1995.
STUDART, R. O fnanciamento do desenvolvimento. In: BARROS DE CASTRO,
L.; HERMANN, J. et al. (Org.). Economia brasileira contempornea (1945-
2004). Rio de Janeiro; So Paulo: Ed. Campus, 2004.
Você também pode gostar
- Exercícios Resolvidos de Contabilidade - PDFDocumento3 páginasExercícios Resolvidos de Contabilidade - PDFaccos95% (19)
- Livro A Renda Fixa Nao e FixaDocumento73 páginasLivro A Renda Fixa Nao e FixaJorge Luiz Sardinha Filho100% (1)
- Governança, Governabilidade e AccountabilityDocumento6 páginasGovernança, Governabilidade e AccountabilityThaty Cris100% (1)
- DESPESAS ANTECIPADAS-ContabilDocumento3 páginasDESPESAS ANTECIPADAS-ContabiltributocontabilAinda não há avaliações
- SCR3040 CriticasDocumento29 páginasSCR3040 CriticasMichel GrigoliAinda não há avaliações
- Curso 11182 Aula 00 v1Documento114 páginasCurso 11182 Aula 00 v1Thaty CrisAinda não há avaliações
- A Passagem Da Antiguidade para o Feudalismo Pelo Prisma de Perry AndersonDocumento13 páginasA Passagem Da Antiguidade para o Feudalismo Pelo Prisma de Perry AndersonThaty Cris0% (1)
- Superioridade Método Fluxo Caixa Descontado Processo Avaliação EmpresasDocumento7 páginasSuperioridade Método Fluxo Caixa Descontado Processo Avaliação EmpresasThaty CrisAinda não há avaliações
- Micro. Teoria Do ConsumidorDocumento84 páginasMicro. Teoria Do ConsumidorThaty CrisAinda não há avaliações
- A ORGANIZAÇÃO SEGUNDO MINTZBERGDocumento14 páginasA ORGANIZAÇÃO SEGUNDO MINTZBERGThaty CrisAinda não há avaliações
- O Patrimônio em Processo, Maria CecíliaDocumento4 páginasO Patrimônio em Processo, Maria CecíliaThaty Cris100% (1)
- Debit Governance - A Questão Da Ingerência Dos CredoresDocumento23 páginasDebit Governance - A Questão Da Ingerência Dos CredoresElias TancredoAinda não há avaliações
- Cartilha Nova Classificacao de FundosDocumento30 páginasCartilha Nova Classificacao de FundosGustavo AnchietaAinda não há avaliações
- Vale - Trem de Passageiros PDFDocumento3 páginasVale - Trem de Passageiros PDFgustavorollaAinda não há avaliações
- Relação Documentos Propronente Caixa FederalDocumento1 páginaRelação Documentos Propronente Caixa FederalzelioportoverdeAinda não há avaliações
- Aula 00 EFD e NFE Sefaz SC NFe Intro v2Documento72 páginasAula 00 EFD e NFE Sefaz SC NFe Intro v2Diego EstevamAinda não há avaliações
- EVA Atividade Alunos PDFDocumento3 páginasEVA Atividade Alunos PDFBruno LenciAinda não há avaliações
- Prova BNBDocumento15 páginasProva BNBlimao1313Ainda não há avaliações
- Dynamic Hedging Nassin TalebDocumento3 páginasDynamic Hedging Nassin TalebWagner TorresAinda não há avaliações
- Avaliacao de Maquinas e Equipamentos Uma Abordagem Pelos Metodos Da Depreciacao e Comparativo 111616150Documento52 páginasAvaliacao de Maquinas e Equipamentos Uma Abordagem Pelos Metodos Da Depreciacao e Comparativo 111616150Renan Verolli Dal'Ava100% (1)
- 02561369-202008-Contracheque Do Mes PDFDocumento1 página02561369-202008-Contracheque Do Mes PDFJean HubnerAinda não há avaliações
- Atividade - Prática Cívil - Contestação - 20-06-2020 - Nathalia Matos Lima - dp03Documento5 páginasAtividade - Prática Cívil - Contestação - 20-06-2020 - Nathalia Matos Lima - dp03Nathalia LimaAinda não há avaliações
- Condicoes Particulares 5780520Documento2 páginasCondicoes Particulares 5780520Valeriy ZapisochnyyAinda não há avaliações
- Custos em RestauranteDocumento51 páginasCustos em RestauranteLohana SennaAinda não há avaliações
- Aprenda A Calcular Impostos para Emitir o RPADocumento3 páginasAprenda A Calcular Impostos para Emitir o RPAThiago FrancescoAinda não há avaliações
- Engenharia Economica - Aula 02Documento50 páginasEngenharia Economica - Aula 02Alison Jose TavaresAinda não há avaliações
- Planilha Exercicios PericiaDocumento3 páginasPlanilha Exercicios PericiaBRUNO LimaAinda não há avaliações
- Apostila 04-Variacoes Do Patrimonio Liquido-C.geralDocumento20 páginasApostila 04-Variacoes Do Patrimonio Liquido-C.geralzeramentocontabilAinda não há avaliações
- Modelo de Requerimento A Gerente de BancoDocumento2 páginasModelo de Requerimento A Gerente de BancoJoãoCarvalho0% (1)
- Contrato de Locação de Imóvel ResidencialDocumento3 páginasContrato de Locação de Imóvel ResidencialEduardo WeddymaruAinda não há avaliações
- Normas Internacionais de ContabilidadeDocumento8 páginasNormas Internacionais de ContabilidadeMarcos Antônio De PaulaAinda não há avaliações
- NCRF 1 Apresentações FinanceirasDocumento108 páginasNCRF 1 Apresentações FinanceirasCletoAinda não há avaliações
- 26 - 1840666Documento5 páginas26 - 1840666Lucas MoraesAinda não há avaliações
- Direito - Economia PoliticaDocumento16 páginasDireito - Economia PoliticaSabrina AntoniniAinda não há avaliações
- Ação de Execução de Título Executivo ExtrajudicialDocumento8 páginasAção de Execução de Título Executivo ExtrajudicialLeonardo SetteAinda não há avaliações
- PE DISCURSIVA - SEMANAS - 07 - e - 08Documento156 páginasPE DISCURSIVA - SEMANAS - 07 - e - 08Felipe AzevedoAinda não há avaliações
- ContabilDocumento3 páginasContabilKarol FeitalAinda não há avaliações