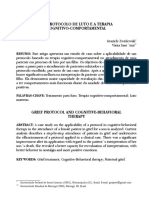Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
(2013) Phenomenological Studies Revista Da Abordagem Gestaltica 2 PDF
(2013) Phenomenological Studies Revista Da Abordagem Gestaltica 2 PDF
Enviado por
robertorubioTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
(2013) Phenomenological Studies Revista Da Abordagem Gestaltica 2 PDF
(2013) Phenomenological Studies Revista Da Abordagem Gestaltica 2 PDF
Enviado por
robertorubioDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Instituto de Treinamento e Pesquisa em
Gestalt-Terapia de Goinia ITGT
Volume XIX - N. 2
2013
Goinia Gois
http://pepsic.bvs-psi.org.br
Ficha Catalogrfica
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies/
Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-Terapia de
Goinia Vol. 19, n. 2 (2013) Goinia: ITGT, 2013.
115p.: il.: 30 cm
Inclui normas de publicao
ISSN: 1809-6867
1. Psicologia. 2. Gestalt-Terapia. I. Instituto de Treinamento
e Pesquisa em Gestalt-Terapia de Goinia.
CDD 616.891 43
Citao:
REVISTA DA ABORDAGEM GESTLTICA. Goinia, v. 19, n. 2, 2013. 115p
Impresso no Brasil
Printed in Brazil
Volume XIX - N. 2 Jan/Jun, 2013
Expediente
Editor
Adriano Furtado Holanda (Universidade Federal do Paran)
Editores Associados
Celana Cardoso Andrade (Universidade Federal de Gois)
Danilo Suassuna Martins Costa (Pontifcia Universidade Catlica de Gois)
Tommy Akira Goto (Universidade Federal de Uberlndia)
Consultores Especiais de Fenomenologia
Antonio Zirin Quijano (Universidad Nacional Autnoma de Mxico)
Pedro M. S. Alves (Universidade de Lisboa, Portugal)
Conselho Editorial
Adelma Pimentel (Universidade Federal do Par)
Andrs Eduardo Aguirre Antnez (Universidade de So Paulo)
Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Andr Barata (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Cludia Lins Cardoso (Universidade Federal de Minas Gerais)
Daniela Schneider (Universidade Federal de Santa Catarina)
Ileno Izidio da Costa (Universidade de Braslia)
Irene Pinto Pardelha (Universidade de vora)
Joanneliese de Lucas Freitas (Universidade Federal do Paran)
Josemar de Campos Maciel (Universidade Catlica Dom Bosco, MS)
Lester Embree (Florida Atlantic University)
Llian Meyer Frazo (Universidade de So Paulo)
Mara Lucrecia Rovaletti (Universidade de Buenos Aires)
Marcos Aurlio Fernandes (Universidade de Braslia)
Marisete Malaguth Mendona (Pontifcia Universidade Catlica de Gois)
Mnica Botelho Alvim (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Michael Barber (Saint Louis University)
Nilton Jlio de Faria (Pontifcia Universidade Catlica de Campinas)
Patrcia Valle de Albuquerque Lima (Universidade Federal Fluminense)
Rosemary Rizo-Patrn de Lerner (Pontificia Universidad Catlica del Per)
Virginia Elizabeth Suassuna Martins Costa (Pontifcia Universidade Catlica de Gois)
William Barbosa Gomes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Suporte Tcnico
Josiane Almeida
Capa, Diagramao e Arte Final
Franco Jr.
Bibliotecrio
Arnaldo Alves Ferreira Junior (CRB 01-2092)
Financiamento
Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-Terapia de Goinia (ITGT-GO)
Apoio
Associao Brasileira de Psicologia Fenomenolgica (ABRAPEF)
Encaminhamento de Manuscritos
A remessa de manuscritos para publicao, bem como toda a correspondncia
de seguimento que se fizer necessria, deve ser submetida eletronicamente
endereada ao site: http://submission-pepsic.scielo.br/
Editor
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies.
E-mail: aholanda@yahoo.com
Fone/Fax: (62) 3941-9798
Normas de Apresentao de Manuscritos
Todas as informaes concernentes a esta publicao, tais como normas de
apresentao de manuscritos, critrios de avaliao, modalidades de textos, etc.,
podem ser encontradas no site: http://pepsic.bvs-psi.org.br
Fontes de Indexao
- Clase
- Latindex
- Scopus
- Lilacs
- Index Psi Peridicos (BVS-Psi Brasil)
- Psicodoc
Qualis Capes 2012 B2
ISSN 1809-6867 verso impressa
ISSN 1984-3542 verso on-line
As opinies emitidas nos trabalhos aqui publicados, bem como a exatido e adequao das referncias biblio-
grficas so de exclusiva responsabilidade dos autores, portanto podem no expressar o pensamento dos editores.
A reproduo do contedo desta publicao poder ocorrer desde que citada a fonte.
Sumrio
v Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): v-vi, jul-dez, 2013
S
u
m
r
i
o
EDITORIAL .................................................................................................................................................. vii
ARTIGOS - RELATOS DE PESQUISA
- Experincia Materna de Perda de um Filho com Cncer Infantil: um Estudo Fenomenolgico ....... 147
Patricia Karla de Souza e Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) & Symone Fernandes de Melo
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
- Reflexes Acerca do Fazer tico na Clnica Gestltica: um Estudo Exploratrio .............................. 157
Lzaro Castro Silva Nascimento (Universidade Federal do Par) & Kamilly Souza do Vale
(Universidade Federal do Par)
- Disfuno Ertil e Fenomenologia: o Corpo Vivido em seus Contornos Diacrticos .......................... 167
Fabiana De Zorzi (Universidade de Fortaleza) & Georges Daniel Janja Bloc Boris (Universidade de Fortaleza)
ARTIGOS - ESTUDOS TERICOS OU HISTRICOS
- Uma Anlise Reflexiva sobre Desejar .................................................................................................... 179
Lester Embree (Florida Atlantic University)
- Some Reflective Analysis of Desiring .................................................................................................... 184
Lester Embree (Florida Atlantic University)
- A Questo da Psicopatologia na Perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa:
Dilogos com Arthur Tatossian .............................................................................................................. 189
Camila Pereira de Souza (Universidade de Fortaleza); Virgnia Torquato Callou (Universidade de Fortaleza)
& Virginia Moreira (Universidade de Fortaleza)
- Suicdio e Manejo Psicoteraputico em Situaes de Crise: Uma Abordagem Gestltica ................. 198
Karina Okajima Fukumitsu (Universidade de So Paulo) & Karen Scavacini (Instituto Vita Alere de Preveno
e Posveno do Suicdio/So Paulo)
- Formao do Psiclogo Clnico na Perspectiva Fenomenolgico-Existencial: Dilemas e
Desafios em Tempos de Tcnicas ........................................................................................................... 205
Elza Dutra (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
- Um Breve Comentrio de Medard Boss sobre Psicoterapia de Grupo: a Transferncia na
Situao Grupal ....................................................................................................................................... 212
Paulo Evangelista (Universidade de So Paulo/Universidade Paulista)
- A Espiritualidade em Logoterapia e Anlise Existencial: o Esprito em uma
Perspectiva Fenomenolgica e Existencial ............................................................................................ 220
Valdir Barbosa Lima Neto (Instituto Sherpa de Psicologia e Desenvolvimento Humano)
Sumrio
vi Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): v-vi, jul-dez, 2013
S
u
m
r
i
o
- A Reforma na Sade Mental no Brasil e suas Vinculaes com o Pensamento Fenomenolgico ...... 230
Mariana Cardoso Puchivailo (Universidade Federal do Paran); Guilherme Bertassoni da Silva
(Universidade Federal do Paran) & Adriano Furtado Holanda (Universidade Federal do Paran)
TEXTOS CLSSICOS
- Arte e Religio (1941) .............................................................................................................................. 243
Fritz Kaufmann (Northwestern University, California)
RESENHAS
- Psicologia da Religio no Mundo Ocidental Contemporneo: Desafios da Interdisciplinaridade,
2013 (Marta Helena de Freitas; Geraldo Jos de Paiva & Clia Carvalho de Moraes, Orgs.) ............. 249
Janana Bahia Oliveira (Universidade Catlica de Braslia) & Maria de Ftima Gondim (Fundao de
Ensino e Pesquisa em Cincias da Sade/DF)
NORMAS
- Normas de Publicao da Revista da Abordagem Gestltica .............................................................. 255
Editorial
vii Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): vii-ix, jul-dez, 2013
E
d
i
t
o
r
i
a
l
Encerramos o ano de 2013, que principiou com cele-
braes e mudanas. Neste novo nmero da agora intitu-
lada Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological
Studies, apresentamos mais pesquisas e reflexes sobre
Fenomenologia, Psicologia, Psicopatologia e outros temas.
Comeamos com trs relatos de pesquisa. Em Ex-
perincia Materna de Perda de um Filho com Cncer
Infantil: Um Estudo Fenomenolgico, as autoras Patricia
Karla de Souza e Silva e Symone Fernandes de Melo, vin-
culadas Universidade Federal do Rio Grande do Norte
fazem um estudo de caso, a partir de narrativas, acerca
da experincia materna de perda de um filho. Em segui-
da, no artigo Reflexes acerca do Fazer tico na Clnica
Gestltica: Um Estudo Exploratrio, os autores Lzaro
Castro Silva Nascimento e Kamilly Souza do Vale, vincu-
lados Universidade Federal do Par discutem o tema da
tica na prtica psicoteraputica em Gestalt-Terapia. O ter-
ceiro texto, intitulado Disfuno Ertil e Fenomenologia:
O Corpo Vivido em seus Contornos Diacrticos, de autores
vinculados Universidade de Fortaleza (Fabiana De Zorzi
e Georges Daniel Janja Bloc Boris), discute a experincia
da disfuno ertil a partir da linguagem do corpo vivido.
Em seguida, so apresentados sete estudos teri-
cos, principiando com a colaborao de Lester Embree
(Florida Atlantic University), com Uma Anlise Reflexiva
do Desejar que apresentamos no original em ingls e
em portugus onde se descreve, metodologicamente, o
encontro afetivo do desejar (desiring). Em A Questo da
Psicopatologia na Perspectiva da Abordagem Centrada
na Pessoa: Dilogos com Arthur Tatossian, as autoras
Camila Pereira de Souza, Virgnia Torquato Callou e
Virginia Moreira, da Universidade de Fortaleza, discu-
tem possveis correlaes entre a perspectiva clnica de
Carl Rogers e proposta de psicopatologia fenomenolgica
de Arthur Tatossian.
No artigo seguinte, Suicdio e Manejo Psicoteraputico
em Situaes de Crise: Uma Abordagem Gestltica, de
Karina Okajima Fukumitsu (Universidade Presbitariana
Mackenzie, So Paulo) e Karen Scavacini (Instituto Vita
Alere de Preveno e Posveno do Suicdio/ So Paulo),
o suicdio discutido como um gesto de comunicao, to-
mando por referncia os pressupostos da Gestalt-Terapia.
No artigo Formao do Psiclogo Clnico na Perspectiva
Fenomenolgico-Existencial: Dilemas e Desafios em
Tempos de Tcnica, de Elza Dutra, da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, o tema discutido sob
a tica heideggeriana, na direo da constituio de um
espao no qual o pensamento meditante seja exercitado
como uma atitude fenomenolgica.
As experincias de Medard Boss com psicoterapia
de grupo so objeto de discusso no artigo Um Breve
Comentrio de Medard Boss sobre Psicoterapia de Grupo:
A Transferncia na Situao Grupal, de Paulo Evangelista
(Universidade de So Paulo/Universidade Paulista),
que traz igualmente uma reflexo sobre transferncia
e resistncia. A Logoterapia se faz presente no artigo
A Espiritualidade em Logoterapia e Anlise Existencial:
O Esprito em uma Perspectiva Fenomenolgica e
Existencial, de autoria de Valdir Barbosa Lima Neto
(Instituto Sherpa de Psicologia e Desenvolvimento
Humano), que aborda a dimenso notica do homem, a
partir das ideias de Viktor Frankl.
Por fim, os vnculos ou relaes entre o pensamento
fenomenolgico e o movimento da reforma em sade men-
tal no Brasil so discutidos no texto A Reforma na Sade
Mental no Brasil e suas Vinculaes com o Pensamento
Fenomenolgico, onde os autores Mariana Cardoso
Puchivailo, Guilherme Bertassoni da Silva e Adriano
Furtado Holanda, vinculados Universidade Federal do
Paran trazem as diretrizes norteadoras do movimento,
em torno da experincia de Franco Basaglia, e algumas
referncias aos psiquiatras fenomenlogos, como Jaspers
e Minkowski.
Apresentamos ainda a traduo de um importante
texto de Fritz Kaufmann, publicado em 1941, e intitu-
lado Arte e Religio. Kaufmann (1891-1958), fez parte
do chamado grupo de Gttingen, ali chegando em 1913,
oriundo de Leipzig, exatamente no momento em que
Husserl publica suas Ideen. Obteve seu doutorado com
o mestre Husserl, passando a desenvolver pesquisas no
campo da esttica.
E finalizamos com a resenha do livro Psicologia da
Religio no Mundo Ocidental Contemporneo: Desafios
da Interdisciplinaridade, organizado por Marta Helena
de Freitas; Geraldo Jos de Paiva e Clia Carvalho de
Moraes, em torno dos trabalhos apresentados na mais re-
cente reunio de pesquisadores de Psicologia e Religio
no Brasil. Assinam a resenha, Janana Bahia Oliveira
(Universidade Catlica de Braslia) e Maria de Ftima
Gondim (Fundao de Ensino e Pesquisa em Cincias
da Sade/DF).
Boa leitura a todos.
Adriano Furtado Holanda
- Editor -
Editorial
viii Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): vii-ix, jul-dez, 2013
E
d
i
t
o
r
i
a
l
We finished this year with this new issue of the
journal now entitled Revista da Abordagem Gestltica
- Phenomenological Studies, and we present further re-
searches and reflections on phenomenology, psychology,
psychopathology, and other topics.
We began with three research reports. In Maternal
experience of loss of a child with cancer: a phenomeno-
logical study, the authors Karla Patricia de Souza e Silva
and Symone Fernandes de Melo, linked to the Federal
University of Rio Grande do Norte do a case study
from narratives about the experience of maternal loss
of a child. Then the article Reflections on ethical mak-
ing in clinical gestalt: an exploratory study, the authors
Lazaro Castro Silva Nascimento Souza and Kamilly
Valley, linked to the Federal University of Par discuss
the issue of ethics in psychotherapy practice in Gestalt
Therapy. The third text, entitled Erectile Dysfunction and
Phenomenology: The Lived Body in Its Diacritic Contours,
by authors linked to the University of Fortaleza (Fabiana
De Zorzi and Georges Daniel Janja Bloc Boris), discusses
the experience of erectile dysfunction from the language
of the lived body.
Then seven theoretical studies are presented, begin-
ning with the collaboration of Lester Embree (Florida
Atlantic University), with Some Reflective Analysis of
Desiring that we present in the original English and
in Portuguese which describes itself methodologi-
cally, the affective encounter desiring. In the article,
The Question of Psychopathology in Person Centered
Approach: Dialogues with Arthur Tatossian, the authors
Camila Pereira de Souza, Torquato Callou Virginia and
Virginia Moreira (University of Fortaleza), discusses pos-
sibles correlations between the clinical perspective of
Carl Rogers and the proposal of phenomenological psy-
chopathology of Arthur Tatossian.
In the following article, Suicide and interventions in
crisis: A Gestalt-therapy approach, Karina Fukumitsu
Okajima (Presbitariana Mackenzie University, So Paulo)
and Karen Scavacini (Institute for Prevention and Vita
Alere Posveno Suicide / So Paulo), the experience of
suicide is discussed as a gesture of communication with
reference to assumptions of Gestalt Therapy. In the article
Formation of Clinical Psychologist in Phenomenological-
Existential Perspective: Dilemma and Challenges in
Technical Times, Elza Dutra, of the Federal University
of Rio Grande do Norte, discuss under the Heideggerian
perspective, toward the creation of a space in which the
meditator thought is exercised as a phenomenological
attitude.
The experiences of Medard Boss with group psycho-
therapy are the object of discussion in the article A Brief
Comment by Medard Boss about Group Psychotherapy:
Transference in the group situation, Paulo Evangelista
(University of So Paulo/Paulista University), which
also shows a reflection about transference and resis-
tance. Logotherapy is presented in article The Spirituality
in Logotherapy and Existential Analysis: The spiritual
in a phenomenological and existential perspective, au-
thored by Valdir Barbosa Lima Neto (Sherpa Institute of
Psychology and Human Development), which addresses
the noetic dimension of man, from the ideas of Viktor
Frankl.
Finally, the links or relationships between the phe-
nomenological thought and the movement of mental
health reform in Brazil are discussed in the text Brazilian
Mental Health Reform and linkages with the phenomeno-
logical thinking, where the authors Mariana Cardoso
Puchivailo, Guilherme Bertassoni da Silva and Adriano
Furtado Holanda, linked to the Federal University of
Paran brings the guiding principles of the movement,
around the experience of Franco Basaglia, and some ref-
erences to phenomenological psychiatrists, as Jaspers
and Minkowski.
We also present a translation of an important text
of Fritz Kaufmann, published in 1941, entitled Art and
Religion. Kaufmann (1891-1958), was participant of the
so called Gttingen Circle, arriving there in 1913, com-
ing from Leipzig, exactly at the time that Husserl pub-
lished his Ideen. After received his doctorate with your
master Husserl, he developed many researches in the
field of aesthetics.
And we finish with a review of the book Psychology
of Rel i gion i n Contemporar y Wester n World:
Interdisciplinary Challenges organized by Marta Helena
de Freitas, Jos Geraldo de Paiva and Clia Carvalho
de Moraes, around the papers presented at the latest
meeting of researchers in Psychology and Religion in
Brazil. Subscribed to review, Janaina Oliveira Bahia
(Catholic University of Brasilia), and Mary Fatima gon-
dim (Foundation for Research and Education in Health
Sciences / DF).
Good reading to all.
Adriano Furtado Holanda
- Editor -
Editorial
ix Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): vii-ix, jul-dez, 2013
E
d
i
t
o
r
i
a
l
Terminamos el ao 2013, que se inici con celebra-
ciones y cambios. En esta nueva edicin de la Revista
da Abordagem Gestaltica Phenomenological Studies,
presentamos nuevas investigaciones y reflexiones so-
bre la fenomenologa, la psicologa, la psicopatologa y
otros temas.
Empezamos con tres informes de investigacin. En el
artculo Experiencia materna de prdida de un hijo con
cncer infantil: un estudio fenomenolgico, los autores
Patricia Karla de Souza e Silva y Symone Fernandes de
Melo, vinculadas a la Universidad Federal de Rio Grande
do Norte tenemos un estudio de caso, con narrati-
vas sobre la experiencia de la prdida de la madre de
un nio. A continuacin, el artculo Reflexiones sobre la
tica en la clnica de la Gestalt: un estudio exploratorio,
los autores Lzaro Castro Silva Nascimento y Kamilly
Souza do Vale, vinculados a la Universidad Federal de
Par hace la discusin cerca el tema de la tica en la
prctica de la Terapia Gestalt. El tercer texto, titulado
Disfuncin de la Ereccin y Fenomenologa. El Cuerpo
Vivido en sus Contornos Diacrticos, de autores vincu-
lados a la Universidad de Fortaleza (Fabiana De Zorzi y
Georges Daniel Janja Bloc Boris), habla de la experiencia
de la disfuncin erctil en el lenguaje del cuerpo vivido.
A continuacin se presentan siete estudios tericos,
empezando por la colaboracin de Lester Embree (Florida
Atlantic University), con Un Anlisis Reflexivo del Deseo
que se presenta en el original ingls y en portugus
que se describe metodolgicamente el encuentro afectivo
desear. En La Cuestin de la Psicopatologa en el Enfoque
Centrado em la Persona: Dilogos con Arthur Tatossian,
los autores Camila Pereira de Souza, Virginia Torquato
Callou y Virginia Moreira, de la Universidad de Fortaleza,
discuten las posibles correlaciones entre la perspectiva
clnica de Carl Rogers y la proposicin de la psicopato-
loga fenomenolgica de Arthur Tatossian.
En el siguiente artculo, Suicidio y del manejo y de
las intervenciones em situaciones de crisis: La Gestalt-
terapia, Karina Fukumitsu (Universidad Presbitariana
Mackenzie, So Paulo) y Karen Scavacini (Instituto para
la Prevencin y Vita Alere Posveno Suicidio/So Paulo),
el suicidio es descrito como un gesto de comunicacin
con referencia a los supuestos de la Terapia Gestalt. En el
artculo Formacin del Psiclogo Clnico en la Perspectiva
Fenomenologico-Existencial: Dilemas y Desafos en
Tiempos de Tcnica, Elza Dutra, de la Universidad Federal
de Rio Grande do Norte, discute el tema de la formacin
en la perspectiva heideggeriana, a la creacin de un es-
pacio en el que el pensamiento meditador se ejerce como
una actitud fenomenolgica.
Las experiencias de Medard Boss con psicoterapia
de grupo son objeto de discusin en el artculo Un Breve
Comentario de Medard Boss sobre Psicoterapa de Grupo:
La Transferencia en la situacin grupal, Paulo Evangelista
(Universidad de So Paulo/Universidad Paulista), que
tambin muestra una reflexin sobre la transferncia
y la resistncia. La Logoterapia se muestra presente en
el artculo La espiritualidad en Logoterapia y Anlisis
Existencial: El Espritu en una perspectiva fenomenol-
gica y existencial, por Valdir Barbosa Lima Neto (Sherpa
Instituto de Psicologa y Desarrollo Humano), que abor-
da la dimensin notica del hombre, a partir de las ideas
de Viktor Frankl.
Por ltimo, los vnculos y relaciones entre el pensa-
miento fenomenolgico y el movimiento de la reforma de
la salud mental en Brasil se discuten en el texto Reforma
de Salud Mental en Brasil y vnculos con el pensamien-
to fenomenolgico, donde los autores Mariana Cardoso
Puchivailo, Guilherme Bertassoni da Silva y Adriano
Furtado Holanda, vinculados a la Universidad Federal de
Paran buscan los principios rectores del movimiento,
en torno a la experiencia de Franco Basaglia, y algunas
referncias a fenomenlogos psiquiatras, como Jaspers
y Minkowski.
Tambin presentamos la traduccin de un importan-
te escrito de Fritz Kaufmann, publicado en 1941, Arte y
Religin. Kaufmann (1891-1958), fue adjunto del Grupo de
Gttingen, a donde lleg en 1913, procedente de Leipzig,
exactamente en el momento en que Husserl public su
Ideen. Despus de recibir su doctorado con el maestro
Husserl, pasa a realizar investigaciones en el campo de
la esttica.
Y terminamos con una revisin del libro Psicologa
de la religin en el mundo occidental contemporneo: re-
tos interdisciplinarios, organizado por Marta Helena de
Freitas, Jos Geraldo de Paiva y Clia Carvalho de Moraes,
en torno a los trabajos presentados en la ltima reunin de
investigadores de Psicologa y Religin en Brasil. Suscrito
a revisar, Janaina Oliveira Bahia (Universidad Catlica
de Brasilia), y Mara Ftima Gondim (Fundacin para la
Investigacin y Educacin en Ciencias de la Salud/DF).
Buena lectura a todos.
Adriano Furtado Holanda
- Editor -
A
R
T
I
G
O
S
R
E
L
A
T
O
S
D
E
P
E
S
Q
U
I
S
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
147 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Experincia Materna de Perda de um Filho com Cncer Infantil: um Estudo Fenomenolgico
EXPERINCIA MATERNA DE PERDA DE UM FILHO COM
CNCER INFANTIL: UM ESTUDO FENOMENOLGICO
Maternal experience of loss of a child with cancer: a phenomenological study
Experiencia materna de prdida de un hijo con cncer infantil: un estudio fenomenolgico
PATRICIA KARLA DE SOUZA E SILVA
SYMONE FERNANDES DE MELO
Resumo: A morte em decorrncia de cncer infantil reflete um desfecho precoce da vida podendo provocar forte repercusso na
existncia da me, figura que, comumente, assume a maior parte das responsabilidades durante o adoecimento do filho. Reco-
nhecendo a relevncia do tema, nesta pesquisa busca-se compreender a experincia de uma me que vivenciou a perda de um
filho em decorrncia de cncer infantil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fenomenolgica, que tem como mtodo a narra-
tiva, obtida a partir de entrevista semiestruturada. A pesquisa, configurada como estudo de caso, contou com a participao de
uma me e foi desenvolvida numa organizao no governamental de apoio criana com cncer, localizada na cidade do Na-
tal-RN. A proposta de anlise tem por fundamento a hermenutica heideggeriana. Desvelaram-se trs eixos temticos: histria
prvia, adoecimento infantil e suas repercusses; a rede de apoio e o cuidado; a perda e o depois: enfrentamento e significao.
Conclui-se que a experincia do cncer infantil capaz de aproximar cada me da ontolgica sensao de desamparo humano,
mobilizando mudanas, e que a garantia do cuidado, durante o processo de adoecimento e perda do filho, favorece uma vivn-
cia autntica do luto e a abertura de novas possibilidades em suas vidas.
Palavras-chave: Cncer infantil; Morte; Luto materno; Fenomenologia; Analtica existencial.
Abstract: The death of a child due to cancer reflects a premature end of life and can cause strong repercussions to the mother
who is the one that usually takes most responsibility during childs treatment. Recognizing the importance of the topic, this re-
search seeks to understand the experience of a mother who experienced the loss of a child due to cancer. This is a qualitative,
phenomenological research that uses a method called narrative, which consists in a semi-structured interview. The research
is set up as a case study, with the participation of one mother and was developed in a non-governmental organization that sup-
ports children with cancer, located in the city of Natal-RN. The proposed analysis is based Heideggerian hermeneutics. This
study pointed to three themes: previous history, childhood illness and its repercussions; the network of support and care, and the
loss and afterwards: coping and meaning. It is concluded that the experience of child cancer allows each mother to face onto-
logical sense of human helplessness, mobilizing change and that the guarantee of care during the illness and loss of their sons,
favors an authentic experience of mourning and the opening for new possibilities in their lives.
Keywords: Childhood cancer; Death; Motherly mourn; Phenomenology; Existential analytic.
Resumen: La muerte debido al cncer infantil refleja en un resultado precoz de vida pudiendo provocar fuerte repercusin en la
existencia de la madre, quien asume generalmente las mayores responsabilidades durante la enfermedad del hijo. Reconociendo
la relevancia del tema, esta investigacin busca comprender la experiencia de una madre que sufri la prdida de un hijo debi-
do al cncer infantil. Se trata de una investigacin cualitativa, fenomenolgica, que tiene como mtodo la narrativa, obtenida
por entrevista semiestructurada. La investigacin, configurada como estudio del caso, cont con la participacin de una madre
y fue desarrollada en una organizacin no gubernamental de apoyo al nio con cncer, ubicada en Natal-RN. La propuesta de
anlisis tiene por fundamento la hermenutica heideggeriana. Se dio a conocer tres ejes temticos: historia previa, enfermedad
infantil y sus repercusiones; la red de apoyo y el cuidado; la prdida y el despus: enfrentamiento y significacin. Se concluye que
la experiencia del cncer infantil es capaz de aproximar cada madre de la ontolgica sensacin de desamparo humano, movili-
zando cambios y que la garanta del cuidado durante el proceso de enfermedad y prdida del hijo, favorece una autentica expe-
riencia del luto y la apretura de nuevas posibilidades en sus vidas.
Palabras-clave: Cncer infantil; Muerte; Luto materno; Fenomenologa; Analtica existencial.
Introduo
O processo de morrer e o acontecimento da morte
inscrevem-se nos mbitos individual e social como dado
inexorvel, a partir de diferentes formas de interpreta-
o, negociao e enfrentamento (Bellato & Carvalho,
2005). Levando-se em considerao a complexa conjun-
tura de fatores que interferem na atribuio de sentidos
e na expresso de comportamentos, possvel afirmar
que a sociedade ocidental constitui-se como discpula e
reprodutora de uma cultura na qual as atitudes constru-
das e aprendidas a respeito da morte refletem um posicio-
148 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Patricia K. de S. e Silva & Symone F. de Melo
namento majoritrio de banimento e/ou negao (Aris,
1975/1977; Elias, 2001).
Neste cenrio, o lugar da doena crnica/mortal na
infncia instaura, inicialmente, um sentimento de frus-
trao e pode vir a inaugurar, a posteriori, uma crise de
sentido, que repercute como uma crise da prpria vida
(Hoffman, 1993). Em direo oposta a todos os argumen-
tos solidamente elaborados em torno do fenmeno da mor-
te, a possibilidade desta se concretizar na criana, de for-
ma aleatria e inesperada, no interfere apenas no percur-
so daquele que se vai, mas, sobretudo, na vida daqueles
que permanecem vivos (Carneiro, Souza & Paula, 2009).
Dentro de um conjunto diversificado de patologias que
podem surgir na infncia, alguns estudos particularizam
o lugar do cncer (Ortiz, 2003; Santos & Gonalves, 2008)
a partir das repercusses negativas que ele ocasiona des-
de a sua origem at a sua concluso (seja ela a cura ou a
morte), bem como os impactos que ele produz individu-
almente em cada membro familiar.
Os ltimos relatrios de organizaes nacionais e in-
ternacionais confirmam que o cncer permanece dentre
as principais patologias responsveis pela morte de crian-
as, podendo ser qualificado como um srio problema
de sade pblica mundial (Beltro, Vasconcelos, Pontes
& Albuquerque, 2007; Instituto Nacional de Cncer Jos
Alencar Gomes da Silva INCA, 2011). No Brasil, desde
a dcada de 1960, as neoplasias malignas, ao lado das do-
enas do aparelho circulatrio, tornaram-se as principais
causas de morte por doena na populao. Quando anali-
sados exclusivamente dentro do pblico infanto-juvenil,
os bitos por neoplasias situam-se entre as dez primeiras
causas de morte, alcanando a primeira posio a partir
dos cinco anos de idade, em meninos e meninas (INCA,
2011). Todo esse panorama estatstico acerca da realida-
de do cncer infantil ratifica, portanto, a ideia de que o
fenmeno da morte no aparece somente como possibi-
lidade (ameaa) de ocorrncia em fases tardias da vida,
confirmando sua presena de maneira factvel e irreme-
divel ao longo de toda a existncia humana, inclusive
na infncia.
Conviver com a experincia da morte de outrem inau-
gura um fenmeno chamado de luto, processo frequen-
temente convencionado perda irreversvel de outro ser
humano, ou seja, ao rompimento de um vnculo (Bowlby,
1985/2004; Franco, 2009; Parkes, 1972/1998). Para pais
que atravessam a experincia da perda de um filho com
cncer infantil, o processo de luto pode ser iniciado du-
rante o prprio adoecimento (Teles, 2005), mas s se con-
firma aps a partida definitiva da criana.
A maior parte dos estudos sobre cncer infantil en-
fatiza que a me tem sido a personagem que mais se en-
volve nos cuidados com o filho enfermo (Beltro & cols.,
2007; Ortiz, 2003; Santos & Gonalves, 2008; Wegner &
Pedro, 2010). Figura histrica e culturalmente represen-
tada pela funo de cuidar, ela reatualiza esse papel nos
casos de adoecimento infantil, circunstncia especfica
que acarretar um vasto nmero de transformaes f-
sicas, psicolgicas, econmicas e sociais (Beck & Lopes,
2007). Aquela que antes executava mltiplos papis v-
-se solicitada a priorizar o seu papel de me, focalizan-
do suas atenes e cuidados sobre o filho com cncer.
Em um contexto atravessado por constantes rearran-
jos impostos pelo processo de tratamento da doena, o
acontecimento da morte do filho representa a destituio
do carter dialtico de uma relao singular, de modo ir-
revogvel e pode provocar forte impacto na vida pessoal,
conjugal/familiar e social da me (Beck & Lopes, 2007;
Wegner & Pedro, 2010).
Considerando os breves apontamentos feitos acerca da
morte e do luto, a constatao dos altos ndices de morta-
lidade infantil em decorrncia do cncer, o impacto sin-
gular desta patologia sobre aquela que tradicionalmente
assume a prioridade dos cuidados com a criana e, reco-
nhecendo a relevncia destas informaes, este estudo
tem como objetivo compreender a experincia de uma
me que perdeu seu filho em decorrncia de cncer in-
fantil, aproximando-se dos sentidos pessoais desta vivn-
cia por meio da perspectiva fenomenolgico-existencial.
Desta forma, pretende-se ampliar a compreenso do luto
materno, vislumbrando alternativas de acompanhamen-
to nesse caminho, considerando como o problema vi-
vido por elas, mulheres e mes, em seu estar-no-mundo.
1. Mtodo
1.1 Pesquisa fenomenolgica
O presente estudo confirma-se segundo os moldes de
um delineamento qualitativo, com enfoque exploratrio e
compreensivo (Minayo, 2000), na modalidade de estudo
de caso. Segundo Creswell (2010), a estratgia qualitati-
va de pesquisa dispe de diversos mtodos de investiga-
o. Dentre eles, a pesquisa fenomenolgica se apresenta
como uma forma de atuao que agrega teoria e mtodo,
a partir de uma investigao aprofundada da experin-
cia humana, produzindo um processo de reflexo capaz
de captar os significados e sentidos emergentes acerca de
um determinado fenmeno (Forghieri, 2004).
luz de uma perspectiva terica e metodolgica ali-
cerada na fenomenologia, na qual se entende que a ex-
perincia torna-se acessvel, primordialmente, pela via da
linguagem, funo privilegiada que organiza a vivncia
em formas expressivas singulares (Dutra, 2002), utilizou-
-se como mtodo a narrativa (Benjamim, 1994), com
enfoque vivencial (Silva & Trentini, 2002).
1.2 Construo dos dados
Em consonncia com os fundamentos tericos e me-
todolgicos da fenomenologia, a estratgia definida para
149 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Experincia Materna de Perda de um Filho com Cncer Infantil: um Estudo Fenomenolgico
a construo dos dados consistiu na entrevista semies-
truturada, de natureza clnica, udio-gravada, com a se-
guinte pergunta disparadora Como foi para voc a perda
do seu filho? Me conte um pouco essa histria. A partir
dessa primeira interrogao, permitiu-se que a partici-
pante se expressasse livremente. Outras questes, de
natureza focal, foram tambm elaboradas e utilizadas
a fim de fornecer maior detalhamento acerca das cir-
cunstncias constituintes do luto materno. Tal instru-
mento, frequentemente utilizado em pesquisas de natu-
reza qualitativa (Belei, Gimeniz-Paschoal, Nascimento
& Matsumoto, 2008), foi escolhido mediante o entendi-
mento de que possibilitaria a construo de uma narra-
tiva sobre o vivido.
Foram respeitadas todas as prerrogativas ticas de
pesquisa, tais como a anuncia do Comit de tica em
Pesquisa da UFRN (Parecer n. 246/2012, emitido no dia
25.04.2012) e a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, confirmando a aceitao e parti-
cipao voluntria da me. Ainda dentro dos limites
ticos, a pesquisa garantiu participante, ao fim das
entrevistas, encontros seguintes com a finalidade de
acolher a me no tocante s repercusses produzidas
pela pesquisa, em face da qualidade especfica deste
estudo em abordar e mobilizar contedos emocionais
de grande impacto.
1.3 Participante
A pesquisa contou com a participao de uma me e
foi desenvolvida numa organizao no governamental
de apoio criana com cncer, localizada na cidade do
Natal-RN. A escolha do local foi demarcada pela reco-
nhecida experincia do servio junto ao pblico infanto-
-juvenil que apresenta o diagnstico de cncer e doenas
hematolgicas crnicas, bem como pela disponibilidade
de um projeto que tem como finalidade o acompanhamen-
to a familiares enlutados de crianas e adolescentes que
foram assistidos durante o tratamento pela instituio.
O processo de seleo da participante ocorreu mediante
consulta prvia a uma lista de mes que se adequavam ao
perfil requerido pela pesquisa, de acordo com os critrios
de incluso, a saber: a) mes adultas (com idade igual ou
superior a 18 anos) que perderam seus filhos por cncer
infantil; b) mes de crianas que antes de morrer tenham
enfrentado no mnimo seis meses de tratamento oncol-
gico e c) mes indicadas por um profissional pertencente
equipe tcnica da instituio.
1.4 Anlise dos dados
A proposta de anlise da narrativa utilizada neste
trabalho consistiu numa variante inspirada nos passos
propostos por outros pesquisadores (Amatuzzi, 2009;
Giorgi 1985, Szymanski, 2002), contemplando a execu-
o de cinco etapas. A primeira delas consiste na trans-
crio do material udio-gravado para a composio do
texto de referncia, sendo este produzido a partir do con-
tedo obtido dos procedimentos metodolgicos em sua
totalidade, incluindo informaes advindas no apenas
da fala (stricto sensu), mas tambm o registro de diversos
outros aspectos relacionados ao contexto de pesquisa,
conjuntura situacional do pesquisador e relao entre
entrevistador e entrevistado. O segundo passo da anlise
compreende a leitura do texto de referncia. Nesta fase, o
pesquisador acessa a experincia no modo escrito, quan-
tas vezes se mostrar necessrio, visando obteno de
familiaridade com o material. Havendo-se apreendido o
sentido do todo, no terceiro momento cabe ao pesquisa-
dor delimitar as unidades preliminares e emergentes de
sentido, em funo do fenmeno que est sendo investi-
gado. Cumprida essa etapa, segue-se com a composio
de eixos temticos, nos quais se agregam as unidades de
sentido conforme as relaes de similaridade que apre-
sentam entre si. Por fim, realiza-se uma sntese compre-
ensiva da experincia. Posteriormente consecuo dos
cinco momentos acima descritos, os resultados apreen-
didos so discutidos luz dos conceitos de cuidado,
ser-para-a-morte e temporalidade, dentre outros ins-
titudos pela hermenutica existencial heideggeriana. Em
semelhana ao referencial heideggeriano, que pressupe
o ser humano como um processo inacabado e em constan-
te movimento, este trabalho procura igualmente outras
possibilidades de autointerpretao da vida (Casanova,
2009, p. 51), por meio de novas redes significativas em
torno do fenmeno do luto, sem que haja um radical ex-
termnio dos posicionamentos tradicionais.
2. Resultados e discusso: a experincia de Maria
Uma vez finalizada a fase de anlise da entrevista, foi
possvel construir a experincia de Maria. Este nome
foi escolhido simbolicamente para representar a partici-
pante do estudo. De forma semelhante, outros nomes fic-
tcios foram utilizados na exposio da sua histria para
preservar a sua identidade e de sua filha.
Maria, 37 anos, nvel de escolaridade fundamental
completo, renda mensal familiar de um salrio mnimo,
uma mulher casada, dona de casa, que teve seis filhos,
dentre eles Jlia, que foi diagnosticada com leucemia
quando estava prestes a fazer cinco anos e, aps quatro
anos e oito meses de tratamento, aos nove anos de ida-
de, faleceu. Decorrido um ano e trs meses da morte da
filha, ela foi convidada e concordou em participar desta
pesquisa compartilhando sua experincia em relao ao
adoecimento e morte de Jlia.
Compreendendo a narrativa produzida no encontro
entre narrador e ouvinte como uma histria que ofere-
ce uma totalidade descritiva, afetiva e significativa de
150 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Patricia K. de S. e Silva & Symone F. de Melo
uma determinada experincia, foi possvel vislumbrar
9 unidades de sentidos emergentes, as quais puderam
ser agregadas em trs grandes eixos temticos: histria
prvia, adoecimento infantil e suas repercusses; a rede
de apoio e o cuidado; e a perda e o depois: enfrentamen-
to e significao.
2.1 Histria prvia, adoecimento infantil e suas reper-
cusses
2.1.1 Envolvimento materno durante o tratamento do
cncer infantil
No caso de Maria, evidencia-se uma relao me-
-filha que, mesmo antes do adoecimento, era marcada
por forte envolvimento. Com o advento do adoecimento
e o diagnstico de leucemia, esta relao se estreita ain-
da mais, de modo que Maria volta-se quase que exclusi-
vamente para os cuidados com a filha, distanciando-se
de seus outros papis. Mesmo diante da possibilidade
de dividir responsabilidades com outras pessoas, entre
elas familiares, Maria opta por assumir a integralidade
dos cuidados de sua filha, demonstrando uma escolha
autntica, no que se refere autoria do cuidado. Por ou-
tro lado, verifica-se que o exerccio do cuidado por parte
desta me sugere uma forma indissociada de estar-no-
-mundo-com-sua-filha-com-cncer, conforme desvelado
nas falas que seguem:
A veio a descoberta da doena dela. A foi que se
juntou mais, eu e ela. (...) Ela tem outros parentes,
mas eu no queria, eu queria estar presente em tudo.
Ento, eu no deixava as outras pessoas chegarem
perto. Ento, meu mundo foi s voltado para ela.
Quando ela foi para UTI eu fiquei imaginando, se eu
perder, o que vai ser de mim, porque eu s sei fazer
aquilo que Jlia faz... Levar ela para fazer quimiote-
rapia, para fazer exame, para se consultar, para vir
para casa de apoio e outras e outras coisas.
Critelli (2007), referindo-se ao cuidado, assinala que
este no aleatrio. Na perspectiva ontolgica e relacio-
nal que Heidegger atribui ao Cuidado, ele o afirma como
uma condio constituinte da existncia (Silva, 2006).
Nesse sentido, na experincia de coexistncia com outros
entes (semelhantes ou diferentes) no mundo, o Dasein en-
contra-se disposto a e expresso em dois tipos de cuidado:
o modo da ocupao, no qual se percebe uma primazia
da relao utilitria; e o da preocupao, tpico da rela-
o entre Daseins (Pala, 2008). Sobre este ltimo modo
de cuidado, Heidegger acentua ainda outra diferenciao
entre o modo de preocupao substitutiva dominadora,
que remete a uma atitude de substituio (de fazer pelo
outro), como o prprio nome j define; e a preocupao
antepositva liberadora que, visando liberdade do outro,
permite ao mesmo o esclarecimento de suas possibilida-
des e o domnio na realizao do cuidado para consigo
mesmo (Heidegger, 1927/2005).
Utilizando-se deste referencial como um horizonte de
reflexo e retornando ao depoimento de Maria, possvel
observar que o cuidado dispendido por ela na relao es-
tabelecida com a sua filha durante o adoecimento, embo-
ra autntico e legtimo, uma vez que foi conscientemente
eleito por ela, restringiu, por outro lado, suas possibili-
dades de ser-no-mundo durante o tratamento. Frente
fragilidade da filha, desvela-se a predominncia de um
modo de preocupao susbstitutivo. Todas as suas ativi-
dades estavam circunscritas ao contexto de necessidade
da filha, de forma que o progressivo agravamento da do-
ena e a consequente iminncia de perd-la retirava-lhe
qualquer possibilidade de atribuir sentido futuro a sua
prpria existncia.
2.1.2 A me e o diagnstico de cncer infantil
Quando solicitada a relatar sobre o momento do
diagnstico, Maria faz meno existncia de um erro
mdico na histria da doena da filha, sugerindo que
a patologia foi descoberta e confirmada tardiamente.
Aps um perodo de dvidas e suspeitas, a comunica-
o do diagnstico finalmente ratificada pela mdica
da criana soando como o anncio de um evento de ele-
vada gravidade.
Ela fez o mielograma e veio a confirmao que ela
estava com leucemia. (...) Eu procurei um buraco,
infelizmente eu no achei. Tudo desabou na minha
cabea. Tudo, tudo, tudo, tudo. Porque a gente pensa
que nada vai acontecer com a gente, s acontece com
os outros, n? Nunca imagina que vai acontecer com
a gente. Principalmente uma doena dessa para uma
criana de quatro anos.
A constatao do cncer da filha, expressa na procura
urgente por um buraco, produz uma clara tentativa de
escapar ao contato com a notcia, bem como com todo o
resto que a mesma poderia representar prospectivamen-
te. Mesmo diante de uma intensa busca por um caminho
que pudesse ocultar ou mesmo eliminar o adoecimento
da filha, Maria enxerga-se sem sada, rendendo-se, por-
tanto, ao impacto emocional desta concluso.
possvel perceber que o primeiro contato com a
doena e o seu progressivo agravamento evidenciam-se
como episdios nos quais o sentido e o peso da morte
assumem sua face mais ntida, da qual a fuga e o dis-
tanciamento tornam-se aes impraticveis (Pompeia &
Sapienza, 2011). A afetao provocada pela notcia, ex-
pressa principalmente pela via do choro e por uma ava-
lanche de apreenses que lhe invadem o pensamento,
151 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Experincia Materna de Perda de um Filho com Cncer Infantil: um Estudo Fenomenolgico
parecem fazer aluso esquecida, porm real condio
de desamparo humano.
De acordo com Heidegger (1927/2005), o Dasein con-
siste no ser que existe na facticidade de estar lanado-no-
-mundo, aberto s condies de liberdade e responsabili-
dade perante as suas escolhas. No universo da cotidiani-
dade, dominado pelo discurso do a gente, o homem age
sob a pretensa certeza de que seus planos encontram-se
edificados em bases slidas. Consumido pela atraente,
porm delicada imagem de estabilidade da vida, ele
no pe em perspectiva a sua condio finita, compor-
tando-se como se nada pudesse obstaculizar a concretiza-
o dos projetos. Neste cenrio de ilusria permanncia
das coisas e das pessoas, a experincia de Maria diante
do diagnstico de cncer de sua filha parece funcionar
como um fenmeno que a constrange de tal forma que
lhe retira o antigo sentimento de sossego e serenidade,
relembrando-lhe uma das principais caractersticas que
regem a vida e que, frequentemente, costuma ser ignora-
da: a transitoriedade.
Partindo desta vivncia compartilhada por Maria,
pode-se apreender que o encontro com a doena oncol-
gica, retira o homem da comum convivncia coletiva na
qual imperam significados generalizados e impessoais; e
manifesta a ontolgica sensao de desamparo humano
diante do mundo, confirmando a frgil, inspita e pre-
cria condio da vida (Spanoudis, 1981).
2.1.3 Tratamento: parte feliz e parte triste
Maria refere-se ao perodo de tratamento da filha
como triste e feliz. Apesar de admitir ter vivido momen-
tos difceis e dolorosos, ela reconhece igualmente a ocor-
rncia de eventos positivos. Quanto a isto, menciona que
Jlia conviveu com pessoas boas e que, a despeito da dor,
foi tambm uma fase na qual a filha pde viver novas e
gratificantes experincias.
O tratamento foi difcil, foi doloroso, mas teve a
parte feliz e a parte triste. (...) Durante esses quatro
anos e oito meses, ela conviveu com pessoas boas,
ela conheceu lugares bons, ela viajou, ela foi para o
Rio, ela participou do Criana Esperana, ela saiu
em revista. Foi uma fase dolorosa? Foi. Mas foi uma
fase boa para ela. De ela ter participado disso tudo.
Apesar da doena, de ser furada, de perder veia, de
ter pegado bactria no cateter, de ter sentido dor,
de ter tomado morfina de meia em meia hora, para
aliviar a dor, mas para ela, ela foi feliz. Para ela, era
tudo. A Casa [de apoio] era tudo para ela. Ela foi feliz
e eu tambm.
Mesmo diante de uma experincia to traumtica,
como parece ser aquela expressa por Maria, possvel
notar que ela consegue visualizar e, acima disso, valo-
rizar os ganhos em detrimento da perda. Sobre esta ati-
tude positiva de abertura na compreenso simultnea
dos ganhos e perdas de um determinado acontecimento,
Kovcs (1996) confirma:
nas situaes dolorosas, em que por algum tempo
se vive sob o domnio da dor, do sofrimento, em
alguns momentos percebidos como sem sada, como
s a morte se configuraria como tal, podem ocorrer
reviravoltas, transformaes e da morte emerge uma
nova vida com mais vigor. (p. 13)
2.2 Rede de apoio e o cuidado
2.2.1 Relao com os outros filhos
No tocante relao com os outros filhos, destacam-
-se em sua narrativa a filha primognita e os filhos mais
novos (gmeos). Com a primeira, que lhe ajudou no pe-
rodo de adoecimento de Jlia, ela demonstra ter uma
relao de proximidade e gratido. O compartilhar da
experincia de sofrimento e perda parece, portanto, t-
-las aproximado.
Os filhos gmeos, por outro lado, surgem na vida
de Maria para concretizar a tentativa de um transplan-
te de medula para Jlia. Diante da incompatibilidade
na famlia, a mdica da criana sugere que Maria en-
gravide rapidamente como alternativa para tentar sal-
var a filha. Ela aceita o conselho da mdica, retira o
Dispositivo Intrauterino (DIU) e engravida. Entretanto,
mesmo aps o nascimento dos gmeos, Maria no di-
reciona seus cuidados aos recm-nascidos, delegando
essa atribuio aos familiares. A respeito dessa ltima
gestao, Maria relata:
Eu fiquei meio assim, porque eu no queria engra-
vidar, eu queria logo achar um doador para ela. Eu
queria achar um doador que era para eu cuidar dela.
E se eu engravidasse, no podia fazer o acompanha-
mento; e se ela fosse para o transplante, eu no podia
ir porque eu ia dar de mamar, eu ia estar de resguardo,
entendeu? Eu no ia participar disso tudo. E eu queria
participar, n?
Nem tomar conta dos gmeos eu sabia tomar direito;
eu num dava banho, eu no trocava uma fralda, eu
no fazia o comer deles, eu no fazia nada porque
era s voltada pra Jlia. Os gmeos nasceram, mas
meu problema era Jlia, sabe? O meu problema era
s Jlia.
Conforme o ltimo trecho exposto, possvel refletir
a respeito de que saber Maria se refere quando afirma que
no sabia tomar conta dos gmeos. Como me de quatro
filhos, antes deles, Maria dispunha de um conhecimento
152 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Patricia K. de S. e Silva & Symone F. de Melo
prtico, adquirido na relao com cada filho, nas gesta-
es anteriores. Na conjuntura que se configura para o
exerccio dos cuidados primrios com os gmeos, Maria
parece falar, no do saber tcito ou intelectual, mas de
uma disponibilidade para cuidar, que, naquele momen-
to, estava dirigida exclusivamente para Jlia.
De acordo com Heidegger (1927/2005), a condio on-
tolgica do homem de estar aberto a diversas possibili-
dades est, necessariamente, associada a uma disposi-
o prvia. Nesse sentido, o homem sempre se encontra
afetado na sua relao com o mundo. Sabendo-se que
a estrutura ontolgica da disposio pode ser expres-
sa por inmeros estados de nimo, possvel constatar
que a histria de Maria apresenta-lhe uma encruzilha-
da: como cuidar simultaneamente da filha doente e dos
filhos recm-nascidos? Maria escolhe priorizar o cuida-
do filha e no demonstra arrependimento pela deciso
tomada, ainda que tenha sofrido quando precisou esco-
lher. Somente com a morte de Jlia, Maria mostra-se dis-
ponvel para dedicar-se aos gmeos e encontrar outros
sentidos nesta relao.
por isso que hoje em dia meu mundo voltado s pra
eles dois. (...) Tudo que eu fazia com Jlia eu fao com
eles. Tudo voltado pra eles, meu mundo voltado
pra eles. Que o que me cobre, hoje em dia, so eles
dois; que a minha alegria s eles dois, por isso que
eu no tenho tristeza, graas a Deus.
H que se fazer uma ressalva significativa acerca de
um trecho do recorte da fala de Maria, anteriormente
destacado. Ao falar o que me cobre ela parece su-
gerir que, hoje, os dois filhos mais novos assumem um
sentido de cobrir (velar) a sua tristeza. Para Heidegger, a
verdade do Dasein se expressa por meio de inconstantes
movimentos alternados de desvelamento e encobrimen-
to, nunca permanecendo exclusivamente numa dessas
formas (Inwood, 2000). Tais oscilaes, por sua vez, en-
contram morada significativa por meio da linguagem,
que comunica e revela as contradies e tenses do Ser
(Augras, 2011).
Tomando essas consideraes como horizonte inter-
pretativo, possvel notar que ao mesmo tempo em que
o contedo narrativo de Maria expressa sentimentos po-
sitivos relacionados ao seu papel de me, hoje, direcio-
nados aos filhos mais novos, este mesmo envolvimento
com os gmeos parece esconder o seu modo de ser mais
prprio e pessoal.
Percebe-se ainda que, desde a morte de Jlia, houve
uma transferncia do cuidado para os filhos, observan-
do-se reminiscncias no modo de prover esse cuidado.
Nesse deslocamento, Maria d sinais de que sua relao
com os gmeos ainda est fortemente referendada na ex-
perincia materna anterior. Tudo que realizado para
eles, segue o modelo de atitudes e aes antes dirigido a
Jlia. O sentido de impreciso que emerge acerca do lu-
gar desses dois novos filhos na vida de Maria desvela-se,
por ora, na ausncia de identificao pessoal dos filhos.
Em momento algum, ela os nomeia individualmente, res-
tando a eles o genrico lugar dos gmeos.
2.2.2 O silncio, a escuta e a palavra frente dor
materna
Durante o perodo da doena de Jlia, houve aproxi-
mao e auxlio no cuidado criana e no suporte ne-
cessrio para que a me pudesse cuidar da filha. Com a
morte de Jlia, entretanto, o sentimento de Maria que
todos se afastaram. Hoje, embora a famlia converse
sobre os momentos bons da criana, parece no haver
abertura, por parte da me, para um dilogo genuno
com os familiares.
Critelli (2007) afirma que a perda de sentido diante da
vida gera um sentimento de vazio, do qual muitas pessoas
costumam fugir. No caso de Maria, a sua vivncia do luto
parece no conceder o necessrio espao ao sofrimento.
Nesse sentido, ela no autoriza que sensaes negativas
referentes perda da filha se sobressaiam diante dela, por
terceiros, impedindo, assim, que se configure um espa-
o de legitimidade de expresso do outro. Pode-se suge-
rir, portanto, um modo imprprio desta me de se haver
com o enfrentamento do outro, por meio da tentativa de
controlar ou at impedir a tristeza alheia.
que a famlia mesmo no toca nesse assunto. (...)
A, a gente tem que respeitar a vontade deles, (...)
quando se junta, a comea s o choro, porque co-
mea a lembrar dela, sabe? uma coisa que eu no
quero, como eu digo: lembrar dela com alegria, no
com tristeza. Que ela no gostava de tristeza, s
gostava de alegria.
Por outro lado, aps um ano e trs meses da morte de
sua filha, Maria relata a oportunidade de construir di-
logos autnticos sobre a ausncia de Jlia com a filha
primognita, a psicloga da casa de apoio e mes que
passam/passaram por experincia semelhante a sua. A
existncia da casa de apoio e a permanente possibilida-
de de continuar frequentando este local, mesmo aps a
morte da filha, parecem fazer parte de uma complexa e
particular tessitura de relaes nas quais ela consegue
se sentir segura o suficiente para poder seguir adiante.
Os trechos que ilustram um pouco dessa disponibili-
dade de Maria so: Amigo? Eu no tenho amigo. Meus
amigos so as mes daqui da casa. Mas, esto na mesma
situao, que no perderam o filho, que esto ainda em
tratamento, n?; Eu converso mais com Manu. Prefiro
mais com Manu.
A literatura em Psico-oncologia enfatiza que o pro-
cesso de adoecimento e tratamento do cncer modifica
a rotina de atividades da criana e de sua famlia. A ma-
153 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Experincia Materna de Perda de um Filho com Cncer Infantil: um Estudo Fenomenolgico
neira como este fator poder interferir em cada grupo
familiar depender no s da capacidade destes respon-
derem a essa necessidade de adaptao, mas tambm da
extenso (geogrfica e funcional) da rede social de apoio
que acompanhar cada um desses sujeitos (Di Primio &
cols., 2010). Nesse sentido, a narrativa de Maria vai ao
encontro dos resultados demonstrados por estudos que
elegem a famlia pessoal, outras famlias com problem-
tica semelhante e profissionais de sade, como suportes
privilegiados na situao do cncer infantil (Beltro &
cols., 2007). Acredita-se que, por compactuarem de expe-
rincias semelhantes, ou por conviverem com a realida-
de do adoecimento cotidianamente, as mes encontram
conforto e aceitao nestes atores ao longo de qualquer
perodo do adoecimento.
2.2.3 A equipe de sade e o cuidado
Para alm do contexto primrio de relaes, cabe um
destaque s marcas deixadas pelos profissionais de sade
neste cenrio de adoecimento, tratamento e morte. No que
se refere assistncia sade da criana com cncer,
estudos empreendidos neste campo posicionam-se
a favor da recomendao de uma equipe multidisci-
plinar que seja capaz de oferecer, em conjunto, um
cuidado (de ordem tcnica e subjetiva) global que
alcance a criana e seu entorno familiar (Di Primio
& cols., 2010; Matsumoto, 2009). Sob a tica do cuida-
do desempenhado pelos profissionais de sade ao longo
de todo tratamento de sua filha, Maria refere ausncia
total de queixas.
Eu no tenho do que reclamar da Liga. Do SUS, prin-
cipalmente. Ele cobriu tudo que minha filha precisou.
Eram quatro mdicos, eram duas enfermeiras, eram
bastante tcnicos. Tinha Camila tambm. Eu no
tenho o que reclamar. Eu s tenho que agradecer.
Porque o que eles fizeram por minha filha, no tem
dinheiro nesse mundo que pague.
Neste amplo contexto de implementao de cuida-
dos, Heidegger compreende o adoecimento (fsico e ps-
quico) como uma limitao do exerccio de estar con-
sigo mesmo e com os outros de forma fluida (Nogueira,
2008), portanto, requerendo um suporte externo. Em
consonncia com esta perspectiva e considerando a
aplicabilidade do exerccio deste cuidado no contexto
da Sade, Ayres (2004) conclama uma disposio inte-
ressada para escutar o outro a fim de que a comunica-
o ultrapasse o discurso tecnocientfico e alcance a
narrativa histrica do sujeito, produzindo um dilogo
autntico. Conforme essas referncias, pode-se admitir
que a equipe profissional que acompanhou o caminho
do adoecimento da filha de Maria propiciou a existn-
cia desse encontro genuno.
2.3 A perda e o depois: enfrentamento e significao
da perda
2.3.1 A experincia de morte da filha
De acordo com sua narrativa, a vivncia da morte de
Jlia parece ter se processado de maneira gradual para
Maria. Embora a notcia do bito implique tristeza, os
dois episdios que assinalam a recidiva da doena so
escolhidos por ela como os piores momentos (at hoje),
desde o diagnstico da doena.
Eu sabia que estava bem prximo, eu sabia que os
mdicos estavam levando ela pela qualidade de vida
dela, eu sabia que um dia ia chegar. Eu fazia de conta
que no queria que esse dia chegasse, mas ia chegar.
A princpio, os sentidos atribudos ao momento que
sucede ao da morte revelam posturas de respeito e aceita-
o. Embora inserida no contexto hospitalar, espao este
reconhecido por uma forma tcnica de tratar a morte, o
fim da vida da filha de Maria foi respeitado e, diante dele,
estabelecido um cuidado individualizado, auxiliado pela
presena da psicloga que pde testemunhar junto a ela
a partida da filha. Sobre esse modo diferenciado de estar
diante da morte do outro, S (2010) afirma que a diminui-
o da exigncia para promover uma adequao a regras,
permite um sofrimento no modo reverencial, condio
esta que s se torna possvel porque somos ser-com.
Ela ficou no isolamento, da hora que ela entrou na
segunda-feira ela ficou no isolamento at a hora de
chegar o caixo dela. Ela ficou no isolamento, fecha-
ram a porta, me deixaram sozinha l com ela. Ficou
eu e Manu, dentro de um quarto. Ela no foi para
aquele saco, que botam. Ela no foi para Necrotrio.
Ela no foi para canto nenhum. Ela ficou todo tempo
comigo, no quarto at chegar o caixo, o pessoal da
funerria para levar ela para o velrio.
Mesmo consciente da ausncia de vida da filha, Maria
exige considerao sobre aquele corpo que no mais dis-
punha daquela qualidade. Embora reconhecesse que a
histria de sua filha chegava ao fim naquele momento,
no demandando mais seu auxlio no tocante ao aspecto
do adoecimento, Maria requisitava aes que respeitas-
sem a existncia da filha. Nesse sentido, a mera manipu-
lao era intensamente rejeitada, pois corresponderia ao
cuidado impessoal com a filha, como se ela se tornasse
mais um caso. Sobre essa particularidade da natureza do
cadver, Heidegger (1927/2005) lembra que este apresenta
um status intermedirio algo que perdeu a vida (p. 18)
da advm a particularidade dos gestos dirigidos a ele,
que nem satisfaz o modo anterior que existia no perodo
de vida, mas tambm no atende ao modo direcionado
aos entes simplesmente dados, ou seja, coisas e instru-
154 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Patricia K. de S. e Silva & Symone F. de Melo
mentos. A atitude da psicloga e o consentimento do hos-
pital, neste caso, parecem ter refletido um compromisso
com a singularidade.
2.3.2 No h o que dizer...
Ao ser questionada sobre o que diria a mes que pas-
sam hoje pelo que ela passou doena e morte de um fi-
lho, Maria responde:
Existe a cura. Infelizmente a minha no teve. Mas
tem paciente aqui na Casa que est curado. No v
por fulano, nem por cicrano, nem por beltrano. Pegue
seu filho, cuide do seu filho, traga ele para fazer o
tratamento dele. No v pela cabea de ningum. V
pelo caminho do mdico. Mas que existe a cura existe.
O negcio voc no desistir. voc lutar com unhas
e dentes e correr atrs.
me que perdeu um filho com cncer, Maria afir-
ma no saber o que dizer.
Eu no tenho palavras para dizer nada. S o tempo
que vai lhe dizer. Porque o que eu passei, voc est
passando. Ento, eu no sei o que lhe dizer. (...) Vai
dizer o qu? Vai dizer Se acalme, se controle?. No.
difcil ter que falar alguma coisa para uma me que
perde o filho.
Ela tem, entretanto, o compartilhar de uma experi-
ncia de dor. O que voc t passando, eu t passando;
A dor que ela t passando, eu at hoje passo. A experi-
ncia da morte da filha pelo cncer infantil parece pro-
duzir duas formas de se reportar ao mundo. s mes
que se veem diante da mesma tarefa que ela atravessou
no passado cuidado a um filho com cncer, ela dirige
uma mensagem de esperana, uma crena na possibili-
dade da vida. A experincia de perda, embora assinalada
por marcas de sofrimento, parece no ter abalado a sua
confiana na vida. Para aquelas, entretanto, que preci-
sam enfrentar a perda do filho, parece no haver o que
dizer. Neste ltimo caso, o silncio impera diante da pa-
lavra e, ainda assim, se faz discurso. Sobre a particula-
ridade deste modo de expresso, Heidegger afirma que
silenciar em sentido prprio s possvel num discurso
autntico. Para poder silenciar, a pre-sena deve ter algo
a dizer, isto , deve dispor de uma abertura prpria e rica
de si mesma (Heidegger, 1927/2005, p. 224).
2.3.3 A doena e a morte ressignificando a vida: o
desvelamento de novos sentidos
A despeito do intenso sofrimento e das grandes
transformaes ocorridas em sua vida, pode-se perce-
ber que o adoecimento e a morte da filha ressignifica
alguns aspectos da vida desta me. Determinados sen-
tidos parecem se reafirmar, como por exemplo, o lugar
central que a maternidade ocupa em sua vida. Outros,
entretanto, parecem se desvelar, como a valorizao da
vida, acima de qualquer dificuldade. Imediatamente
aps a perda da filha, Maria se questiona sobre sua pr-
pria vida. A morte, como um fenmeno da vida, paralisa
a vida desta mulher, incitando-lhe um processo de re-
flexo, de busca, de construo de sentidos que pudes-
sem conduzi-la na continuidade da sua existncia. Ver
o sofrimento do outro ajudou a me a mudar sua pers-
pectiva frente vida:
Ser mais humilde, que eu no era. A crescer mais.
Dar valor mais vida. Eu reclamava demais da vida
e hoje em dia eu no reclamo. Para mim tudo bom.
Pra mim tudo timo. Nem no momento em que Jlia
se foi, eu reclamei. Eu aprendi isso, que a gente no
pode reclamar da vida. No perodo da doena e depois
de Jlia, que eu perdi Jlia.
De acordo com Heidegger (1927/2005), o Ser forma-
do por trs modos constitutivos e igualmente origin-
rios entre si: a disposio, a compreenso e o discurso.
Na compreenso, o Dasein funda a possibilidade perma-
nente de significar o mundo, tal como este se desvela, ou
seja, de elaborar um sentido. Sentido, sob a interpretao
ontolgico-existencial heideggeriana, concebido, por-
tanto, como aquilo que pode articular-se na abertura da
compreenso (Heidegger, 1927/2005, p. 208), admitindo
direcionamentos mltiplos e diversos. Transportando-se
novamente para a experincia de Maria, pode-se notar
que a sua narrativa demonstra um redimensionamento
das dificuldades. A morte da filha, na conjuntura que foi
vivenciada, ofereceu outro olhar s vicissitudes da vida,
permitindo a ela uma nova leitura diante das situaes
que, outrora, lhe apareciam como entraves, produzindo
um novo enfrentamento de sua parte.
3. Consideraes finais
A histria de Maria ajuda-nos a problematizar o luto
materno como uma experincia que se desenrola de ma-
neira particular, auxiliando-nos a ampliar a compreen-
so dos significados e sentidos atribudos ao fenmeno
da morte de um filho por cncer infantil. Inicialmente,
a sntese desta experincia desvela que o diagnstico de
cncer infantil, como possibilidade da concretizao da
morte, impe-se abruptamente na vida da me, afastando-
-a imediatamente do modo de ser constitutivo na impes-
soalidade. Embora surja de forma drstica e indesejada,
o adoecimento infantil, neste caso, permite me um
redimensionamento na sua forma de existir no mundo,
possibilitando proximidade com o seu modo de ser mais
155 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Experincia Materna de Perda de um Filho com Cncer Infantil: um Estudo Fenomenolgico
prprio. Nas circunstncias do cncer infantil, o cuidado
dirigido pela me criana se expressou predominante-
mente no modo da preocupao substitutiva, em vista,
sobretudo, da etapa de desenvolvimento do sujeito afe-
tado e da fragilidade desencadeada pelo tratamento, no
havendo valoraes negativas sobre essa forma de pro-
ceder. Por fim, h de se chamar ateno para o relevan-
te papel da equipe de sade no acompanhamento destas
mulheres. A narrativa desta experincia oferece sinais
de uma repercusso positiva da rede de apoio frente ao
processo de luto materno, confirmando os dados da li-
teratura que destacam esse suporte como fator de prote-
o para mes que vivem a experincia de adoecimento
e morte de um filho.
Referncias
Amatuzzi, M. M. (2009). Psicologia fenomenolgica: uma
aproximao terica humanista. Estudos de Psicologia
(Campinas), 26(1), 93-100.
Aris, P. (1977). Histria da morte no ocidente. (P. V. Siqueira,
Trad.) Rio de Janeiro: Ediouro. (Trabalho original publi-
cado em 1975)
Augras, M. (2011). O Ser da compreenso fenomenologia da
situao de psicodiagnstico (14a ed.). Petrpolis: Vozes.
Ayres, J. R. C. M. (2004). O cuidado, os modos de ser (do) huma-
no e as prticas em sade. Sade e Sociedade, 13(3), 16-29.
Beck, A. R. M. & Lopes, M. H. B. M. (2007). Cuidadores de crian-
as com cncer: aspectos da vida afetados pela atividade de
cuidador. Revista Brasileira de Enfermagem, 60(6), 670-675.
Belei, R. A., Gimeniz-Paschoal, S. R., Nascimento, E. N. &
Matsumoto, P. H. V. R. (2008). O uso de entrevista, obser-
vao e videogravao em pesquisa qualitativa. Cadernos
de Educao, 30, 187-199.
Bellato, R. & Carvalho, E. C. (2005). O jogo existencial e a ritua-
lizao da morte. Revista Latino-americana de Enfermagem,
13(1), 99-104.
Beltro, M. R., Vasconcelos, M. G., Pontes, C. M. & Albuquerque,
M. C. (2007). Cncer infantil: percepes maternas e estra-
tgias de enfrentamento frente ao diagnstico. Jornal de
Pediatria, 83(6), 562-566.
Benjamin, W. (1994). Obras escolhidas: magia e tcnica, arte e
poltica (7a ed.). So Paulo: Brasiliense.
Bowlby, J. (2004). Apego e perda: perda: tristeza e depresso
(Vol. 3). So Paulo: Martins Fontes (originalmente publi-
cado em 1985).
Carneiro, D. M. S., Souza, I. E. O. & Paula, C. C. (2009). Cotidiano
de mes acompanhantes-de-filhos-que-foram-a-bito.
Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, 13(4), 757-62.
Casanova, M. A. (2009). Compreender Heidegger. Petrpolis:
Vozes.
Creswell, J. W. (2010). Mtodos qualitativo, quantitativo e misto
(3a ed.). Porto Alegre. Artmed.
Critelli, D. M. (2007). Analtica do sentido: uma aproximao
e interpretao do real de orientao fenomenolgica. So
Paulo: Brasiliense.
Di Primio, A. O., Schwartz, E., Bielemann, V. L. M., Burille, A.,
Zilmer, J. G. V. & Feij, A. M. (2010). Rede social e vncu-
los apoiadores das famlias de crianas com cncer. Texto
Contexto Enfermagem, 19(2), 334-342.
Dutra, E. (2002). A narrativa como uma tcnica de pesquisa fe-
nomenolgica. Estudos de Psicologia (Natal), 7(2), 371-378.
Elias, N. (2001). A solido dos moribundos seguido de envelhe-
cer e morrer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Forghieri, Y. C. (2004). Psicologia Fenomenolgica: fundamentos,
mtodo e pesquisa. So Paulo: Thomson Pioneira.
Franco, M. H. P. (2009). Luto em cuidados paliativos. In
Conselho Regional de Medicina do Estado de So Paulo
(org.), Cuidados Paliativos, Cadernos Cremesp (pp. 559-
570). So Paulo: Autor.
Giorgi, A. (1985). Phenomenology and psychological research.
Pittsburg: Duquesne University Press.
Heidegger, M. (2005). Ser e Tempo Partes I e II (15a ed.).
Petrpolis: Vozes (originalmente publicado em 1927).
Hoffmann, L. (1993). A morte na infncia e sua representa-
o para o mdico: reflexes sobre prtica peditrica em
diferentes contextos. Cadernos de Sade Pblica, 9(3),
364-374.
Instituto Nacional de Cncer Jos Alencar Gomes da Silva
INCA Ministrio da Sade (2011). Estimativa 2012: inci-
dncia de cncer no Brasil. Rio de Janeiro: Autor.
Inwood, M. (2000). Heidegger. So Paulo: Edies Loyola.
Kovcs, M. J. (1996). A morte em vida. In M. H. P. F. Bromberg,
M. J. Kovcs, M. M. M. J. Carvalho & V. A. Carvalho (orgs.),
Vida e morte: laos da existncia (pp. 11-33). So Paulo:
Casa do Psiclogo.
Matsumoto, D. Y. (2009). Cuidados paliativos: conceitos,
fundamentos e princpios. In Academia Nacional de
Cuidados Paliativos (org.), Manual de cuidados paliativos
(pp. 321-330). Rio de Janeiro: Diagraphic.
Minayo, M. C. S. (2000). O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em sade. So Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro:
Abrasco.
Nogueira, R. P. (2008). Stress e padecimento. Comunicao
Sade Educao, 12(25), 283-293.
Ortiz, M. C. M. (2003). margem do leito: a me e o cncer in-
fantil. So Paulo: Arte & Cincia.
Pala, . C. S. (2008). O cuidado psicolgico com doentes
crnicos em uma perspectiva fenomenolgica existen-
cial. Dissertao de Mestrado, Universidade Federal
Fluminense, Niteri.
156 Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 147-156, jul-dez, 2013
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Patricia K. de S. e Silva & Symone F. de Melo
Parkes, C. M. (1998). Luto: Estudos sobre a perda na vida adul-
ta. (M. H. P. Franco, Trad.) So Paulo: Summus. (Trabalho
original publicado em 1972)
Pompeia, J. A. & Sapienza, B. T. (2011). Os dois nascimentos do
homem: escritos sobre terapia e educao na era da tcni-
ca. Rio de Janeiro: Via Verita.
S, R. N. (2010). A analtica fenomenolgica da existncia e a
psicoterapia. In A. M. L. C. Feij (org.), Tdio e Finitude:
da Filosofia Psicologia (pp. 177-199). Belo Horizonte:
Fundao Guimares Rosa.
Santos, L. M. P. & Gonalves, L. L. C. (2008). Crianas com cn-
cer: desvelando o significado do adoecimento atribudo por
suas mes. Revista de Enfermagem, 16(2), 224-229.
Silva, D. G. V. & Trentini, M. (2002). Narrativas como tcnica
de pesquisa em enfermagem. Revista Latino-americana de
Enfermagem, 10(3), 423-432.
Silva, L. C. (2006). O sentido do cuidado na vivncia da pes-
soa com cncer: uma compreenso fenomenolgica. Tese
de Doutorado, Universidade de So Paulo, Ribeiro Preto.
Spanoudis, S. (1981). Apresentao. In Heidegger, M. (org.),
Todos ns... ningum: um enfoque fenomenolgico do social
(pp. 9-22). So Paulo: Moraes.
Szymanski, H. (org.). (2002). A entrevista na pesquisa em edu-
cao: a prtica reflexiva. Braslia: Plano.
Teles, S. S. (2005). Cncer infantil e resilincia: investigao fe-
nomenolgica dos mecanismos de proteo na dade me-
-criana. Dissertao de Mestrado, Universidade de So
Paulo, Ribeiro Preto.
Wegner, W. & Pedro, E. N. R. (2010). Os mltiplos papis sociais
de mulheres cuidadoras-leigas de crianas hospitalizadas.
Revista Gacha de Enfermagem, 31(2), 335-142.
Patricia Karla de Souza e Silva - Psicloga Clnica, Especialista em
Psicologia da Sade e Mestre em Psicologia pelo Programa de Ps-
-Graduao em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Endereo Institucional: Rua Praia de Areia Branca, 8936. Ponta
Negra. Natal, RN. CEP: 59.094-450. E-mail: patriciakssilva@gmail.com
Symone Fernandes de Melo - Psicloga Clnica, Doutora em Psicologia
Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco e Docente do
Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Endereo institucional: Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Centro de Cincias Humanas, Letras e Artes. Departamento
de Psicologia, Campus Universitrio. s/n - Lagoa Nova. Natal, RN.
CEP: 59.078-970. E-mail: symelo@gmail.com
Recebido em 14.04.13
Primeira Deciso Editorial em 06.07.13
Aceito em 12.09.13
157
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Reflexes Acerca do Fazer tico na Clnica Gestltica: um Estudo Exploratrio
REFLEXES ACERCA DO FAZER TICO NA CLNICA
GESTLTICA: UM ESTUDO EXPLORATRIO
Reflections on ethical making in clinical gestalt: an exploratory study
Reflexiones sobre la tica en la clnica de la Gestalt: un estudio exploratorio
LZARO CASTRO SILVA NASCIMENTO
KAMILLY SOUZA DO VALE
Resumo: A discusso do tema tica, por vezes, se fecha na deontologia. Contudo, tal discusso extrapola esse recorte e alcana
outra dimenso no que compete ao fazer tico em psicoterapia, no unicamente baseado em leis e diretrizes. Esta pesquisa dis-
cute o fazer tico na prtica psicoteraputica em Gestalt-terapia. Utilizou-se uma abordagem qualitativa orientada a partir do
mtodo fenomenolgico de Sanders. O projeto foi aprovado previamente pelo Comit de tica em Pesquisa a fim de garantir as
questes ticas ligadas pesquisa. Foram realizadas entrevistas com seis psiclogas da cidade de Belm/PA, escolhidas a partir
do mtodo bola de neve com dois critrios de incluso: ser profissional formado em Psicologia e especialista em Gestalt-terapia.
As entrevistas foram analisadas a partir da fenomenologia e de conceitos gestlticos. Foi possvel ampliar a compreenso acerca
do fazer tico gestltico destacando-se a importncia do cuidado com quem busca atendimento; a necessidade do psicoterapeuta
de realizar a suspenso fenomenolgica; o preparo tcnico refinado; a relevncia do trabalho de psicoterapia pessoal do gestalt-
-terapeuta; e a tica pessoal enquanto premissa para uma tica profissional. Pesquisas futuras na rea mostram-se importantes
para que seja possvel manter a fluidez dessas compreenses acerca da temtica abordada.
Palavras-chave: tica; Gestalt-terapia; Mtodo fenomenolgico.
Abstract: The discussion of the topic Ethics sometimes is limited to deontology. However, this discussion goes beyond this
cut and reaches another dimension in ethical making in psychotherapy, not only based on laws and guidelines. This research
discusses the ethical making in Gestalt therapy. It was used a qualitative approach driven from the phenomenological meth-
od of Sanders. The project was approved by the Ethics Committee in Research to ensure the ethical issues related to research.
Interviews were conducted with six psychologists of Belm, chosen from the snowball method with two criteria: have profes-
sional degree in Psychology and have a specialist title as Gestalt therapist. The interviews were analyzed using the phenome-
nology and Gestalt concepts. It was possible to expand the understanding of making ethical gestalt highlighting the importance
of taking care of those seeking care, the need of the psychotherapist to suspend their a priori, the refined technical prepara-
tion, the importance of a personal psychoterapy work for the gestalt therapist; and personal ethics as a premise for a profession-
al ethic. Future research in the area is important to make possible to maintain the fluidity of these insights about the theme.
Keywords: Ethics; Gestalt therapy; Phenomenological method.
Resumen: La discusin de tema tica a veces se cierra en la deontologa. Sin embargo, esta discusin va ms all de este corte
y alcanza otra dimensin, ya que el hacer tico en psicoterapia, no es hecho slo en base a las leyes y directrices. Esta investi-
gacin trata sobre la tica en la terapia Gestalt. Se utiliz un enfoque cualitativo impulsado desde el mtodo fenomenolgico
de Sanders. El proyecto fue aprobado por el Comit de tica en Investigacin para garantizar los aspectos ticos relacionados
con la investigacin. Las entrevistas se llevaron a cabo con seis psiclogas de la ciudad de Belm, elegido el mtodo de bola de
nieve con dos criterios: ser profesional en Psicologa y se especializa en la terapia Gestalt. El anlisis fue realizado a partir de
la fenomenologa y conceptos Gestalt. Fue posible ampliar la comprensin acerca de la tica en terapia Gestalt destacando la
importancia de cuidar de aquellos que buscan la atencin, la necesidad del psicoterapeuta para suspender sus a priori, la pre-
paracin tcnica refinada, la importancia dela psicoterapia personal para el terapeuta Gestalt, y la tica personal como premi-
sa de una tica profesional. La investigacin futura en el rea es importante para mantener la fluidez de estos puntos de vista
sobre el tema.
Palabras-clave: tica; Terapia Gestalt; Mtodo fenomenolgico.
Introduo
A formao em Psicologia, de maneira geral, privilegia
diversas perspectivas tericas, filosficas e temas trans-
versais como Sociologia, Filosofia, Biologia, Antropologia,
Direitos Humanos entre outros. Muito se discute, nos anos
de formao, acerca de reas de atuao, abordagens psi-
colgicas, casos clnicos, psicopatologia e vrios outros
temas. Contudo, h temticas, como a tica, que carecem
de discusso aprofundada.
Em um contexto mais amplo, para pensar esta tem-
tica, relevante tambm refletir sobre o momento scio-
158
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Lzaro C. S. Nascimento & Kamilly S. do Vale
-histrico atual. Acreditando no pensamento heidegge-
riano de que as pessoas so seres-no-mundo, impossvel
descolar a discusso acerca da tica do momento em que
as relaes se estabelecem, ou seja, no presente. Para pen-
sar esta contemporaneidade, Bauman (2011) traz o con-
ceito de ps-modernidade enquanto uma poca em que
h desconstrues de valores antigos, dvidas e fragmen-
taes, em um mundo em que tudo passa a acontecer de
forma rpida, utilitarista e efmera.
Extrapolando a questo da clnica tradicional, Neto &
Penna (2006) afirmam que a sociedade espera do psic-
logo, em qualquer rea em que este trabalhe, uma habi-
lidade clnica mesmo quando a prtica de psicoterapia
estiver distante das funes que o mesmo exera naque-
le contexto. H que se destacar o movimento nos lti-
mos anos que tem buscado a descentralizao do papel
do psiclogo na prtica clnica privada, enfatizando um
trabalho mais voltado ao social, como a clnica amplia-
da. Contudo, isso no significa que o espao da clnica
particular tenha se perdido e no exija novas pesquisas
voltadas para este. Assim, discutir questes ticas no
campo clnico propicia reflexes que transcendem este
espao e atendem a uma demanda que esperada dos
profissionais da/na rea.
Os objetivos deste trabalho so: discutir algumas
questes ticas envolvidas na prtica psicoteraputica
sob o enfoque gestltico, bem como discutir acerca dos
conceitos sobre tica e/em psicoterapia gestltica; e refle-
tir sobre a importncia de um fazer tico na prtica pro-
fissional do gestalt-terapeuta.
1. A(s) tica(s)
Entre as definies mais comuns do termo, possvel
citar a compreenso da tica enquanto ramo da Filosofia.
O termo vem da palavra grega ethik e significa: parte
da Filosofia que estuda os valores morais e os princpios
ideais da conduta humana. cincia normativa que serve
de base Filosofia prtica (Michaelis, 2001).
Mostra-se interessante ainda diferenar os termos
tica e moral, usualmente confundidos e considerados
como sinnimos.
A diferena entre tica e moral que a moral prescreve
o que se deve crer, pensar, fazer sob um modelo ideal
e perfeito do Bem; a tica, diversamente, convida a
agir e a pensar segundo o que um corpo pode, de
acordo com a potncia da natureza que o atravessa
(Fuganti, 1990, p. 51).
A confuso no cotidiano talvez surja pela proximida-
de, no plano da prtica, em que tica e moral esto pre-
sentes, ambas ligadas aos ideais que orientam as con-
dutas humanas diariamente. Contudo, enquanto a tica
estaria mais prxima do campo da reflexo sobre uma
determinada ao, a moral estaria mais focada no fazer,
nos atos praticados. Ainda sobre o dilema tica e mo-
ral, Morin (2005), logo no incio de seu livro O Mtodo
6 tica, auxilia na busca por uma integrao entre as
duas palavras:
Busca-se, com freqncia, distinguir tica e moral.
Usemos tica para designar um ponto de vista supra
ou meta-individual; moral para situar-nos no nvel
da deciso e da ao dos indivduos. Mas a moral
individual depende implcita ou explicitamente de
uma tica. Esta se resseca e esvazia sem as morais
individuais. Os dois termos so inseparveis e, s
vezes, recobrem-se (Morin, 2005, p. 15, grifos nossos).
A tica, ou melhor, As ticas podem ser estudadas
tambm atravs de recortes histricos diversos. Aranha &
Martins (2009) discorrem sobre as ticas a partir da refle-
xo grega, trazendo o pensamento de Plato e Aristteles,
em seguida apresentando as concepes do perodo me-
dieval e do pensamento moderno, para, enfim, discutir
sobre a tica contempornea. Cortina & Martnez (2005)
fazem uma extensa reviso histrica acerca da tica e
apontam que esta teria uma tripla funo, sendo:
1) esclarecer o que a moral, quais so seus traos
especficos; 2) fundamentar a moralidade, ou seja,
procurar averiguar quais so as razes que conferem
sentido ao esforo dos seres humanos de viver moral-
mente; e 3) aplicar aos diferentes mbitos da vida so-
cial os resultados obtidos nas duas primeiras funes,
de maneira que se adote nesses mbitos sociais uma
moral crtica (ou seja, racionalmente fundamentada),
em vez de um cdigo moral dogmaticamente imposto
ou da ausncia de referncias morais (Cortina & Mar-
tnez, 2005, p. 21).
O socilogo Bauman (2011, p. 23) questiona ainda so-
bre a necessidade de se buscar uma tica baseada em c-
digos de condutas organizados por peritos ticos. Assim,
enfatiza que a tica ps-moderna pode ser colocada em
prtica cotidianamente por pessoas comuns, criticando a
forma como se perdeu, na ps-modernidade, a confiana
no prprio julgamento, passando esta funo aos espe-
cialistas em tica. Dessa forma, a sociedade assume uma
postura passiva diante da reflexo sobre suas prticas.
Outra proposta para estudar o tema das ticas diz
respeito tica aplicada. Esta pode ser compreendida da
seguinte maneira:
A histria do pensamento tico do ltimo tero do
sculo XX caracteriza-se pelo crescente interesse na
soluo dos problemas de ordem individual e coletiva
que preocupam as pessoas e a humanidade no seu
dia-a-dia. [...] Se a tica, de forma geral, se ocupa do
que correto ou incorreto no agir humano, a tica
159
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Reflexes Acerca do Fazer tico na Clnica Gestltica: um Estudo Exploratrio
aplicada trata de questes relevantes para a pessoa e a
humanidade. Um tema eticamente relevante quando
considerado pela maioria dos seres racionais, exem-
plificando, o uso sem limites dos recursos naturais
(Clotet, 1997, s/p).
A tica aplicada, portanto, busca no mais uma refle-
xo apenas no mbito do imaterial, pensando a dicotomia
bom versus mau, mas se ocupa de questes cotidianas
na contemporaneidade. Pensando partes do todo tica,
possvel inserir a biotica no conceito de tica aplica-
da. E entre a Biotica e Psicologia, para Ludwig, Zogbi,
Redivo & Muller (2005), o ponto central das discusses
se encontraria basicamente no respeito ao ser humano.
Alinhado com a questo do respeito ao ser humano,
possvel pensar o cuidado com este semelhante. Boff
(1999) discute sobre a tica do cuidado, afirmando que
no cuidado com o outro que se encontra o ethos funda-
mental do ser humano. O referido autor tambm discute
a questo da tica buscando compreenses sobre a for-
ma como essa reflexo constante sobre o mundo, sobre
outro e sobre si emerge. Acreditando que o eu s surge
a partir do tu, desta relao com o outro semelhante e
com este mundo, ele afirma que:
(...) o nascimento da tica reside nesta relao de
responsabilidade diante do rosto do outro [...]. na
acolhida ou na rejeio, na aliana ou na hostilidade
para com o rosto do outro que se estabelecem as re-
laes mais primrias do ser humano e se decidem
as tendncias de dominao ou de cooperao (Boff,
1999, p. 139).
Morin (2005) discute sobre a tica complexa, consi-
derando a religao indviduo-espcie-sociedade, a qual
fundamenta a sua proposta de uma teoria do pensamento
complexo. Assim, prope que em vez de segregar e dis-
secar a tica, devemos buscar compreend-la de forma
ampliada e totalizante.
Outra perspectiva que tange tica diz respeito aos
cdigos de tica, ou tambm chamada deontologia, a
qual se refere a um conjunto de princpios e deveres de
uma determinada profisso. Tal proposta de um cdigo
de tica visa orientar o profissional acerca dos possveis
dilemas com os quais possa vir a se encontrar em sua
atuao. Neste caso fala-se em uma tica profissional, a
qual pode ser definida da seguinte forma:
A tica profissional a aplicao da tica no campo
das atividades profissionais; a pessoa tem que estar
imbuda de certos princpios ou valores prprios
do ser humano para viv-los nas suas atividades de
trabalho (Camargo, citado por Passos, 2007, p. 79).
A partir destes recortes tericos, possvel per-
ceber a riqueza e a complexidade dos estudos voltados
acerca do tema tica (ou ticas). Contudo, faz-se neces-
srio aprofundamento especfico no que diz respeito aos
objetivos deste trabalho.
2. Gestalt-terapia e tica gestltica
A Gestalt-terapia (GT) se insere no campo das psico-
terapias humanistas fazendo parte da chamada tercei-
ra fora das abordagens psicolgicas surgidas nos anos
50 do sculo XX. Com uma proposta inovadora, a teoria
inicialmente pensada por Fritz Perls a partir de crticas
psicanlise carrega consigo a mxima: No h nenhu-
ma funo do organismo que no seja essencialmente um
processo de interao no organismo/ambiente (Perls,
Hefferline & Goodman 1951/1997, p. 205).
Buscando teorizar acerca da nova abordagem que sur-
gia dentro das correntes psicolgicas, Yontef (1998) com-
parou a GT s abordagens comportamental e psicodin-
mica, destacando o conceito de aqui-agora e awareness:
A modificao comportamental condiciona pelo contro-
le dos estmulos, a psicanlise cura por falar a respeito
e pela descoberta do problema mental (o problema) e a
Gestalt-terapia traz a autopercepo por experimentos
aqui-e-agora em awareness dirigida (p. 20).
Acerca da proposta de campo de Lewin, Pinto (2009)
aprofunda e mostra a importncia dessa conceituao
para a perspectiva da Gestalt-terapia:
Para a abordagem gestltica, o campo primrio,
a experincia surge do campo, o self e o outro so
processos do campo, nossas escolhas configuram o
campo, enquanto significados surgem de interaes
com o campo, e no nos so dados a priori. Para a Ges-
talt-terapia, a nfase no vivido (Pinto, 2009, p. 21).
Com esta perspectiva integradora, foi possvel a sa-
da de uma proposta determinante acerca do ser humano
e a partida para uma nova forma, mais complexa, atu-
almente corroborada pelos estudos do socilogo Edgar
Morin (2010; 2011). Seus estudos se referem ao conceito
de complexo como algo que integra, em vez de fragmen-
tar e compartimentar, e ao mesmo tempo reconhece o
inacabado e a incompletude de qualquer conhecimento.
Polster & Polster (1973/2001) tambm destacam a im-
portncia da experincia, porm com foco no momento
aqui-agora do encontro teraputico:
O trabalho da psicoterapia alterar o senso que o
indivduo tem de seu fundo, de modo que tais experi-
ncias novas possam agora ser harmoniosas com sua
natureza. Ele precisa descobrir que as experincias
no so inevitavelmente o que ele achava que seriam,
que de fato elas so bem-vindas, e que por meio dessas
experincias em mudana, seu fundo se altera e passa
a ser possvel ter harmonia em sua vida (p. 49).
160
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Lzaro C. S. Nascimento & Kamilly S. do Vale
Anos mais tarde, Perls (1973/1988), insatisfeito com as
proposies de suas obras Ego, Fome e Agresso e Gestalt-
Terapia, buscava, antes de findar sua existncia, clarificar
alguns conceitos e torn-los mais acessveis populao
em geral, assim define a proposta gestltica em terapia:
A terapia gestltica uma terapia experiencial, mais
que uma terapia verbal ou interpretativa. Pedimos ao
paciente para no falar sobre seus traumas e proble-
mas da rea remota do passado e da memria, mas
para reexperienciar seus problemas e traumas que
so situaes inacabadas no presente no aqui e agora
(Perls, 1973/1988, p. 76).
A partir dessas compreenses sobre as bases que fun-
damentam a prtica da Gestalt-terapia, possvel destacar
um enfoque especfico acerca da tica gestltica:
A tica na Gestalt-terapia se d atravs de um inclinar-
-se diante de, de um expor-se a, de um aprender com.
[...] escuta cuidadosa, onde o respeito fundamental.
Respeito pela experincia pessoal e singularidade do
outro, pela sua capacidade de se auto-significar, de
fazer suas escolhas, de criar e recriar sua subjetivi-
dade. Esta a experincia tica por excelncia, a de,
a partir de sua prpria singularidade, reconhecer o
outro em sua alteridade (Bernardini, 1999).
A partir de Frazo (2008), possvel pensar uma vi-
so de fazer tico gestltico de forma integrada e am-
pliada, sendo importante para esta gestalt-terapeuta ser
tico para um fazer tico, considerando questes amplas
que envolvem o mundo, as demandas sociais e o respei-
to. Para ela, todas essas questes incidem sobre a ques-
to tica (p. 36).
Tvora, Quadros & Soares (2009) comentam sobre a
tica gestltica a partir do pensamento de Martin Buber,
afirmando que:
O pensamento de Buber nos ajuda a pensar a tica da
Gestalt-terapia: tica da diversidade, da incluso, da
ao transformadora. a possibilidade de estar com
o outro no exerccio da dialogicidade, numa relao
entre diferentes onde privilegia-se a diferena, sendo
assim, a melhor maneira de descobrir-se e de criar-
-se (s/p).
J para Bloom (2009), a tica relacional da Gestalt-
terapia no seria uma tica de como se deve ser em rela-
o ao outro, dando-lhe direes, mas sim uma inevit-
vel tica que implica em responsabilidade.
A partir destes tericos, possvel compreender a
tica gestltica pautada nas bases da dialogicidade, do
respeito, da vivncia de um ser tico no cotidiano e da
noo existencialista de responsabilidade. Sendo estes
pontos constituintes de um fazer clnico tico gestltico.
Partindo deste recorte tico, com enfoque gestltico,
foram investigadas algumas compreenses acerca do
que vem a ser um fazer tico gestltico a partir da nar-
rativa da experincia de gestalt-terapeutas da cidade de
Belm, Par.
3. Caminhos terico-metodolgicos
Os procedimentos terico-metodolgicos utilizados
foram: a) pesquisa de reviso bibliogrfica acerca das te-
mticas tica e Gestalt-terapia; b) seleo dos informan-
tes por meio da rede de relaes dos pesquisadores e dos
prprios informantes (mtodo bola de neve); c) contato
telefnico, presencial ou via e-mail preliminar com os
participantes para obter a concordncia verbal/escrita em
participar da pesquisa; d) encontro pessoal para realiza-
o de entrevistas semiestruturadas individuais, gravadas
e posteriormente transcritas; e) anlise e discusso dos
dados obtidos. O projeto deste trabalho foi aprovado pelo
Comit de tica em Pesquisa do Instituto de Cincias da
Sade da Universidade Federal do Par (ICS/UFPA) atra-
vs do meio eletrnico Plataforma Brasil sob o nmero
do CAAE 12551713.7.0000.0018.
Neste trabalho optou-se pela utilizao do Mtodo
Fenomenolgico de Sanders, no qual a estrutura fenome-
nolgica da pesquisa pode ser compreendida a partir de
trs eixos: 1) determinao de limites sobre o que (as-
suntos que no buscam quantificao) e quem (pessoas
que possam oferecer informaes sobre o fenmeno estu-
dado) investigado; 2) a coleta de dados (a partir de en-
trevistas com participantes, gravadas e transcritas); e 3) a
anlise fenomenolgica dos dados (Moreira, 2002, p. 121).
Para tal anlise dos dados preciso realizar uma re-
duo fenomenolgica, Forghieri (2004) explicita dois
momentos fundamentais para que isso seja possvel: 1)
envolvimento existencial, em que o investigador precisa
colocar fora de ao os conhecimentos por ele j adqui-
ridos sobre a vivncia que est pretendendo investigar,
para ento tentar abrir-se a essa vivncia (p. 60); e, 2)
distanciamento reflexivo, no qual o pesquisador precisa
estabelecer um certo distanciamento da vivncia, para
refletir sobre essa sua compreenso e tentar captar e
enunciar, descritivamente, o seu sentido ou o significa-
do daquela vivncia em seu existir (p. 60).
Alm disso, Sanders (citado por Moreira, 2002) des-
taca que na anlise dos dados o importante para a de-
limitao de um tema no a frequncia com que este
emerge, mas sim sua centralidade e a sua importncia.
Aps identific-los, o investigador organiza os temas em
conjuntos que, aps concluso da pesquisa, iro carac-
terizar a estrutura do fenmeno estudado.
Neste estudo, foram entrevistadas seis psiclogas
com idade entre 29 e 54 anos e com especializaes na
Abordagem Gestltica concludas entre 1994 e 2011. Os
critrios de incluso para compor a amostra foram apenas
161
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Reflexes Acerca do Fazer tico na Clnica Gestltica: um Estudo Exploratrio
dois: ser profissional formado em Psicologia com atua-
o na rea clnica e possuir especializao em Gestalt-
terapia. A quantidade de participantes tambm foi base-
ada na recomendao de Sanders, que sugere entre 3 a 6
informantes para trabalhar em profundidade um deter-
minado fenmeno.
Para escolha das participantes foi utilizado o mtodo
no probabilstico de amostragem bola de neve, consi-
derado por Turato (2003) como adequado para pesquisas
qualitativas. O pesquisador investiga, ouve uma partici-
pante que pode oferecer dados sobre o tema estudado e
aps a entrevista, a participante era solicitada pelo pes-
quisador a indicar uma ou duas pessoas para participa-
rem da pesquisa. Quando havia mais de uma indicao,
o pesquisador arbitrava e escolhia apenas uma indicao
para dar prosseguimento coleta dos dados. Apenas a
primeira participante foi escolhida baseada na rede pr-
via de contatos do pesquisador.
O pesquisador entrava em contato com a participan-
te por telefone, apresentava-se, explicitava brevemente os
seus objetivos e perguntava sobre o interesse da mesma
em participar. Aps consentimento verbal, era marca-
da a entrevista de acordo com a agenda da participante.
A coleta era iniciada pelo pesquisador aps assinatura
prvia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e
autorizao verbal para gravao da entrevista. O roteiro
de entrevista foi composto por trs perguntas objetivas
acerca do objeto de pesquisa deste trabalho e informa-
es sobre as participantes, em alguns casos algumas
perguntas foram aprofundadas baseadas nas respostas
das informantes. As perguntas que compuseram o ques-
tionrio foram: 1) Como voc compreende a tica na cl-
nica? 2) Considerando a sua experincia profissional, o
que para voc um fazer clnico tico em Gestalt-terapia?
3) Cite alguns exemplos do que voc considera um fazer
no-tico na clnica gestltica.
Aps entrevista, os dados foram transcritos de forma
fiel ao contedo, preservando erros de concordncias e
afins, sem qualquer tipo de correo, permitindo, assim,
maior fidelidade quanto s informaes oferecidas pe-
los participantes da pesquisa. Apenas os nomes foram
substitudos por siglas (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) a fim de
garantir o sigilo previamente garantido com o termo de
consentimento livre e esclarecido.
A construo das categorias foi baseada em conceitos
que compem a Gestalt-terapia, a Fenomenologia e ques-
tes da deontologia profissional. A partir da leitura e de
releituras das entrevistas foram destacadas as unidades
de significado.
Tvora, Quadros & Soares (2009) afirmam que para se
chegar a compreender algo so necessrias vrias aproxi-
maes para ampliar o exame de um tema em foco, con-
trastando os olhares e buscando o exerccio do dilogo.
Alm disso, atravs da viso gestltica, podemos perce-
ber o positivo, o potencialmente transformador, mesmo
diante dos limites e dificuldades (Pereira, 2008).
A organizao dos resultados foi dividida em duas
partes, a primeira com os dados das informantes e a outra
com as unidades de significado 1) Compreenses acerca
da tica na Psicologia clnica, 2) Fazer tico gestltico/
Fazer no-tico gestltico e suas respectivas categorias,
buscando, assim, atender aos objetivos inicialmente pro-
postos neste trabalho. Para evitar repeties, em algumas
categorias apenas alguns excertos foram inseridos, dan-
do-se preferncia para os que os pesquisadores acredita-
vam melhor represent-las.
4. Resultados e discusso
4.1 Perfil das informantes
O questionrio utilizado na pesquisa inclua um ca-
bealho com informaes bsicas sobre as participantes,
sendo estas: idade, ano de formao e ano de especializa-
o em Gestalt-terapia. A fim de facilitar a visualizao
destas informaes, foi construda uma tabela a partir
dos dados coletados:
Tabela 1
Perfil das participantes.
Participante Idade Ano de formao em Psicologia Ano de especializao em Gestalt-terapia
P1 46 anos 1989 1994
P2 54 anos 1992 2000
P3 51 anos 1990 2000
P4 40 anos 1995 1996
P5 29 anos 2009 2011
P6 42 anos 2006 2011
4.2 Compreenses acerca da tica na psicologia clnica
Esta unidade de significado composta pelas cate-
gorias referentes s diferentes apreenses sobre a tica
na Psicologia clnica para as participantes, sendo a tica
enquanto: respeito (P1, P4 e P5), cuidado e acolhimen-
to (P2 e P6), algo inerente ao ser (P3) e responsabilidade
com o outro (P4 e P6). tica para P1, P4 e P5, est atrela-
da a ideia de tica enquanto respeito, no que compete s
questes contratuais, aos sentimentos que emergem no
psicoterapeuta durante o atendimento e ao contedo que
trazido como queixas para os encontros.
162
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Lzaro C. S. Nascimento & Kamilly S. do Vale
Bernardini (1999) traz a dimenso do respeito en-
quanto algo primordial para uma atitude tica. Afirma
que um dos fundamentos da atitude gestltica o res-
peito intrnseco pela diversidade e pelas diferenas.
Destacando a importncia de respeitar o outro e respeitar
a si mesmo como formas de possibilitar um fazer tico
gestltico. Discurso que emerge na fala de P1:
P1: Ento, a tica na clnica, eu penso que perpassa por
esse respeito em todos os sentidos, tanto respeitando
essa questo contratual, quanto o funcionamento do
cliente, n? Como ele se apresenta.
As participantes P2 e P6 compreendem a tica en-
quanto cuidado e acolhimento, atuando a partir de um
cuidado do psicoterapeuta com o seu cliente, afirmando a
necessidade de se colocar a servio deste semelhante que
busca auxlio. Apresenta-se a fala da Participante (P2):
P2: [...], o mais importante na tica como eu recebo
e acolho esta pessoa.
Assim, a tica estaria embasada tanto no cuidado em
receber o cliente, na forma como conduzir os atendimen-
tos, bem como no acolhimento. Bernardini (1999) afirma
que o acolhimento a tica essencial em Gestalt-terapia:
Acolher o sujeito na sua diferena, olhando-o como
a pessoa que , realmente consciente de que ele
essencialmente diferente de mim e acolh-lo em sua
alteridade a meu ver a experincia tica essencial na
prtica da Gestalt-terapia e na vida (Bernardini, 1999).
J a participante P3 possui um olhar totalizante sobre
a tica, afirmando que para ela, a tica na clnica uma
continuidade de uma tica pessoal fora deste espao de
atuao. Estando, assim, essa qualidade internalizada no
psicoterapeuta enquanto pessoa, no unicamente a partir
de condutas profissionais, entendendo a tica enquanto
inerente ao ser:
P3: Ento, eu compreendo a tica a partir da pessoa.
Eu acho que a tica uma questo, ela no antecede
o ser, mas ela vem junto com o ser, n, ento eu acho
que ser tico na clnica uma continuidade de um ser
tico da pessoa.
As falas de P3 e P4 apontaram para a existncia de
uma tica pessoal que antecede a tica na prtica pro-
fissional. Tais discursos corroboram a ideia de Ayres &
Botelho (2009) quando afirmam que a integridade pes-
soal/profissional parece-nos um binmio fundamental
e imprescindvel a uma atitude tica. Dessa forma, no
existiria uma tica desvinculada do mbito pessoal.
As participantes P4 e P6 destacaram tambm, alm
do respeito e do cuidado, a noo da tica enquanto res-
ponsabilidade com o outro que busca atendimento clni-
co. A compreenso de responsabilidade do psicoterapeu-
ta na abordagem gestltica aparece em Perls (1973/1988)
quando afirma que A responsabilidade fundamental
do terapeuta no deixar sem questionamento qualquer
afirmao ou atitude que no sejam representativas do
si-mesmo, que sejam evidncia da falta de responsabili-
dade do cliente (p. 92).
Assim, esta noo de responsabilidade importante
tanto para o cliente que se ajusta neuroticamente quanto
para o gestalt-terapeuta, o qual precisa estar implicado
de maneira comprometida com o seu fazer.
4.3 Fazer tico gestltico/Fazer no-tico gestltico
Nesta categoria foram organizadas as informaes
referentes ao que as participantes julgavam como fazer
tico e fazer no-tico na abordagem gestltica. A utili-
zao do termo no-tico deu-se para possibilitar uma
discusso mais ampliada, evitando que esta discusso
ficasse restrita apenas a deontologia da profisso.
Para as participantes um fazer tico em Gestalt-terapia
est diretamente associado Crena na autorregulao
organsmica. Segundo Lucca (2007, p. 31), a proposta de
que o ser humano realiza sua autorregulao surgiu com
Kurt Goldstein que, ao questionar o modelo atomstico
utilizado pelas cincias biolgicas de meados do scu-
lo XX, props a utilizao do pensamento organsmico
descobrindo, atravs de estudos neurofisiolgicos, essa
tentativa de ajuste do organismo.
As participantes P1, P3 e P6 destacam, portanto, a
importncia do gestalt-terapeuta em reconhecer que o
seu cliente tem a potencialidade para ajustar-se da me-
lhor maneira que puder. No cabendo ao profissional
psiclogo com orientao gestltica deliberar sobre o
que deve ser feito ou como o cliente deve agir, respei-
tando o seu potencial de autorregulao. Elencou-se o
discurso de P1:
P1: acreditar na autorregulao do cliente, acreditar
e, quando eu falo em autorregulao, que ele tem o
poder de encontrar ajustes possveis pra ele t saindo
de uma determinada situao ou encontrando a me-
lhor forma possvel, que ele tenha de se autorregular.
Para as participantes P1 e P3 um fazer no-tico se-
ria o no Acolhimento e respeito s escolhas. Destacam
em seus discursos a importncia de respeito s escolhas:
P1: no respeitar as escolhas, a liberdade dessa pessoa,
ento isso um fazer no-tico.
Ribeiro (1999) explicita brevemente a ideia de esco-
lha para a abordagem gestltica afirmando que escolher
colocar-se entre a intra e a intersubjetividade e isso
163
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Reflexes Acerca do Fazer tico na Clnica Gestltica: um Estudo Exploratrio
nos coloca diante dos nossos limites (p. 91). Tal noo
de escolha advm da corrente filosfica existencialista.
Respeitar as escolhas do cliente creditar a ele a respon-
sabilidade por si e, assim, colocar-se como um heterossu-
porte para que este possa sustentar aquilo que escolheu,
reconhecendo-se neste processo de escolha. Vinculado
a esta ideia de respeitar as escolhas de quem busca aten-
dimento, possvel pensar o acolhimento. Acolher essa
pessoa que chega procurando compreender um pouco
mais de si mesma. A noo de acolhimento emergiu nos
discursos de P2, P3 e P6.
Buscar oferecer acolhimento pessoa e ao sofrimento
que esta traz para o atendimento psicoteraputico, portan-
to, mostra-se como um ponto importante para um fazer
gestltico comprometido com a tica. o acolhimento a
estas demandas que, em muitos casos, possibilita que o
cliente consiga ampliar sua percepo sobre si e buscar
formas de ajustar-se dentro do que lhe possvel.
As participantes revelaram em seu discurso a impor-
tncia do Cuidado enquanto atuao tica. A noo de
cuidado para Boff (2012) extremamente ampla, o autor
chega a afirmar que o cuidado aquela condio prvia
que permite um ser vir existncia. o orientador an-
tecipado de nossas aes para que sejam construtivas e
no destrutivas. Essa compreenso fundamental para
o posicionamento tico no trabalho psicoteraputico.
Emergiram, a partir desta ideia, trs subcategorias:
cuidado com o outro, apropriao da linguagem e sagra-
do valorizao do cliente. A importncia desse cuida-
do com o outro, com este ser que busca a psicoterapia foi
evidenciada nos discursos de P2, P3, P4 e P6. Aqui reve-
lada no discurso de P4:
P4: Ento, primeiramente, eu entendo tica como algo
que se doa, que emerge da pessoa, como uma atitude
espontnea, de manuteno de cuidado, de cuidado
consigo, de cuidado com o planeta, de cuidado com o
semelhante, de cuidado com os parmetros profissio-
nais. Ento eu no vejo que exista tica s como um
parmetro, um ditame profissional.
Esta ideia de tica ampliada, a qual exige um cuida-
do no somente com o outro, mas com o mundo, com
a sociedade e com o meio em que vivemos reafirma as
compreenses j mencionadas de Boff (1999), bem como
a de Frazo (2008):
A tica precisa se fazer presente a todo momento no
nosso viver. A postura tica no mundo antecede a
postura tica de um fazer no mundo. tica consci-
ncia e responsabilidade; no apenas uma postura
no mundo, mas tambm diante do mundo. (Frazo,
2008, p. 36)
A participante P4 destaca a necessidade de adequao
da linguagem do psicoterapeuta como uma forma de cui-
dado com o seu cliente, assim sendo fundamental para a
mesma a Apropriao da linguagem:
P4: [...] s vezes coisas simples dizem respeito ao cui-
dado e tica. Por exemplo, voc adequar a linguagem,
voc ter uma atitude que voc efetivamente possa se
encontrar com o outro naquilo que o parmetro, o
mundo, a referncia do outro.
Pinto (2009) recomenda esse cuidado com a comu-
nicao diante da pessoa que busca atendimento psico-
teraputico, afirmando que o psicoterapeuta deve usar
linguagem e postura acessveis ao cliente, levando em
conta sua ansiedade e sua insegurana momentnea, de
maneira que ele possa compreender adequadamente o
que lhe dito (p. 164). Compreende-se que pensar e vi-
ver a tica gestltica, estar integrado com um viso de
homem ancorada na perspectiva existencial-fenomeno-
lgica, aonde partir do sujeito o sentido e o significado
que o mesmo dar para seus fenmenos, sendo o psico-
terapeuta um facilitador deste processo.
Sabe-se, no entanto que fundamental que o profis-
sional de Psicologia ancorado por qualquer abordagem de
sua escolha esteja atento para a tica profissional exigida
pelo Conselho Federal de Psicologia, que apresenta par-
metros a serem seguidos. No discurso das participantes
acerca da tica Profissional apresentaram-se questes
mais voltadas para a deontologia profissional, especifica-
mente as subcategorias sigilo e contrato, setting teraputi-
co, fundamentao terica e superviso/encaminhamento.
Emergiram nas falas de P1, P2 e P5 a subcategoria
Sigilo e contrato. Sabe-se que questo do sigilo uma das
mais abordadas acerca do trabalho psicoteraputico, sen-
do claramente explicitada no artigo 9 do Cdigo de tica
Profissional do Psiclogo (Conselho Federal de Psicologia,
2005). Quanto questo do contrato, para Rosa (2011),
este pode ser iniciado a partir do que o cliente traz para
a psicoterapia e como o psicoterapeuta identifica esta de-
manda com seu cliente, revelando-se para ambos quais
sero os encaminhamentos dados no trabalho.
J o setting teraputico envolve questes objetivas,
como o espao, a iluminao, conforto e afins, e tambm
questes subjetivas, que dizem respeito, por exemplo,
preparao do gestalt-terapeuta e a sua disponibilidade
interna. Quanto questo objetiva, esta categoria emer-
giu no discurso de P2:
P2: o desrespeito de uma forma geral: chegar atrasa-
do, no t nem a pro cliente, no ter um ambiente
adequado de rudos, de barulhos, ento, isso muito
importante a gente t atento pra isso.
No que compete s questes subjetivas, foi possvel
encontrar no discurso de P4 a importncia da psicotera-
pia pessoal do clnico e no discurso de P5 um destaque
disponibilidade para o atendimento:
164
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Lzaro C. S. Nascimento & Kamilly S. do Vale
P4: Eu acho que um fazer tico em Gestalt-terapia
envolve fundamentalmente trs aspectos. Um: psicote-
rapia pessoal do clnico. Eu no consigo conceber uma
pessoa que cuide do outro se ela no tiver pra consigo
uma atitude de cuidado. Ento, a primeira coisa
psicoterapia pessoal, o trabalho pessoal do clnico.
O fazer clnico tico gestltico estaria, assim, pau-
tado tanto no cuidado em relao ao espao do atendi-
mento, com uma sala adequada dentro das possibilida-
des, bem como em relao ao preparo pessoal e tcnico
do gestalt-terapeuta. Corroborando a ideia de Boff (1999)
sobre como o cuidado com o outro e o cuidado consigo
so indissociveis.
As participantes P2, P3 e P4 destacaram a importn-
cia da fundamentao terica para o desenvolvimento de
uma prtica tica em GT.
P4: o estudo terico da abordagem de forma concisa,
sria, aprofundada, o psicoterapeuta precisa, se ele se
intitula gestalt-terapeuta, ele precisa recorrentemente,
constantemente, pensar teoricamente sobre o seu fazer.
Tal necessidade de fundamentao terica se estende
no apenas Gestalt-terapia, mas a toda atividade exer-
cida pelo profissional em Psicologia. Isso explicitado
na apresentao do Cdigo de tica do Psiclogo em suas
primeiras linhas:
Toda profisso define-se a partir de um corpo de pr-
ticas que busca atender demandas sociais, norteado
por elevados padres tcnicos e pela existncia de nor-
mas ticas que garantam a adequada relao de cada
profissional com seus pares e com a sociedade como
um todo (Conselho Federal de Psicologia, 2005, p. 5).
Cabe destacar, porm, que os cdigos de tica da pro-
fisso no precisam ser amarras para o profissional. Antes
disso, devem ter a funo de orientar e possibilitar uma
reflexo dentro de alguns contextos mais generalistas e
outros mais especficos. Cabendo ao gestalt-terapeuta,
tambm, a capacidade de ajustar-se criativamente dian-
te das demandas que emergem no cotidiano.
A necessidade de troca entre os pares tambm sur-
giu como uma questo tica a ser considerada (P4). Alm
disso, a importncia de reconhecer a prpria limitao
diante de uma demanda, exigindo, portanto, um enca-
minhamento para outro profissional, tambm emergiu
nos dados coletados (P3). Destacando-se a necessidade
eventual de Superviso/Encaminhamento.
P4: o processo de superviso ou de troca entre os pares.
A prtica clnica um espao muito solitrio, ento
esse movimento de interao, interlocuo com os
pares, no sentido de repensar posturas, de ouvir um
posicionamento de um outro profissional.
A superviso clnica fundamental no processo de
aprendizado de terapeutas iniciantes, independente de
sua abordagem terica. neste espao que so poss-
veis as trocas e a ampliao do seu autossuporte. Soares
(2009) afirma que A superviso pode adquirir a funo
de conectar o graduando com o mundo, promovendo o
desdobramento da percepo que tem de sua experin-
cia proporcionando-lhe a ampliao de recursos pesso-
ais (p. 156).
Pinto (2009) comenta sobre a capacidade de reconhe-
cer quando no se est apto a atender uma determinada
demanda sendo necessrio o encaminhamento do clien-
te a outro profissional. As participantes relataram ain-
da a importncia da suspenso fenomenolgica (P2, P3,
P5 e P6) e da incluso (P3) para o fazer clnico tico em
Gestalt-terapia:
P3: Eu acho que eu compreendo a tica desta forma,
n, quando eu no pego os meus valores morais, mas
sei bem deles, quais so, e consigo me diferenciar do
cliente, e consigo lidar com a dor do cliente a partir
dele, e no de mim. E a, entrar nessa questo do julga-
mento e da avaliao, que no cabe naquele momento.
Polster & Polster (1973/2001) apresentam a proposta
de suspenso fenomenolgica ao considerarem o pro-
cesso de colocar entre parnteses como fundamental
para a comunicao na terapia. Ao passo que a incluso
compreendida como uma atitude permissiva, na qual
o terapeuta entende e aceita a outra pessoa, sem julgar a
atitude ou o comportamento do outro, de forma positiva
ou negativa (Yontef, 1988, p. 252).
So estas duas habilidades do gestalt-terapeuta que
permitiro que este seja capaz de ouvir uma demanda
clnica sem julgar o seu cliente. Ou ainda, que seja ca-
paz de separar as suas demandas pessoais das que lhe
so apresentadas por quem busca atendimento. Ao ci-
tar os conceitos de Martin Buber, partindo, portanto, de
uma concepo da Relao dialgica, a participante P2
mostra a importncia de compreender a relao com o
cliente em diferentes momentos, ora no princpio Eu-Tu
e ora, Eu-Isso:
P2: [...] quando eu estou com o cliente eu tento estar
nessa relao eu-tu, mas quando ele j vai embora,
que eu preciso estudar, que eu preciso ver, eu t
numa relao eu-isso. T? Eu j t vendo ele como o
meu, digamos, o meu objeto de estudo, por questes
tericas. [...] No momento que eu trato um cliente
como simplesmente um objeto, a relao eu-isso, eu
t fugindo da tica.
A proposta de Buber (1923/1981) sobre a dialogicidade
discorre sobre duas esferas em que as relaes ocorrem.
Na relao Eu-Tu, em que o contato genuno e interes-
sado, h uma busca do outro em toda sua potencialidade,
165
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Reflexes Acerca do Fazer tico na Clnica Gestltica: um Estudo Exploratrio
ocorrendo no presente, no momento do agora. Contudo,
na relao Eu-Isso, no h um outro ser ali, antes, h um
objeto, uma atividade, uma coisa. Ambas as relaes so
fundamentais para existir no mundo, havendo a neces-
sidade de saber altern-las.
A participante P2 destaca com clareza a importncia
de recorrer a estas duas possibilidades de relao, com-
preendendo o momento em que o cliente est diante do
psicoterapeuta com uma necessidade de uma relao Eu-
Tu. Destaca, porm, a necessidade de, aps a sua partida,
compreender este processo a partir da teoria, estabele-
cendo uma relao Eu-Isso, assimilando o que foi trazi-
do pelo cliente durante a sesso. Corroborando com esta
perspectiva foi encontrada nos discursos de P4 e P5 a sub-
categoria Relacionamento horizontal enquanto respeito:
P4: Especificamente a tica na nossa profisso, a prti-
ca clnica atravessada pelo parmetro tico, voc [...]
estar diante do seu cliente com uma atitude genuna de
interesse e respeito, a partir do momento que voc se
coloca diante do outro genuinamente, numa condio
de escuta interessada e respeitosa.
Yontef (1988), fazendo meno a Buber, afirma que as
relaes Eu-Tu so horizontais ao passo que relaes no
modelo Eu-Isso acabam tornando-se verticais. O dilogo
e o respeito genunos com a pessoa que busca a psicote-
rapia so os motes que iro garantir que haja uma relao
horizontal entre gestalt-terapeuta e cliente, possibilitando
assim um processo mais autntico na clnica.
Destaca-se que, apesar da preferncia por utilizar o
termo fazer no-tico durante as entrevistas, algumas
participantes mencionaram o termo antitico e exem-
plificaram com algumas prticas. Os parmetros ticos da
profisso so diversos, porm, a prtica tica, de acordo
com os discursos das participantes, vai para alm deles.
Algumas atitudes do psiclogo deixam claro o seu car-
ter antitico para elas.
A participante P2 fala sobre isso ao citar a utiliza-
o de terapias alternativas como parte da psicoterapia,
P4 tambm destaca o poupar o cliente enquanto uma
forma do psicoterapeuta no se implicar na sua prtica,
tornando a assim antitica e P6 questiona psiclogos que
no promovem a autonomia de seus clientes.
Consideraes finais
Retomando o mtodo fenomenolgico e considerando
a viso a partir do humanismo-existencialismo, Cardella
(2002) afirma que este procedimento metodolgico per-
mite verificar e renovar constantemente o conhecimento,
j que concebe o homem como ser em processo, trans-
formando e sendo transformado nas relaes que esta-
belece com seu mundo [...] [grifo nosso] (p. 84). esta
ideia de processo que queremos ressaltar neste trabalho.
Compreendendo, assim, a dinamicidade do tema e a im-
portncia de sua reflexo permanente.
Falar em uma tica gestltica no pressupe desconsi-
derar a tica em outros aspectos da Psicologia. preciso
destacar, contudo, que o objetivo deste trabalho buscou
a partir desse recorte ampliar a compreenso dessa tem-
tica para a abordagem. Apesar de ser um tema basal para
pensarmos a atuao do gestalt-terapeuta, a literatura pu-
blicada sobre este nos meios cientficos ainda escassa.
A partir das discusses levantadas neste trabalho,
pensamos que refletir sobre a tica na prtica psicotera-
putica precisa ser um exerccio constante do profissional
em campo. No apenas enquanto leis e diretrizes, mas
como reflexo crtica acerca do seu fazer tcnico, terico e
prtico, oferecendo assim suporte para o seu fazer clnico.
Por fim, pensar gestalticamente se inserir num cam-
po de relaes em que as dualidades so desconstrudas,
as certezas colocadas em dvidas e os pensamentos trans-
formados em aes, as reflexes transformadas em cons-
trues de conhecimento, o compartimentado em integra-
do e o acabado em inacabado, para que assim se possa,
dia aps dia, abrir novas gestalten e crescer em contato
com o novo. Este estudo no esgota a temtica da tica,
em vez disso suscita a discusso e possibilita que outros
olhares sejam dados a este assunto a fim de ampli-lo e
mant-lo em debate.
Referncias
Aranha, M. L. A., & Martins, M. H. P. (2009). Filosofando: intro-
duo Filosofia (4a ed.). So Paulo: Moderna.
Ayres, L. S. M., & Botelho, M. C. (2009). Dilogos entre a tica
e a Psicoterapia. Jornal do Conselho Regional de Psicologia/
RJ [online], 23. Disponvel em: http://www.crprj.org.br/pu-
blicacoes/jornal/jornal23-lygiaayres-marianabotelho.pdf
Bauman, Z. (2011). Vida em fragmentos: sobre a tica ps-mo-
derna. Rio de Janeiro: Zahar.
Bernardini, R. G. (1999). A tica na Gestalt-terapia. In: VII
Encontro Nacional de Gestalt-Terapia / IV Congresso
Nacional da Abordagem Gestltica. Goinia: ITGT.
Boff, L. (1999). Saber Cuidar: tica do humano - compaixo pela
terra. Petrpolis: Vozes.
Boff, L. (2012). O que significa mesmo o cuidado? Jornal do Brasil
[online]. Disponvel em: http://www.jb.com.br/leonardo-boff/
noticias/2012/05/21/o-que-significa-mesmo-o-cuidado/.
Bloom, D. (2011). One Good Turn Deserves Another... and
Another... and Another: Personal Reflections. Gestalt
Review [online], 15(3), 296-311.
Buber, M. (1981). Eu e Tu. So Paulo: Cortez (Original publi-
cado em 1923).
Cardella, B. H. P. (2002). A construo do Psicoterapeuta: uma
abordagem gestltica. So Paulo: Summus.
166
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 157-166, jul-dez, 2013
Lzaro C. S. Nascimento & Kamilly S. do Vale
Clotet, J. (1997). Biotica como tica Aplicada e Gentica.
Revista Biotica [online], 5(2), s/p.
Conselho Federal de Psicologia (2005). Cdigo de tica profis-
sional do psiclogo. Braslia, DF.
Cortina, A., & Martinez, E. (2005). tica. So Paulo: Loyola.
Forghieri, Y. C. (2004). Psicologia fenomenolgica: fundamen-
tos, mtodos e pesquisas. So Paulo: Pioneira.
Frazo, L. M. (2008). Ser tico para um fazer tico. Revista
Sampa GT, 5, p. 55-56.
Fuganti, L. A. (1990). Sade, desejo e pensamento. In: Lancetti, A.
(Org.). Sade e loucura (Vol. 2) (p. 18-82). So Paulo: HUCITEC.
Lucca, F. (2007). Auto-regulao organsmica. In: Dacri, G.;
Lima, P., & Orgler, S. (Orgs). Dicionrio de Gestalt-terapia
Gestalts (p. 31-32). So Paulo: Summus.
Ludwig, M. W. B.; Zogbi, H. J.; Redivo, L. B., & Muller, M. C.
(2005, outubro). Dilemas ticos em Psicologia: Psicoterapia
e pesquisa. Revista Eletrnica da Sociedade Rio-Grandense
de Biotica [online], 1(1), 1-11.
Michaelis (2001). Moderno dicionrio da lngua portuguesa
[online]. So Paulo: Melhoramentos. Disponvel em: http://
michaelis.uol.com.br/.
Moreira, D. A. (2002). O mtodo fenomenolgico na pesquisa.
So Paulo: Pioneira Thompson.
Morin, E. (2005). O Mtodo 6: tica. Porto Alegre: Sulina.
Morin, E. (2010). Para onde vai o mundo? Petrpolis: Vozes.
Morin, E. (2011). Introduo ao pensamento complexo. Porto
Alegre: Sulina.
Neto, J. L. F., & Penna, L. M. D. (2006, maio/agosto). tica, cl-
nica e diretrizes: a formao do psiclogo em tempos de
avaliao de cursos. Psicologia em Estudo, 11(2), 381-390.
Passos, E. (2007). tica e Psicologia: teoria e prtica (1a ed.).
So Paulo: Vetor.
Pereira, M. (2008). Gestalt-terapia e sade mental: contribuies
do olhar gestltico ao campo da ateno psicossocial brasi-
leira. Revista IGT na Rede [online], 5(9), 168-184.
Perls, F. (1988). A abordagem Gestltica e testemunha ocular
da terapia (2a ed.). Rio de Janeiro: LTC (Original publica-
do em 1973).
Perls, F.; Hefferline, R., & Goodman, P. (1997). Gestalt-terapia
(2a ed.). So Paulo: Summus (Original publicado em 1951).
Pinto, E. B. (2009). Psicoterapia de curta durao na aborda-
gem gestltica: elementos para a prtica clnica. So Paulo:
Summus.
Polster, E., & Polster, M. (2001). Gestalt-terapia integrada. So
Paulo: Summus (Obra original publicada em 1973).
Ribeiro, J. P. (2009). Psicoterapia de curta durao na aborda-
gem gestltica: elementos para a prtica clnica. So Paulo:
Summus.
Rosa, L. (2011). Cont(r)ato teraputico na clnica gestltica.
Aw@re Revista Eletrnica [online], 2(1), 44-49.
Soares, L. L. M. (2009). A Gestalt-terapia na universidade: da
f()rma boa forma. Estudos e Pesquisas em Psicologia
(UERJ), 9(1), 152-163.
Tvora, C. B., Quadros, L. C. T., & Soares, L. L. M. (2009, setem-
bro). A tica como suporte: soluo ou utopia para um mun-
do em transformao? Congressos e Encontros Nacionais da
Gestalt-Terapia Brasileira [online]. Disponvel em: http://
www.igt.psc.br/ojs2/index.php/cengtb/rt/printerFrien-
dly/186/406. Acesso em 16 de dezembro de 2012.
Turato, E. G. (2003). Tratado da Metodologia da Pesquisa Clnico-
Qualitativa. So Paulo: Vozes.
Yontef, G. M. (1998). Processo, dilogo e awareness: ensaios em
Gestalt-terapia (2a ed.). So Paulo: Summus.
Lzaro Castro Silva Nascimento - Acadmico do curso de Psicologia
na Universidade Federal do Par (UFPA). Pesquisador do Ncleo de
Pesquisas Fenomenolgicas (NUFEN) e membro do Grupo de Estudos
em Gestalt-Terapia (GEGT-Belm). E-mail: lazarocastro@live.com
Kamilly Souza do Vale - Mestre em Psicologia e Professora Substituta
da Universidade Federal do Par (UFPA). Especialista em desen-
volvimento infantil e Gestalt-terapeuta. Pesquisadora do Ncleo de
Pesquisas Fenomenolgicas (NUFEN) e coordenadora do Grupo de
Estudos em Gestalt-Terapia (GEGT-Belm). E-mail: kamilly@ufpa.br
Recebido em 07.05.13
Primeira Deciso Editorial em 06.07.13
Segunda Deciso Editorial em 03.09.13
Aceito em 06.12.13
167
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Disfuno Ertil e Fenomenologia: o Corpo Vivido em seus Contornos Diacrticos
DISFUNO ERTIL E FENOMENOLOGIA:
O CORPO VIVIDO EM SEUS CONTORNOS DIACRTICOS
Erectile Dysfunction and Phenomenology: The Lived Body in Its Diacritic Contours
Disfuncin de la Ereccin y Fenomenologa. El Cuerpo Vivido en sus Contornos Diacrticos
FABIANA DE ZORZI
GEORGES DANIEL JANJA BLOC BORIS
Resumo: O objetivo deste artigo discutir a experincia da disfuno ertil sob uma perspectiva fenomenolgica e a linguagem
estabelecida pelo corpo vivido nesta experincia. Para tanto, selecionamos entrevistas fenomenolgicas realizadas e analisadas
com dois entrevistados. O mtodo fenomenolgico empregado foi a anlise dos contornos diacrticos. Como contornos diacrticos,
compreende-se as enunciaes produzidas pelo corpo vivido. Eles do forma experincia e servem como um cdigo de acesso
compreenso do fenmeno. Os dados obtidos por meio da anlise dos contornos diacrticos permitiram explicitar a forma
como cada sujeito vive a experincia da disfuno ertil, sendo possvel contemplar diferentes enunciaes dos sujeitos, como
choros, conversas internas, risos, fungadas, dicotomias de expresses, ressonncia de fonemas, fonemas repetidos, enfim, enun-
ciaes em estado bruto que deram cor e movimento particular a cada entrevista, viabilizando a compreenso da estrutura das
suas experincias. Atravs delas, pudemos considerar que a dificuldade ou ausncia de ereo faz parte de um campo relacional
deste sujeito, em que a coexistncia da parceira fator fundamental no que condiz disfuno ertil.
Palavras-chave: Disfuno ertil; Contornos diacrticos; Subjetividade masculina; Fenomenologia; Merleau-Ponty.
Abstract: The purpose of this article is to discuss the experience of erectile dysfunction through a phenomenological perspec-
tive and language established by lived body in this experience. We used phenomenological interviews conducted and analyzed
with two men. The phenomenological method employed to analyze was the diacritic contours. How diacritic contours, under-
stands the utterances produced by the lived body. They shape the experience and serve as an access code to the understand-
ing of the phenomenon. The data obtained by the analyses of the diacritic contours was enabled to explain the form as each
subject is experiencing erectile dysfunction, which can include different utterances of subjects, as crying, internal conversa-
tions, laughs, sniffles, dichotomies expressions, phonemes resonance, repeated phonemes, finally, utterances in their raw state
which gave particular color and movement to each interview, enabling the understanding of the structure of their experiences.
Through that, we can consider the erection lack or difficulty is part of this personal relational field in which his partner coex-
istence is a fundamental factor in the erectile dysfunctional.
Keywords: Erectile dysfunction; Diacritics contours; Masculine subjectivity; Phenomenology; Merleau-Ponty.
Resumen: El propsito de este artculo es discutir la experincia de la disfuncin erctil bajo una perspectiva fenomenolgica y
el lenguaje establecido por el cuerpo vivido en este experimento. Seleccionamos investigaciones fenomenolgicas realizadas y
analizadas con dos hombres. El mtodo fenomenolgico empleado fue el anlisis de los contornos diacrticos. Como contornos
diacrticos, se comprende los enunciados producidos por el cuerpo vivido. Ellos dan forma a la experiencia y sirven como un
cdigo de acceso a la comprensin del fenmeno. Los datos obtenidos mediante el anlisis de los contornos diacrticos permitie-
ron explicar la forma, la manera como cada sujeto vivencia la disfuncin erctil, siendo posible contemplar distintas expresio-
nes, tales como el lloro, conversaciones internas, risas, lloriqueos, dicotomas de expresiones, resonancia de fonemas, fonemas
repetidos, y finalmente, enunciaciones en el estado bruto que dieron un color y un movimiento particular a cada investigacin,
lo que permitieron la comprensin de la estructura de sus experiencias. A travs de ellas, se considera que la dificultad o la fal-
ta de ereccin hacen parte de un campo relacional de este sujeto, en que la coexistencia de la pareja es un factor fundamental
en consonancia con la disfuncin erctil.
Palabras-clave: Disfuncin erctil; Contornos diacrticos; Subjetividad masculina; Fenomenologa; Merleau-Ponty.
O genital e mesmo o sexual so o todo, porque eles so a carne
(ou seja, no um fenmeno ou um corpo fenomenal, mas um ser de duas faces)
que o que ele e tambm o que ele no e a ser, uma abertura,
uma luz no sentido em que se fala de uma luz na boca do fogo.
(Merleau-Ponty, 2007, p. 435)
1
1
Le gnitalet mme le sexuel sont tout parce quils sont la chair (cest--dire non pas un phnomne ou un corps phnomnal, mais
un tre deux faces, qui est ce quil est et aussi ce quil nest pas et a tre, une ouverture, une lumire au sens o lon parle de lumire
dans les bouches feu (Merleau-Ponty, 2007, p. 435).
168
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Fabiana De Zorzi & Georges D. J. B. Boris
Introduo
Um dos principais museus do mundo, o Museu do
Louvre, em Paris, conta com galerias de esculturas anti-
gas desde 1642, da criao das Salas das Caritides por
Lus XIV. Para quem caminha por entre as galerias de
esculturas da Grcia antiga, possvel contemplar um
grande acervo de bustos de perfeitos corpos masculinos
que poderiam nos remeter virilidade do homem grego.
E dentre eles tambm possvel a apreciao de bustos
de eunucos, que retratam o esprito do homem tomado
pelo amlgama dos impotentes entre os sculos XVII e
XVIII. Os eunucos eram homens castrados, que tiveram
o seu pnis ou seus testculos retirados, ou mesmo am-
bos. De origem grega, o termo eunoukhos pode ser tra-
duzido como guardio da cama. A castrao era uti-
lizada na Grcia antiga para impedir a reincidncia de
estupros ou adultrios, como tambm tornar os serviais
domsticos mais dceis e inofensivos. Sua finalidade
primeira era torn-los sexualmente impotentes. Mesmo
alguns homens que tiveram seus testculos retirados
aps a puberdade, eram capazes de manter seu membro
viril, no entanto, sem ejacular (Duby, Aris, Bottro,
Chaussinand-Nogaret, Corbin, Darmon, Delort,
Guerrand, Lebigre, Lebrun, Le Goff, Moss, Moulin,
Rey, Roche, Salles, Sartre, Sol, Sot, Thbaud,
Veyne & Zeldine, 1991, p. 230).
Em 1587, a Igreja decretou a impotncia masculina
como um impedimento pblico. Eunucos e homens im-
potentes, por quaisquer outros fatores, acabaram sendo
tratados, tanto pela igreja quanto pelo pblico com o
mesmo estigma. O decreto da igreja, pelo Papa Sisto V,
transformou-se em uma faca de dois gumes.
(...) as mulheres que casam voluntariamente com
homens que, sob o ttulo usurpado de marido tornam
o sacramento do casamento em escrnio e se envol-
vem em uma imitao falsa de seus mistrios. Na
realidade, estes casamentos constituem abominveis
refinamentos de deboche e portanto so em si marcas
do pecado e as sementes da condenao (Duby et al,
1991, p. 230)
2
.
Como bem contextualiza Berlinck (2008), (...) a reco-
nhecida existncia da dor moral faz com que o fenmeno
ultrapasse em muito o interesse meramente fisiolgico
(p. 63). Os questionamentos do homem que sofre com
disfuno ertil (DE) vo alm do corpo em seu senti-
do restrito, atingem este homem como um todo, atraves-
sando tambm as relaes que estabelece. Para Freitas
(2011), a partir de Merleau-Ponty, adoecer no significa
2
...les femmes pousent volontiers ces hommes qui, sous le titre
usurp de mari tournent le sacrement du mariage en drision
et se livrent une imitation fallacieuse de ses mystres. En
realit, ces mariages constituent dabominables raffinements
de dbauche et portent en eux la marque du pch et le germe
de la damnation.
um acometimento exclusivamente somtico, mas uma
forma de estar no mundo, que inclui a dimenso corpo-
ral no apenas como efeito, mas como fonte de sentidos
(p. 154). A doena retira o homem dos movimentos aos
quais est habituado e o coloca na busca do gesto expres-
sivo. No caso destes homens sobre os quais se debruou
a pesquisa, eles buscavam um tratamento que trouxesse
o funcionamento de seus corpos de volta.
Embora alguns homens talvez com mais informa-
o e condies de acesso ao tratamento consigam
ser ajudados, muitos ainda hesitam em buscar ajuda
por temerem ser estigmatizados socialmente. A disfun-
o ertil considerada um estigma social (Falconnet
& Lefaucher,1975; Duby et al, 1991). Os homens que a
experienciam muitas vezes so chamados de impo-
tentes, por no conseguirem dar prazer a uma mulher,
ou mesmo engravid-la (Cavalcanti & Cavalcanti, 1992;
Rodrigues Jr, 2001).
A noo de virilidade estigmatizada, bem tecida pe-
las questes de gnero, que delineiam o conflito entre
as inevitveis quebras de paradigma da subjetivao do
masculino e o rtulo de virilidade assinado pelos homens
so partes de um mundo vivido. Um mundo vivido nas
construes relacionais, pelas quais no existe virilida-
de - um homem no nasce homem, ele se faz homem e
a noo de virilidade precisa ser constantemente admi-
nistrada (Falconnet & Lefaucheur, 1979; Kimmel, 1996;
Boris, 2002).
Segundo o Diagnostic and Statistical Manual V
(DSM-V), por disfuno ertil entende-se a combinao
ou apenas um dos sintomas a seguir, por pelo menos seis
meses: dificuldade na obteno de uma ereo durante a
atividade sexual; dificuldade em manter uma ereo at
a concluso da atividade sexual; e/ou diminuio acen-
tuada na rigidez ertil, que interfere na atividade sexu-
al (APA, 2012). Ter dificuldades eventuais em atingir a
ereo no considerado disfuno ertil. Conforme di-
versos urologistas, os homens que mais apresentam di-
ficuldade em um bom prognstico do tratamento de dis-
funo sexual so os que sofrem de disfuno ertil de
ordem psicognica. Ainda, segundo um estudo clnico
realizado com homens diagnosticados com disfuno
ertil, Grassi (2004) conclui que
(...) geralmente eles no so impotentes, nem tm DE
em suas masturbaes. Quem j ouviu a descrio de
um impotente a respeito de como se masturba, do que
lana mo para atingir a ejaculao, sabe que, nesse
preciso instante, nada o diferencia do mais viril dos
homens. O problema operar esta fantasia com um
outro, a tudo se complica, trata-se de um problema
do amor (p. 258).
169
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Disfuno Ertil e Fenomenologia: o Corpo Vivido em seus Contornos Diacrticos
1. O corpo vivido e a coexistncia com o feminino:
possveis contribuies de Merleau-Ponty dis-
funo ertil
Na Fenomenologia da Percepo, Merleau-Ponty
(1945/2006), um fenomenlogo francs que desenvol-
veu um captulo inteiro sobre a questo do corpo e da
sexualidade, traz algumas contribuies para o tema
fundamental deste artigo. Para ele, quase sempre con-
cebe-se a afetividade como um mosaico de estados afe-
tivos, prazeres e dores fechados em si mesmos, que no
se compreendem e s podem explicar-se por nossa or-
ganizao corporal (p. 213-214). Ou seja, para se com-
preender uma experincia, fundamental considerar o
entrelaamento entre o vivido e o corpo. Neste captu-
lo, Merleau-Ponty (1945/2006) destaca que existe uma
compreenso ertica que no da ordem do entendi-
mento, (...) o desejo compreende cegamente, ligando
um corpo a um corpo (p. 217). Percebemos que, nesta
passagem, Merleau-Ponty aponta para um desejo e para
uma experincia de corpo em relao, para uma inter-
corporeidade. O que se torna evidncia no a consci-
ncia, mas a experincia do meu corpo assediando ou
sendo assediado por outro corpo.
Com a noo de corpo vivido de Merleau-Ponty, pos-
svel sairmos de um olhar dicotmico, nos dando subsdio
para compreender um corpo em relao e que constitu-
do por mltiplos contornos (Merleau-Ponty, 1966/1996).
Merleau-Ponty (2001/2006) sugere uma intersubjetivida-
de sobre as formas de se relacionar no s com outrem,
mas sempre levando em considerao a sua relao com o
seu prprio corpo, que no s um corpo sensorial, mas
tambm um corpo portador de tcnicas, estilos e condu-
tas (p. 542) atravessado por uma culturalidade que lhe
fornece certa fisionomia.
No decorrer do desenvolvimento de sua noo de in-
tersubjetividade, Merleau-Ponty compreende que a per-
cepo no apenas uma recepo, ela envolve coexistn-
cia e apreenso da intencionalidade de outrem (Coelho Jr,
2003). No se resume a uma construo no sentido inte-
lectual, porm, a uma cooperao. Quando nos referimos
a mltiplos contornos, nos deportamos s expresses s
quais o corpo capaz de manifestar, e estas s coexis-
tem a partir de sua relao com o mundo e no mundo.
Merleau-Ponty formula seu conceito de intersubje-
tividade, no sentido de uma experincia perceptiva co-
mum, de uma co-operao, e concebe o mundo percebido
como aquele das imbricaes inevitveis entre corpos e
coisas, corpos e outros corpos (Coelho Jr, 2003). Trata-se
de uma impossibilidade de pensar-se em uma realida-
de objetiva. O outro que percebemos no o outro com
tal, mas como eu o percebo na minha coexistncia com
ele. A percepo um movimento ativo, no sentido de
que cada sujeito um criador de sentidos, implicando e
sendo implicado pela percepo de outrem. Com as pr-
prias palavras de Merleau-Ponty (2001/2006):
(...) a percepo de outrem no apenas a operao dos
estmulos exteriores, mas tambm depende em grande
parte do modo como estabelecemos nossas relaes
com os outros antes dessa percepo: ela tem razes
em todo o nosso passado psicolgico; cada percepo
de outrem nunca mais que uma modalidade momen-
tnea. Portanto, no se trata de pura recepo de certo
contedo que seria dado tal qual, mas h sempre uma
relao mais profunda, relao de coexistncia com
o aspecto de outrem que se apresenta (p. 545-546).
Compreender a experincia vivida da DE, portanto,
tambm implica em compreender a noo de estrutura
configurada por Merleau-Ponty (1945//2006). A disfun-
o ertil jamais ir acontecer, seno em coexistncia
com outrem, condio esta, tambm corroborada pelos
estudos clnicos de Grassi (2004). A noo de corporeida-
de toma lugar do corpo meramente objetivo e ele ganha
uma compreenso que se estende para alm do sujeito.
O nosso objetivo aqui converge ao de Merleau-Ponty, no
sentido de olhar para o corpo como experincia, com seus
mltiplos contornos, e na linguagem estabelecida pelo
corpo vivido nesta experincia. Para tanto, recorremos
a Merleau-Ponty (1995/2006), a sua obra A Natureza, em
que o autor aponta para uma linguagem tcita, em que
a forma com que algo expresso, pode ser compreendi-
da por si mesma, ao passo em que tento decodificar os
seus movimentos.
Um rgo mvel dos sentidos (o olho, a mo) j uma
linguagem porque uma interrogao (movimento) e
uma resposta (percepo como Erfllung
3
de um pro-
jeto), falar e compreender. uma linguagem tcita: a
percepo de outrem no-lo mostra bem, em que temos
a apreenso de uma fisionomia moral (assinatura,
jeito, semblante) sem o conhecimento das categorias
que parecem estar subentendidas nessa compreenso:
o dado aparece registrado num certo cdigo, com base
num certo sistema [...] assim como as palavras ouvidas
me aparecem contra o fundo de um certo sistema fo-
nemtico e semntico, que ainda no conheo posto
que a lingstica est por fazer (p. 341-342).
Assim como um pintor projeta sua expressividade na
tela, a forma como o sujeito expressa-se acerca da sua
experincia vivida pode fornecer-nos importantes da-
dos para a compreenso da DE como fundamentalmente
uma dialtica. Alhures, Merleau-Ponty (1962/2007) ex-
plica que o corpo,
(...) por seus campos sensoriais, por toda sua organi-
zao, ele est como predestinado a se conformar aos
aspectos naturais do mundo. Mas como corpo ativo,
medida que ele capaz de gestos, de expresso e enfim
3
realizao, conforme Merleau-Ponty.
170
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Fabiana De Zorzi & Georges D. J. B. Boris
de linguagem, ele se reenvia sobre o mundo para o
significar... os fonemas, sem ter ainda um sentido por
si mesmos, eles desde j possuem valor diacrtico, eles
anunciam a constituio de um sistema simblico
capaz de redesenhar um nmero infinito de situaes.
Eles so uma primeira linguagem. E reciprocamente
a linguagem pode ser tratada como uma gesticulao
de tal forma variada, precisa, sistemtica, e capaz de
retomadas to numerosas, que a estrutura interna do
enunciado no pode finalmente convir seno a uma
situao mental qual ele responde e da qual se torna
signo sem equvoco (p. 287).
Tomaremos como ponto de partida o sentido de fone-
ma como o valor que distingue o som da voz humana, de
expresso e a forma de exprimir algo (Houaiss, 2001). O
diacrtico, por sua vez, uma acentuao que confere um
novo significado para o fonema. Do grego, vem do verbo
diacrino, formado do elemento grego dia: atravs de, por
meio de; e crino: separar, decidir, distinguir, discernir.
Poderamos, portanto, compreender o diacrtico aqui,
como a acentuao dada ao fonema, a acentuao que
cada sujeito remete s suas expresses (Houaiss, 2001).
Tanto quanto a fala, elucida Merleau-Ponty (1945/2006),
tambm o sotaque, o tom, os gestos, a fisionomia, so
importantes expresses para o alcance de sua manei-
ra de ser fundamental. Para o alcance da compreenso
do corpo vivido na disfuno ertil, faremos uso do re-
corte de duas entrevistas fenomenolgicas da pesquisa
Os Mltiplos Contornos do Corpo Vivido na Disfuno
Ertil: uma Perspectiva Fenomenolgica (Projeto CAAE
0291.0.037.000-11, aprovado em 03/08/11 pelo Cotica/
Unifor) acessando a forma, no sentido diacrtico, com que
Jean e Claude enunciam as suas experincias, por meio
de seus mltiplos contornos (Merleau-Ponty, 1966/1996;
Moreira, 2004).
Compreendemos a forma circunscrita pelos sujeitos
na entrevista, como um cdigo de acesso, em que, a par-
tir de Merleau-Ponty (1945/2006),
A expresso esttica confere a existncia em si quilo
que exprime, instala-o na natureza como uma coisa
percebida acessvel a todos ou, inversamente, arranca
os prprios signos a pessoa do ator, as cores e a tela
do pintor de sua existncia emprica e os arrebata
para um outro mundo (p. 248).
Trata-se de compreendermos a DE, tambm, como
uma linguagem, como uma das formas de tangencias do
corpo vivido, discernido e atravessado por sua existn-
cia, ao mesmo nvel da obra de arte, ou da palavra falada.
Devido postura da primeira autora, como gestalt-
-terapeuta, estar intimamente vinculada ao processo da
pesquisa, para a demarcao das expresses e os tons
enunciantes, ela optou pelo uso das noes de experi-
ncia e percepo estticas sugeridas por Alvim (2007).
Alvim (2007) considera a experincia do terapeuta uma
experincia esttica, que busca a verdade ou essncia do
objeto, assim como dada imediatamente no sensvel, e
que toma como ponto de partida a corporeidade (p. 135).
Ela acredita que a relao entre corporeidade e experin-
cia esttica acontea na experincia do corpo como prin-
cipal veculo de sua expresso.
necessrio que o pesquisador, como enunciatrio,
olhe para o bruto da experincia, olhe ao sujeito enun-
ciador com os olhos do sensvel, ou seja, de uma forma
admirativa, atravs de uma percepo atenta e interes-
sada e busque na expresso do corpo vivido, atravs de
uma percepo esttica, a matria-prima para o acesso
ao expresso, ao que o sujeito enunciador capaz de im-
primir na entrevista. Alvim (2007) prope que se utili-
zem critrios estticos para o alcance do objeto esttico.
A transformao requer do pesquisador um olhar que
se aproxime de uma experincia esttica (p. 140), como
do admirador diante de uma obra de arte em relao
sensao: brilho, harmonia, fluidez, elasticidade das
figuras em sua relao com o fundo (p. 140).
Conforme vimos anteriormente, a forma que as ex-
presses desenvolvem nos remete mais intimamente ao
significado das enunciaes. E, neste sentido, importan-
te ressaltar uma nota de agosto de 1959, em que Merleau-
Ponty (1964/2009) esclarece que, a analogia dentre codi-
ficao e decodificao vlida, porm sob a condio
de discernir a fala e os seus sistemas diacrticos com-
preensveis sob a informao (p. 189). Neste sentido, a
partir da fenomenologia de Merleau-Ponty (1964/2009)
e com um refinamento em Alvim (2007), estas expres-
ses esto nomeadas aqui, como contornos diacrticos
(De Zorzi, 2012). Esta no uma expresso usada por
Merleau-Ponty, mas foi assinalada aqui como forma de
ratificarmos a experincia bruta que acompanha as ex-
presses, ou ainda, a acentuao dada por cada sujeito
no percurso da entrevista. Os contornos diacrticos so
a composio dos gestos, silncios, tons de voz, risos e
enunciaes deixadas como rastros ou imprimidas pelo
sujeito enunciador, que ainda no esto na ordem do dar-
-se conta e que do nfase e significao ao discurso.
Apesar de a forma no ser o foco central deste ar-
tigo, ela atravessou todo o escopo terico que o susten-
ta, e teve uma implicao direta na coleta e anlise dos
dados da pesquisa. Foram selecionados doze homens
com diagnstico de disfuno ertil, em parceria com
uma mdica urologista que realizou o primeiro contato
com eles. A coleta de dados deu-se a partir de entrevis-
ta fenomenolgica com a primeira autora, fazendo uso
de uma pergunta disparadora: Como para voc viver/
conviver com a disfuno ertil?. Aps a escuta da for-
ma, o delineamento dos contornos emergentes, subse-
quentes aos contornos significantes, foi possvel uma
compreenso dialtica, a qual cedeu um recorte ilus-
trativo ao objetivo deste artigo: discutir a experincia da
disfuno ertil sob uma perspectiva fenomenolgica e
171
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Disfuno Ertil e Fenomenologia: o Corpo Vivido em seus Contornos Diacrticos
a linguagem estabelecida pelo corpo vivido nesta expe-
rincia. Partiremos agora, para a compreenso e anlise
dos contornos diacrticos que sustentam a entrevista fe-
nomenolgica de Jean e Claude.
2. A anlise dos contornos diacrticos na experincia
do corpo vivido na disfuno ertil
As partes do texto com destaque em itlico referem-se
s falas dos sujeitos enunciadores. Nestas falas, alguns
contornos diacrticos estaro sinalizados por sublinha-
do quando a nfase tiver uma atenuao abaixo do que
vinha sendo expressado.
A postura da pesquisadora variou de acordo com a
forma com que os sujeitos enunciaram-se. Alguns ti-
nham um discurso em terceira pessoa, como no caso
de Jean. A maior parte do discurso dele foi enunciada
como se o que ele vinha falando no fizesse parte dele.
Quando questionado por ela, para entender a quem ele
estava fazendo referncia com ele, o cara, a gente,
e a um reposicionamento para primeira pessoa, Jean se
perdia em seu discurso, sendo preciso retomar a per-
gunta inicial.
Jean um homem casado, de 53 anos, tem dois fihos
e corretor de imveis. A expresso do que sente vis-
vel de muitas formas. H uma intensidade no sentir, em
expressar o que pensa utilizando diversas linguagens
gestuais. Quando h indignao, esta expressa com as
mos, porm, no s com as mos, mas toda a extenso
do brao, a voz, o olhar, enfim, o corpo todo se compe
e trabalha numa coerncia daquilo que est sendo dito.
Ao longo da entrevista de Jean, pudemos perceber
seus contornos diacrticos por meio de movimentos mui-
to intensos, em que ele contorna diversas situaes com
risos, gargalhadas, choros, reverberaes e dicotomiza-
es de palavras. Estas acentuaes, estes contornos que
do cor e movimento ao discurso de Jean, bem ilustram
o quadro da sua experincia da DE, no sentido de que
pouco acentuam uma fisionomia sexual ou demarcam a
ausncia de uma libido que repouse sobre as potncias
internas do sujeito orgnico (Merleau-Ponty, 1945/2006,
p. 215). Pudemos constatar em Jean um esquema corporal
em perfeito funcionamento, porm, com uma opacidade
significativa na sexualidade.
Jean, apesar de uma intensidade na expresso de seus
sentimentos, bem como em enunciar as suas idias, e as
suas palavras, no consegue ter erees naturalmente,
sem o uso do medicamento. Sem a medicao, suas ere-
es acontecem a cada quatro ou cinco meses. Para ele,
o sexo se resume a muito pouco perto de toda a convi-
vncia conjugal, tomadas de decises e cumplicidade do
casal acerca das questes do dia-a-dia. No recorte do de-
poimento a seguir, foi possvel constatar uma diminui-
o muito grande no tom de sua voz, que at ento vinha
um tanto enrgico:
(...)sexo uma hora... uma hora ou duas horas por
semana... a gente no passa o tempo na cama, fazendo
sexo. Ento, o sexo, ele se torna uma coisa... tu vai
acabando esquecendo, n, na verdade. (...) A gente vai
acabando esquecendo, na verdade, porque (fungada)...
haaa, e...no o aqui... no o, o... ... na parceria,
no relacionamento, o sexo no o primeiro lugar...
o primeiro lugar t do lado, t brincando, t rindo,
t... vendo que os guris vo bem, as coisas fluindo,
tudo certinho, o sexo vem depois, porque a gente no
passa 24 horas na cama, n?
Tanto a forma, bem como a fluidez nas expresses
de contedo de Jean, so claramente identificadas, o que
tambm se torna notrio na relao dialgica da pesqui-
sadora com Jean. Pouco foi preciso que ela interviesse no
decorrer da entrevista. Contrariamente postura adotada
na entrevista com Jean, o movimento da pesquisadora,
em relao a Claude
4
esteve em incentivar constantemen-
te e repetidas vezes, as frases interrompidas e desconti-
nuadas, e, em grande parte, fazendo uso de intervenes
de eco ou feedbacks para estimular a continuidade de
reflexes. Aps algumas reflexes, Claude se deu con-
ta que o sentimento de no ter certeza de que, de fato,
a mulher esteja sentindo prazer, grande responsvel
pelo reflexo de seu desejo e consequentemente, em seu
(dis)funcionamento ertil. Claude ressalta que, mesmo
com o remdio, existem momentos em que no funcio-
na, relacionando com aspectos cotidianos de stress e
preocupaes:
S na base do remdio, se no... E assim mesmo, aquele
remdio que a doutora me deu t,...ela me disse que
me dava um mais forte, n. S que num taa fazendo
muito efeito, tambm..... s vezes eu vou, j preocu-
pado com uma coisa, outra. (...)duns tempos pra c,
duns meses pra c, comeou a... a piorar um pouco.
(...) Venho me vendo, que se eu no usar o remdio, at
eu usando o remdio, eu tenho medo s vezes estar
numa relao, e no...
A questo da medicao aponta para uma nfase so-
bre o aspecto fisiolgico da DE. Neste trabalho, buscamos
desconstruir esta idia do aspecto fisiolgico como ni-
co, colocando-o como um dos aspectos que constituem
esta experincia to difcil para estes homens. Apesar de
falarmos de algo da ordem da sensao, do prazer, pode-
mos recorrer Merleau-Ponty (1945/2006) quando afir-
ma que no h definio fisiolgica da sensao e, mais
geralmente, no h psicologia fisiolgica autnoma por-
que o prprio acontecimento fisiolgico obedece s leis
biolgicas e psicolgicas (p. 31). Ou seja, esta sensao,
este prazer, est em um corpo, est no mundo e na re-
lao com os outros. Parece haver uma dificuldade dos
4
Claude tem 51 anos, casado, tem um enteado e um filho, e trabalha
viajando como motorista de caminho.
172
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Fabiana De Zorzi & Georges D. J. B. Boris
homens em reconhecer que a DE vai alm de algo pura-
mente biolgico, sendo a medicao um bom recurso para
confirmar tal compreenso.
importante ressaltar que, no caso de Claude, as re-
laes sexuais com a esposa aconteciam e a maior difi-
culdade com as erees era com as outras mulheres. Sua
esposa sequer tinha o conhecimento que Claude fazia o
tratamento. Podemos afirmar tambm que esta uma
experincia que no puramente individual, ela est no
mundo, ou seja, como o prprio Claude aponta, est liga-
da a aspectos do seu mundo vivido, de sua mundaneida-
de. So aspectos que vo alm do corpo, ou melhor, esto
ligados ao carter intercorpreo da experincia vivida.
Apesar de o motivo de Claude estar nesta entrevista ser a
dificuldade de ereo, seu relato ficou focado estritamen-
te s dificuldades conjugais, refletindo sobre o possvel
motivo da falta de interesse sexual da esposa. Acabou se
envolvendo com outras mulheres, e, inicialmente, mani-
festou estar evitando o sexo fora do casamento por medo
de falhar, e o que estas outras mulheres pudessem comen-
tar a seu respeito por no ter ereo.
O medo de falhar ou mesmo o que os outros podem
dizer ao tomarem conhecimento desta falha, foi um
dado que ganhou contorno dentre muitos dos homens
entrevistados. Claude afirma que:
(...) nem... nem t saindo mais porque eu... eu fiquei com
medo, n. Chegar na hora H e no dar certo... Eu j
vou com medo de passar vergonha, tudo... Medo.... ah...
coisa da minha cabea...... eu tenho medo, mesmo...
porque geralmente essas outras que eu tenho, que eu
saio a fora, tudo conhecida, n, ento,... sabem que
eu sou casado e tudo... e comeam a falar e da piora a
situao (...) fica fofoqueando pra outra, contando oh,
fulano l no...(...) no funcionou, no deu.(...) Passa
ou te v e j fala... no... fulano saiu com fulana e
no... chegou l na hora H e no... (PAUSA LONGA).
(...) No... no deu, no funcionou...
O no querer da parceira aflige Claude. Ao tomar
conhecimento que a esposa no quer ter relaes, tam-
bm perde o interesse em procur-la e logo pensa em sair:
Inclusive a gente at... s vezes a gente conversa, mas
no adianta, ela no... no quer, no... t com dor de
cabea, ou no t bem, e eu tambm no procuro, eu
sei que... se no tem interesse dela, no me interessa
procurar ela tambm.(...)... tu vai procurar, t com
dor de cabea, t cansada...(...)Eu sei que no... no
me faz bem isso a. Logo j penso em sair, procurar
outra coisa, n...
Embora no tenha problemas significativos de ereo
com a sua esposa, a disfuno se manifesta com as ou-
tras. Ao questionar a ele, o que seria outra coisa, Claude
continuou seu relato reflexivo:
Mas depois a no... No fcil, bem complicado isso
da (...) eu me sinto mal s vezes se eu t aqui procu-
rando outra, com ela em casa, entende?(...) eu fico com,
tipo um sentimento de culpa.(...) bah, tu tem mulher
em casa, que que tu tem que ficaaa... (...) E agora, se
j vou fora de casa, eu vou naquele pensamento na
cabea e no fim no... Ento, nem... nem t saindo
mais porque eu... eu fiquei com medo, n. Chegar na
hora H e no dar certo.
Embora o relato de Claude acuse uma postura de que-
rer o prazer, mesmo que seja fora de casa, ele manifesta
sentir culpa e no ter ereo, mesmo com o auxlio do
medicamento. Todos os relatos demonstram que a rejeio
feminina, ou o baixo desejo na relao sexual ecoam des-
favoravelmente na experincia dos homens, no apenas
acentuando a manifestao da disfuno ertil naquela
relao, mas repercutindo tambm em um projetar futuro.
A DE atravessa de forma marcante a experincia
dos homens que foram entrevistados. Diversos relatos
foram ilustrativos dessas experincias e nos ajudaram
a compreender o que se passa na experincia desses
homens e destes corpos produtores de significaes.
Diante desse sintoma que se expressa, alguns homens
expressaram o desejo de superar esta questo, apontan-
do diferentes vias de superao. Claude, apesar de no
indicar como uma forma de superao direta pontua
a confiana na parceira como condio fundamental
para a ereo acontecer:
... a relao que nem... uma mulher... pegar uma mu-
lher fora que no, a tu no sente carinho nenhum, al
s... fingimento, d pra notar que tudo fingimento
(...)E tu sabe que eu acho que isso a t me... o meu
maior medo disso a, tambm ... me acontece s vezes
fico com medo, meu maior medo de falhar por causa
disso da, se no tem da outra parte, tambm j fica
meio... (Claude)
Claude se refere confiana de ter certeza do que a
parceira est sentindo, questionando se o contato e o
encontro, de fato estejam acontecendo. Por outro lado, ele
tambm se refere confiana, no caso de no funcio-
nar, como uma forma, como bem ressaltam Fernandes
& Cato (2008), que traz a ter certeza de que a parceira
ir cuidar, responsabilizar-se e compartilhar sua sexu-
alidade (p. 40).
Vai com mais confiana vai ali que tu sabe que se der
um problema que no funcionar tu no vai... ela no
vai te, falar pra ningum, no vai sair espalhando,
entre os dois s. No relacionamento fora, j com
certeza, a mulher sai espalhando pro outro... (Claude).
A experincia da DE ainda possibilitou a Claude pro-
duzir um movimento de retorno a tudo o que a esposa
173
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Disfuno Ertil e Fenomenologia: o Corpo Vivido em seus Contornos Diacrticos
passou (sic) ao lado dele, e a como ele gostaria que fos-
se esta relao:
Que fosse que nem um casal normal, n. S que d
pra notar que ela no tem mais interesse, no adianta
no.(...) Deu pra perceber a mudana inclusive da parte
dela, j que qual a mulher que vai gostar de estar na
cama com um cara que... t sempre bbado?(...)... d
pra notar o desinteresse dela, j, n? ento....... Isso a
ruim, eu me sinto mal com isso a, tambm, mas...
fazer o que? Eu no posso obrigar... (...) Eu queria que
em casa fosse diferente, mas no d, no adianta...
(Claude)
Freitas (2011) associa o adoecer a um estar no mundo,
que, neste caso, incluiria a dimenso corporal acometida
pela disfuno ertil como fonte de sentidos. A DE coloca
os homens diante de suas limitaes de envolvimento,
da dificuldade em construir uma intimidade ou mesmo
de ter uma relao sexual sem nenhum tipo de envolvi-
mento afetivo, e isto os faz refletir acerca de suas limita-
es, tanto quanto, em como super-las.
Por meio de expresses produzidas por seu corpo,
por sua vez, Jean sinaliza por entre uma atenuao da
tonalidade de suas cordas vocais, algo referente a este
equilbrio, questionando-se, e dando continuidade sua
reflexividade:
... fora do contexto, essa... essa falta de virilidade,
claro, tu carrega todas... todas aquelas atitudes que
a gente tomou antes, pra dizer poxa, como que
eu corrijo isso?, bom eu preciso de... preciso de me
hormonizar, outra palavra que voc vai aprender
comigo (RISOS). Criar hormnios novamente, pra
que a coisa comece a fluir novamente. (...) De cabea,
de... de corpo, de fsico, de... ... de se... de equil-
brio. Entre corpo, fsico, esprito, cabea. preciso
equilibrar essas coisas, j muito de um lado, pou-
co de outro, tu no consegue fazer a coisa fluindo
normal, porque o normal o equilbrio, ... sabe, o
normal da vida (fungada), assim que eu penso, o
equilbrio ... (Jean)
At aqui, as falas de Jean sugerem que, enquanto os
sujeitos estiverem presos a um aparato sexual que no
funciona e que precisa ser revisto, estaro implicados a
uma perda de movimentos. Esta perda de movimento diz
respeito a um no assistir a todos os contornos de seu
corpo vivido que evocam o equilbrio de um funciona-
mento global. Relembrando Merleau-Ponty (1966/1996),
focar um nico contorno, significaria sacrificar a sua
profundidade. Podemos, compreender, ento, recorrendo
a Moreira & Bloc (2012), que a DE pode ser corroborada
como modo de ser global do sujeito, como funcionamen-
to que, ao perder o movimento, est fadado a um quadro
psicopatolgico (p. 8).
O corpo produtor de significaes, tambm abertu-
ra, tambm um vir a ser, e requer um funcionamento
global em equilbrio, em que, se tratando da experin-
cia da DE, tal funcionamento global no pode ser pensa-
do sem a coexistncia da parceira. E neste sentido que
Jean finaliza a sua fala, e a nossa entrevista, quando o
questiono acerca da sua manifestao em pouco viven-
ciar sua sexualidade, mesmo com a possibilidade que os
medicamentos oferecem, hoje:
Exatamente... mesmo com a possibilidade... porque...
agora os ltimos tempos... algumas mudanas, de ir
pro mdico, da academia, a aposta que no h... que
no precise mais do medicamento, entende? nisso
que estamos apostando. Ns deixamos de fumar juntos,
ns... ahh... vamos a academia juntos, sabe... a gente
est apostando nessa, nessa, nessa, nesse fator, apos-
tando na parceria, na cumplicidade da coisa. (Jean)
Esta ltima fala de Jean indica que, para obter pra-
zer em um relacionamento, se requer uma convivncia,
por meio da qual, o casal se permita experienciar situa-
es diversas, inclusive, as de desprazer. Como destacam
Fernandes & Cato (2008): O prazer aprendido e man-
tido de acordo com o investimento que empenhamos em
uma relao (p. 41). A DE possibilita ao casal a apreenso
de um relacionar-se de forma diferente, como pudemos
acompanhar com cada um dos sujeitos entrevistados.
Diante da superao dicotmica (do entrelaamento
do corpo e a alma), e da experincia clnica, a linguagem
no foi tomada aqui apenas como representao mental,
mas como extenso das capacidades expressivas do cor-
po, assim como o gesto, com as devidas nfases na co-
municao, do entre da relao. A partir da tradio do
mtodo fenomenolgico (Giorgi, 1985) e dos sistemas dia-
crticos de Merleau-Ponty (1964/2009), tratou-se a anlise
fenomenolgica como uma busca da escuta da forma,
com a imbricao entre gesto e fala, ou seja, a linguagem
verbal corprea e expressiva, tomada a partir do enten-
dimento do corpo vivido em seus contornos diacrticos.
Consideraes finais
Conforme pudemos conferir, a forma da enuncia-
o torna compreensvel a estrutura do funcionamento
global de cada corpo vivido. Quando se utiliza uma an-
lise baseada nos contornos diacrticos, um universo ain-
da mais amplo de significaes se abre, por se enfatizar
no apenas o contedo, mas tambm a forma como este
contedo manifesto. Compreender esta forma auxilia
o pesquisador a compreender quais as enunciaes esto
mais carregadas de expresso/ expressividade. Trata-se
de uma aproximao ao sentido e intensidade dos fo-
nemas. Estes que, por sua vez, ganham um carter dia-
crtico, dando contornos expressividade. Cada expres-
174
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Fabiana De Zorzi & Georges D. J. B. Boris
sividade anuncia-se como um cdigo de acesso, ou seja,
perceber outrem decifrar uma linguagem (Merleau-
Ponty, 2006/2001, p. 551). Cabe ao pesquisador, a tarefa
de olhar para estes cdigos de acesso, to singulares a
cada um, de uma forma atenta e admirativa.
(...) os signos so essencialmente diacrticos. (...) Cada
um deles exprime somente por referncia a uma certa
aparelhagem mental, a um certo arranjo de nossos
utenslios culturais e, todos juntos, so como um for-
mulrio em branco que ainda no preenchemos, como
os gestos de outrem a visar e circunscrever um objeto
do mundo que no vejo (Merleau-Ponty, 1960, p. 143).
5
Trouxemos aqui, portanto, uma explorao da for-
ma, os contornos diacrticos de Jean e Claude, com o
intuito de acessar a experincia que se remete aos seus
fundos constitutivos. Os dados obtidos por meio da an-
lise dos contornos diacrticos permitiram explicitar a for-
ma com que cada sujeito trouxe o fenmeno da disfun-
o ertil, viabilizando uma compreenso da estrutura
da experincia. Em outras palavras, foi dada uma maior
ateno s enunciaes produzidas pelos mltiplos con-
tornos do corpo vivido, como forma de acessar o expres-
so genuinamente.
A fenomenologia de Merleau-Ponty nos auxiliou a
compreender a DE atravs da dialtica entre os mltiplos
contornos do corpo vivido. De uma forma geral, pudemos
compreender a experincia da DE como uma situao de
mobilidade para o homem. E nos contornos diacrticos foi
possvel contemplar diferentes enunciaes entre os su-
jeitos, como choros, conversas internas, risos, fungadas,
dicotomizao de palavras, ressonncia em fonemas, fo-
nemas repetidos, enfim, enunciaes em estado bruto que
deram cor e movimentos particulares a cada entrevista.
Pudemos compreender que o corpo est intrinseca-
mente aderido ao mundo, no apenas como um corpo que
percebe, mas com uma abertura ao mundo, como um cor-
po que sente e se faz sentir, que toca e tocado, que v e
visto, atravs de processos relacionais consigo e com os
outros. H um espao em que os dois se reconhecem, po-
rm, o eu permanece um eu e o outro permanece o outro.
A sexualidade e o desejo so a intencionalidade que ganha
forma e que repousa sobre este esquema corporal. O su-
jeito no pode ser considerado em si, como um global, e
exatamente por isto que emerge esta abertura ao mundo,
como a busca de uma melhor forma, de um equilbrio.
Pudemos, ainda, pensar o corpo vivido como algo que
atravessado por mltiplos contornos que constituem a
experincia da DE. O corpo possui tanto um carter ob-
jetivo quanto subjetivo, o que afasta uma viso de partes
5
les signes, comme dit Saussure, sont essentiellement diacritiques
(...) Chacun deux nexprime que par rfrence un certain outillage
mental, un certain amnagement de nos ustensiles culturels, et ils
sont tous ensemble comme un formulaire en blanc que lon na pas
encore rempli, comme les gestes dautrui qui visent et circonscrivent
un objet du monde que je ne vois pas.
extrapartes fragmentada, ou mesmo de uma subjetivida-
de pura (Merleau-Ponty, 1945/2006). Podemos considerar
que a dificuldade ou ausncia de ereo faz parte de um
campo relacional deste sujeito. Assim como tambm po-
demos corroborar com Merleau-Ponty (2001/2006), no
sentido de que uma alterao em um corpo vivido pode
implicar na mudana de outro corpo vivido, pois este
um corpo em relao e que faz parte do mundo como in-
tercorporeidade. A coexistncia da parceira fator fun-
damental no que condiz disfuno ertil.
Referncias
Alvim, M. B. (2007). Experincia esttica e corporeidade: frag-
mentos de um dilogo entre gestalt-terapia, arte e fenome-
nologia. Estudos e Pesquisas em Psicologia (UERJ), 7(1),
138-146.
APA American Psychiatric Association (2012). Diagnostic and
statistical manual of mental disorders (5 th ed.). consulta
on-line http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx
Berlinck, M. T. (2008). Psicopatologia Fundamental. So Paulo:
Escuta.
Boris, G.D. J.B. (2002). Falas de homens: A Construo da
Subjetividade Masculina. So Paulo: Annablume.
Cavalcanti, R. & Cavalcanti, M (1992). Tratamento Clnico das
Inadequaes Sexuais. So Paulo: Roca.
Coelho Jr, N. E. (2003). Da intersubjetividade intercorporei-
dade: contribuies da filosofia fenomenolgica ao estudo
psicolgico da alteridade. Psicologia USP, 14(1), 185-209.
De Zorzi, F. (2012). Os Mltiplos Contornos do Corpo Vivido
na Disfuno Ertil: uma Perspectiva Fenomenolgica.
Dissertao de Mestrado, Fortaleza, UNIFOR.
Duby, G., Aris, P., Bottro, J., Chaussinand-Nogaret, G., Corbin,
A., Darmon, P., Delort, R., Guerrand, R., Lebigre, A., Lebrun,
F., Le Goff, J., Moss, C., Moulin, A., Rey, M., Roche, D.,
Salles, C., Sartre, M., Sol, J., Sot, M., Thbaud, F., Veyne,
P.& Zeldine, T. (1991). Amour et sexualit en Occident. Paris:
Socit dditions Scientifiques.
Falconnet, G. & Lefaucher, N. (1975). La fabrication des mles.
Paris: ditions du Seuil.
Fernandes, C.C. & Cato, E. C. (2008). O prazer sexual do ho-
mem e da mulher. Psique Especial Cincia & Vida, 9, 38-41.
Freitas, J. (2011). Corpo e Subjetivao: reflexes sobre uma pos-
svel contribuio da fenomenologia psicologia. Em: Maria
V.F. Cremasco (Org). O sofrimento humano em perspectiva.
Enfoques psicolgicos (p. 143-158). Curitiba: Editora CRV.
Giorgi A. (1985). Sketch of a psychological phenomenologi-
cal method. In: A. Giorgi (Org.). Phenomenological and
psychological research [pp. 8 -22]. Pittsburgh, PA: Duquesne
University Press.
Grassi, M. V. F. C. (2004). Psicopatologia e disfuno ertil. So
Paulo: Escuta.
175
A
r
t
i
g
o
-
R
e
l
a
t
o
s
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 167-175, jul-dez, 2013
Disfuno Ertil e Fenomenologia: o Corpo Vivido em seus Contornos Diacrticos
Houaiss, A. (2001). Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa.
Rio de Janeiro: Objetiva.
Kimmel, M. (1996). Manhood in America. A cultural history.
New York: The Free Press.
Merleau-Ponty, M. (1996). La doute de Czanne. In Sens et non-
-sens [pp. 13-32]. Paris: ditions Gallimard. (Original pu-
blicado em 1966).
Merleau-Ponty, M. (2006). Fenomenologia da Percepo. So
Paulo: Martins Fontes (Original publicado em 1945).
Merleau-Ponty, M. (2006). Psicologia e Pedagogia da Criana.
So Paulo: Martins Fontes (Original publicado em 2001).
Merleau-Ponty, M. (2006). A Natureza. So Paulo: Martins
Fontes (Original publicado em 1995).
Merleau-Ponty, M. (2007). New Working Notes from the Period
of the Visible and the Invisible. In The Merleau-Ponty
Reader. Edited by Ted Toadvine and Leonard Lawlor.
Illinois: Northwestern University Press.
Merleau-Ponty, M. (2009). O visvel e o invisvel. So Paulo: Ed.
Perspectiva (Original publicado em 1964).
Merleau-Ponty, M (2010). LOeil et lEspirit. Paris: Gallimard
(Original publicado em 1960).
Moreira, V. (2004). O Mtodo Fenomenolgico de Merleau-Ponty
como Ferramenta Crtica na Pesquisa em Psicopatologia.
Psicologia: Reflexo e Crtica, 17(3), 447-456.
Moreira, V. & Bloc, L. (2012). Clnica do Lebenswelt (mun-
do vivido): articulao e implicao entre teoria e prti-
ca. Em: Arthur Tatossian, & Virginia Moreira. Clnica do
Lebenswelt. Psicoterapia e psicopatologia fenomenolgica
(p. 285-297). So Paulo: Escuta.
Rodrigues Jr, O. M. (2001). Disfuno Ertil. So Paulo:
Expresso e Arte Editora.
Fabiana De Zorzi - Gestalt-Terapeuta. Graduada em Psicologia pela
Universidade de Caxias do Sul-RS (UCS) e Mestre em Psicologia Cl-
nica pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Membro efetivo (gesto
2013/2016) do Instituto de Psicologia Humanista e Fenomenolgica do
Cear (IPHe). Foi membro efetivo do Centro de Estudos em Gestalt-
-Terapia-RS (gesto 2006-2007). E-mail: contato@fabianadezorzi.com
Georges Daniel Janja Bloc Boris - Psiclogo, Mestre em Educao e
Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Cear, Professor
titular do Curso de Psicologia e do Programa de Ps-Graduao em
Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor). Coordenador do La-
boratrio de Psicopatologia e Psicoterapia Humanista-Fenomenolgica
Crtica - APHETO. Endereo Institucional: Universidade de Fortaleza,
Programa de Ps-Graduao em Psicologia. Avenida Washington
Soares, 1321 (Bairro Edson Queiroz). CEP: 60.811-905, Fortaleza, CE.
E-mail: geoboris@uol.com.br
Recebido em 27.08.13
Primeira Deciso Editorial em 06.10.13
Segunda Deciso Editorial 30.10.13
Aceito em 06.12.13
A
R
T
I
G
O
S
-
E
S
T
U
D
O
S
T
E
R
I
C
O
S
O
U
H
I
S
T
R
I
C
O
S
.
.
.
.
.
.
.
179
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 179-183, jul-dez, 2013
Uma Anlise Reflexiva sobre Desejar
UMA ANLISE REFLEXIVA SOBRE DESEJAR
Some Reflective Analysis of Desiring
Un Anlisis Reflexivo del Deseo
LESTER EMBREE
Resumo: Aps algumas notas acerca da metodologia, irei descrever um tipo de encontro predominantemente afetivo chamado de-
sejar (desiring), e irei compar-lo com pretender algo (wishing) e esperana (hoping), e tambm relacion-lo com crena e volio.
Palavras-chave: Desejar; Anlise reflexiva; Fenomenologia.
Abstract: After some remarks about methodology, a predominantly affective type of encountering best called desiring, will be
compared with wishing and hoping and also related to believing and willing.
Keywords: Desiring; Reflective analysis; Phenomenology.
Resumen: Despus de unas pocas notas sobre la metodologa, voy a describir un tipo de encuentro predominantemente afecti-
va llamado desear, y voy a compararlo con querer algo (desear) y la esperanza, y tambin se relacionan con la creencia y la
voluntad.
Palabras-clave: Desear; Anlisis reflexivo; Fenomenologa.
1. Apesar de no serem exerccios de lexicografia,
quando possvel, a melhor prtica para comear anli-
ses reflexivas procurando as significaes na lingua-
gem comum que correspondam adequadamente eidos
em questo. As duas primeiras definies de desejo no
Oxford English Dictionary ditam o seguinte:
1. O facto ou condio de desejar; o sentimento ou
emoo que est dirigido obteno ou possesso
de algum objeto do qual se espera receber prazer
ou satisfao; vontade de algo, apetite; uma ins-
tncia particular deste sentimento, um desejo.
1
NT: H uma dificuldade na traduo de termos centrais neste texto.
Em ingls, h uma distino entre desiring e wishing, enquanto
que em portugus ambos so desejar: o desejo como sentimento de
querer possuir algo que o tema aqui em discusso -, ou o desejo
que se faz ao ver uma estrela cadente para ns, em ambos os casos
o termo exatamente o mesmo. Tentei distinguir, mas infelizmente
sem muita elegncia, traduzindo wishing por pretender algo
seguido do termo em Ingls em parnteses. (Querer algo e gos-
tar utilizado pelo autor de forma distinta e independente tanto
aqui como noutros textos e por isso evitei us-lo como traduo de
wishing). Traduo de Ins Pereira Rodrigues.
2. Apetite fsico ou sensual; luxria
2
.
2. Com esta informao j se tem uma ideia de que,
apesar do desejo ser por vezes especificamente sensual,
o primeiro conceito em linguagem comum genrico,
e nesse que nos vamos concentrar aqui. Para alm do
mais, o uso de desejar orienta-se apropriadamente para
um tipo de processo mental que predominantemente
afetivo, mas no assim to claro se pretender algo
(wishing), ou ter a esperana de obter algo (hoping) tam-
bm so desejar. Seja como for, este um bom comeo.
3. Os exemplos podem ajudar a desenvolver anlises
reflexivas, e aqui o exemplo principal ser um automvel
Porsche 911, ilustrado acima, que eu desejo desfrutar. Ao
refletir, constata-se rapidamente que eu no apenas de-
sejo o carro, mas tambm o seu desfrute, e o carro-a-ser-
-desfrutado, o que levanta algumas boas questes acerca
da temporalidade aqui envolvida.
4. No que diz respeito ao mtodo, o primeiro passo
para fenomenlogos adotar uma atitude terica refle-
xiva. Hoje em dia, a maioria das pessoas com formao
intelectual adota facilmente uma atitude contemplativa
ou terica, e essa mesma atitude tambm pode ser refle-
xiva. Se no se est a refletir, est-se numa atitude direta
ou simples e, nesse caso, o modo como as coisas apare-
cem perspectivamente, tm valores e usos, modos de do-
ao, etc., so aspectos que passam despercebidos. Estes
2
Consultado online em 7/1/13.
180
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 179-183, jul-dez, 2013
Lester Embree
aspectos so revelados no objeto-enquanto-intentado em
conjunto com vrias componentes correlativas nos pro-
cessos mentais que lhes so intentados, j para no falar
das determinaes do ego ou do Eu todas estas coisas
podem ser reveladas quando se reflete. No nosso caso
presente, o tema terico reflexivo denominado: (a) de-
sejar, (b) a coisa-enquanto-desejada, e (c) ego ou eu
(Infelizmente, h colegas que, profissionalmente, apren-
dem a permanecer, digamos assim, na atitude simples,
ou irreflexiva, mas at eles so capazes de responder
pergunta do dia-a-dia: Como te sentes? ao, digamos,
olhar para dentro e depois relatar o que vm, por exem-
plo, tdio. A fenomenologia pode ser considerada um de-
senvolvimento de comeos como este).
5. H um outro passo metodolgico que muitas
vezes negligenciado e que merece a nossa ateno. Este
processo chama-se a epoch, reduo e purificao ego-
lgica. Vou tentar explicar isto com uma estria. H anos
atrs tive uma conversa com um novo aluno de ps-gradu-
ao vindo da frica, que iria comear o programa de es-
tudos no Departamento de Antropologia da Universidade
de Pittsburgh, onde minha ento esposa tambm era alu-
na de ps-graduao. O novo aluno africano, que apren-
dera a falar um ingls excelente numa escola missionria,
estava perturbado porque lhe tinham dito para escolher
as disciplinas que gostaria de estudar. Estranhando a
sua reao, consegui que ele me explicasse que se ainda
estivesse em casa, uma deciso destas envolveria uma
conversa com o av, com o pai, e com vrios tios, e to-
dos eles com vrias mulheres presentes de forma mais
ou menos assumida. Em ltimo caso poderia dizer, em
palavras minhas, que o aluno esperava algo como uma
deciso de comit familiar. Mas este aluno, acabado de
chegar de algum lugar em frica sentia-se abandonado,
seno rfo, quando lhe disseram para escolher as dis-
ciplinas sozinho. Em contraste, quando eu fui um aluno
de ps-graduao estava acostumado talvez a pedir con-
selhos, mas no final escolher sozinho as minhas prprias
disciplinas de curso.
6. Contei esta estria porque foi nessa altura que com-
preendi como se pode fazer parte de uma intersubjetivi-
dade ou grupo de modo consciente. Claro que desde ento
tive vrias experincias conscientes de mim mesmo como
membro ativo de intersubjetividades alargadas e mais re-
duzidas (e de modo inconsciente, muitas vezes antes e
tambm depois). Relativamente recentemente, aprendi a
relacion-lo com a metodologia fenomenolgica (Cairns,
2013). Na verdade, invulgar no me encontrar a mim
mesmo como membro de um grupo, e tenho-me tornado
mais hbil a distinguir quais so os meus prprios pro-
cessos mentais daqueles dos outros. Afinal, percepciona-
mos os processos mentais dos outros at certo ponto, ainda
que apresentativamente e no presentativamente, como
apenas os meus processos mentais me podem aparecer.
7. De acordo com a forma como hoje em dia eu com-
preendo Husserl, a nossa atitude comum, ou automti-
ca, a chamada atitude natural, e essa atitude inclui
no s uma crena de si mesmo no mundo, mas tambm
de outros no mundo, e isto de forma a que os outros em
conjunto conosco formam um ns que partilha o que
poderemos chamar de objetos pblicos, tal como o cho
debaixo dos nossos ps. Deste modo, h uma prioridade
da intersubjectividade, mas possvel operar uma epo-
ch onde os outros que haviam sido co-sujeitos, o cho, e
at o mundo para ns se tornam ento objetos para mim
como uma simples subjetividade.
Assim, a atitude na qual todas as coisas so, por assim
dizer, intentadas por ns reduzida atitude onde
todas as coisas, apesar de ainda serem intentadas por
outros, e os prprios outros, so considerados como
sendo apenas intentados por mim (Embree, 2009).
3
8. Por ainda outras palavras, o resultado uma vida
mental individual atual ou possvel, e as coisas-enquanto-
-intentadas-nela, e isto enquanto tal purificado de ser
dado como objeto para outros. Para a minha sociedade,
classe, grupo tnico, gnero, e nvel educacional, esta
epoch egolgica to automtica como a adoo da ati-
tude terica e reflexiva. Parece fazer parte do que s ve-
zes se chama individualismo burgus e eu creio que
a base do que muitas vezes chamado o Cartesianismo
de Husserl, que predomina nas suas Ideen (1913) e nas
Cartesianische Meditationen (1931). Para mim, frequente
parecer-me mais difcil estar consciente de como sou uma
subjetividade dentro de uma intersubjetividade, mas claro
que em ltimo caso, a objetividade o requer. Comeamos
em intersubjetividade, tematizamos a subjetividade, e no
final procuramos alcanar a intersubjetividade de novo.
9. Deixem-me agora contar, incidentalmente, o que
ouvi por duas vezes em palestras de fenomenologia da-
das pelo meu professor Dorion Cairns, na New School for
Social Research, nos anos 1960. Ambas as vezes, os alu-
nos perguntaram o que siginificava puro para Husserl, e
Cairns contou uma conversa que tivera com Eugen Fink,
em Freiburg, no comeo dos anos 30, e na qual Fink ex-
plicou que o ttulo metodolgico geral completo era epo-
ch, reduo, e purificao: epoch nomeando a operao
de suspenso ou absteno, reduo nomeando o seu
efeito na atitude do ego ou do eu, e purificao deno-
minando o seu efeito nas coisas enquanto intentadas.
10. Claro que existe um nmero de espcies deste m-
todo geral; as mais discutidas so as epoch, redues e
purificaes eidticas, transcendentais e psicolgicas. O
nome abreviado pode ento ser epoch, e os procedimen-
tos especficos so denominados segundo os seus efeitos:
3
Incidentalmente, Schutz pensava que Husserl operava as epoch
egolgicas e transcendentais simultaneamente.
181
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 179-183, jul-dez, 2013
Uma Anlise Reflexiva sobre Desejar
a epoch eidtica conduzindo a um eidos puro ou eide,
a epoch transcendental conduzindo a uma conscincia
ou vida mental transcendentalmente pura, e a epoch
psicolgica que tambm se pode tornar habitual con-
duzindo a uma vida psquica pura, e sendo fatos ou atu-
alidades, o estatuto de ser-no-mundo, e as relaes reais
de processos psquicos a fatores somticos ou ambientais
aquilo de que as coisas em questo esto respectivamen-
te purificadas. E em ambas as vezes, a estria terminava
com Cairns a relatar como ele e Fink riram do modo como
Husserl conduzia ao equvoco quando dizia e escrevia
reduo em vez de epoch como o nome abreviado
4
.
11. Assumindo a atitude terica reflexiva, e tambm
egologicamente (e psicologicamente!) reduzida, o que
que podemos observar, analisar e descrever reflexivamen-
te para clarificar o conceito de desejar? A fenomenologia,
ou a anlise reflexiva , obviamente, uma investigao
de fenmenos, e os fenmenos no so as aparncias das
coisas-enquanto-intentadas, mas antes as prprias coisas
que aparecem e que Husserl chama Erlebnisse. Este termo
tem sido traduzido como experincia e, curiosamente,
como experincia vivida, mas eu s vezes gosto de se-
guir o meu professor Cairns e dizer processo mental
e at processo intentivo, mas costumo preferir dizer
encontro.
O termo encontro tem, creio eu, pelo menos trs
vantagens. Primeiro, convida logo a perguntar sobre o
que encontrado; segundo, prontamente especificado
como experiencial, posicional, dxico, afetivo ou
ptico, conativo ou prxico, etc; e terceiro, os objetos
encontrados so rapidamente reconhecidos como sendo
originalmente objetos culturais com caractersticas de
crena, valores e usos.
12. Como j foi intimado, ao refletir sobre desejar
observou-se que envolve eu, desejar, e a coisa-en-
quanto-desejada. Por exemplo, eu desejo desfrutar um
Porsche 911. A prxima questo se desejar majori-
tariamente experiencial ou posicional. Eu digo majori-
tariamente porque todos os encontros incluem, falando
concretamente, componentes experienciais e posicionais.
Experienciar, no sentido mais lato, pode ser de coisas
atemporais ou ideais ou, mais frequentemente, de coisas
4
Tentei confirmar as minhas recordaes com uma passagem de
Cairns e o melhor que encontrei na sua Nachla at agora foi o se-
guinte: Uma consequncia da epoch fenomenolgica-psicolgica
a reduo fenomenolgica-psicolgica sua pureza psquica. Uma
consequncia paralela que o ego psquico que reflete coloca-se
numa atitude fenomenolgica-psicolgica em relao sua pureza
psquica (Cairns Nachla, p. 5350). Quer de forma consciente ou
inconsciente, o meu professor parece ter seguido Husserl no uso
do termo reduo como a forma abreviada de epoch, reduo,
e purificao (mais recentemente, no processo de estudar aponta-
mentos de alunos do seminrio de Cairns sobre as Ideen, descobri
uma afirmao do meu professor dizendo que Husserl deixara de
usar o termo puro nas suas obras mais tardias, mas Cairns no
deu nenhuma razo para esta mudana).
temporais no agora, no passado, ou no futuro. No entanto,
o que predomina no desejar no experiencial mas ma-
joritariamente algo posicional e, mais especificamente,
algo afetivo-valorativo. Assim, posso encontrar reflexi-
vamente na minha vida mental um componente de um
processo predominantemente intentivo que um gostar
que intentivo ao Porsche 911. Este gostar e o valor que
o carro tem para mim neste gostar positivo e contras-
ta com no gostar ou ser indiferente ou neutro. Mas ao
contrrio da maior parte dos tipos de gostar que tm uma
forma negativa por exemplo, detestar , desejar no tem
uma modalidade negativa. Se desejamos a morte de um
inimigo, por exemplo, essa morte uma coisa boa, tem
um valor positivo. Mas pode haver neutralidade ou au-
sncia de desejo. Pode tambm ser uma preferncia, isto
, eu desejo um Porsche mais do que desejo uma Ferrari,
mas desejar no necessariamente preferencial.
13. A espcie de valorao que desejar pode ser di-
reta ou indireta. Posso desejar indiretamente calcular a
raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 um objeto ma-
temtico ideal, mas o seu clculo uma operao men-
tal e essa operao o que diretamente desejado neste
caso. De modo semelhante, posso desejar lembrar-me de
uma conversa que ocorreu ontem, o lembrar ocorrendo
no futuro e a conversa no passado, e tambm pode haver,
de modo anlogo, uma esperana indireta. A conversa
e o lembrar so ambas coisas temporais, a primeira no
passado e a ltima no futuro que tambm diretamente
desejada ou um objecto de esperana. No entanto, pos-
so, de modo direto, desejar ou ter esperana de desfrutar
um Porsche 911.
14. Tambm preciso reconhecer que no s desejar,
mas tambm ter esperana de algo (hoping) e pretender
algo (wishing) podem ter formas reflexivas assim como
diretas. Deste modo, posso desejar um 911 diretamente
e posso desejar reflexivamente no s aquele objeto mas
tambm o meu ego, ou eu e o encontro com o objeto,
por exemplo, um caso de Eu desejando um 911.
Pretender algo (wishing), pode ser de chuva amanh ou
Eu pretendendo (wishing) chuva amanh, e de forma
anloga no que diz respeito a ter esperana de algo, e an-
tecipao. Isto como lembrar-me diretamente do almoo
de ontem, e lembrar-me reflexivamente Eu comendo
almoo ontem. Nas formas reflexivas podemos aceder
aos modos de doao, aparncias, posicionalidade, assim
como s componentes correlativas nos encontros.
15. Desejar no como pretender algo (wishing), por
exemplo, no sentido em que no pode ser diretamente de
algo no passado, enquanto eu posso ter pretender (wish)
que no tivesse chovido ontem na parada. interessante
notar que pretender algo (wishing) no parece motivar
volio do mesmo modo que desejar. Desejar como ter
esperana no sentido em que o seu objeto temporal mas
182
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 179-183, jul-dez, 2013
Lester Embree
no no passado e tambm no no agora. Em termos rigo-
rosos, as questes acerca da temporalidade dos objectos
relaciona-se no com a posicionalidade de um encontro
mas com a componente experiencial nele. Alguns tipos
de gostar podem acompanhar a intentividade a um objeto
ideal (uma teoria elegante), e tambm podem acompa-
nhar a recordao, a percepo e antecipao. Para alm
de incluir a componente predominante afetiva de valo-
rao positiva ou gostar, ter esperana de algo pode ser
de sol na praia este fim de semana ou um outro evento
futuro relativamente definido.
16. Mas aquilo a que normalmente chamamos dese-
jar pode ser acompanhado por uma intentividade para o
futuro mas no necessariamente para um tempo definido
nele, embora muitas vezes o seja. Pode ser til conside-
rar que se pode usar, como sinnimo de desejar, uma
nsia esperanada ou uma nsia sem esperana. A
intentividade para o futuro em desejar no pode ento
ser sempre chamada uma antecipao. E em virtude da
intentividade para um futuro sem necessariamente um
evento definido, a forma de encontro chamada desejar
tambm como ter esperana. No podemos ter espe-
rana por um evento no passado, e no podemos desejar
o passado diretamente
5
.
17. Muitas vezes possvel fazer avanar anlises re-
flexivas considerando opostos. Desejar e ter esperana
parecem no ter formas negativas distintamente opostas
como acontece no caso de valorao positiva que tem des-
valorao negativa, por exemplo, reprovao, e no gos-
tar. Neste caso, esperana tem o seu oposto no desespe-
ro, que parece ser uma ausncia de esperana. De modo
semelhante, desejar tem como seu oposto a ausncia de
desejo; por exemplo, fico frio em relao a um Volkswagen
Beetle
6
.
18. E quanto a acreditar? Porque eu no possuo os
$182,000 que correntemente o mnimo necessrio para
comprar um Porsche 911 novo, neste momento, isto para
mim uma impossibilidade de facto. Ainda assim, no
impossvel eu vir a poder gozar o meu prprio Porsche
911, pois poderia ganhar na loteria e depois j poderia
5
Os meus colegas informam-me que em Castelhano, Catalo e Por-
tugus no h diferena entre desejar e pretender algo (wishing)
e que por isso nas tradues so necessrias notas de tradutores,
etc. Estou ansioso por perguntar a um colega alemo se acontece o
mesmo, e estou particularmente curioso acerca das lnguas asiticas.
6
Um amigo meu sugeriu que h uma forma negativa de desejar que
evidente quando consideramos a oposio entre atrao e averso.
No h dvida que eu considero alguma comida apetecvel e comida
estragada repulsiva, e estes tm, de fato, valores positivos e negativos
nas coisas-enquanto-intentadas, mas parece-me que isto mais um
caso da espcie sensual de desejar e no desejar de modo geral como
parece ser reconhecido na definio do Oxford English Dictionary. Eu
no encontro na minha vida mental uma averso a qualquer marca
ou modelo automvel, mas apenas um desejo maior ou mais fraco
e, no caso extremo do Beetle, um desejar mnimo seno inexistente
ou neutro.
comprar um. Saber se ou no possvel para mim requer
a determinao das condies necessrias. Mas possvel
desejar sem a crena de que a coisa desejada possvel.
Eu desejo viver para sempre mas acredito que impos-
svel. O mesmo verdade em relao esperana.
19. E que dizer acerca de conao e volio? Desejar
pode realmente motivar aes, como a compra de bilhe-
tes de loteria. A volio envolvida nestes encontros co-
nativos ou prxicos normalmente intentiva a meios, e
pelo menos a um fim. O fim imediato de utilizar o meio
de uma soma modesta de dinheiro para comprar o bilhe-
te de loteria seria ter dinheiro suficiente para usar como
meio, no final, para comprar o carro que desejo.
20. Apesar de desejar ser acompanhado por volio
e experienciar, vale a pena repetir que o que predomina
no desejar a componente valorativa.
21. H mais uma distino que importante fazer.
Isto foi expresso por Husserl em termos de atos e proces-
sos mentais primria e secundariamente passivos. Para
receber o modificador acional, o meu professor Cairns
preferia falar de aes em vez de atos, e tambm pre-
feria automtico em vez de passivo, tambm especifi-
cando processos mentais secundariamente assim como
primariamente automticos. Divirjo de Cairns em dois
aspetos em relao a estes termos. Eu tambm prefiro
automtico, mas devido ao meu interesse na cultura,
hbitos e tradies, coloco mais nfase na automatici-
dade secundria do que na primria onde se constitui a
natureza, incluindo animais humanos e no-humanos. E
prefiro operao ao de Cairns ou ato de Husserl
porque acho importante distinguir entre operaes ativas
e passivas. Por exemplo, quando fao contas em relao
ao meu extrato bancrio e reflito sobre as operaes que
fao, descobri o meu ego, ou eu, ativamente envolvido,
mas s vezes ouo msica que me solicita, que me move,
e uma reflexo sobre o meu eu nessa altura revela que
est envolvido numa operao passiva.
22. Voltando ao desejar, por vezes descubro o que pode
ser descrito como Eu desejo um Porsche 911. Se me
perguntassem que carro que eu gostaria mesmo de ter,
a minha resposta seria Eu desejo um Porsche 911, e po-
deria depois encontrar reflexivamente o meu eu ativa-
mente envolvido nessa operao de falar e, claro, ocupa-
do pelo menos com o estado de fatos significado por essa
frase que intentado de forma vazia. Por outro lado, ao
andar na rua pode acontecer que eu veja um carro des-
tes passar e descobrir um desejar individual habitual ou
secundariamente automtico na minha vida mental de
tal maneira forte que eu comeo a envolver-me nele. E
claro que o meu desejar um 911 apenas um de muitos
desejares habituais que adquiri e que se pode tornar ope-
racional desta maneira.
183
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 179-183, jul-dez, 2013
Uma Anlise Reflexiva sobre Desejar
23. Quanto automaticidade primria, possvel que
o desejo por coisas doces ou ambientes confortveis, sa-
tisfao da sede, etc., sejam primariamente automticos
e at seja til chamar-lhes instintivos. Que haja um tal
desejar automtico de, por exemplo, coisas doces sem que
tenha ocorrido primeiro, por exemplo, o saborear de algo
doce como o mel, eu no tenho a certeza. Mas o meu de-
sejar pelo desfrute de um Porsche 911 profundamente
cultural. Aprendi de vrias formas o que um autom-
vel, o que conduzir, as caractersticas distintivas de um
magnfico Porsche 911, etc.
24. Em suma, podemos observar e analisar teorica-
mente de modo reflexivo processos mentais ou intentivos
ou encontros do tipo habitualmente referidos (pelo menos
em ingls) como desejar. Uma subespcie proeminente
de desejar sensual, intentiva a tipos de bebida, comida,
e sexo, mas desejar mais alargado que isso, e usar algo
como um objeto no sensual como exemplo pode ajudar
a mostrar isso.
25. Desejar um encontro no qual predomina uma po-
sicionalidade afetiva positiva, e a coisa-enquanto-inten-
tada nesse encontro tem um valor positivo. Ao contrrio
da maioria de outros tipos de encontro no qual predomi-
na a valorao, por exemplo, pretender algo (wishing)
e aprovao moral, desejar mais como ter esperana de
algo no sentido que no diretamente intentivo a objec-
tos ideais, passados ou presentes, mas apenas a um obje-
to futuro e pode at ser um objeto futuro sem uma data
provvel.
26. Ao contrrio do que parece ser o caso no desejar
por algo doce ou por conforto que pode ocorrer em au-
tomaticidade primria, desejar em automaticidade se-
cundria, isto , como hbito, algo que claramente
aprendido e que se torna operacional em determinadas
circunstncias.
27. Finalmente, apesar de agora isto poder parecer
problemtico, desejar discutido em psicologia tradicio-
nal e relevante para a fenomenologia constitutiva prin-
cipalmente enquanto parte de uma explicao de moti-
vao e justificao de volio e ao. Mas, para alm
desses usos, tambm pode promover o desenvolvimento
da capacidade para fazer anlises reflexivas.
Referncias
Cairns, D. (2013). The Egological Reduction. In Dorion Cairns,
The Philosophy of Edmund Husserl (Lester Embree, Ed.,
pp. 109-118). Dordrecht: Springer.
Embree, L. (2009). Dorion Cairns and Alfred Schutz on the
Egological Reduction, In Hisashi Nasu, Lester Embree,
George Psathas & Ilja Srubar (Eds), Alfred Schutz and his
Intellectual Partners (UVK: Verlagsgesellschaft mbH.
Husserl, E. (1913). Ideen zu einer reinen Phnomenologie
und phnomenologischen Philosophie (Husserliana 3).
Dordrecht: Kluwer Academic.
Husserl, E. (1931). Cartesianische Meditationen (Husserliana
1). Dordrecht: Kluwer Academic.
Lester Embree - professor do Departamento de Filosofia do Florida
Atlantic University, em Boca Ratn, Florida (Estados Unidos). PhD
em Filosofia pelo New School for Social Research, sob orientao de
Aron Gurwitsch, um dos fundadores e atualmente um dos diretores
do Center of Advanced Research in Phenomenology (http://www.phe-
nomenologycenter.org). Autor de diversos textos em Fenomenologia.
E-mail: embree@fau.edu
Recebido em 15.09.13
Aceito em 08.12.13
184
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 184-188, jul-dez, 2013
Lester Embree
SOME REFLECTIVE ANALYSIS OF DESIRING
Uma Anlise Reflexiva do Desejar
Un Anlisis Reflexivo del Deseo
LESTER EMBREE
Abstract: After some remarks about methodology, a predominantly affective type of encountering best called desiring, will be
compared with wishing and hoping and also related to believing and willing.
Keywords: Desiring; Reflective analysis; Phenomenology.
Resumo: Aps algumas notas acerca da metodologia, irei descrever um tipo de encontro predominantemente afetivo chamado
desejar (desiring), e irei compar-lo com pretender algo (wishing) e esperana (hoping), e tambm relacion-lo com crena e
volio.
Palavras-chave: Desejar; Anlise reflexiva; Fenomenologia.
Resumen: Despus de unas pocas notas sobre la metodologa, voy a describir un tipo de encuentro predominantemente afecti-
va llamado desear, y voy a compararlo con querer algo (desear) y la esperanza, y tambin se relacionan con la creencia y la
voluntad.
Palabras-clave: Desear; Anlisis reflexivo; Fenomenologa.
1. While not exercises in lexicography, it is best,
when possible, to begin reflective analyses by seeking
the signification(s) in ordinary language that seem to re-
fer well to the eidos in question. The first two definitions
of desire in the Oxford English Dictionary (accessed on
line 7/1/13) nicely read as follows.
1. The fact or condition of desiring; that feeling or
emotion which is directed to the attainment or
possession of some object from which pleasure or
satisfaction is expected; longing, craving; a par-
ticular instance of this feeling, a wish.
2. Physical or sensual appetite; lust.
2. Already on this basis, it can be suspected that,
while sometimes desire may be specifically sensual, the
first concept in ordinary language is generic. This con-
cept will be focused on here. Furthermore, the usage of
desiring nicely focuses on a type of mental process that
is predominantly affective, but whether wishing (or hop-
ing) is desiring is not so clear. Nevertheless, this is a good
beginning.
3. Examples can help reflective analyses and here the
main example will be a Porche 911 automobile, such as is
depicted above, that I desire to enjoy. Reflection quickly
shows that I do not merely desire this car but rather also
the enjoying of it and, correlatively, the car-to-be-enjoyed,
which, among other things, raises good questions about
the temporality involved.
4. Where method is concerned, the first step for phe-
nomenologists is to adopt a reflective theoretical attitude.
Most educated intellectuals today easily adopt a contem-
plative or theoretical attitude and that attitude can also be
reflective. If one does not reflect, one is in a straightfor-
ward attitude and overlooks how things appear perspec-
tively, have values and uses, have manners of givenness,
etc. that are disclosed in the object-as-intended-to along
with the various correlative components in the mental
processes intentive to them, not to speak of determina-
tions of the ego or I, all of which can be disclosed when
one reflects. In the present case, ones reflective theoreti-
cal theme is thus denominated by (a) desiring, (b) the
thing-as-desired, and (c) ego or I. (Some colleagues
unfortunately learn to remain professionally, one might
say, in the unreflective or straightforward attitude, but
even they can respond in everyday life to the question,
How are you feeling? by, so to speak, looking inward
185
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 184-188, jul-dez, 2013
Some Reflective Analysis of Desiring
and then reporting what they see there, e.g., boredom.
Phenomenology can be considered a development from
beginnings like this.
5. Another methodological move often taken for
granted and thus seldom described deserves attention.
This procedure is called the egological epoch, re-
duction, and purification. Let me approach this with
a story. Years ago I had a conversation at a reception
with a new graduate student from Africa beginning in
the Department of Anthropology at the University of
Pittsburgh, where my then wife was also a graduate stu-
dent. The new African student, who had learned excel-
lent English at a missionary school, was upset that he
had been told to select the courses he wanted to take.
Finding this odd, I got him to explain that if he was still
at home such a decision would involve a discussion in-
volving his grandfather, father, and several uncles, and
all with various women somewhat in the background.
Ultimately, I could say that, in my terms, the student ex-
pected something of a familial committee decision to be
made. But this student fresh from someplace in Africa
felt abandoned if not orphaned when told to select his
courses chiefly by himself. By contrast, I was quite fa-
miliar with perhaps sometimes seeking advice but nev-
ertheless basically selecting my own courses on my own
when I was in graduate school.
6. I tell this story because that was when I first rec-
ognized how one can be consciously a member of an in-
tersubjectivity or group. Of course I have consciously ex-
perienced myself as a functioning member of larger and
smaller intersubjectivities many times since then (and
unconsciously long before and also since) and have fair-
ly recently learned to connect it with phenomenological
methodology.
1
Indeed I find it unusual not to find myself
functioning as a member of a group and I have become
more able to sort out what are my own mental processes
from those of others. After all, we do perceive the mental
processes of others to some extent, albeit appresentively
and not presentively, as my own mental processes can
alone be presented to me.
7. As I currently understand Husserl, our fall-back
or default attitude is the so-called natural attitude and
that attitude includes not only belief in oneself in the
world but also others as in the world and this in such
a way that others along with oneself form a we that
shares what can be called public objects, such as the
floor under our feet. Thus, there is a priority of inter-
subjectivity, but one can perform an epoch whereby the
others who had been co-subjects, the floor, and indeed
the world for us become then objects just for me as a
single subjectivity.
1
Dorion Cairns, ed. Lester Embree, The Philosophy of Edmund Husserl
(Dordrecht: Springer, 2013), Chapter 12, The Egological Reduction.
Thus, the attitude in which all things are, so to speak,
reflectively intended to by us is reduced to the attitude
in which all things, even though still intended to by oth-
ers and the others themselves, are considered only as in-
tended to by me.
2
8. In yet other words, the result is an actual or pos-
sible individual mental life and things-as-intended-to-in-
it and this as such is purified of being given as an object
for others. For my society, class, ethnic group, gender, and
educational level, this egological epoch is as automatic
as the adoption of the theoretical and reflective attitude.
It seems part of what is sometimes called bourgeois in-
dividualism and I think it is the source of what is often
called Husserls Cartesianism, which predominates in
his Ideen (1913) and Cartesianische Meditationen (1931).
It often seems more difficult for me to be conscious of
how I am a subjectivity within an intersubjectivity, but
of course objectivity ultimately requires that. We begin
in intersubjectivity, thematize subjectivity, and seek ul-
timately to reach intersubjectivity again.
9. Let me now insert, incidentally, that I heard the
following story twice in lecture courses in phenomenol-
ogy by my teacher Dorion Cairns at the New School for
Social Research in the 1960s. Both times, students asked
what pure signified for Husserl and Cairns told of a
conversation he had had with Eugen Fink at Freiburg
in the early 1930s in which Fink explained that the full
general methodological title was epoch, reduction, and
purification, epoch naming the operation of suspen-
sion or refraining, reduction naming its effect on the
attitude of the ego or I, and purification its effect on
the thing-as-intended-to.
10. There are, of course, a number of species of such
a generally characterized method, the eidetic, the tran-
scendental, and the phenomenological psychological
epochs, reductions, and purifications being the most
widely discussed. The short name can then be epoch
and the specific procedures are named by their pure ef-
fects, the eidetic epoch leading to a pure eidos or eid,
the transcendental epoch leadng to a transcendentally
pure consciousness or mental life, and the phenomeno-
logical psychological epoch which can also become ha-
bitual leading to pure psychic life, facts or actualities,
the status of being-in-the-world, and the real relations
of psychic processes to somatic and environmental fac-
tors being, respectively, what the things in question are
purified of. And the story both times ended with Cairns
2
Lester Embree, Dorion Cairns and Alfred Schutz on the Egologi-
cal Reduction, in Hisashi Nasu, Lester Embree, George Psathas,
and Ilja Srubar, eds., Alfred Schutz and his Intellectual Partners
(UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2009). By the way, Schutz believed
that Husserl performed the egological and transcendental epochs
simultaneously.
186
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 184-188, jul-dez, 2013
Lester Embree
reporting how he and Fink laughed about how Husserl
often said and wrote equivocatingly reduction rather
than epoch as the short form.)
3
11. Assuming the reflective theoretical and also
egologically (and psychologically!) reduced attitude,
what is it that one can reflectively observe, analyze,
and describe in order to clarify the concept of desiring?
Phenomenology or reflective analysis is of course inves-
tigation of phenomena and phenomena are not the ap-
pearances of things-as-intended-to but rather things that
themselves appear and that Husserl calls Erlebnisse. This
expression has been translated as experience and, curi-
ously, lived experience, but I prefer sometimes to follow
my teacher Cairns with mental process and even in-
tentive process, but I often prefer to say encountering.
Encountering has, I believe, at least three advantag-
es. Firstly, it nicely invites asking about what is encoun-
tered, secondly, it is readily specified as experiential,
positional, doxic, affective or pathic, conative
or praxic, etc., and, thirdly, encountered objects are
readily recognized to be originally cultural objects with
belief characters, values, and uses.
12. As already intimated, desiring, upon reflection, is
observed to involve ego or I, desiring, and thing-as-
desired. For example, I desire to enjoy a Porsche 911.
The next question to ask is whether desiring is chiefly
experiential or positional? I say chiefly because all en-
counterings include, concretely speaking, both experien-
tial and positional or thetic components. Experiencing,
in the broadest signification, can be of atemporal or ideal
things or, more usually, of temporal things in the now,
the past, or in the future. What predominates in desir-
ing, however, is not experiential but chiefly something
positional and, more specifically, something affective-
valuational. Thus I can reflectively find in my mental
life a predominantly intentive process component that is
a liking that is intentive to the 911 Porsche. This liking
and the value that the car has for me in it is positive and
contrasts with disliking or being apathetic or neutral. But
unlike most types of liking, which have negative forms,
i.e., disliking, desiring does not have a negative modal-
ity. If one desires the death of an enemy, for example, that
death is a good thing, it has positive value. But there can
be neutrality or a lack of desire. There can also be a pre-
3
I have tried to confirm my recollections with a passage from
Cairns and the best I have found in his Nachla thus far is this:
One consequence of psychological-phenomenological epoch is
phenomenological-psychological reduction of them to their psychic
purity. A parallel consequence is that the reflecting psychic ego
puts himself into a psychological-phenomenological attitude toward
them in their psychic purity. (Cairns Nachla, p. 5350) Perhaps
consciously or unconsciously, my teacher seems to have followed
Husserls use of reduction as the short form for epoch, reduction,
and purification.! (More recently, in studying student notes from
Cairnss seminar on the Ideen, I found his assertion that in later
work Husserl stopped using pure, but no reason for this change
was mentioned by Cairns.)
ferring, i.e., I can desire a Porsche more than I desire a
Ferrari, but a desiring is not necessarily preferential.
13. The species of valuing that is desiring can be di-
rect or indirect. I can indirectly desire the square root
of 3. The square root of 3 is an ideal mathematical ob-
ject, but the calculating of it is a mental operation and
that operation is what is directly desired in this case.
Similarly, I can desire to recollect a conversation that oc-
curred yesterday, the recollecting in the future and the
conversation in the past, and there can also be indirect
hoping analogously. The conversation and the recollect-
ing are both temporal things, the former is in the past
and the latter is in the future and is also directly desired
or hoped for. However, I can directly desire or hope to-
menjoy a Porsche 911.
14. It needs also to be recognized that not only de-
siring, but also hoping and wishing can all take reflec-
tive as well as straightforward forms. Thus, I can desire
a 911 straightforwardly and I can reflectively desire not
only that object but also my ego or I and the encounter-
ing of the car, e.g., a case of Idesiringa 911. Wishing
can reflectively be for rain tomorrow or Iwishingrain
tomorrow, and analogously for hoping and expecting.
This is like straightforwardly recollecting yesterdays
lunch and reflectively recollecting Ieatingyesterdays
lunch. In the reflective forms one can access manners
of givenness, appearances, positionality as well as the
correlative components in the encounterings.
15. Desiring is unlike wishing, for example, in that
it cannot be directly of something in the past, while I
can wish that it had not rained on the parade yesterday.
Interestingly, wishing appears not to motivate willing as
desiring can. Desiring is like hoping in that its object is
temporal but not in the past and also not in the now but
only in the future. Strictly speaking, questions about the
temporality of objects relates not to the positionality of an
encountering but to the experiential component within it.
Some sorts if liking can accompany the intentiveness to an
ideal object (a beautiful theory) and can also accompany
recollecting, perceiving, and expecting. Besides including
the predominantly affective component of positive valu-
ing or liking, hoping can be for sunshine at the beach this
weekend or for another fairly definite future event.
16. But what is usually called desiring can be ac-
companied by an intentiveness to the future but not nec-
essarily to any definite time there, but of course it often
is. It might bring some clarity to consider that, using a
synonym for desiring, one can speak of hopeful long-
ing and hopeless longing. The intentiveness to the fu-
ture in desiring cannot then always be called an expect-
ing. And by virtue of the accompanying intentiveness to
a future without any definite event necessarily, the form
187
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 184-188, jul-dez, 2013
Some Reflective Analysis of Desiring
of encountering called desiring is also like hoping. We
cannot hope for a past event and we cannot directly de-
sire the past.
4
17. Reflective analyses are often advanced through
considering opposites. Desiring and hoping appear not
to have clearly negative opposite forms like positive valu-
ing has negative disvaluing, e.g., moral disapproval and
disliking. Rather, hoping has the opposite that is despair,
which appears to be an absence of hoping. Similarly, de-
siring has a lack of desire as its opposite, e.g., I am, so to
speak, cold with respect to Volkswagen Beatles.
5
18. What about believing? Because I do not have
the current minimum of $182,000 to purchase a new
Porsche 911, this is now a de facto impossibility for me.
Nevertheless, my coming to enjoy my own Porsche 911
is not essentially impossible, for I could win the lottery
and then afford one. To know whether it could be possi-
ble for me requires the determination of necessary con-
ditions. But desiring can occur without believing that
the desired thing is possible. I desire to live forever but
believe this to be impossible. The same goes for hoping.
19. What about conation and willing? Desiring can
certainly motivate actions such as buying lottery tickets.
The willing involved in such a predominantly conative
or praxic encountering is usually intentive to means as
well as to at least one end. The immediate end of using
the means of a modest amount of money to purchase the
lottery ticket would be having enough money to use as
means ultimately to purchase the car that I desire.
20. While desiring is thus accompanied by willing as
well as experiencing, it deserves repetition that it is the
valuing component that predominates in it.
21. Another distinction is important. This is ex-
pressed by Husserl in terms of acts and primarily and
secondarily passive mental processes. To gain the mod-
ifier actional, my teacher Cairns preferred to speak of
actions rather than acts and he also preferred auto-
matic to passive, also specifying the secondarily as
well as primarily automatic mental processes. I differ
4
Colleagues tell me that there is no difference between wishing and
desiring in Castilian, Catalan, or Portuguese and translators notes,
etc. are needed in translations. I look forward to asking a German
colleague and am especially curious about Asian languages.
5
A friend suggested that there is a negative form of desiring that is
clear when one considers the opposition of attraction and aversion.
I certainly find some food attractive and rotten food repulsive anjd
these indeed have positive and negative values in the things-as-
intended-to, but it seems to me that this is a matter of the sensual
species of desiring and not desiring in general as seemingly recog-
nized in the OED. I do not find an aversion in my mental life to any
make or model of automobile, but only stronger and weaker desire
and, in the extreme case of the Beatle, minimal if not non-existent
or neutral desiring.
with Cairns in two respects in this connection. I also like
automatic, but because of my interest in culture, habit,
and tradition, I lay more emphasis on secondary automa-
ticity than on the primary automaticity where nature, in-
cluding animals human and non-human, are constituted.
Then again, I prefer operation to Cairnss action and
Husserls act because I see the need to distinguish ac-
tive and passive operations. For example, when I balance
my checkbook and reflect on the operations I perform,
I find my ego or I as actively engaged, but sometimes I
hear music that engages me, that carries me along, and
reflection on my I then discloses that it is engaged in a
passive operation.
22. Returning to desiring, sometimes I find what can
be described as Idesirea Porsche 911. If I was asked
what car I would really like to have, my answer would
be I desire a Porsche 911 and I could then reflectively
find my I as actively engaged in that operation of speak-
ing and, of course, busied with at least the emptily in-
tended to state of affairs signified by that phrase. On the
other hand, walking down the street I might see such a
car drive by and find a habitual or individual secondarily
automatic desiring arise within my mental life so strong
that I come to engage in it. And of course my desiring of
a 911 is only one of many habitual desirings that I have
acquired and that can become operational in this way.
23. As for primary automaticity, it could be that the
desire for sweet things or for warm surroundings, slacked
thirst, etc. are primarily automatic and even usefully
called instinctual. Whether there is such automatic de-
siring of sweet things, for example, without there having
previously been a tasting of a sweet thing such as hon-
ey, I am not sure. But my desiring for the enjoyment of a
Porsche 911 is highly cultural. I have learned in various
ways what an automobile is, what driving is, the distinc-
tive features of the wonderful Porsche 911, etc.
24. In sum, one can reflectively theoretically observe
and analyze mental or intentive processs or encounter-
ings of a sort ordinarily referred to at least in English as
desiring. A prominent sub-species of desiring is sen-
sual, e.g., intentive straightforwardly to types of drink,
food, sex, etc., but it is broader than that, something that
a non-sensual object as a running example can help to
make clear.
25. Desiring is an encountering in which positive af-
fective positing predominates and the thing-as-intended-
to in it has positive value. Unlike most other types of en-
countering in which valuing predominates, e.g., wishing
and moral approving, however, desiring is like hoping
in not being directly intentive to ideal, past, or present
objects, but only to a future object and that may be a fu-
ture object without a probable date.
188
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 184-188, jul-dez, 2013
Lester Embree
26. Unlike how it seems that a desiring for sweetness
or warmth might occur in primary automaticity, desiring
in secondary automaticity, i.e., as habitual, is something
clearly learned and that becomes operational under de-
terminable circumstances.
27. Finally, while it might now seem problematical,
desiring is discussed in traditional psychology and per-
tains also to constitutive phenomenology chiefly as pos-
sibly part of accounts of motivation and justification for
willing and action, but apart from those uses, it can also
foster the improvement of skill at reflective analysis.
References
Cairns, D. (2013). The Egological Reduction. In Dorion Cairns,
The Philosophy of Edmund Husserl (Lester Embree, Ed., pp.
109-118). Dordrecht: Springer.
Embree, L. (2009). Dorion Cairns and Alfred Schutz on the
Egological Reduction, In Hisashi Nasu, Lester Embree,
George Psathas & Ilja Srubar (Eds), Alfred Schutz and his
Intellectual Partners (UVK: Verlagsgesellschaft mbH.
Husserl, E. (1913). Ideen zu einer reinen Phnomenologie
und phnomenologischen Philosophie (Husserliana 3).
Dordrecht: Kluwer Academic.
Husserl, E. (1931). Cartesianische Meditationen (Husserliana
1). Dordrecht: Kluwer Academic.
Lester Embree - Philosophy Departament, Florida Atlantic University,
Boca Ratn, Florida. Director of the Center of Advanced Research
in Phenomenology (http://www.phenomenologycenter.org). E-mail:
embree@fau.edu
Received 15.09.13
Accepted 08.12.13
189
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
A Questo da Psicopatologia na Perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa: Dilogos com Arthur Tatossian
A QUESTO DA PSICOPATOLOGIA NA PERSPECTIVA
DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA: DILOGOS
COM ARTHUR TATOSSIAN
The Question of Psychopathology in Person Centered Approach: Dialogues with Arthur Tatossian
La Cuestin de la Psicopatologa en el Enfoque Centrado em la Persona: Dilogos con Arthur Tatossian
CAMILA PEREIRA DE SOUZA
VIRGNIA TORQUATO CALLOU
VIRGINIA MOREIRA
Resumo: Os estudos realizados por Carl Rogers, no campo da Abordagem Centrada na Pessoa, tm uma preocupao ntida com
o homem e o seu desenvolvimento como pessoa. Seus trabalhos, inicialmente na rea clnica, mostraram a presena de uma
capacidade, manifestada em todos os indivduos, a uma regulao organsmica que levaria ao crescimento e ao amadurecimen-
to pessoal. Esta perspectiva tambm se encontraria nos casos mais graves de transtornos psicopatolgicos, em que as desorga-
nizaes dos indivduos se dariam de forma mais intensa. Por percebermos a relevncia de maiores discusses no campo dos
transtornos mentais, neste artigo nos propomos a pensar possveis contribuies da psicopatologia fenomenolgica de Arthur
Tatossian para a clnica humanista.
Palavras-chave: Psicopatologia fenomenolgica; Abordagem centrada na pessoa; Transtornos mentais; Clnica humanista;
Arthur Tatossian.
Abstract: Carl Rogerss studies in the field of the Person Centered Approach concern about the human being and his develop-
ment as a person. The presence of an inherent capacity to all individuals of an organismic regulation leading to personal growth
and maturity was shown in his work, initially in the clinical area. This perspective would also be present in more severe cases
of psychopathological disorders in which the disorganization of individuals would be more intense. Because of the importance
of further discussion in the field of mental disorders, with this article we propose to reflect about the Arthur Tatossian phenom-
enological psychopathology contributions to the humanist clinical
Keywords: Phenomenological psychopathology; Person-centered approach; Mental illness; Humanist clinical; Arthur Tatossian.
Resumen: Los estudios realizados por Carl Rogers, en el mbito del Enfoque Centrado en la Persona, tiene una preocupacin
muy clara con el hombre y su desarrollo como persona. En su obra, inicialmente en el rea clnica, se observ una capacidad
presente en todos los individuos, un reglamento organsmico que llevara al crecimiento y madurez personal. Tal perspecti-
va tambin estara presente en los casos ms graves de trastornos psicopatolgicos en los que la desorganizacin de los indi-
viduos sera ms intensa. Al darse cuenta de la importancia de la discusin en el campo de los trastornos mentales, con este
artculo nos proponemos reflexionar sobre las contribuciones de la psicopatologa fenomenolgica de Arthur Tatossian a la
clnica humanista.
Palabras-clave: Psicopatologa fenomenolgica; Enfoque centrado en la persona; Enfermedad mental, Clnica humanista;
Arthur Tatossian.
Introduo
A forma de se lidar com o fenmeno da loucura mar-
cada por um meio social, cultural e poltico, que predomi-
na em cada perodo histrico especfico. Na Idade Mdia,
por exemplo, era abordada como uma forma de possesso
demonaca, j na modernidade, ocasio em que impera o
racionalismo, a loucura fica conhecida como uma perda
da razo e, por fim, na contemporaneidade, era em que
predomina o saber mdico, passa a ser estudada no cam-
po da psicopatologia e concebida como doena mental
(Schneider, 2009).
A loucura, como aponta Foucault (1961/2005) em seu
estudo arqueolgico, esteve presente desde a antiguidade,
acompanhando o homem em todo o seu percurso histri-
co. Mas em uma poca especfica, quando o saber mdico
ganhou fora, ela passa a ser apropriada pela Medicina
atravs da psiquiatria para, em seguida, fazer parte do
domnio da psicopatologia.
Entretanto, a clnica psiquitrica, como aponta
Schneider (2009), efetuou um erro epistemolgico gra-
ve, pois
190
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
Camila P. de Souza; Virgnia T. Callou & Virginia Moreira
confunde as variveis constitutivas dos fenmenos
psicopatolgicos, ou seja, aquelas variveis que deli-
mitam e definem tal fenmeno em sua complexidade,
no caso especfico, as variveis biolgicas e psicol-
gicas, que se desdobram em seus sintomas psicof-
sicos, como sendo suas variveis constituintes, ou
seja, aquelas que geram, constituem ou determinam
o fenmeno, que como nos mostram a antropologia,
sociologia e psicologia social so da ordem do socio-
lgico e do cultural (p. 67).
Esta perspectiva corrobora a posio dualista men-
te/corpo que imperava no sculo XVII e aprisionava a
psiquiatria em um modelo emprico que proporcionava
uma exacerbada descrio de inmeros sintomas, mas
que, apesar de relevante e verdico, no oferecia uma
definio do adoecer psquico e nem uma compreenso
dos quadros patolgicos. A psiquiatria se coloca, ento,
em um lugar epistemologicamente frgil, pois no con-
seguiu estabelecer algo que demarcasse biologicamente
a etiologia de seus transtornos, apesar de todo o rigor
emprico presente na elaborao de seus diagnsticos
(Schneider, 2009). A objetividade que almeja recai sob
a tentativa de reafirmar a existncia de uma determi-
nao orgnica, possibilitando, assim, que outras reas
do saber, como a psicologia, adentrassem em seu cam-
po de discusso.
So inmeros os enfoques que discutem o humano
e os transtornos mentais. Dentre eles, encontramos a
Abordagem Centrada na Pessoa, desenvolvida pelo psi-
clogo norte-americano Carl Rogers, mas no podemos
afirmar que Rogers desenvolveu um estudo especfico
acerca dos transtornos mentais. Para Rogers (1961/2009),
o fundamental era estabelecer uma relao de pessoa-
-a-pessoa, considerando o cliente em sua totalidade or-
gansmica, ao invs de encarcer-lo em classificaes
diagnsticas. No entanto, como afirmam Vieira & Freire
(2012), apesar de Carl Rogers ter preferido se abster de
criar ou de utilizar as categorias classificatrias dos
transtornos psicopatolgicos, ele no pde fugir de tais
questes, em decorrncia do desenvolvimento de suas
ideias sobre a pessoa em pleno funcionamento e a ten-
dncia atualizante.
Por mais que discutir os transtornos mentais no fosse
seu ncleo principal de estudo e pesquisa, a contribuio
do pensamento de Carl Rogers neste campo foi notria.
Atravs do desenvolvimento de sua teoria, o olhar do psi-
coterapeuta ou do facilitador recai sobre a pessoa que est
em processo teraputico e na prpria relao interpessoal
estabelecida nas sesses. Postura esta que desmistifica o
lugar de poder ocupado pelo profissional, conferindo li-
berdade e autonomia para o cliente, que busca por ajuda,
sem enxerg-lo como um objeto passvel de uma rotula-
o. Carl Rogers d destaque para o indivduo enquanto
pessoa, deixando em segundo plano a compreenso do
adoecimento que tambm compe a dimenso existen-
cial do sujeito. Ele prioriza a relao intersubjetiva en-
tre cliente e psicoterapeuta e a subjetividade do cliente,
como pessoa, em detrimento da doena.
A Psicopatologia Fenomenolgica, inspirada na fi-
losofia de autores como Husserl e Heidegger, entre ou-
tros, busca a compreenso da dimenso existencial do
homem que adoece mentalmente. Esta perspectiva no
se prende aos dados unicamente subjetivos do paciente,
ainda que se preocupe com esta dimenso como parte
da experincia vivida, questionando, bem como Rogers,
uma abordagem da doena que negligencie o sujeito, ou
a pessoa. Consiste uma perspectiva que prioriza a forma
como o fenmeno se manifesta e o seu significado para
quem o experiencia, ultrapassando a lgica psiquitrica
classificatria, pois compreende os transtornos mentais
como condio de possibilidade de uma existncia ado-
ecida e se apresenta como uma vertente que rompe com
os padres dominantes de sade e doena e de normal
e patolgico, que categorizam e excluem os indivdu-
os que possuem um laudo diagnstico (Pessotti, 2006;
Schneider, 2009).
A Psicopatologia Fenomenolgica surge com as pu-
blicaes de Eugne Minkowski e Ludwig Binswanger
na dcada de 1920, na Europa (Tatossian, 1979/2006).
No decorrer de seu desenvolvimento tambm encontra-
mos nomes como os de Hubert Tellenbach, Medard Boss,
Kimura Bin, Van Den Berg, entre outros, e, mais recente-
mente, Arthur Tatossian (Schneider, 2009; Moreira, 2011;
Tatossian & Moreira, 2012).
Neste artigo nos propomos a investigar a compreen-
so de psicopatologia presente no pensamento rogeriano,
pautado nos conceitos de tendncia atualizante e pessoa
em funcionamento pleno, e as possveis contribuies
da proposta da psicopatologia fenomenolgica para uma
clnica humanista tomando como base os escritos do psi-
quiatra francs Arthur Tatossian. Discutimos, inicial-
mente, o pensamento de Carl Rogers, por meio da proposta
de uma Terapia Centrada no Cliente, e sua viso sobre a
Psicopatologia. Em seguida, apontamos para os caminhos
trilhados no campo da Psicopatologia Fenomenolgica de
Arthur Tatossian, que podem vir a enriquecer a aborda-
gem da clnica humanista.
1. A Abordagem Centrada na Pessoa e a Questo do
Adoecimento Mental
A Abordagem Centrada na Pessoa, desenvolvida a
partir dos estudos e da experincia profissional do psi-
clogo norte-americano Carl Rogers, tem como princpio
norteador a crena de que todos os indivduos possuem
uma capacidade inata autorregulao, ao desenvolvi-
mento e ao amadurecimento do prprio organismo. Esta
inclinao ficou conhecida, ao longo da obra de Carl
Rogers, como tendncia atualizante (Sanders, 2009).
Como aponta Bozarth (2001), esta tendncia seria a pe-
191
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
A Questo da Psicopatologia na Perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa: Dilogos com Arthur Tatossian
dra angular sobre a qual se constri a terapia centrada
na pessoa, pois a confiana creditada pelo terapeuta no
cliente lhe proporcionaria uma libertao e promoo de
suas capacidades naturais para o crescimento. Segundo
Rogers (1961/2009),
(...) o indivduo traz dentro de si a capacidade e a
tendncia, latente se no evidente, para caminhar
rumo maturidade. Em um clima psicolgico ade-
quado, essa tendncia liberada, tornando-se real
ao invs de potencial... Seja chamando a isto uma
tendncia ao crescimento, uma propenso rumo
auto-realizao ou uma tendncia direcionada para
frente, esta constitui a mola principal da vida, e , em
ltima anlise, a tendncia de que toda a psicoterapia
depende (p. 40)
Assumindo a tendncia atualizao como postula-
do central de sua teoria, Rogers direciona sua viso de
homem e de mundo confiana na capacidade de au-
torregulao do indivduo. Coloca suas crenas na fora
interior do cliente, acreditando que a vontade positiva
na direo do crescimento resultaria em sua mudana
teraputica, mesmo em casos de severas desordens psi-
quitricas (Van Blarikom, 2008). Com esta perspectiva,
Rogers (1942/2005, 1946/2000, 1951/1992 e 1961/2009)
desmistifica o papel do terapeuta como aquele que detm
o saber e o controle do processo teraputico, ressaltando
a importncia da relao interpessoal entre terapeuta e
cliente para a fluidez da terapia e o consequente cresci-
mento do paciente (Cury, 1987; Warner, 2005).
A tendncia atualizante estaria, para ele, presente
em todos os indivduos, inclusive em casos mais graves
de doenas mentais. Em sua ltima obra publicada, o
livro Um Jeito de Ser, Rogers (1980/1983) expande esta
perspectiva ao propor o conceito de tendncia formati-
va, em que a capacidade atualizao estaria presen-
te no apenas nos seres vivos, mas em todo o universo,
dando um sentido holstico e transcendental existn-
cia do homem.
Apesar desta tendncia ao crescimento ser inata a
todos os organismos, ela precisa ser estimulada para
que ocorra uma mudana teraputica significativa no
cliente. Rogers (1957/1995), baseado em sua prtica cl-
nica e na de seus colegas, pesquisou com afinco as nu-
ances desse processo, para, em seguida, apresentar o
que designou como as seis condies necessrias e su-
ficientes para a mudana construtiva da personalidade.
Dentre elas, Rogers (1957/1995) estipulou ser necessrio
que o cliente se encontrasse em um nvel de incongru-
ncia, demonstrando estar vulnervel e ansioso. Seria
um estado em que se apresentaria uma ciso entre a
imagem que o indivduo tem de si prprio e o que real-
mente ele experiencia em sua totalidade organsmica.
H uma distoro na representao consciente da ex-
perincia, portanto,
H uma discrepncia fundamental entre o significado
experienciado da situao, da forma como registrado
por seu organismo e a representao simblica daque-
la experincia na conscincia, de uma maneira que
no entre em conflito com a imagem que ele tem de
si mesmo (Rogers, 1957/1995, p. 160).
Com o decorrer do processo psicoterpico, se todas
as seis condies facilitadoras fossem adequadamente
integradas relao, o indivduo mudaria significativa-
mente a sua personalidade, alcanando um modo de fun-
cionamento pleno e integrado, uma vez que a tendncia
autorregulao poderia fluir continuamente (Rogers,
1957/1995; Warner, 2005). Esse pressuposto rogeriano
vlido para todos os casos de desadaptao e desa-
justamento, uma vez que Rogers salienta, ao longo de
sua obra, que o seu foco na pessoa e no em catego-
rias diagnsticas de quadros psicopatolgicos (Joseph &
Worsley, 2005; Warner, 2005). Sua proposta de psicote-
rapia seria, ento, eficaz para todos os transtornos men-
tais, mas, como salienta Van Blarikom (2008), no exis-
tem estudos que confirmem essa posio. Tudo o que
sabemos com certeza que a terapia centrada na pessoa
no universalmente eficaz e que isso leva a consequn-
cias sobre as quais precisamos refletir (Van Blarikom,
2008, p. 29). A proposta rogeriana era oferecer um para-
digma alternativo ao do modelo mdico vigente (Joseph
& Worsley, 2005).
Rogers (1963/1995) aponta que h evidncias que de-
monstram um desacordo entre as categorias diagnsti-
cas de classificao dos transtornos mentais, desacre-
ditando-as enquanto conceitos cientficos e recusan-
do-as por motivos clnicos e ticos em sua abordagem
(Sanders, 2007). No concebe, ento, como resultado
satisfatrio da psicoterapia, a sada de um diagnsti-
co para um estado normal. Para ele, no necess-
rio discriminar diferentes patologias mentais, que ne-
cessitam de diferentes tratamentos (Joseph & Worsley,
2005), uma vez que todas elas corresponderiam a um
modo de funcionamento incongruente e inautntico do
indivduo (Warner, 2006).
Nos ltimos anos tenho conjeturado se o termo psi-
copatologia no pode simplesmente ser uma palavra-
-ba que se presta a acolher todos aqueles aspectos
da personalidade que os diagnosticadores como um
todo teme em si mesmos. Por essas e outras razes,
a mudana no diagnstico no uma descrio de
resultado psicoteraputico que me satisfaa (Rogers,
1963/1995, p. 73).
Suas questes em psicoterapia no se remetem, dire-
tamente, a abordar e tratar os transtornos mentais, pois
seu foco principal se dava sobre as relaes interpessoais,
partindo de sua percepo de que cada indivduo teria
guardado em si mesmo toda a capacidade para alcanar
192
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
Camila P. de Souza; Virgnia T. Callou & Virginia Moreira
o pleno desenvolvimento (Warner, 2005). A classificao
e o diagnstico so recursos cientficos importantes, po-
rm a viso unilateral desta perspectiva se torna arrisca-
da para o desenrolar do processo teraputico, por levar
a uma reduo e coisificao do cliente, aprisionando
seu modo de ser (Shlien, 1977). O principal objetivo do
psicoterapeuta seria apoiar a capacidade de crescimento
do cliente, compreendendo e aceitando seus sentimen-
tos e percepes da realidade, sem impor uma viso sua.
Ele no assumiria uma postura curativa, mas auxiliaria
o cliente a entrar em contato com seu processo de autor-
realizao, pois cada indivduo teria um impulso prim-
rio que lutaria pelo aperfeioamento do eu (Shlien, 1977).
Ao invs de buscar conduzi-lo com ideias pr-concebi-
das, o psicoterapeuta se preocuparia em estabelecer um
clima facilitador para o crescimento do cliente atravs
das qualidades atitudinais de congruncia, compreenso
emptica e olhar incondicionalmente positivo (Bozarth,
2001). A teoria de mudana da personalidade proposta
por Rogers assume uma nica fonte para a psicopatolo-
gia - a incongruncia - e uma nica cura - as condies
necessrias e suficientes presentes na relao teraputi-
ca (Warner, 2006, p. 5).
A presena dessas atitudes criaria um clima propcio
ao desenvolvimento do cliente. Ao discorrer sobre este
aspecto, Rogers (1963/1995) se questiona sobre quais se-
riam as caractersticas de um indivduo que encerrou
o processo psicoteraputico. Assinala que existe uma
ideia comumente aceita, de que a pessoa que comple-
tou a psicoterapia estar ajustada sociedade (Rogers,
1963/1995, p. 72). Para ele, o cliente alcanaria um estado
tal que lhe seria possvel experienciar conscientemente
certos elementos que, anteriormente, lhe eram pernicio-
sos estrutura do self. O cliente se percebe em todos es-
ses sentimentos, compreendendo que no precisa mais
temer certas experincias e as concebe como parte in-
tegrante de seu self mutvel e em constante desenvolvi-
mento (Rogers, 1963/1995).
Emergir de uma experincia em psicoterapia que ob-
teve um nvel timo, como descreve Rogers (1963/1995),
corresponderia a uma pessoa que alcanou um modo de
funcionamento pleno, na Terapia Centrada no Cliente.
uma pessoa que estaria inteiramente empenhada no pro-
cesso de tornar-se ela mesma e funcionaria de forma livre
em toda a plenitude de suas potencialidades, pois a flui-
dez de suas experincias se daria a partir da conscincia
que teria de si mesma (Rogers, 1963/1995).
Em psicoterapia, o cliente tem a oportunidade de
experienciar a sua liberdade de escolha e a direo que
quer dar ao processo. Ele pode ser ele mesmo ou apre-
sentar-se com uma mscara ou fachada, quando aquilo
o que experiencia a nvel organsmico est desintegra-
do da imagem que tem de si em seu self. Tanto os seus
comportamentos destrutivos quanto os construtivos so
aceitos e compreendidos genuinamente pelo terapeuta,
o que levaria a fluidez de suas capacidades criativas e
ao alcance de um modo de funcionamento pleno com o
fim da terapia. Este seria, em resumo, como ocorrem os
processos teraputicos, partindo de um enfoque centra-
do no cliente.
Rogers dirigiu uma pesquisa, juntamente com
Eugene Gendlin e Charles Truax, sobre o processo de
psicoterapia com pacientes esquizofrnicos no Instituto
Psiquitrico da Universidade de Winsconsin, que rece-
bia o apoio do Instituto Nacional de Sade Mental dos
Estados Unidos (Gendlin, 1966; Van Blarikom, 2006;
Traynor, Elliott & Cooper, 2011). O principal objetivo do
projeto era testar se a hiptese inicial de Rogers sobre
as trs condies facilitadoras (empatia, autenticidade e
aceitao positiva incondicional) auxiliaria na melhora
dos pacientes atendidos (Gendlin, 1966). O resultado,
entretanto, foi decepcionante, pois no houve uma dife-
rena significativa entre o grupo de tratamento e o grupo
de controle (Van Blarikom, 2006). Esse foi um dos raros
momentos, da trajetria de Carl Rogers, em que o campo
da Psicopatologia entrou em cena com maior destaque,
pois h uma relutncia do enfoque centrado na pessoa
em trabalhar com a linguagem psiquitrica dos quadros
psicopatolgicos (Joseph & Worsley, 2005; Van Blarikom,
2006). Essa caracterstica percebida at os dias atuais,
o que confirmado pela dificuldade de encontrar mate-
rial bibliogrfico sobre o assunto. Como afirma Warner
(2005), vrios passos so necessrios para o desenvol-
vimento de um modelo de bem-estar e psicopatologia
centrado na pessoa (p. 4).
Em seus dilogos com o filsofo Martin Buber, Rogers
e Buber (1957/2008) ressalta que, em seu percurso pro-
fissional, no passou pela experincia de trabalhar em
um hospital psiquitrico, no entrando em contato com
pessoas com graves transtornos psicopatolgicos. Afirma
que tem lidado com pessoas que, em sua maioria, so
capazes de algum tipo de ajustamento na comunidade
(Rogers & Buber, 1957/2008, p. 238). Apesar disso, ressal-
ta que, ao focar na relao interpessoal estabelecida com
o paciente, a classificao em um transtorno esquizofr-
nico, paranoico ou outro qualquer no seria o mais rele-
vante, pois se a terapia efetiva, existe o mesmo tipo de
encontro de pessoas, no importa qual seja o rtulo psi-
quitrico (Rogers & Buber, 1957/2008, p. 238). Seu foco
se mantm centrado na pessoa e na relao interpessoal
estabelecida com o terapeuta, reafirmando, assim, a ne-
cessidade de um clima favorvel ao crescimento e ama-
durecimento do indivduo.
Por mais que Rogers no tenha aprofundado, em
seus escritos, estudos sobre as questes psicopatolgi-
cas, no lhe foi possvel uma absteno completa sobre
esse assunto, especialmente quando coloca em pauta
suas teorias sobre a tendncia atualizante e a pessoa
em funcionamento pleno. Sua viso de homem e de
mundo contribuiu para que se pudesse discutir os con-
ceitos de normal e patolgico, sade e doena e toda a
lgica classificatria embutida nos processos diagns-
193
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
A Questo da Psicopatologia na Perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa: Dilogos com Arthur Tatossian
ticos, que reduziam o homem a categorias especficas.
Como afirma Rogers,
Sinto que se, do meu ponto de vista, esta for uma
pessoa doente, ento, eu no o ajudarei tanto quanto
eu poderia. Sinto que essa uma pessoa. Sim, outros
podem cham-lo de doente, ou se eu olhar para ele
de um ponto de vista objetivo, ento eu poderia con-
cordar, tambm, Sim, ele est doente. Mas ao entrar
em uma relao, me parece que, se estou olhando para
isso como eu sou uma pessoa relativamente bem
e esta uma pessoa doente... no servir de nada
(Rogers & Buber, 1957/2008, p. 236).
Partir de uma lgica compreensiva para lidar com
a questo do adoecimento mental um salto relevante
para uma possvel discusso e reflexo sobre a sua apro-
priao pelo saber mdico psiquitrico e suas concep-
es no mundo contemporneo. Como apontam Vieira
& Freire (2012), para Rogers seria suficiente responder a
todo o problema que envolve os transtornos psicopato-
lgicos ao simplesmente assumir o outro como pessoa.
Os dados especficos presentes em cada patologia, como
alucinaes e delrios por exemplo, seriam concebidos
por Rogers como uma expresso singular da experin-
cia daquele cliente, que poderia ou no dificultar a co-
municao com o mesmo, mas o processo teraputico se
desenrolaria seguindo os mesmos pressupostos (Vieira
& Freire, 2012).
Esta perspectiva se faz bastante evidente em sua ela-
borao a partir do caso Ellen West, cujo original cor-
responde a um estudo clssico da psicopatologia feno-
menolgica a respeito de uma paciente atendida na cl-
nica de Bellevue pelo psiquiatra fenomenlogo Ludwig
Binswanger. Este caso est originalmente publicado em
alemo, porm possui tradues para o ingls e o espa-
nhol, e sua riqueza reside no s nos vrios relatos de
renomados profissionais do campo da psiquiatria e da
psicoterapia, mas tambm em descries e anotaes
pessoais em dirios e cartas da paciente (Rogers, 1977).
Da poca em que procurou ajuda at o fim de sua
vida, Ellen West passou por diversos profissionais, des-
de psiquiatras a psicanalistas, e obteve pouqussima me-
lhora em seu quadro, culminando em suicdio. Segundo
Rogers (1977), o erro fatal, que resultou no insucesso do
tratamento de Ellen West, correspondeu ao fato de a pa-
ciente ter sido tratada como um objeto por todos os pro-
fissionais envolvidos em seu caso. Os psiquiatras bus-
caram ser assertivos no que se referia a classificao de
sua doena, cada um apontando para diferentes rotu-
laes. J os analistas ajudaram Ellen West a perceber
seus sentimentos, mas no a vivenci-los, distanciando-
-a cada vez mais da possibilidade de alcanar sua pr-
pria experincia.
Como aponta Rogers (1977), ningum estabeleceu um
relacionamento de pessoa-a-pessoa com a paciente, con-
fiando em sua autonomia de escolha e em sua capacidade
de autodireo. No havia nenhum clima que facilitas-
se o desenvolvimento de uma relao interpessoal, que
poderia levar Ellen West ao encontro genuno consigo
mesma e com a sua experincia. A vivncia da paciente
no era digna de confiana e seus sentimentos no eram
aceitos por quem a atendia. Rogers (1977) afirma que o
destino trgico de Ellen West poderia ter sido revertido
se a paciente tivesse sido atendida a partir de um enfo-
que centrado na pessoa, pois teria adquirido a confian-
a necessria para acreditar em suas potencialidades de
desenvolvimento e atualizao.
Somos de profunda ajuda somente quando nos rela-
cionamos como pessoas, quando nos arriscamos como
pessoas no relacionamento, quando vivenciamos o ou-
tro como uma pessoa em seu prprio direito. Somente
assim existe um encontro de uma profundidade tal
que dissolve, tanto no cliente quanto no terapeuta, o
sofrimento da solido (Rogers, 1977, p. 100).
A perspectiva de Carl Rogers, sobre as psicopatolo-
gias, d margem para discutir o lugar que o paciente
ocupa no processo teraputico e refletir sobre a viso
dicotmica presente nas concepes contemporneas
de sade e doena. Seu pensamento rompe com o mo-
delo mdico classificatrio, que compreendia a doen-
a como um objeto a ser tratado. um avano signifi-
cativo na compreenso do adoecimento mental, mas a
sua proposta de tratamento assume como verdadeiro
um nico caminho, ou seja, a relao estabelecida de
pessoa-para-pessoa.
Van Blarikom (2006) chama a ateno para o fato
que, em casos de transtornos mentais graves, a pessoa
no deve ser separada de sua doena, afirmando que
no pode haver dvidas de que existe algo chamado de
doena mental que influencia o funcionamento de uma
pessoa para alm do que pode ser entendido em termos
psicolgicos (p. 168). Essa posio no invalida os pre-
ceitos bsicos da Abordagem Centrada na Pessoa, mas se
soma a eles (Van Blarikom, 2008). Ao assumir esta ideia,
o enfoque centrado na pessoa poderia alcanar uma com-
preenso mais clara da experincia de adoecimento do
cliente, percebendo a interrelao entre pessoa e doena
como partes de um mesmo processo.
Sanders (2009) critica o modelo mdico de diagns-
tico dos transtornos mentais ao retomar uma postura
holstica na compreenso do todo organizado que com-
pe o homem. Para ele, a existncia humana possui di-
menses somticas, afetivas, espirituais, etc, que devem
ter a mesma importncia aos olhos da Terapia Centrada
na Pessoa, pois esta tem o potencial de co-construir um
diagnstico como um momento temporrio do processo
e no um destino fixo (Sanders, 2009).
A Psicopatologia Fenomenolgica desenvolve seus es-
tudos sobre os transtornos mentais considerando outras
194
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
Camila P. de Souza; Virgnia T. Callou & Virginia Moreira
possibilidades de ser e outros modos existenciais que
constituem o sujeito, compreendendo o adoecimento em
toda a sua complexidade. Alm do caso de Ellen West de
Binswanger, Rogers no faz referncias tradio euro-
peia da psicopatologia fenomenolgica. Em alguns mo-
mentos ele se aproxima do pensamento fenomenolgico,
quando utiliza os conceitos de experienciao, oriundos
de Eugene Gendlin, ou a noo de encontro, resgatada
do pensamento de Martin Buber. Entretanto, mesmo em
sua fase experiencial, quando trabalhou com Gendlin,
Rogers nunca abandonou a ideia de pessoa como centro
para priorizar fenomenologicamente a intersubjetividade
e a relao (Moreira, 2007).
A Abordagem Centrada na Pessoa oferece uma teoria
forte e um mtodo psicoteraputico consistente. O apro-
fundamento de uma linguagem fenomenolgica seria
um dos caminhos para o desenvolvimento de trabalhos
com pacientes que possuem transtornos mentais graves
(Warner, 2006).
2. Do sintoma ao fenmeno: o caminho para uma
discusso da psicopatologia
Ao pensar sobre os quadros psicopatolgicos, a psi-
copatologia fenomenolgica apresenta a relevncia dada
compreenso da dimenso existencial do homem. Este
fator auxiliou a romper com uma lgica dicotmica e
explicativa, presente no estudo das doenas mentais. A
Abordagem Centrada na Pessoa tambm contribui para
esta ruptura, pois foge do pensamento classificatrio
predominante ao apresentar a relevncia da relao in-
terpessoal estabelecida entre terapeuta e paciente e ao
colocar o homem, para alm da doena, como centro de
seus estudos.
Porm, os estudos de Carl Rogers no aprofundam as
questes referentes psicopatologia. sob o terreno da
fenomenologia que se desenvolve uma compreenso do
patolgico como pathos, ou seja, como uma disposio
afetiva fundamental inerente ao homem. Ele corresponde
a uma disposio originria do sujeito que est na base
do que prprio do humano. Assim, o pathos atravessa
toda e qualquer dimenso humana, permeando todo o
universo do ser (Martins, 1999, p. 66).
O patolgico, a partir de uma lente da psicopatologia
fenomenolgica, no apenas o que a cincia expe como
doena, imerso em uma conotao negativa e atrelado ao
conceito de cura, mas corresponde a uma disposio e a
um movimento do fenmeno fundamental que compe
a existncia do homem (Martins, 1999). Dessa forma, a
fenomenologia est mais preocupada com a compreenso
dos modos de ser que compem uma existncia adoeci-
da. Ela no tem interesse em acrescentar uma nova tc-
nica teraputica s j existentes, podendo, no mximo,
se encarregar de fazer uma anlise crtica das mesmas
(Tatossian, 1979/2006).
Na tradio da Psicopatologia Fenomenolgica, en-
contramos diversos autores que desenvolveram estudos
e fundamentaram seus pensamentos em eixos filosficos
especficos. Neste artigo, damos nfase aos escritos de
Arthur Tatossian, psiquiatra francs de origem armnia,
que foi um dos autores da psicopatologia fenomenolgica
que mais priorizou uma prtica clnica construda sobre
e na experincia. Tatossian (1979/2006) elucida que a fe-
nomenologia no tem interesse em explicar a experincia
psicopatolgica, mas clarific-la atravs de um caminho
prioritariamente descritivo.
Sua contribuio no campo da psicopatologia feno-
menolgica no reside apenas no aparato de uma tcni-
ca de aplicao filosfica, mas na forma em que busca
questionar e compreender os indivduos acometidos por
algum transtorno mental. Tatossian afirma que a feno-
menologia psiquitrica no poderia ser ensinada de ma-
neira didtica, que ela se vivia, que demandava um srio
esforo queles que queriam utiliz-la e que no poderia
jamais se resumir em algumas receitas estereotipadas
(Tatossian & Samuelian, 2002/2006, p. 354).
Trata-se do esforo de pensarmos em uma prtica cl-
nica sempre voltada para a experincia, pois, como afir-
ma Tatossian (1979/2006), a fenomenologia definida a
partir de uma mudana de atitude, em que necessrio
o abandono de uma atitude natural e ingnua, ou seja,
aquela do cotidiano em que apreendemos as realidades
objetivas e materiais para voltar-se para as condies de
possibilidade do sujeito, recusando todos os prejulgamen-
tos. Ela se constri sob uma maneira de trabalhar sempre
em fluxo, em que h uma relao de implicao entre fi-
losofia e psicopatologia e no apenas de uma aplicao
conceitual prvia.
A psicopatologia fenomenolgica se interessa primor-
dialmente pelo fenmeno que compe a globalidade da
experincia de adoecimento, no se restringindo ape-
nas ao sintoma. Estes surgem como um indcio da doen-
a e correspondem quilo que a denuncia enquanto tal
(Tatossian, 1979/2006; 1980/2012). Se tomarmos como
exemplo uma pessoa acometida pelo vrus da gripe, um
espirro ou uma tosse poderia ser um primeiro vestgio a
apontar que algo se passa com aquele sujeito, mas estes
sintomas no seriam suficientes para abranger a totali-
dade daquela experincia de adoecimento. J o fenme-
no a modalidade de ser prpria do doente, que rompe
com as dicotomias entre sujeito e objeto, priorizando uma
experincia pr-terica e pr-reflexiva do mundo vivido
de cada indivduo (Tatossian, 1979/2006; 1980/2012), que
pode ser definido como aquilo que corresponde ao mundo
das significaes presente na experincia imediata das
aes humanas (Moreira, 2011).
Como aponta Tatossian (1979/2006), necessrio
perceber que a experincia fenomenolgica autntica
e acabada no se reduz quela do puro fenmeno, mas,
antes, fuso da experincia emprica com a experin-
cia apririca (p. 44). Os sintomas tambm fazem parte
195
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
A Questo da Psicopatologia na Perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa: Dilogos com Arthur Tatossian
dessa experincia de adoecimento, estando ali presen-
tes e residindo no fenmeno, mas o olhar da fenomeno-
logia transcende aos dados apriricos de uma realidade
objetiva, buscando uma descrio do todo ao qual cor-
responde esse mundo vivido, sem descartar, contudo,
seus dados materiais.
Trata-se de uma compreenso do adoecimento psico-
patolgico que no se apresenta a partir de um pensamen-
to reflexivo e externalizado, mas como uma co-experin-
cia, em que temos o transtorno e tambm a experincia
do sujeito adoecido. uma constante relao entre pas-
sividade e atividade, receptividade e espontaneidade, em
que o movimento prprio de ns mesmos, incorporando
o movimento essencial do outro por um pensamento re-
ceptivo (Tatossian, 1979/2006, p. 115) mantm o objeto
da experincia, que se constri e construdo, nessa re-
lao paradoxal que a incorpora.
Pensar em sintoma e fenmeno colocar em pau-
ta uma relao paradoxal para a compreenso de uma
clnica fenomenolgica, em que se entrelaam uma ex-
perincia que subjetiva e objetiva simultaneamente.
Trata-se de uma perspectiva que ultrapassa um mode-
lo dualista e tradicional ao constituir-se sob um pen-
samento ambguo (Moreira, 2011, 2012; Bloc, 2012). Ao
longo de sua obra, Tatossian mantm um dilogo con-
tnuo com vrios autores da fenomenologia, mas sem
nunca perder de vista sua preocupao com o homem
e seu sofrimento. Sua prioridade era a de desenvolver
uma psicopatologia da clnica e para a clnica (Moreira,
2012, p. 210), pois trabalhava de forma ambgua, na in-
terseo entre a teoria da psicopatologia fenomenolgi-
ca, que era oriunda de uma prtica que se constitua so-
bre e na experincia de adoecimento, sem distanciar-se
do exerccio clnico, no qual cada paciente possua sua
singularidade (Bloc, 2012).
Uma psicopatologia que visa compreenso do
mundo vivido (Lebenswelt) possui uma dupla dimen-
so em sua experincia. Temos, de um lado, um dado
pr-terico e pr-objetivo perante o doente e, de outro,
a dimenso de como um mundo vivido (Lebenswelt)
particular se constitui. A experincia fenomenolgica
, portanto, uma experincia dupla, ao mesmo tempo
emprica (no sentido comum) e apririca (Tatossian,
1979/2006, p. 36). uma experincia de um mundo co-
tidiano de ordem concreta, sempre individual, mas que
tambm coletivo e impregnado de historicidade, em
que a subjetividade pensada enquanto intersubjetivi-
dade (Moreira, 2011).
A proposta da Psicopatologia Fenomenolgica de
Arthur Tatossian d vazo a todos os aspectos que com-
pem a globalidade da experincia de adoecimento, a par-
tir de uma relao do sujeito consigo mesmo, com o outro
e com o mundo. Para Tatossian (1979/2006; 1980/2012),
compreender fenomenologicamente os quadros psico-
patolgicos vislumbrar a experincia de adoecimento
do sujeito e tambm a doena; o apririco e o emprico,
a pessoa e a doena, destacando ambos em uma relao
ambgua de mtua constituio.
Consideraes finais
Em seus escritos, Rogers deixa claro que a psicopa-
tologia no era seu campo primordial de estudo, porm,
em alguns momentos, ele adentra no terreno desta dis-
cusso e questiona o modelo classificatrio e reducionis-
ta de compreenso dos transtornos mentais. Esta crtica
consiste em uma contribuio fundamental rea, pois
proporciona uma alternativa distinta daquela do modelo
mdico psiquitrico. O pensamento humanista de Rogers
prioriza a pessoa e a experincia psicoterapeuta-cliente.
Refuta a relevncia do diagnstico dos quadros psicopa-
tolgicos. Tatossian, por sua vez, ressalta a importncia
da experincia do indivduo adoecido e do fenmeno que
emerge em sua vivncia na clnica, na relao intersubje-
tiva entre paciente e psicoterapeuta. Nas duas propostas,
percebemos uma compreenso da psicopatologia como
algo que vai alm de um diagnstico ou uma tcnica de
aplicao prtica, recolocando a experincia do sujeito
como ponto de destaque ao invs de um aprisionamen-
to no sintoma.
Embora oriundos de fundamentos epistemolgicos
distintos, e momentos histricos e culturais tambm
diferentes, Rogers e Tatossian so autores que do am-
pla relevncia ao homem, em toda a sua complexidade,
e a experincia que emerge no contexto de uma relao
teraputica estabelecida na clnica. No entanto, suas
perspectivas se distanciam quando Rogers descarta to-
talmente a importncia da doena, priorizando a pes-
soa, como se a doena no fosse parte constitutiva des-
sa pessoa.
Assim como Rogers, Tatossian no se limita ao diag-
nstico ou ao sintoma, mas, diferentemente dele, no fo-
caliza a pessoa como o centro nico da questo. Ele pro-
pe a compreenso de uma experincia que objetiva e
subjetiva, simultaneamente, e que se constitui de forma
ambgua no entrelaamento de ambas. uma forma de
compreenso do adoecimento psicopatolgico que no
se constitui com um pensamento unilateral, mas como
uma co-experincia, em que temos o transtorno e tam-
bm a experincia do sujeito adoecido. uma constan-
te relao entre passividade e atividade, receptividade e
espontaneidade, que comporta a globalidade da experi-
ncia de adoecimento.
A psicopatologia fenomenolgica defende as diversas
possibilidades que configuram a existncia humana e
que esto vinculadas ao seu processo histrico e cultu-
ral numa relao de mtua constituio. A doena no
interior ou exterior ao indivduo, mas ela faz parte de
seu modo de funcionamento existencial. uma compre-
enso do adoecimento que no desconsidera os dados
objetivos e empricos em prol dos contedos subjetivos
196
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
Camila P. de Souza; Virgnia T. Callou & Virginia Moreira
Rogers, C. R. (1992). Terapia Centrada no Cliente. So Paulo:
Martins Fontes (Original publicado em 1951).
Rogers, C. R. (1995). As Condies Necessrias e Suficientes
para a Mudana Teraputica de Personalidade. In J. K. Wood
(orgs.). Abordagem Centrada na Pessoa. Vitria: Editora
Fundao Ceciliano Abel de Almeida (Original publica-
do em 1957).
Rogers, C. R. (2009). Tornar-se Pessoa. So Paulo: Martins Fontes
(Original publicado em 1961).
Rogers, C. R. (1995). O Conceito de Pessoa em Pleno
Funcionamento. In J. K. Wood (orgs.). Abordagem Centrada
na Pessoa (p. 71-95). Vitria: Editora Fundao Ceciliano
Abel de Almeida (Original publicado em 1963).
Rogers, C. R. (1977). Ellen West e solido. In C. R. Rogers &
R. L. Rosenberg. A Pessoa como Centro (p. 91-101). So
Paulo: EPU.
Rogers, C. R. (1983). Um Jeito de Ser. So Paulo: EPU (Original
publicado em 1980).
Rogers, C.R. & Buber, M. (1957/2008). Dilogo entre Carl Rogers
e Martin Buber. Revista da Abordagem Gestltica, 14(2),
233-243.
Sanders, P. (2007). Schizophrenia is Not an Illness: A res-
ponse to van Blarikom. Person-Centered & Experiential
Psychotherapies, 6(2), 112-128.
Sanders, P. (2009). Person-Centered Challenges to Traditional
Psychological Healthcare Systems. Person-Centered &
Experiential Psychotherapies, 8(1), 1-17.
Schneider, D. R. (2009). Caminhos histricos e epistemolgicos
da psicopatologia: contribuies da fenomenologia e existen-
cialismo. Cadernos Brasileiros de Sade Mental, 1(2), 62-76.
Shlien, J. M. (1977). O estudo da esquizofrenia pela terapia cen-
trada no cliente: primeira aproximao. In C. R. Rogers. De
pessoa para pessoa: o problema de ser humano (p. 173-190).
So Paulo: Pioneira.
Tatossian, A. (2006). A fenomenologia das psicoses. So Paulo:
Escuta (Original publicado em 1979).
Tatossian, A. (2012). Teoria e prtica em psiquiatria: sinto-
ma e fenmeno, um ponto de vista fenomenolgico. In A.
Tatossian & V. Moreira. Clnica do Lebenswelt: psicotera-
pia e psicopatologia fenomenolgica (p. 91-100). So Paulo:
Escuta (Original publicado em 1980).
Tatossian, J & Samuelian, J.-C. (2006). Psfacio da segunda
edio francesa. In Arthur Tatossian. Fenomenologia das
Psicoses (p. 347-357). So Paulo: Escuta (Original publica-
do em 2002).
Tatossian, A. & Moreira, V. (2012). Clnica do Lebenswelt: psico-
terapia e psicopatologia fenomenolgica. So Paulo: Escuta.
Traynor, W., Elliott, R. & Cooper, M. (2011). Helpful factors
and outcomes in person-centered therapy with clients
who experience psychotic processes: therapists perspec-
tives. Person-Centered & Experiential Psychotherapies,
10(2), 89-104.
e apriricos, mas vislumbra compreender o mundo vivi-
do de cada indivduo, a partir de uma viso mais ampla,
totalizante e no dicotmica; temos a pessoa e tambm
o adoecimento, em uma experincia que se constitui de
forma ambgua. Como afirma Tatossian, quando eu es-
tou com meu paciente que tem depresso, estou com ele
e com a experincia de depressividade vivida por ele.
Ou seja, pessoa e doena se constituem mutuamente,
so parte de um mesmo tecido. A pessoa a doena e a
doena a pessoa.
Referncias
Bozarth, J. (2001). Terapia Centrada na Pessoa: um paradigma
revolucionrio. Lisboa: Ediual.
Bloc, L. (2012). Clnica do Lebenswelt (mundo vivido): articu-
lao e implicao entre teoria e prtica. In A. Tatossian
& V. Moreira, Clnica do Lebesnwelt: psicoterapia e psico-
patologia fenomenolgica (p. 285-297). So Paulo: Escuta.
Cury, V. E. (1987). Psicoterapia Centrada na Pessoa: evolu-
es das formulaes sobre a relao terapeuta-cliente.
Dissertao de Mestrado, So Paulo: Universidade de So
Paulo.
Foucault, M. (2005). A Histria da Loucura. So Paulo: Martins
Fontes (Original publicado em 1961).
Gendlin, E. T. (1966). Research in psychotherapy with schizo-
phrenic patients and the nature of that illness. American
Journal of Psychotherapy, 20(1), 4-16.
Joseph, S. & Worsley, R. (2005). Psychopathology and the
Person-Centered Approach: building bridges between dis-
ciplines. In S. Joseph & R. Worsley (Eds.), Person-centered
Psychopathology: A positive psychology of mental health
(p. 1-8). UK: PCCS Books.
Martins, F. (1999) O que pathos? Revista Latino-Americana
da Psicopatologia Fundamental, 2(4), 62-80.
Moreira, V. (2007). De Carl Rogers a Merleau-Ponty: a pessoa
mundana em psicoterapia. So Paulo: Annablume.
Moreira, V. (2011). A contribuio de Jaspers, Binswanger, Boss
e Tatossian para a psicopatologia fenomenolgica. Revista
da Abordagem Gestltica, 17(2), 178-190.
Moreira, V, (2012). A contribuio de Jaspers, Binswanger,
Boss e Tatossian para a psicopatologia fenomenolgica. In
A. Tatossian & V. Moreira. Clnica do Lebenswelt: psico-
terapia e psicopatologia fenomenolgica (p. 189-217). So
Paulo: Escuta.
Pessotti, I. (2006). Sobre a teoria da loucura do sculo XX. Temas
em Psicologia, 14(2), 113-123.
Rogers, C. R. (2005). Psicoterapia e Consulta Psicolgica. So
Paulo: Martins Fontes (Original publicado em 1942).
Rogers, C. R. (2000). Manual de Couseling. Lisboa: Encontro
(Original publicado em 1946).
197
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 189-197, jul-dez, 2013
A Questo da Psicopatologia na Perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa: Dilogos com Arthur Tatossian
Van Blarikom, J. (2006). A Person-Centered Approach
to Schizophrenia. Person-Centered and Experiential
Psychotherapies, 5(3), 155173.
Van Blarikom, J. (2008). A Person-Centered Approach to
Borderline Personality Disorder. Person-Centered &
Experiential Psychotherapies, 7(1), 20-36.
Vieira, E. M. & Freire, J. C. (2012). Psicopatologia e Terapia
Centrada no Cliente: por uma clnica das paixes.
Memorandum, 23, 57-69.
Warner, M. S. (2005). A Person-Centered View of Human Nature,
Wellness, and Psychopathology. In S. Joseph & R. Worsley
(Eds.), Person-Centered Psychopathology: A positive psycho-
logy of mental health (p. 91-109). UK: PCCS Books.
Warner, M. S. (2006). Toward an Integrated Person-Centered
Theory of Wellness and Psychopathology, Person-Centered
& Experiential Psychotherapies, 5(1), 4-20.
Camila Pereira de Souza - Psicoterapeuta e Mestranda em Psicologia
pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Pesquisadora integrante
do Laboratrio de Psicopatologia e Psicoterapia Humanista-Feno-
menolgica Crtica (APHETO) e bolsista de pesquisa vinculada
Fundao Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (FUNCAP). E-mail:
camila_psouza@hotmail.com
Virgnia Torquato Callou - Psicoterapeuta e Mestranda em Psicologia
pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pesquisadora integrante do
laboratrio de Psicopatologia e Psicoterapia Humanista-Fenomenol-
gica Crtica - APHETO. E-mail: virginiacallou@gmail.com
Virginia Moreira - Psicoterapeuta, Doutora em Psicologia Clnica
pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo e Ps-Doutora
em Antropologia Mdica pela Harvard University. Professora Ti-
tular da Universidade de Fortaleza e Affiliated Faculty da Harvard
Medical School. Endereo Institucional: APHETO Laboratrio
de Psicopatologia e Psicoterapia Humanista Fenomenolgica Cr-
tica. Programa de Ps-Graduao em Psicologia, Universidade de
Fortaleza. Av. Washington Soares, 1321 (Fortaleza, CE). E-mail:
virginiamoreira@unifor.br; virginia_moreira@hms.harvard.edu
Recebido em 04.01.2013
Primeira Deciso Editorial em 13.05.2013
Aceito em 05.06.13
198
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 198-204, jul-dez, 2013
Karina O. Fukumitsu & Karen Scavacini
SUICDIO E MANEJO PSICOTERAPUTICO EM SITUAES
DE CRISE: UMA ABORDAGEM GESTLTICA
Suicide and interventions in crisis: A Gestalt-therapy approach
Suicidio y del manejo y de las intervenciones em situaciones de crisis: La Gestalt-terapia
KARINA OKAJIMA FUKUMITSU
KAREN SCAVACINI
Resumo: O suicdio um gesto de comunicao e, ao mesmo tempo, de falta de comunicao, de recusa e de surpresa. O artigo
tem como objetivo apresentar relaes entre o suicdio e a Gestalt-terapia, bem como a compreenso dos mecanismos neurticos
e do manejo e das intervenes em situaes de conflito e crise experienciados pela pessoa que percebe, no suicdio, uma alter-
nativa para eliminar seu desespero e sofrimento. Alm disso, pretende-se incentivar a discusso do tema e suas repercusses
nas lides acadmicas, principalmente nos cursos que lidam com o humano, pois se trata dos aspectos relacionados vida, e o
profissional, ao deparar com o desespero existencial do cliente, pode perceber sua falta de instrumentalizao para manejar si-
tuaes de crise. O conflito, segundo o aporte gestltico, configurado como um distrbio do campo e significa a possibilidade
de crescimento, uma vez que oferece ao indivduo o confronto com novas figuras.
Palavras-chave: Suicdio; Interveno na Crise; Preveno do suicdio; Gestalt-terapia.
Abstract: The suicide is a communication gesture and, in the same time, is a lack of communication, and it is a denial and a
surprise. This article has a purpose of establish relationship between suicide and the Gestalt approach, as well, to comprehend
the neurotic mechanism and the interventions in crisis situations. The person who thinks about the suicide maybe wants to
eliminate his despair and suffering. Besides this, it is intended to promote the discussion of this theme and its impact in the
academic environment, especially in courses that work with human beings. The conflict, according Gestalt approach is a field
disturbances and it means the potential for growth, because offers to the organism o confrontation among new figures.
Keywords: Suicide; Crisis Intervention; Suicide prevention; Gestalt-therapy.
Resumen: El suicidio es un gesto de comunicacin y, a la vez, de falta de comunicacin, de recusa y de sorpresa. El artculo tie-
ne como objetivo presentar relaciones entre el suicidio y la Gestalt-terapia, as como la comprensin de los mecanismos neur-
ticos y del manejo y de las intervenciones en situaciones de conflicto y crisis experimentadas por la persona que percibe, en el
suicidio, una alternativa para eliminar su desesperacin y sufrimiento. Adems de eso, se pretende incentivar la discusin del
tema y sus repercusiones en las lides acadmicas, principalmente en los cursos que lidian con el humano, porque se trata de los
aspectos relacionados a la vida, y el profesional, al depararse con el desespero existencial del cliente, puede percibir su falta de
instrumentalizacin para manejar situaciones de crisis. El conflicto, segn el aporte gestltico, se configura como un disturbio
del campo y significa la posibilidad de crecimiento, puesto que ofrece al individuo el confronto con nuevas figuras.
Palabras clave: Suicidio; Intervencin en la crisis; Prevencin do suicidio; Gestalt-terapia.
Introduo
O suicdio um duelo entre o assassino e o assassi-
nado que se encontram no ato da morte. Qual o signi-
ficado do ato de se matar? Finalizar um sofrimento e/ou
um ato de desespero? Representaria uma falta de senti-
do de vida? Uma retroflexo? Projeo? Confluncia? Um
assassinato? A soluo para um problema? Muitas per-
guntas para poucas respostas. O fato que na lida com o
suicdio nunca se tero todas as explicaes e respostas
para a vastido das incertezas que abrangem a dicotomia
entre a escolha da vida ou da morte.
Acreditamos, porm, que o suicdio multicausal,
no pode ser compreendido somente por uma faceta e,
na maioria dos casos, existe uma interao entre fatores
psicolgicos, psiquitricos, econmicos, culturais, reli-
giosos que deve ser levada em considerao. No presente
estudo abordaremos a faceta psicolgica, mais especifi-
camente, segundo o aporte da Gestalt-terapia. neces-
srio apresentar a distino entre as causas e o desenca-
deante. As causas so sempre mltiplas, no entanto, h,
geralmente, algo que desencadeia o ato, como a perda de
um emprego, que faz aflorar alguma coisa que j estava
no fundo e que tem relao com mais variveis.
Como o fogo: relva seca e fortes ventos podem perma-
necer apenas como possibilidades perigosas, elemen-
tos de combusto. Mas, se um raio cai nessa relva, a
chance de o fogo aumentar ser rpida: pula de leve
para intensa (Jamison, 2010, p. 183).
199
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 198-204, jul-dez, 2013
Suicdio e Manejo Psicoteraputico em Situaes de Crise: uma Abordagem Gestltica
Se o suicdio uma fuga no sentido de que a pessoa
que o comete foge do sofrimento e, conforme as palavras
de Perls (1975/1988, p. 35), nem todo contato saud-
vel, nem toda fuga doentia, importante considerar
as seguintes indagaes: Fuga do qu? Para qu? Por
quanto tempo? Isso posto, o presente artigo no oferta-
r todas as respostas, tampouco no ser apresentado
um modelo nico de atuao; ter, sim, a inteno de
provocar reflexes (e talvez mais questes sem respos-
tas), a fim de compartilhar, quais intervenes e mane-
jos nos atendimentos a sujeitos que tentaram o suicdio,
que pensam em suicdio, bem como com sobreviventes
que vivenciam o luto provocado pela morte de algum
querido por suicdio.
A expectativa que, depois de tentar cometer suicdio,
o indivduo v repetir o ato nos prximos meses (Chiles
& Strosahl, 2004). Dessa maneira, no caso daqueles que
tentaram o suicdio, necessrio fortalecer os fatores
protetores e minimizar os fatores de risco, a fim de que
a tragdia pessoal e familiar no se apresente como uma
situao permanente, ou seja, que o suicdio no seja
efetivamente consumado. Salienta-se que, na avaliao
dos nveis de riscos, cada tentativa prvia categoriza-
da como um alto fator de risco a quem quer se matar e,
quanto mais tentativas, maior o risco. Outros fatores so:
a presena de uma ideao suicida frequente, intensa e
duradora na qual a pessoa apresenta um plano espec-
fico para sua morte, com acesso a um mtodo letal (Beck,
Resnik & Lettieri, 1974) e quando h evidncias de com-
prometimento no autocontrole, disforia grave, baixa au-
toestima e falta de confiana em si.
Acredita-se que, em muitos casos, o suicdio possa
ser prevenido e que, em situaes de crise, ou seja, de
alto risco para o suicdio, como as supracitadas, o profis-
sional dever tomar providncias e cuidados no manejo
clnico, estar receptivo, disponvel e alerta ao estado de
conflito e contatar familiares, mdicos e/ou encaminhar
para internao, se necessrio.
1. O suicdio e a gestalt-terapia
Trabalhar com o tema do suicdio inclui lidar com
questes existenciais, tais como: falta de sentido, soli-
do, tdio, medo, sofrimento, agonia e ajustamentos cria-
tivos disfuncionais etc. Implica, sobretudo, uma reflexo
acerca do funcionamento saudvel de uma pessoa, para
que ela possa encontrar o sentido e a fora necessrios
para mant-la viva e, assim como Young & Lester (2001,
p. 68) mencionam em seu interessante artigo Gestalt the-
rapy approaches to crisis intervention with suicidal clients,
Para Perls, o caminho para a sade psicolgica encon-
tra-se na integrao harmoniosa de todos os aspectos do
self. A terapia foca na ampliao da awareness e em fa-
cilitar a confiana do cliente na sabedoria da autorregu-
lao organsmica.
A Gestalt-terapia no acredita em correo e adequa-
o dos comportamentos dos clientes e, se algum pensa
na morte como soluo para seu desespero, vivencia um
conflito, portanto, o psicoterapeuta necessita facilitar a
reflexo crtica sobre o fluxo de Gestalten interrompido,
enfatizando que no se deve tentar minimizar ou elimi-
nar esses conflitos, mas, sim conforme a proposta de
Perls, Hefferline & Goodman (1951/1997, p. 161) tratar o
conflito como um distrbio do campo, pois o que se espe-
ra, na perspectiva gestltica, no a remoo do confli-
to; a possibilidade de que um conflito signifique cres-
cimento: O conflito uma colaborao que vai alm do
que se pretende, em direo a uma figura inteiramente
nova (Perls, Hefferline & Goodman, 1951/1997, p. 164).
Desse modo, o imperativo saber que em todo conflito
haver mudanas e que, quanto maior a crise, mais r-
pida ser a resposta do indivduo, mesmo que seja pela
deciso do suicdio. Cabe ao terapeuta facilitar ao clien-
te a encontrar respostas para seus conflitos em busca do
equilbrio e da boa forma.
O foco da terapia, nesses casos, pode ser o de identi-
ficar por qual(quais) situao(es) ou conflito(s) o sui-
cdio est sendo visto como soluo. Ou seja, a situao
que o cliente acredita lhe causar mais conflitos o foco
da psicoterapia, para que se possa conhecer a manei-
ra pela qual esses conflitos afetam a vida do cliente e
ento ampliar a awareness de suas emoes, dos pen-
samentos ambivalentes e/ou rgidos e das aes desse
indivduo em direo satisfao das necessidades
dele, que so, muitas vezes, impulsivas. Alm disso, a
psicoterapia pode ser orientada para que a pessoa pos-
sa explorar diferentes opes de lidar com a situao
que provoca sofrimento, pois aquele que pensa em se
matar demonstra intolerncia em relao aos conflitos,
inabilidade em lidar com a prpria ambivalncia que-
rer viver-morrer, rigidez ou constrio de pensamentos,
impulsividade, ajustamentos criativos disfuncionais,
fluxo de Gestalten interrompido, mecanismos defensi-
vos cristalizados, percepo distorcida e fixa, fronteiras
de contato extremamente rgidas ou permeveis, rela-
es pobres ou desvitalizadas, pensamento polarizado,
awareness reduzida, autossuporte precrio, desespero
e desesperana de que a situao no ser finalizada
ou, ainda, a pessoa parece no vislumbrar outra possi-
bilidade de lidar com o sofrimento, sentindo-se presa e
sem sada em uma espiral de pensamentos e sentimen-
tos confusos e recorrentes.
Cabe ressaltar tambm o que a psicologia da Gestalt
ensina: (...) o todo diferente da soma das partes: o todo
no nem mais nem maior do que elas (Frazo, 2013,
p. 110). Sendo assim, a pessoa que pensa no suicdio de-
seja eliminar o sofrimento, parte da existncia, mas con-
funde a necessidade de aniquilar seu sofrimento com auto
aniquilar-se, matando o todo.
Vale lembrar que (...) a mudana ocorre quando uma
pessoa se torna o que , no quando tenta converter-se no
200
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 198-204, jul-dez, 2013
Karina O. Fukumitsu & Karen Scavacini
que no (Beisser, 1980, p. 110). Ento, o objetivo no
seria mud-la, mas, sim, faz-la ampliar a awareness, a
fim de conquistar o respeito por quem e perceba suas
relaes com o meio ambiente. Em alguns casos, o nico
jeito que a pessoa conseguiu se mostrar e fazer prevale-
cer sua vontade foi por meio de sua morte.
Qualquer mudana de direo na vida de um indiv-
duo, uma perda ou separao, pode ser o suficiente para
tornar o processo intolervel, confuso e ambguo. A am-
biguidade se instala pelo anseio de transformao e, ao
mesmo tempo, pela paralisao de mobilizar a energia
para que as mudanas possam acontecer. Por vezes, o
sujeito que percebe sua vida sem sentido, apresenta uma
viso monocromtica e sua vida se torna automatizada
na qual a f se esvai. Ou ento, sua f est justamente no
fato de que o suicdio resolver seu problema. Por isso,
destaca-se a importncia de se verificar com o cliente
suas crenas e fantasias em relao ao ato de se matar.
Alvarez (1999, p. 135) pontua (...) sem os freios da f, o
equilbrio entre a vida e a morte pode se tornar perigo-
samente delicado.
Como o profissional pode se colocar a servio de ser
facilitador quando a awareness de uma pessoa se apre-
senta reduzida? Perls, Hefferline & Goodman (1951/1997)
em Gestalt-terapia afirmam: Nossa relutncia em ar-
riscarmos obviamente um medo de que, se perdermos
isso, no teremos nada; preferimos comida de qualida-
de inferior a nenhuma comida; habituamo-nos escas-
sez e fome (p. 150, grifo nosso) e, mesmo sem tantas
respostas, as autoras desejam arriscar, porque preten-
dem trazer luz reflexes sobre o manejo do Gestalt-
terapeuta diante do suicdio, assim como, apresentar
possibilidades para atendimentos em situaes de de-
sespero existencial.
Como um dos objetivos da abordagem gestltica
enriquecer o contato e ampliar a awareness do cliente
na relao entre ele, o meio ambiente e o campo, ento,
como proceder, se o profissional colocado diante a um
indivduo cuja anedonia o impede de ver e sentir? A res-
posta vem ao encontro da compreenso do sofrimento e
do conflito para a Gestalt-terapia, pois grandes confli-
tos verdadeiros denominao de Perls, Hefferline &
Goodman (1951/1997) implicam que o sujeito saia de
sua zona de conforto, corra riscos e mude o status quo.
No entanto, quando o cliente pensa em cometer o suic-
dio, a rigidez de pensamento somente a morte me sal-
var do sofrimento ou o pensamento dicotomizado, se
vivo eu me sinto desesperado, talvez morto no me sinta
assim so identificados. Cabe enfatizar a maneira como
Perls concebe aquele que comete o suicdio (1975, p. 229)
(...) exatamente o que uma pessoa suicida . um as-
sassino; um assassino que destri a si mesmo em vez de
destruir aos outros. Tanto o assassino quanto o suicida
possuem algo em comum: uma impotncia para enfren-
tar a situao; e escolhem a maneira mais primitiva: ex-
ploso em violncia
Lilian Meyer Frazo
1
, ensina que o suicida um atu-
ante no sentido de acting-out, pois a pessoa tem contato,
mas tem awareness de m qualidade. um contato ac-
ting-out que leva a uma ao prematura. Dessa maneira, o
indivduo migra da sensao para a ao, sem passar pela
percepo, pela mobilizao de energia, pela awareness.
O indivduo que pensa em se matar geralmente apre-
senta uma Gestalt cristalizada e fixa. Sua percepo se
apresenta distorcida e fixa e a ambivalncia de querer
viver e morrer se configura, tornando a relao com o
mundo e com o outro empobrecida e desvitalizada. O
que acontece nesse momento com o sujeito cuja sensa-
o a de nada mudar?. Portanto, o suicdio tambm
pode representar um ato que expressa a dificuldade na
relao figura e fundo, na qual uma figura torna-se opa-
ca e sem conexo com fundo, revelando a perda de sen-
tido e dificuldades de se lidar com a impotncia diante
situaes vivenciadas como caos. E, de acordo com a de-
finio do suicdio de Shneidman (1993), adotada neste
estudo, o suicdio um psychache e representa um so-
frimento psicolgico provocado pela vergonha, culpa,
falta de esperana ou, ainda segundo Perls, Hefferline &
Goodman (1951/1997, p. 34): [...] enquanto confuso, t-
dio, compulses, fixaes, ansiedade, amnsias, estag-
nao e acanhamento so indicadores de uma formao
figura/fundo perturbada. Sendo assim, muitos conflitos
se referem s situaes inacabadas e tais situaes afetam
o comportamento, porque a pessoa tenta, repetidamen-
te, destruir a situao inacabada adotando os mesmos
comportamentos. No entanto, h de se pensar que difi-
cilmente os resultados mudaro se os comportamentos
permanecero os mesmos.
2. Discusso: proposta do manejo psicoteraputico
em situaes de crise
Sugere-se que o Gestalt-terapeuta trabalhe enfati-
zando o potencial e os fatores de proteo da pessoa que
pensa na morte, a fim de que, ao levantar seus melhores
recursos, o cliente possa descobrir e realizar novos ajus-
tamentos criativos. de suma importncia a averigua-
o de todas as fantasias associadas ao suicdio, sejam
elas em relao ao que imagina que acontecer quando
ela se matar ou ao impacto do suicdio nos que ficaro.
No que se refere aos fatores de proteo, torna-se im-
prescindvel pontuar que o Gestalt-terapeuta tem como
direo em seu trabalho o fortalecimento do cliente nos
seguintes aspectos: ampliao de awareness para que,
a partir dela (awareness com maior qualidade), o con-
tato seja enriquecido, a fluidez da relao entre a figu-
ra e fundo possa acontecer, os ajustamentos criativos
possam se tornar funcionais e as fronteiras, plsticas
e permeveis.
1
Comunicao pessoal em 11 de fevereiro de 2011.
201
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 198-204, jul-dez, 2013
Suicdio e Manejo Psicoteraputico em Situaes de Crise: uma Abordagem Gestltica
importante verificar e perceber os fatores predis-
ponentes levantados por especialistas que recomendam
ao imediata nas seguintes situaes: Quando algum
ameaa se machucar ou procura mtodos para se matar:
buscando o acesso s medicaes, armas ou quando a
pessoa fala ou escreve sobre morte, morrer ou suicdio.
Nesse sentido, deve-se avaliar o grau do comportamen-
to suicida.
Alguns sinais a serem observados so: A presena de
um plano; a falta de esperana; depresso; fria, raiva,
sentimento de vingana; participao de atividades de
alto risco, aparentemente sem pensar nas consequncias;
sentimentos de estar encurralado, no vislumbrando sa-
da; aumento do uso de lcool ou drogas; afastamento dos
amigos, da famlia e da sociedade; ansiedade, agitao,
dificuldades para dormir ou dormir o tempo inteiro; al-
teraes sbitas de humor e falta de sentido para viver
(Quinnet, 2008, p. 3).
Outra indicao a ser destacada so as tentativas pr-
vias, assim como Jamison (2010, p. 25) afirma: Ainda
assim, uma tentativa continua sendo o nico e melhor
provisor do suicdio, e esses nmeros so motivo de pre-
ocupao grave. A combinao de tentativas prvias
com a presena de algum transtorno mental grave podem
aumentar os riscos de suicdio (Harris & Barraclough,
1997). Alm disso, conhecer os fatores de risco supraci-
tados abarca somente uma parte de todo o trabalho com
o suicdio, pois importante salientar que preveno no
significa previso, pois como dito anteriormente, o sui-
cdio multifatorial.
Para o acompanhamento aps uma tentativa indica-
mos: (1) reavaliar a situao em 24 horas, garantindo que
a pessoa esteja em um ambiente seguro e protegido; (2)
gerenciar, orientar e acompanhar os familiares; (3) soli-
citar que os familiares, amigos e/ou acompanhantes fi-
quem prximos do indivduo que tentou o suicdio depois
da alta hospitalar, evitando que ele fique sozinho; (4) le-
vantar possibilidades e investigar se o ambiente onde a
pessoa se encontra apresenta perigos (quarto com sacada,
medicamentos acessveis, por exemplo); (5) munir-se de
planos para uma rpida ao, caso a ansiedade, a idea-
o e os sintomas aumentem; (6) entrar em contato com
os profissionais envolvidos com o cliente (por exemplo,
psiquiatras); (7) acolher a famlia.
Salientamos que para se trabalhar com o suicdio so
necessrios o respeito pela vida e f na vida, a confiana
na autorregulao e a crena no autossuporte. Em outras
palavras, acredita-se que o manejo psicoteraputico pode
ser favorecido pela crena de que aquele que se prope
a compreender os fenmenos humanos, o profissional
da sade, necessita perceber os fenmenos da vida com
olhos ingnuos, tolerando inclusive a falta de f do outro
com quem se relaciona. Alm disso, enfatiza-se a impor-
tncia da persistente curiosidade pelos assuntos que se
referem vida e morte do ser que humano e o estar
disponvel, presente e atento para o outro.
Tambm necessrio que cada terapeuta examine
suas crenas e seus sentimentos relacionados ao suic-
dio, pois eles certamente estaro presentes no entre do
processo teraputico, e conhec-los previamente pode
ajudar o terapeuta a descobrir suas potencialidades e di-
ficuldades ao lidar com o cliente em crise suicida, pois,
se acredita que a pior hora para se descobrir que no se
consegue lidar com pessoas que pensam e/ou cometem
o suicdio em meio crise suicida.
Outro aspecto fundamental a valorizao da escuta
do quanto algum pode suportar seu sofrimento, sendo
necessrio, algumas vezes, o envolvimento de outros pro-
fissionais, tais como psiquiatras. Ento, o psicoterapeuta
deve preocupar-se em aprimorar a comunicao sobre a
inteno de o indivduo cometer o suicdio e verificar,
principalmente, os aspectos relacionados autopreser-
vao desse indivduo. importante falar, discutir so-
bre o plano de suicdio, pois, ao compartilhar a maneira
como, quando e porque pensa em morrer pode ser uma
maneira de prevenir o suicdio acolhendo seu solitrio
sofrimento. O terapeuta no deve ter receio de perguntar
sobre o suicdio para um cliente; na dvida, indica-se que
sempre pergunte. Deve-se salientar que, de acordo com
Quinnet (2008, p. 8), s vezes, pessoas que pensam no
suicdio concordam em pedir ajuda, mas no a procura
e mesmo que concordem com a necessidade, resistem
ideia de procurar ajuda, pois quanto menos esperano-
sos e mais se sentindo sem sada maior ser a dificulda-
de para aceitarem ajuda.
Dessa maneira, o caminho adotado no trabalho com
aqueles que pensam em cometer suicdio ou tentaram,
mas a morte no foi consumada, levantar as experin-
cias que faam com que elaborarem as prprias pergun-
tas. Barry Stevens (1977, p. 267) diz que [...] o problema
delas [pessoas] pensar e que o que elas precisam fazer
prestar ateno ao que fazem, no sentido de ter pre-
sente, explorar, observar. Ns enchemos as nossas vidas
com uma quantidade extraordinria de pressuposies,
por esse motivo, ns, profissionais, devemos, investigar
o mximo possvel para evitar as pressuposies (tan-
to do cliente como do terapeuta) e como ensinam Perls;
Hefferline & Goodman (1997, p. 89) O objetivo da tera-
pia superar a solido, restaurar a autoestima e realizar
a comunicao sintxica.
3. Em relao pessoa que pensa no suicdio
O suicdio pode ser interpretado como um gesto de
desespero que mostra uma esperana e um desejo de que
tudo poderia ser diferente. Ter f na vida proporciona a
crena de que somos seres constitudos por uma gama
de estmulos, compreenses, articulaes e, por esse
motivo, precisamos abrir caminhos para a vida e para
a manuteno satisfatria do nosso viver. E assim como
Juliano (1999) ensina, Queremos, em sntese, vitalizar o
202
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 198-204, jul-dez, 2013
Karina O. Fukumitsu & Karen Scavacini
fluxo perceptual. Em contrapartida, ressalta-se que, em
Gestalt-terapia, tudo depende do grau e aquele que tem
clareza do que quer e se mobiliza para a ao, amplia seu
contato e, ao contrrio, aquele que percebe sua necessi-
dade, porm no mobiliza sua energia para ir ao encon-
tro da satisfao, interrompe seu fluxo de destruio de
Gestalt. Nesse sentido, realiza-se uma aproximao en-
tre alguns dos mecanismos neurticos e o suicdio para
que o profissional possa ter uma ampliao de seu ma-
nejo, salientando-se que as propostas teraputicas apre-
sentadas a seguir, resultaram da prtica nos atendimen-
tos com indivduos que apresentavam ideaes suicidas
e/ou clientes cujo suicdio aconteceu de fato.
necessrio que o profissional tolere a falta de sen-
tido do outro. Quando a tolerncia do psicoterapeuta
pequena para aceitar o suicdio sem investigar efeti-
vamente o significado da morte para o cliente, ou seja,
quando no tenta compreender a motivao pela qual a
morte to desejada ou, ento, no consegue nem lidar
com esse assunto de maneira aberta, o trabalho apre-
senta dificuldades.
A projeo emerge quando a pessoa busca outra ma-
neira de viver, talvez com menos sofrimento e coloque
na fantasia de que sua vida seria diferente se morresse e,
como afirma Fukumitsu (2011, p. 92), Projeta na morte
a possibilidade que no consegue em vida. Enfatiza-se
que uma das compreenses que se tem sobre o suicdio
que ele representa um pedido interrompido de vida e
no de morte e, por isso, torna-se vlido levantar o que
o cliente que pensa na morte como soluo, o que deseja
transmitir. Nesse sentido, a questo norteadora seria: a
pessoa com o comportamento suicida deseja se que
deseja transmitir o qu?
A retroflexo cristalizada percebida quando na
impossibilidade de lidar com o meio ambiente, o sujeito
investe sua energia em autoaniquilamento e a falha no
processo de autorregulao se torna perceptvel. O psi-
coterapeuta pode, ento, estimular a capacidade de esco-
lhas do cliente, no sentido de fortalecer seu autossupor-
te (autoapoio), pois a pessoa que prefere a morte vida
pode estar oferecendo indcios de que seu autossuporte
precrio, uma vez que no consegue encontrar recur-
sos para enfrentar o sofrimento. Concomitantemente,
outra estratgia encorajar o cliente a no reprimir seus
sentimentos, sobretudo a raiva, pois, se for reprimido, a
tendncia a de que o cliente atue direcionando a ener-
gia agressiva para si.
A proflexo percebida quando o indivduo deseja se
vingar de outra ou quando, por meio de sua morte, ame-
aar o outro para que a situao se torne como desejava.
Exatamente por esse motivo, para evitar que sua mani-
pulao e necessidade de vingana retornem para o ou-
tro, tornando-o vtima de seu ato algoz, discutir com o
cliente sobre sua ideao suicida essencial, assim como
Young & Lester (2001, p. 68) afirmam: clientes precisam
falar abertamente sobre seus pensamentos e sentimen-
tos suicidas, enquanto podem se sentir seguros e aceitos.
Muitos clientes oferecero fortes dicas e pistas para tes-
tar se o psicoterapeuta tem a coragem e est atento para
discutir sobre o suicdio. Alguns precisam apenas disso
tempo com algum acolhedor e respeitoso, que se dis-
pe, em presena, falar sobre seus pensamentos suicidas
e sobre seu desespero.
A utilizao da confluncia como manejo ressalta-
da quando o psicoterapeuta fala para o cliente que expe
suas ideaes suicidas: Eu quero que voc viva; gostaria
que voc soubesse que pode contar comigo para superar
isso juntos. No entanto, como dito anteriormente, tudo
depende do grau: a confluncia tem suas reverberaes
quando o desejo do cliente buscar fantasiosamente um
apoio externo que possa salv-lo. Intensificar a empatia
e no mais a apatia: somos seres relacionais e, portan-
to, faz total diferena quando, mediante o sofrimento, o
outro se mostra disponvel. O terapeuta, portanto, deve
ficar atento e perceber o grau de confluncia dessa re-
lao e us-la a servio do cliente, j que muitas vezes,
clientes com esse grau de comprometimento e crise ten-
dem a despertar no terapeuta um sentimento profun-
do de necessidade de cuidado, e o terapeuta pode ficar
preso a essa necessidade do cliente de ser cuidado e
do terapeuta de cuidar.
O psicoterapeuta pode investigar o que provoca no
cliente o sentimento de pertencimento. Por exemplo:
uma cliente que menciona que a nica coisa que a deixa
feliz ver seu neto crescendo cada vez mais saudvel e
que se sente feliz por poder acompanhar e cuidar dele
dessa relao entre av e neto que o sentimento de
pertena poder ser enfatizado. Nessa mesma direo,
a descoberta de novas capacidades de se comunicar, au-
mentando as redes de apoio, relacionamentos interpes-
soais so outros recursos que podem auxiliar na busca
do sentido de vida.
A confluncia evidenciada quando a pessoa pare-
ce j se sentir morta em vida e morrer significaria iden-
tificar-se em totalidade com a parte j morta, ou seja, a
parte passa a ser o todo, pois para destruir uma parte
do sofrimento, mata-se o todo. Sendo assim, o Gestalt-
terapeuta precisa facilitar ao cliente s diferenciar en-
tre o bvio e o que fantasia ou imaginao (Stevens,
1977, p. 241).
Outro ponto a ser levantado na compreenso da con-
fluncia gestltica o fato do indivduo ser parte de um
todo que est inserido em uma histria familiar que,
por sua vez influencia sua maneira de ser e delimitam
os papis e funes de cada membro familiar. Segundo
o aporte gestltico pode-se compreender que o ato de se
matar representa uma morte que acontece na famlia ou
da famlia, pois o indivduo que apresenta o comporta-
mento suicida est inserido em um sistema familiar sen-
do que, por vezes, o suicdio representa somente a ponta
do iceberg de uma dinmica familiar disfuncional. Dessa
maneira, a pessoa que comete ou tenta o suicdio pode
203
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 198-204, jul-dez, 2013
Suicdio e Manejo Psicoteraputico em Situaes de Crise: uma Abordagem Gestltica
carregar o peso da morte e o estigma de ser considerado
o doente da famlia, enquanto outros assumem o papel
de saudveis. Portanto, h de se lembrar de que no so-
mente o indivduo que apresenta ajustamentos criativos
disfuncionais, mas, sim, provavelmente, a famlia tam-
bm faz parte da compreenso da disfuncionalidade dos
comportamentos autodestrutivos.
Ainda na tentativa de acolher o sofrimento e dire-
cionar o sujeito que se encontra em desespero, Quinnet
(2008, p. 9) nomeia de fase de persuaso e orienta que o
profissional: persista na afirmao de que o suicdio no
a melhor alternativa e que alguma alternativa melhor
pode ser encontrada; foque na soluo dos problemas e
no na soluo do suicdio; acolha respeitosamente o so-
frimento, mas oferecendo alternativas alm da morte;
oferea esperana de qualquer jeito.
Sintetizando: as intervenes em crise sugeridas, se-
gundo nossa atuao clnica e reviso de literatura so:
(1) reconhecer a ideao suicida, levantando os fatores de
risco; (2) explorar a inteno do suicdio, perguntando,
por exemplo: Voc pensa em se matar? Est to difcil
que voc quer acabar com sua vida?; (3) explorar o plano
suicida, perguntando diretamente: Como voc pensa em
se matar? Voc j tem um plano? Por que meio deseja se
matar? Data?; (4) fazer uma avaliao compreensiva dos
riscos de suicdio, para tentar entender o sentido do ato;
(5) explorar sentimentos tais como, raiva, tristeza, dese-
jo de vingana; (6) envolver a famlia, se necessrio; (6)
focar na awareness da ambivalncia entre querer morrer
e querer viver de outra maneira; (7) reconhecer e confir-
mar o embate da luta psicolgica e aqui, destacando-se
a importante influncia da relao dialgica na Gestalt-
terapia, na qual no evento do inter-humano que ocorre
o encontro dialgico, caracterizado pela reciprocidade
das partes que se relacionam, pela presena confirma-
dora da pessoa do outro, pela abertura para a totalida-
de do ser do outro, que de outra maneira, permaneceria
desconhecida (Cardoso, 2013, p. 64); (8) acolher o sen-
timento de impotncia e solido; (9) tentar se manter
calmo, adotando uma postura de acolhimento e escuta;
(10) compartilhar a preocupao para com o cliente e
com a possibilidade de ele se matar, dizendo: Gostaria
de ter a permisso de saber sobre seu desespero antes
que voc tente se matar; (11) explorar e levantar, com o
cliente, as opes; (12) estabelecer um contrato no sui-
cida, afirmando, por exemplo: Voc precisa me ajudar a
ajudar voc, incentivando o cliente a procurar pessoas
que possam acolh-lo no momento de crise. Vale salien-
tar que esse contrato s funciona na presena de aliana
teraputica favorvel, do contrrio, tornam-se somente
palavras. Caso o cliente no aceite procurar ajuda du-
rante a crise, cabe ao terapeuta retomar a combinao
do contrato teraputico no qual foi acordado que o sigilo
poderia ser quebrado em situaes de risco de vida; (13)
documentar todos os contatos fora do combinado, crises
e manejo teraputico.
No se pode ficar alheio ao comportamento suici-
da de um cliente, o desespero existencial que envolve o
suicdio deve ser acolhido e trabalhado pelo terapeuta,
com respeito, calma e tica. Existem diversas maneiras
de fazer isso, assim como existem os mais diversos tipos
de clientes. Caber ao terapeuta definir o melhor mane-
jo para cada caso.
Um cliente com comportamentos suicida desperta
no terapeuta diversos questionamentos relacionados
s suas responsabilidade e competncia. Se o profis-
sional no tiver conscincia de que sua tarefa no a
de salvar vidas, mas sim, o de facilitar a ampliao das
possibilidades existenciais para que o cliente lide com
seu desespero, pode sentir impotncia, e por consequ-
ncia, fugir do acolhimento ao sofrimento, levando-o
a optar pelo encaminhamento do cliente e ao distan-
ciamento da possibilidade de ser o cuidado na relao
psicoteraputica um fator de proteo para comporta-
mentos suicidas.
Alguns profissionais da sade no querem sequer
discutir sobre o assunto. No entanto, considera-se a ne-
cessidade de se destituir o lugar do tabu do suicdio, pois
deve-se lembrar que aquele que pensa em se matar an-
tes de tudo uma pessoa em sofrimento intenso e que o
suicdio pode ser prevenido, se talvez, a pessoa for aco-
lhida. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi o de ofe-
recer possibilidades de manejo, promover e incentivar
a discusso sobre o assunto, principalmente em cursos
de graduao e de formao de profissionais da sade.
Referncias
Beck, A. T., Resnik, H. L., & Lettieri, D. J. (1974). The prediction
of suicide. Philadelphia, PA: Charles Press.
Beisser, A. R. (1980). A teoria paradoxal da mudana. In J. Fagan
& I. L. Shepherd (Orgs.), Gestalt-terapia: teorias, tcnicas e
aplicaes. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
Cardoso, C. L. (2013). A face existencial da Gestalt-terapia. In
L. M. Frazo & K. O. Fukumitsu (Orgs.), Gestalt-terapia -
Fundamentos Epistemolgicos e Influncias Filosficas Vol.
1 (pp. 59-75). So Paulo: Summus Editorial.
Chiles, J. A., & Strosahl, K. D. (2005). Clinical Manual for
Assessment and Treatment of Suicidal Patients: American
Psychiatric Publishing.
Frazo, L. M. (2013). Um pouco da histria um pouco dos
bastidores. In L.M. Frazo & K.O. Fukumitsu (Org.),
Gestalt-terapia - Fundamentos Epistemolgicos e Influncias
Filosficas. (Vol. 1, pp. 11-23). So Paulo: Summus Editorial.
Fukumitsu, K. O. (2011). Suicdio e Gestalt-terapia. So Paulo:
Editora Digital Publish & Print.
Harris, E. C., & Barraclough, B. (1997). Suicide as an outcome
for mental disorders. A meta analysis. The British Journal
of Psychiatry, 170, 205-228.
204
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 198-204, jul-dez, 2013
Karina O. Fukumitsu & Karen Scavacini
Juliano, J. C. (1999). A arte de restaurar histrias: o dilogo
criativo no caminho pessoal. So Paulo: Summus Editorial.
Perls, F. (1988). A abordagem gestltica e testemunha ocular. Rio
de Janeiro: LTC (Original publicado em 1975).
Perls, F.; Hefferline, R. & Goodman, P. (1995) Gestalt-terapia.
So Paulo: Summus Editorial (Original publicado em 1951).
Quinnet, P. (2008). QPR Gatekeeper Enhanced Course Review.
Washington: The QPR Institute.
Shneidman, E. S. (1993). Suicide as psychache. The Journal of
Nervous and Mental Disease, 181, 141-147.
Stevens, J. O. (1977). Trabalho Corporal. In Stevens, J. O., Isto
Gestalt. So Paulo: Summus Editorial.
Young, L., & Lester, D. (2001). Gestalt Therapy Approaches to
Crisis Intervention with Suicidal Clients. Oxford Journals
- Brief Treatment and Crisis Interventions, 1, 65-74.
Karina Okajima Fukumitsu - Psicloga, psicoterapeuta, fundadora
do Instituto Vita Alere de Preveno e Posveno do Suicdio, ps-
-doutoranda e bolsista da CAPES pelo Programa de Ps-Graduao
em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Endereo Ins-
titucional: Avenida Fagundes Filho, 145 sala 96. Vila Monte Alegre.
CEP 04304-010. So Paulo/SP. Email: karinafukumitsu@gmail.com
Karen Scavacini - Psicloga, psicoterapeuta, fundadora do Instituto Vita
Alere de Preveno e Posveno do Suicdio, especialista em Gestalt-
-terapia pelo Instituto Sedes Sapientiae, mestre em Sade Pblica na
rea de Preveno ao Suicdio e Promoo de Sade Mental pelo Insti-
tuto Karolinska, Estocolmo, Sucia. Email: karen.scavacini@uol.com.br
Recebido em 16.05.13
Primeira Deciso Editorial em 14.08.13
Segunda Deciso Editorial em 28.10.13
Aceito em 04.12.13
205
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 205-211, jul-dez, 2013
Formao do Psiclogo Clnico na Perspectiva Fenomenolgico-Existencial: Dilemas e Desafios em Tempos de Tcnicas
FORMAO DO PSICLOGO CLNICO NA PERSPECTIVA
FENOMENOLGICO-EXISTENCIAL: DILEMAS E DESAFIOS
EM TEMPOS DE TCNICAS
1
Formation of Clinical Psychologist in Phenomenological-Existential Perspective:
Dilemma and Challenges in Technical Times
Formacin del Psiclogo Clnico en la Perspectiva Fenomenologico-Existencial:
Dilemas y Desafos en Tiempos de Tcnicas
ELZA DUTRA
Resumo: Este trabalho desenvolve reflexes sobre formao do psiclogo clnico na perspectiva fenomenolgico-existencial,
numa poca em que a tcnica prevalece, inclusive no campo da psicologia clnica. Tomando como referncia a fenomenologia
hermenutica heideggeriana, reflete-se sobre os desafios que perpassam as prticas clnicas ao longo da formao de aprendizes
de psicoterapeutas, ao lidarem com demandas de respostas imediatas e eficientes que frequentemente so dirigidas clnica. No
sentido oposto ao cenrio cientificista que sustenta a psicologia, a perspectiva adotada neste trabalho aponta para uma atitude
fenomenolgica, a qual vai de encontro atitude natural, valorizando, assim, a idia de um Dasein que existe num horizonte de
abertura de sentidos e sobre o qual no caberia qualquer determinao. Algumas ideias heideggerianas como Dasein, ser-com,
tcnica e pensamento meditante nortearo as reflexes. Finaliza-se sugerindo que o mbito da formao constitua um espao no
qual o pensamento que medita possa ser exercitado como uma das possibilidades para se desenvolver uma atitude fenomenolgica.
Palavras-chave: Heidegger e psicologia; Formao clnica; Pensamento meditante e clnica; Clnica fenomenolgica e Tcnica.
Abstract: This paper develops reflections on training of the clinical psychologist in existential-phenomenological perspective,
at a time when the technique prevails, even in the field of clinical psychology. Referring to Heideggers hermeneutic phenom-
enology, reflects on the challenges that underlie clinical practices throughout the apprenticeship training of psychotherapists,
in dealing with demands immediate and effective responses that are often directed to the clinic. In the opposite scenario holds
that scientistic psychology, the perspective adopted in this paper points to a phenomenological attitude, which goes against the
natural attitude, thus valuing the idea of a Dasein that exists opening a horizon of meaning and on which would not fit any de-
termination. Some heideggerians ideas as Dasein, being-with, technique and thought meditator guide the reflections. Ends up
suggesting that the scope of training constitutes a space in which the thought that meditation may be exercised as one of the
possibilities to develop a phenomenological attitude.
Keywords: Heidegger and psychology; Clinical training; Thought meditator in the clinic; Clinical phenomenology and technique.
Resumen: En este trabajo se desarrolla reflexiones sobre la formacin del psiclogo clnico en la perspectiva-fenomenolgica-
existencial, en momentos en que la tcnica se impone, incluso en el campo de la psicologa clnica. En referencia a la fenome-
nologa hermenutica de Heidegger, reflexiona sobre los desafos que subyacen a las prcticas clnicas en toda la formacin de
aprendices de psicoterapeutas, para hacer frente a las demandas inmediatas y respuestas efectivas que a menudo se dirigen a
la clnica. En la situacin opuesta a lo cenario que sostiene la psicologa cientificista, la perspectiva adoptada en este trabajo
apunta a una actitud fenomenolgica, que va en contra de la actitud natural, valorando as la idea de un Dasein que existe en el
horizonte de apertura de sentido y que no se ajusta a cualquier determinacin. Algunas ideas heideggerianas como Dasein, el
ser-con, la tcnica y el pensamiento meditante guan las reflexiones. Termina sugiriendo que el mbito de la formacin cons-
tituye un espacio en el que la idea de uno pensamiento meditante puede ser ejercido como una de las posibilidades para el de-
sarrollo de una actitud fenomenolgica.
Palabras-clave: Heidegger y la psicologia; La formacin clnica; Pensamiento meditante en la clnica; Clnica fenomenolgica
y tcnica.
Introduo
Neste trabalho pretendo prosseguir com as reflexes
empreendidas ao longo dos ltimos anos: a formao do
psiclogo clnico na perspectiva fenomenolgico-existen-
1
Trabalho apresentado no I Congresso Brasileiro de Psicologia Feno-
menolgica, realizado em Curitiba- PR, na UFPR, agosto de 2013.
cial. As discusses sobre essa temtica vm sendo atua-
lizadas constantemente, no mbito da prtica clnica, do
ensino e da superviso de estgio. Embora a psicologia
clnica ocupe um espao bastante consolidado no campo
das prticas psicolgicas, considero que a formao do
psiclogo clnico ainda um tema no suficientemente
tematizado nos contextos acadmico e profissional. Neste
206
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 205-211, jul-dez, 2013
Elza Dutra
texto pretendo dirigir a reflexo na direo de alguns as-
pectos que perpassam a formao do psiclogo clnico na
perspectiva fenomenolgico-existencial, entendendo que
essa formao ocorre, inevitavelmente, a partir da experi-
ncia do psiclogo, sendo esta, a experincia, aquela que
embasar o que se chama, na perspectiva fenomenolgi-
co-existencial, de atitude fenomenolgica.
Tenho constatado que tanto supervisores quanto
aprendizes de psicoterapeutas, no exerccio de prticas
clnicas, e, muito frequentemente, ao depararem com de-
mandas de respostas imediatas e eficientes que comumen-
te lhes so dirigidas, percebem-se caminhando na con-
tramo dessa tendncia, to comum nos dias atuais, ao
adotarem uma perspectiva como a fenomenolgico-exis-
tencial. No sentido oposto ao cenrio cientificista que
ainda prevalece no campo da psicologia, a perspectiva
abordada aqui aponta para uma atitude fenomenolgica,
a qual contraria a atitude natural, esta que subsidia, em
grande parte, o aporte epistemolgico cientificista sobre
o qual a psicologia se pautou desde quando se afastou do
campo da filosofia, passando a adotar o paradigma cient-
fico. Contrariamente dimenso cientfica da psicologia,
a perspectiva fenomenolgica com base na fenomenolo-
gia hermenutica heideggeriana, considera a idia de um
Dasein que existe num horizonte de abertura de sentidos
e sobre o qual no caberia qualquer determinao, como
apontam os pressupostos de uma cincia que adota como
critrios de rigor a objetividade, generalizao, controle
e previsibilidade, por exemplo.
As reflexes feitas, as quais, na verdade, as con-
sidero mais como interrogaes e estranhamentos
que desejo partilhar com aqueles envolvidos com
o tema, dizem respeito ao mbito da formao de
graduandos e psiclogos que desejam seguir a pr-
tica clnica numa perspectiva que, nos dias atuais,
foge quase que totalmente, ao esprito de poca
2
.
A despeito do longo tempo e experincia nas ativi-
dades de ensino, de psicoterapeuta e como super-
visora de estgio, ainda me vejo vivenciando uma
sensao de estranheza diante dos acontecimen-
tos do mundo, os quais, obviamente, repercutem
em nossas prticas profissionais. Isso porque vive-
mos um tempo de grandes avanos tecnolgicos,
em todos os campos. Podemos dizer que a cincia
evoluiu to celeremente que embora ainda no se
tenha acesso cura do cncer, j possvel conge-
lar o nosso corpo, esperando recuper-lo no futuro,
livre de algumas doenas. Ao mesmo tempo, a in-
dstria farmacutica oferece uma gama de frma-
cos que visam a curar e aliviar os males do corpo,
e tambm os da alma. Enquanto isso, a tecnologia,
j adotada pela psicologia, oferece tratamentos por
meio de aparelhos de biofeedback, com a promessa
de curar ansiedades, enxaquecas, estresses e ou-
2
Traduo do termo alemo Zeitgeist, significando o clima cultural
e intelectual que marcam determinada poca no mundo.
tros mal-estares que acometem as pessoas, numa
cultura regida pela tica do consumo e do descar-
tvel. No mundo contemporneo possvel trans-
formar o corpo como se fora uma massa de modelar,
esculpindo-o at ao formato ideal a que os desejos
idealizados e alimentados pela cultura miditica
conduzem. Escolhemos um corpo e um modo de
ser como se estivssemos numa grande loja de de-
partamentos, onde as prateleiras, repletas de mer-
cadorias, nos convidam e nos atraem, num jogo de
seduo ao qual, muitas vezes, cedemos, sem mui-
to pensar. Sim, pensar uma palavra chave nes-
se espao de reflexo e ao qual retornarei adiante.
No tenho dvidas de que vivemos uma poca
em que a tcnica, no sentido moderno tal como
entendida por Heidegger (1953/2001), no seu ensaio
A Questo da Tcnica como um modo de desenco-
brimento, porm no sentido de extrao, explorao
e clculo, prevalece, inclusive no campo da psico-
logia clnica. Desse modo, por meio de uma cultu-
ra tecnicista, a cincia tem cumprido o seu papel,
buscando respostas para os problemas e males hu-
manos, ou seja, para o sofrimento. Aqui cabe trazer
uma ideia do filsofo acerca do tipo de pensamen-
to que permeia a cultura ocidental. Para ele, nessa
cultura, o tipo de pensamento que reinaria seria o pen-
samento calculante, o qual se caracteriza pelo clculo;
e ainda que tal pensamento no se opere com mquinas
e nmeros, envolve o planejamento e calcula. Como diz
ele, Este clculo caracteriza todo o pensamento plani-
ficador e investigador (Heidegger, 1959, p. 13). Por isso
ele torna-se adequado aos afazeres e prticas cotidianas,
que pedem urgncia, eficincia e rapidez na eliminao
do sofrimento. Assim, tal modo de pensamento embasa-
ria a tcnica, tal como concebida no mundo atual.
A tcnica, no sentido moderno e que tem como
princpio a instrumentalidade, tem sido considerada
a soluo tambm para as doenas da alma e para os mal-
-estares que acometem o homem contemporneo. No en-
tanto importante pensar que esse homem, constitudo
e constituinte de um mundo no qual prevalece a cultura
do narcisismo e do consumo, v-se perdido, desenraiza-
do e em busca de um sentido para a sua existncia. Ideia
esta que nos remete a Figueiredo (1996), para quem o ho-
mem contemporneo estaria vivendo uma experincia
de desterritorializao, tornando-nos sobreviventes
numa sociedade sem rumo. Em razo do que, no bas-
tam os psicofrmacos cada vez mais potentes, os apare-
lhos de biofeedback extremamente sofisticados ou mes-
mo tcnicas teraputicas cada vez mais eficientes e bre-
ves, que consigam eliminar o sofrimento desse homem.
Se assim fosse, no teramos estatsticas, cada vez mais
significativas, de doenas expressivas do nosso tempo,
como a depresso, as fobias, as sndromes do pnico, o
suicdio, alm das manifestaes de violncia, as quais
podem ser interpretadas como falta de sentido, busca de
207
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 205-211, jul-dez, 2013
Formao do Psiclogo Clnico na Perspectiva Fenomenolgico-Existencial: Dilemas e Desafios em Tempos de Tcnicas
alteridade, resultado da fratura social, como bem coloca
Safra (2004). Isso porque estamos lidando com a comple-
xidade de um ser que atribui sentidos sua existncia e,
portanto, singular. Assim, haver, sempre, algo que ficar
de fora do representado, o impondervel, aquilo que no
se prev e nem se deixa controlar; melhor dizendo, algo
no dito e cujos sentidos se desvelam medida que so-
mos-no-mundo. Refiro-me a algo que escapa s verdades
estabelecidas, aquelas originadas de uma perspectiva que
coisifica o homem e desconsidera a sua capacidade de ser
e existir num mundo de possibilidades e indeterminao.
1. Dasein, ser-no-mundo e atitude fenomenolgica na
clnica
Na cultura contempornea, regida pelos avanos cien-
tficos e pelos aparatos tcnicos, a psicologia busca con-
solidar os seus espaos no universo cientfico. Uma vez
encontrando-se fundamentada, historicamente, no para-
digma cientfico tradicional das cincias naturais, cria a
exigncia de uma clnica psicolgica que atenda aos crit-
rios de cientificidade adotados por ela. Porm, consideran-
do a disperso do campo, como bem nomeiam Figueiredo
& Santi (2000), nem sempre isso possvel e exeqvel.
Para os autores, (...) a cincia moderna est baseada na
suposio de que o homem o senhor que tem o poder
e o direito de colocar a natureza a seu servio (p. 54).
Entretanto, ao se adotar uma perspectiva feno-
menolgica nesse caso, a fenomenologia herme-
nutica heideggeriana tal propsito perde o sen-
tido, uma vez que essa perspectiva aborda o Dasein
na sua irredutvel condio de indeterminao e
poder-ser; com isso, afasta-se radicalmente dos cri-
trios tradicionais de cientificidade. Fica evidente,
portanto, que o desenvolvimento de uma postura
ou atitude fenomenolgica remete a pressupostos e
fundamentos filosficos e epistemolgicos distin-
tos daqueles apontados pela psicologia dita cient-
fica. Estes, tm como base as ideias que fundamen-
tam a ontologia fundamental proposta por Martin
Heidegger, entendendo que o Dasein se encontra,
sempre e inevitavelmente, numa abertura de sen-
tidos que se desvela em sua facticidade e qual ele
responde com o que lhe mais prximo, isto , a
sua experincia; o que significa dizer, com a sua
condio de ser-no-mundo.
Com isso, algumas interrogaes da se originam:
como ocorre a formao de um psiclogo clnico nesta
perspectiva, sabendo-se que a atitude fenomenolgica re-
presenta um modo-de-ser e, portanto, inacessvel a qual-
quer objetivao? At que ponto possvel desenvolver
uma atitude que se ampara na experincia, e que se d,
originariamente, na existncia, sabendo-se que esta flui-
da, provisria e impossvel de ser objetivada? Alm do
que, esta atitude, como sabido por aqueles que se iden-
tificam com as perspectivas fenomenolgicas e existen-
ciais, no se alcana exclusivamente por meio das teorias
psicolgicas, das filosofias, mas, sobretudo, da reflexo
meditante sobre a experincia de ser-no-mundo. Como,
ento, lidar com a atitude natural que perpassa, de uma
maneira geral, a maioria dos currculos do curso de psi-
cologia e que inevitavelmente, incide nas prticas psico-
lgicas clnicas? Como sensibilizar o aprendiz de psico-
terapeuta no sentido da desconstruo de um saber tcni-
co sobre o qual a Psicologia, como cincia e profisso, se
encontra, tradicional e historicamente assentada? Enfim,
como desenvolver uma atitude fenomenolgica sem que
esta corra o risco de se transformar em mais uma tcnica?
Oportuno lembrar, no que respeita formao do psi-
clogo que, no contexto acadmico, as grades curriculares
dos cursos de psicologia, de maneira geral, solicitam dos
seus professores disciplinas tericas, trabalho em equipe
com outras perspectivas tericas, estgio supervisiona-
do em nfases que buscam integrar prticas oriundas de
campos epistemolgicos diversos, por exemplo. Ou seja,
transitamos por um universo acadmico primordialmente
orientado por parmetros tcnicos (Dutra, 2009), o que de-
manda um discurso que seja compreensvel no s para os
nossos pares da fenomenologia, mas tambm para aqueles
de orientaes diversas. Ao mesmo tempo, necessrio
preservar o espao de saberes e fazeres num campo de
disperso epistemolgica, como o da psicologia. Com isso,
uma pergunta retorna: o que fundamentaria uma forma-
o clnica na perspectiva fenomenolgico-existencial?
2. Sobre a formao
Para incio de conversa, pertinente questionar o uso
do termo formao, no contexto da perspectiva em ques-
to. O que significa formar? Caberia nos referirmos a
formao quando tratamos da perspectiva em questo?
Considerando que o vocbulo formar, segundo o dicion-
rio Aurlio (2013), definido como a ao ou efeito de
formar-se; Modo por que uma coisa se forma, podemos
aceitar tal termo como adequado. Mas se tomarmos esta
palavra no sentido de um estado final, acabado, formado,
significando que algum est pronto, resolvido, ento no
cabe a referncia ao termo formao. Entretanto, por todas
as ideias j apresentadas neste trabalho, presume-se que
no se trata de formao neste sentido, quando nos refe-
rimos perspectiva objeto das reflexes. Neste trabalho
o termo formao entendido como um processo, o qual
comportaria, sem dvidas, a concepo de uma experi-
ncia existencial, de um poder-ser, portanto, inacabada.
Com isso, cabe interrogar ento: em que consistiria
uma formao clnica nessa abordagem? Se pensssemos
em critrios para uma boa formao, direcionada for-
mao do psiclogo clnico de uma maneira geral, esta j
seria uma tarefa complicada. Isso porque nos deparara-
mos, certamente, com a conhecida e reconhecida diver-
208
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 205-211, jul-dez, 2013
Elza Dutra
sidade da psicologia. Assim, como pensar uma formao
que leve em conta critrios que contemplem e reflitam
tal diversidade? Como possvel pensar em habilidades
e competncias do psicoterapeuta se reconhecemos a
existncia de perspectivas tericas e metodolgicas bas-
tante divergentes e, muitas vezes, at, inconciliveis, se
considerarmos os campos epistemolgicos que as susten-
tam? Se interrogssemos psicoterapeutas de orientao
psicanaltica, humanista e cognitivo-comportamental,
por exemplo, sobre as caractersticas de um bom psico-
terapeuta, certamente teramos respostas muito distin-
tas. Reiterando a ideia de que a concepo de formao e
de clnica varia muito, dependendo do horizonte terico
e metodolgico de onde se originam. Neste momento
oportuno trazer as ideias de Figueiredo (1993) acerca da
disperso da psicologia. O autor, alm de reconhecer a
multiplicidade oficial da psicologia, entende que
mesmo no mbito das teorias e das prticas psico-
lgicas existiria um tipo de conhecimento, o tcito,
integrando a experincia, a todo o momento. Sobre
o conhecimento tcito, assim ele o define:
O conhecimento tcito do psiclogo o seu saber
de ofcio, no qual as teorias esto impregnadas pela
experincia pessoal e as esto impregnando numa
mescla indissocivel; este saber de ofcio radical-
mente pessoal, em grande medida intransfervel e
dificilmente comunicvel. O resultado que a adeso
explcita a uma escola diz muito pouco da efetiva
atuao profissional; na verdade, creio que quanto
mais conta a experincia, quanto mais tempo no
exerccio da profisso, mais as variveis pessoais vo
pesando na definio das prticas e das crenas dos
psiclogos. (Figueiredo, 1993, p. 91).
Ele segue discutindo o tema da multiplicidade de fa-
zeres, saberes e encontro com as alteridades. E assim,
passa a considerar o psiclogo como um profissional do
encontro, significando que este estar sempre em con-
tato com a alteridade, seja com uma pessoa, instituio
ou grupo. E acredita que
Mesmo que cheguemos a este encontro com a relativa e
muito precria segurana de nossas teorias e tcnicas,
o que sempre importa a nossa disponibilidade para a
alteridade nas suas dimenses de algo desconhecido,
desafiante e diferente; algo que o outro nos obriga a
um trabalho efetivo e intelectual; algo que no outro
nos pro-pulsiona e nos alcana; algo que do outro se
impe a ns e nos contesta, fazendo-nos efetivamente
outros que ns mesmos (Figueiredo, 1993, p. 93).
Toda essa tematizao da formao geral do psi-
clogo clnico tem o intuito de apontar que, mesmo
no contexto de outras abordagens psicoterpicas, a
prtica sempre estar atravessada pela experincia
ou modo de ser do psiclogo. O que esse autor pen-
sa a respeito do contnuo processo de devir que faz
parte da existncia, reitera a reflexo que fazemos
aqui sobre o que ocorre na formao e na prtica
do psiclogo na perspectiva abordada, evocando a
condio de processo, experincia e indetermina-
o do Dasein. Com isso, no basta adotar uma te-
oria ou uma tcnica psicoterpica para ter garanti-
da a sua efetividade, eficcia ou correta aplicao.
Ainda que no mbito de uma mesma teoria, de um
aprendizado comum a todos que a compartilham,
a experincia de estar com o outro, enfim, de ser-
-no-mundo, afasta qualquer possibilidade de se
experienciar um modo-de-ser apartado da prpria
experincia. na multiplicidade que nos constitui,
que se torna possvel a abertura s distintas singu-
laridades e alteridades do outro. O que seria isso
seno a abertura ao velamento-desvelamento que
constitui o modo-de-ser-humano?
Tais argumentos nos fazem lembrar o lugar da teoria
na formao do psiclogo clnico. No incomum que se
privilegie e se reconhea a primazia da teoria na forma-
o do psiclogo, resultado de um pensamento que valo-
riza a tcnica, passando a considerar o psiclogo clni-
co como um tcnico. Diante da diversidade j apontada
antes e considerando-se a complexidade do ser humano,
as ideias mencionadas sugerem que o psiclogo clnico
deveria aprender um maior nmero de tcnicas e teorias
que pudessem habilit-lo e instrumentaliz-lo para o exer-
ccio da psicoterapia e das prticas clnicas. nessa dire-
o que Figueiredo (1996, p. 40) interroga: devemos con-
ceber o psiclogo clnico como um ofer tador de servios
(bens) a serem consumidos e a serem avaliados e regula-
dos pela lgica e pela tica do mercado e dos direitos do
con sumidor? ou o psiclogo clnico deve ser en tendido
como um dispositivo teraputico, mas tambm histrico?
3. O lugar da compreenso na clnica fenomenolgico-
existencial
Na direo contrria ao pensamento preponderante na
psicologia cientfica, a fenomenologia-hermenutica hei-
deggeriana considera a indeterminao do Dasein e sua
impermanncia; e tal modo de pensar sugere uma forma-
o do psiclogo que rompa os modelos ancorados no do-
mnio das teorias e tcnicas psicoterpicas. Assim sendo,
o fazer clnico seria norteado pela abertura do psiclogo
s possibilidades que se desvelam na sua existncia, na
sua condio de ser-no-mundo-com-outros, cujos senti-
dos de ser no podero ser dados a priori, o que significa
arriscar-se na aventura de ser-no-mundo com todas as
implicaes da sua condio existencial. Uma delas a
disponibilidade de lanar-se no desconhecido, na expe-
rincia originria de ser-com-o-outro, ou seja, lanar-se
ao nada, ao no-saber. De onde se pode depreender que o
modo de ser profissional no est apartado do modo
209
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 205-211, jul-dez, 2013
Formao do Psiclogo Clnico na Perspectiva Fenomenolgico-Existencial: Dilemas e Desafios em Tempos de Tcnicas
de ser humano. Neste momento no posso me furtar
da lembrana do velho Carl Rogers, ao propor um
jeito de ser que o terapeuta leva sua prtica. A fe-
nomenologia hermenutica, nos seus fundamentos
ontolgicos, me diz, hoje, que essa abertura e pro-
visoriedade do existir so constitutivas do ser. Ou
seja, prprio do Dasein existir na experincia de
ser afetado no sendo-no-mundo, numa disposio
afetiva frente s demandas que lhe vo ao encon-
tro. Enfim, a ideia de uma existncia que significa
abertura e desvelamento de sentidos.
Todas essas reflexes me fazem retornar ao pensar,
como referido no incio deste texto. Recorro s ideias de
Critelli (2011), as quais traduzem, com clareza, o pensamen-
to que aqui desejo desenvolver. A autora empreende uma
reflexo em torno da aproximao entre filosofia e
psicologia. E com tal intuito se debrua sobre a dife-
rena entre o pensar, que seria uma atividade da filo-
sofia, e a compreenso, a qual, seguindo as ideias de
Hanna Arendt, tambm representa um ato do pensar:
A filosofia, assim, um pensar profundo na busca de
significados ltimos e sem pressa. E a compreenso
um ato de pensar que tambm busca o significado
dos acontecimentos, mas no de forma genrica. A
compreenso emerge e responde s urgncias da vida,
partindo da concretude da existncia e retornando a
ela. Segundo Arendt, a compreenso se pe em mo-
vimento quando algum evento nos faz perder nosso
lugar no mundo e, enquanto no compreendermos
suas razes e seu sentido, no conseguimos nos recon-
ciliar com o curso da vida e nos reinstalar no mundo
(Critelli, 2011, p. 23).
Essa reflexo vai ao encontro do pensamento conti-
do na Analtica da Existncia, em que a compreenso
co-originria, ou seja, faz parte do ser-no-mundo. O que
me faz recordar alguns momentos de superviso, quando
refletimos sobre os modos de se abordar ou interpretar o
sentido na experincia de sofrimento presente na relao
teraputica. No raramente, se apresenta uma dificulda-
de de entendimento em relao postura compreensiva
do psiclogo no momento da fala-escuta do seu cliente-
-paciente. O que remete compreenso como uma forma
de pensar, ilustrada pelas palavras de S (2002) que, de
forma clara, traduzem a pertinncia entre pensar e com-
preenso, em referncia clnica psicolgica:
O pensamento que libera a essncia da tcnica na
direo de uma realizao transformadora no o
pensar j interpretado de modo tcnico como um
clculo de razes. A essncia do pensamento no se
encontra na representao dos entes, mas na memria
do ser. Pelo pensar, o homem levado sua essncia
e vela pela essncia de tudo que . O pensamento
no uma funo psicolgica ou a atividade de um
sujeito transcendental; o pensamento pertence ao
mbito da linguagem, onde homem e ser habitam em
correspondncia (p. 7).
O prprio filsofo, Heidegger, j anunciava que
O homem atual est em fuga de pensamento (1959,
p. 12). O filsofo entende que existiriam dois tipos de pen-
samento, segundo ele, legtimos e necessrios: o pensa-
mento que calcula e a reflexo (Nachdenken) que medita
(p. 13). possvel levar tal reflexo formao do psi-
clogo na perspectiva fenomenolgico-existencial,
cujo modo-de-ser ancora a atitude fenomenolgica.
Estou certa de que a filosofia representa no s um
caminho para se pensar a existncia, mas tambm
para transform-la. Inspirada por essas ideias, pode-
mos propor que o fazer clnico seria norteado pela aber-
tura do psiclogo s possibilidades que se desvelam na sua
existncia, na sua condio de ser-no-mundo-com-outros,
cujos sentidos de ser no podero ser dados a priori, o que
significa arriscar-se na aventura de ser-no-mundo com to-
das as implicaes decorrentes dessa condio existencial.
Uma delas a disponibilidade de lanar-se no desconheci-
do, na experincia originria de ser-com-o-outro, ou seja,
lanar-se ao nada, ao no-saber. Mais uma vez recorro s
palavras de S (2010) para ilustrar essa ideia:
Para Heidegger, pensar em um modo prprio sobre o
ser pensar sobre aquilo que no ente algum, que,
portanto, no . A questo do ser no pode excluir o
no ser. A questo do ser a questo do no ser, a
questo do nada, do vazio, do mistrio. (p. 181)
O que me leva convico de que a formao no
envolve somente o aprendizado de teorias e tcnicas; na
verdade, as transcende. A formao, portanto, estaria
mais relacionada ao desenvolvimento de uma atitude,
um modo de ser, de ver e de estar no mundo. E isso nos
coloca, profissionais, professores e supervisores, numa
posio a ser pensada e repensada, j que somos afetados
naquilo que estamos fazendo e produzindo, seja na dire-
o de tal atitude, seja em outra direo. nesse sentido
que Dutra (2008) afirma:
difcil, tambm para ns, supervisores, transmitir
um conhecimento do que seja uma escuta clnica,
uma vez que, por consistir numa atitude, como a
entendemos, o seu desenvolvimento passa, neces-
sariamente, pela vivncia de um modo de ser, por
uma disponibilidade de abertura ao outro, o que, de
alguma forma, conduzir a pessoa aos seus outros;
por isso a necessidade de arriscar-se nessa aventura
de disponibilizar-se igualmente para si e para o outro,
em direo a um universo desconhecido. (p. 226).
O horizonte, quando assim pensamos, a existncia.
Como diz Heidegger (1927/1999):
210
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 205-211, jul-dez, 2013
Elza Dutra
Chamamos existncia ao prprio ser com o qual a pre-
-sena pode se comportar dessa ou daquela maneira
e com o qual ela sempre se comporta de alguma ma-
neira. (...) A questo da existncia sempre s poder
ser esclarecida pelo prprio existir. A compreenso
de si mesma que assim se perfaz, ns a chamamos
de compreenso existenciria. Entendemos a exis-
tencialidade como a constituio ontolgica de um
ente que existe. (p. 39)
Devo ressaltar que reconheo a importncia dos co-
nhecimentos terico-metodolgicos para o exerccio des-
se saber-fazer; porm chamo a ateno, sobretudo, para o
modo de ser de cada um de ns, refletido em nossos sa-
beres e fazeres no campo da psicologia e na vida; ou seja,
enquanto existentes. A esse respeito, S, Azevedo Junior
& Leite (2010), referindo-se superviso de estgio, dizem:
Para a perspectiva fenomenolgico-existencial, o
saber sobre a existncia sempre problemtico pela
prpria natureza desta, pois qualquer objetivao do
existir afasta sua realidade essencial. No , portanto,
objetivo da superviso resolver o problema da iden-
tidade profissional utilizando da mera transmisso
de teorias e tcnicas, mas sustentar a tenso desta
problematicidade, para que por meio dela se operem
transformaes existenciais, j que o saber que aqui
mais importa aquele indissocivel do nosso prprio
modo de ser (p. 137).
Pensando tambm na direo da formao, sobre a
facticidade do Dasein e seu carter mundano, Gemino
(2002, p. 385) se junta a essa ideia. Ele diz:
O esforo contido no pensamento heideggeriano na
radicalizao da hermenutica trazendo-a ao nvel
da facticidade cria condies para uma retomada
da questo sobre formao em psicologia clnica de
modo a permitir afirmar que, para alm das teorias
psicolgicas e da prpria prxis acadmica, nas
razes de nossa prpria existncia cotidiana que se
encontram os elementos principais que constituem
nossa identidade profissional.
As ideias apresentadas at agora reafirmam que a re-
lao entre psiclogo/psicoterapeuta e sofrente, na prtica
e na experincia vividas no momento do encontro, difi-
cilmente se pautar somente na tcnica e na teoria. J
que existe uma dimenso existencial, uma experincia
(no sentido de disposio afetiva ou Befindlickeit), cria-
dora de sentidos diante das possibilidades que surgem
na abertura do estar-no-mundo-com-outros. Refiro-me
singularidade do psiclogo, dimenso esta que tambm
envolve o seu conhecimento e saber, formal e informal,
os quais passam a constituir o seu modo-de-ser-terapeuta.
Significa que a teoria, j incorporada ao seu modo de ser,
junto viso de homem e de mundo, passa a constituir
uma atitude, um conhecimento tcito, como bem afirma
Figueiredo (1993). Para ele, a experincia pessoal ori-
gem, destino e contexto de significao de toda teoria
(Figueiredo, 1996, p. 90).
4. Pensamento meditante: um caminho
Aqui cabe um retorno s ideias de Heidegger, ao
apontar o caminho do pensamento como uma maneira
de se lidar com a tcnica e que pode ser pensado como
uma direo a ser valorizada na formao do psiclo-
go clnico: Este caminho um caminho de reflexo
(Heidegger, 1959, p. 23). E para chegar a esse caminho ele
prope um modo de abertura traduzido como serenidade
(Gelassenheit) e que S (2002), interpretando o filsofo,
entende que esta seria uma postura em que a alma se
coloca igualmente aberta e desapegada em presena de
todas as coisas (p. 10). A serenidade, portanto, constitui
o pensamento meditante o qual, segundo o mesmo autor,
nos solicita a uma ateno livre de qualquer violncia
subjetiva, isto , de qualquer identificao a um aspecto
exclusivo das coisas. E continua dizendo: a conduta e
a identidade profissional do terapeuta jamais se reduzem
a uma questo de escolha terica ou do aprendizado de
tcnicas, mas implica sua singularidade existencial como
um todo, includos a todos os seus saberes no conceitu-
ais e at mesmo os no representacionais (p. 15).
Tomando como referncia as ideias refletidas at aqui,
podemos dizer que escolher um caminho profissional
pautado na perspectiva fenomenolgico-existencial impli-
ca um determinado olhar sobre os entes e o mundo. Um
olhar que interroga, que no aceita, passivamente, as ver-
dades institudas. Um olhar que na clnica, por exemplo,
no adota, sem questionar, os rtulos institudos pelos
campos de saber que costumam nomear e classificar, de
forma generalizada, o sofrimento, de acordo com os seus
manuais de transtorno mentais, j to bem assimilados
pelo senso comum. A atitude fenomenolgica se ancora
num modo-de-ser, e portanto, se faz a cada momento da
experincia. Com isso, penso que a formao trataria de
criar espaos nos quais esse olhar que interroga pudesse
se expressar e, sobretudo, sustentar as tenses que essa
forma de ser e de um no-saber, favorecem. Proponho
que um caminho primordial na formao sobre a qual
refletimos, seria exercitar um fazer-saber pautado na ex-
perincia singular, exercitando o pensamento meditan-
te, uma vez que O pensamento que calcula no um
pensamento que medita (ein besinnliches Denken), no
um pensamento que reflete (nachdenkt) sobre o sen-
tido que reina em tudo que existe (1959, p. 13). Para o
filsofo, o caminho do pensamento que medita sobre o
sentido das coisas tambm no representa um caminho
fcil, e afirma que
211
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 205-211, jul-dez, 2013
Formao do Psiclogo Clnico na Perspectiva Fenomenolgico-Existencial: Dilemas e Desafios em Tempos de Tcnicas
(...) um pensamento que medita surge to pouco
espontaneamente quanto o pensamento que calcula.
O pensamento que medita exige, por vezes, um grande
esforo. Requer um treino demorado. Carece de cui-
dados ainda mais delicados do que qualquer outro
verdadeiro ofcio. Contudo, tal como o lavrador, tam-
bm tem de saber aguardar que a semente desponte e
amadurea. (Heidegger, 1959, p. 14).
Assim, nos resta levar adiante esse caminho e o que
poderia significar no contexto da formao. O prprio fi-
lsofo acena com uma possibilidade, esta bem alentadora:
Por outro lado, qualquer pessoa pode seguir os ca-
minhos da reflexo sua maneira e dentro dos seus
limites. Por qu? Porque o homem o ser (Wesen)
que pensa, ou seja, que medita (sinnende). No preci-
samos, portanto, de modo algum, de nos elevarmos
s <regies superiores> quando refletimos. Basta
demorarmo-nos (verweilen) junto do que est perto
e meditarmos sobre o que est mais prximo: aquilo
que diz respeito a cada um de ns, aqui e agora; aqui,
neste pedao de terra natal; agora, na presente hora
universal (p. 14).
As palavras do filsofo atestam que no possvel ab-
dicar de um modo-de-estar-no-mundo nem mesmo quan-
do se est diante de um contexto dito cientfico. nessa
direo, ou seja, no desenvolvimento de uma postura fe-
nomenolgica, no exerccio da serenidade e na certeza de
um poder-ser, que a formao do psiclogo clnico nesta
perspectiva se pauta.
Concluindo
Ao final dessas reflexes constato que muitas ques-
tes foram lanadas, pensadas e refletidas. No trago
respostas conclusivas e definitivas, como era de se espe-
rar, uma vez que estamos tratando de uma prtica cl-
nica que representa muito mais uma postura do que a
aplicao de teorias e tcnicas psicolgicas. Portanto, as
reflexes empreendidas aqui visam a enriquecer o di-
logo e a interlocuo entre todos os que compartilham
as preocupaes surgidas no mbito da formao de psi-
clogos. Cabe, agora, esperar que as ideias compartilha-
das possam seguir adiante e contribuir para um dilogo
profcuo e atual entre aqueles que se relacionam com o
campo da psicologia clnica.
Referncias
Critelli, D. (2011). Psicologia e Fenomenologia (Filosofia e
Terapia). In J. O. Breschigliare & M.C. Rocha (Orgs.). SAP-
Servio de Aconselhamento Psicolgico: 40 anos de histria
(p. 19-28). So Paulo: SAP/IPUSP.
Dicionrio Aurlio On Line (2013). http://www.dicionario-
doaurelio.com/Formacao.html. Acessado em 28 de agos-
to de 2013.
Dutra, E. (2008). Afinal, o que significa o social nas prticas
clnicas fenomenolgico- existenciais? Estudos e Pesquisas
em Psicologia (UERJ), 8 (2), 221-234.
Dutra, E. (2009). Parmetros tcnicos e ticos para a forma-
o do psicoterapeuta: alguns apontamentos. In Conselho
Federal de Psicologia, Ano da Psicoterapia. Textos Geradores
(p. 57-67). Braslia: CFP.
Figueiredo. L. C. (1993). Sob o signo da multiplicidade. Cadernos
de subjetividade (PUC-SP), 1, 89-95.
Figueiredo, L. C. (1996). Revisitando as Psicologias: Da Epis-
temologia tica nas Prticas e Discursos Psicolgicos. So
Paulo: EDUC/Petrpolis, Vozes.
Figueiredo, L. C. & de Santi, P. L. R. (2000). Psicologia, uma
(nova) introduo; uma viso histrica da psicologia como
cincia. So Paulo: EDUC.
Gemino, A. M. (2002). Sobre o lugar da teoria na formao do
psiclogo clnico: uma abordagem hermenutica. Arquivos
Brasileiros de Psicologia, 54(4): 377-385.
Heidegger, M. (1959) Serenidade. Lisboa: Instituto Piaget.
Heidegger, M. (1999) Ser e Tempo. 8 ed. Petrpolis, R.J., Vozes,
v. I e II (Original publicado em 1927).
Heidegger, M. (2001). A Questo da Tcnica. Em Martin
Heidegger, Ensaios e Conferncias (p. 11-38). Petrpolis:
Vozes (Original publicado em 1953).
S, R. N. (2002). A psicoterapia e a questo da tcnica. Arquivos
Brasileiros de Psicologia (UERJ), 54(4), 348-362.
S, R. N. (2010). A analtica fenomenolgica da existncia e a
psicoterapia. In: Tdio e Finitude: Da filosofia psicologia
(p. 177-199). In Ana M.L.C.Feijoo (Org.). Belo Horizonte:
Fundao Guimares Rosa.
S, R. Novaes; Azevedo Junior, O. & Leite, T. L. (2010). Reflexes
fenomenolgicas sobre a experincia de estgio e superviso
clnica em um servio de psicologia aplicada universitrio.
Revista da Abordagem Gestltica, 17(2): 135-140.
Safra, G. (2004). A p-tica na clnica contempornea.
Aparecida-SP, Ideias & Letras.
Elza Dutra - Psicloga e psicoterapeuta. Doutora em Psicologia Clnica
pela Universidade de So Paulo (USP), e Docente do Programa de
Ps-Graduao em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). Endereo Institucional: Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Centro de Cincias Humanas Letras e Artes,
Departamento de Psicologia. Campus Universitrio, Lagoa Nova, s/n.
CEP: 59.075-970. Natal, RN. E-mail: elzadutra.rn@gmail.com
Recebido em 03.09.13
Primeira Deciso Editorial em 07.11.13
Aceito em 26.11.13
212
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 212-219, jul-dez, 2013
Paulo Evangelista
UM BREVE COMENTRIO DE MEDARD BOSS SOBRE
PSICOTERAPIA DE GRUPO: A TRANSFERNCIA NA
SITUAO GRUPAL
A Brief Comment by Medard Boss about Group Psychotherapy: Transference in the group situation
Un Breve Comentario de Medard Boss sobre Psicoterapa de Grupo: La Transferencia en la
situacin grupal
PAULO EVANGELISTA
Resumo: Em 1965, Medard Boss publica um livro baseado em suas viagens ndia e Indonsia na dcada anterior. Convidado
como professor visitante de medicina, entra em contato com ocidentalizao da medicina indiana, o que lhe fornece dados para
refletir sobre as limitaes do pensamento ocidental para a compreenso do ser humano, assim como considerar a possibilida-
de de entendimento da psicopatologia a partir da ontologia milenar indiana. No relato de viagem, tece breves consideraes
sobre grupos de psicoterapia coordenados por psiquiatras indianos. Neste artigo, apresentamos uma traduo dos dois pargra-
fos sobre psicoterapia de grupo, que so quase os nicos escritos por Boss ao longo de sua obra sobre o tema. Fiel compreen-
so psicanaltica dos fenmenos psicoteraputicos, da qual nunca quis se afastar, Boss interpreta os fenmenos grupais como
transferncia e resistncia. Com isso, enfatiza a relao de cada participantes com o terapeuta do grupo, relegando a segundo
plano outros fenmenos grupais.
Palavras-chave: Daseinsanalyse; Terapia de grupo; Medard Boss.
Abstract: In 1965, Medard Boss publishes a book based on his travels to India and Indonesia, which happened a decade earlier.
Invited as a visiting professor of medicine, he accompanies the westernization of Indian medicine, which gives him the chance
to reflect about the limitations of western thinking about human being, as well as to consider the possibility of understanding
psychopathologic phenomena based on Indias millennial ontology. Is this travel journal he makes a brief consideration about
group psychotherapies coordinated by Indian psychiatrists. On this article we present the translation to Portuguese of the two
paragraphs about group therapy, which are almost the only ones ever written by Boss about this theme. Loyal to the psychoa-
nalytic understanding of the psychotherapeutic phenomena, from which he never meant to distance himself, Boss interprets
the group phenomena as transference and resistance. By doing this, he stresses the relationship of each participant of the group
with the therapist, but pushes into the background other group phenomena.
Keywords: Daseinsanalysis; Group therapy; Medard Boss.
Resumen: En 1965, Medard Boss publica un libro basado en sus viajes a India e Indonesia en la dcada anterior. Invitado como
profesor visitante de medicina, se pone en contacto con la occidentalizacin de la medicina india, que proporciona datos para
reflexionar sobre las limitaciones del pensamiento occidental para la comprensin del ser humano, as como considerar la po-
sibilidad de entender la psicopatologa desde la milenar ontologa de India. En este informe de viaje, considera brevemente
los grupos de psicoterapia coordinados por psiquiatras indios. En este artculo se presenta una traduccin de dos prrafos so-
bre la psicoterapia de grupo, que son casi los nicos escritos por Boss sobre el tema en toda su obra. Fiel a la comprensin psi-
coanaltica de la psicoterapia fenmenos, que nunca quiso alejarse, Boss interpreta los fenmenos grupales como transferencia
y resistencia. Con esto subraya la relacin de cada participante con el terapeuta del grupo, relegando a un segundo plano otros
fenmenos grupales.
Palabras-clave: Daseinsanalyse; Terapia de grupo; Medard Boss.
O mundo do Dasein mundo compartilhado.
(Heidegger, Ser e Tempo, 26)
Medard Boss, psiquiatra suo nascido em 1903, co-
nhecido como o fundador da Daseinsanalyse, uma nova
cincia voltada para a compreenso do homem e de mo-
dos de interveno e cuidado condizentes com a espe-
cificidade de seu ser. A descrio da existncia humana
que fundamenta sua obra aquela desenvolvida pelo fi-
lsofo Martin Heidegger, principalmente no livro Ser e
Tempo (Heidegger, 1927/1998). Boss assume a tarefa de
desenvolver uma disciplina que demonstre os fenme-
nos existenciais comprovveis do Dasein social-histrico
e individual relacionados no sentido de uma antropolo-
gia ntica, de cunho daseinsanaltico (Boss & Heidegger,
1987/2009, p. 164-5), dividida em uma antropologia da-
seinsanaltica da existncia saudvel e uma patologia
compreendida luz do homem como Dasein, ser-a. Para
213
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 212-219, jul-dez, 2013
Um Breve Comentrio de Medard Boss sobre Psicoterapia de Grupo: a Transferncia na Situao Grupal
sais. A Daseinsanalyse de Boss o encontro da psican-
lise freudiana com a analtica existencial heideggeriana.
Ele entende que, por ficar preso ao modelo cientfico na-
tural, Freud viu-se obrigado a formular um aparelho ps-
quico movido por uma energia psquica, explicando os
fenmenos mentais de acordo com as leis fsicas (Boss,
1984/1997; Evangelista, 2004)
A fenomenologia de Heidegger um mtodo de deixar
e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como
se mostra a partir de si mesmo (Heidegger, 1927/1998,
p. 57). Ele desenvolve essa compreenso deixando claro
que o sentido especfico do logos, s poder ser estabe-
lecido a partir da prpria coisa que deve ser descrita,
ou seja, s poder ser determinado cientificamente se-
gundo o modo em que os fenmenos vm ao encontro
(Heidegger, 1927/1998, p. 57). por fidelidade a este prin-
cpio fenomenolgico que Boss dedica sua vida elabo-
rao de uma terapia amparada numa fundamentao
mais humana e mais em conformidade com o Dasein
(Daseinsgemss) da medicina (Boss, 1994, p. xxx), li-
vre dos pressupostos que obscurecem a compreenso da
existncia e que a aprisionam, tal como a metapsicologia
freudiana na perspectiva do daseinsanalista.
A necessidade do mtodo fenomenolgico advm
exatamente do modo de ser dos fenmenos, que se des-
velam ao Dasein sempre luz dos mundos comparti-
lhados em que existe. Na existncia cotidiana so com-
partilhados significados tradicionais; isto , interpreta-
es do que so e como so os fenmenos. A tradio,
entretanto, pode encobrir modos de ser dos fenmenos
(Heidegger, 1927/1998). Ser que a psicanlise freudia-
na, na condio de tradio e de setor ntico (Heidegger,
1927/1998), tem traos encobridores para Medard Boss?
Isto , ser que a psicanlise delimita um modo de aces-
so aos fenmenos da psicoterapia para o fundador da
Daseinsanalyse?
Caso a resposta seja afirmativa, isso no seria consi-
derado um erro ou deficincia de sua obra. Muito pelo
contrrio, Medard Boss faz questo de no ser considera-
do um dissidente da psicanlise freudiana. Afirma que:
Certa vez Freud afirmou definitivamente que estava
disposto a conceder o direito de classificar como
Psicanlise qualquer mtodo psicoteraputico que
reconhea a transferncia e a resistncia como
partes essenciais. Portanto, no preciso me ver como
um dissidente de Freud, considerando a prtica de
meu tratamento das neuroses e das perverses. (Boss,
1947/1949, p. xiii)
Sua obra de grande valor para a psicologia e merece
mais visibilidade do que tem atualmente. Infelizmente,
no Brasil, a Daseinsanalyse foi agrupada na categoria das
Psicologias Humanistas (Feijo, 2011) e sua especificida-
de, desconsiderada.
cumprir essa tarefa, Boss recebe a ajuda do filsofo, que
durante dez anos frequenta sua casa em Zollikon, lecio-
nando para mdicos psiquiatras em seminrios em que
tematiza a condio humana luz da analtica existen-
cial, visando construo dessa cincia humana livre
dos pressupostos cientfico-naturais deterministas que
obscurecem a compreenso dos processos de cura (Boss
& Heidegger, 1987/2009).
Apesar de pouco conhecida, a obra de Boss reconhe-
cida internacionalmente. Em 1951 eleito Presidente da
Sociedade de Medicina Sua, permanecendo no cargo at
1958, e em 1954, presidente da Federao Internacional
de Psicoterapia Mdica at 1967, alm de receber convi-
tes de universidades nas Amricas e na sia para apre-
sentar o trabalho que estava desenvolvendo. convida-
do para lecionar em universidades em Lucknow, Delhi e
Bangalore entre 1956 e 1959 e publica um relato dessas
viagens e de suas descobertas j em 1959. Na ndia, as-
sim como na Indonsia, Boss entra em contato com mo-
dos de vida e filosofias orientais, que repercutem na sua
compreenso do adoecimento humano. Nesses lugares,
entretanto, convidado para lecionar sobre prticas de
cura ocidentais, levando seu conhecimento mdico e psi-
colgico a esses povos que rapidamente se ocidentaliza-
vam (Boss, 1959/1965).
Alm de conhecimentos sobre a medicina ocidental,
Boss conhece profundamente a psicanlise. Em 1925
muda-se para Viena, onde inicia sua anlise didtica
com Freud. Forma-se mdico em 1928 pela Universidade
de Zurique e assume o posto de assistente de Eugen
Bleuler, com quem aprofunda a interpretao psicanalti-
ca dos fenmenos psicopatolgicos estudados na Clnica
Psiquitrica Burgholzli. nessa mesma clnica que en-
tra em contato com o pensamento fenomenolgico dos
psiquiatras Jaspers, Minkowski e Binswanger, iniciando
sua crtica metapsicologia freudiana, que ele conside-
ra restritiva para a compreenso dos fenmenos encon-
trados no processo psicanaltico, que ele investiga tanto
nas clnicas psiquitricas em que trabalha quanto em seu
consultrio particular, inaugurado em Zurique em 1935
(Stern, 1979/1994).
Boss elogia e critica a psicanlise simultaneamente.
Ele profundamente elogioso das descobertas de Freud
sobre o processo de libertao do sofrimento psicolgi-
co pela psicanlise. Considera que Freud descobriu na
sua experincia clnica que os fenmenos humanos so
dotados de sentido, isto , so atos intencionais cujo sig-
nificado pode ser compreendido luz da totalidade da
vida do paciente. A descoberta desse sentido depende da
fala que, na compreenso que Boss desenvolve a partir da
analtica existencial, condio humana. Assim, o da-
seinsanalista encontra na psicanlise freudiana indcios
da existncia. Esses indcios, entretanto, so encobertos
por hipteses explicativas que fornecem causas para os
comportamentos manifestos, num esforo de correspon-
der exigncia cientfico-natural de encadeamentos cau-
214
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 212-219, jul-dez, 2013
Paulo Evangelista
1. Psicanlise dos grupos
O incio da Daseinsanalyse marcado pelo dilogo
com a psicanlise freudiana, mas logo Boss v a neces-
sidade de situar-se em relao a outras abordagens psi-
coteraputicas que dialogam com a Filosofia. Tenta de-
marcar a diferena entre a cincia que desenvolve da
psicanlise existencial de Sartre e de psiquiatrias an-
tropolgicas, como as de Erwin Straus, Emil Gebsattel e
Ludwig Binswanger, dialogando com as mesmas (Boss,
1947/1949). Mas com a crescente influncia do pensa-
mento de Heidegger, sua reflexo abarca novas questes
psicolgicas ligadas sua poca, principalmente a fal-
ta de sentido do homem moderno. A neurose do tdio
(ou do vazio) a forma de neurose do futuro imediato
(Boss, 1977, p. 17), proclama em 1961, que corresponde
existncia do homem moderno, caracterizada pela alie-
nao em si-mesmo dos homens da atual sociedade in-
dustrial (Boss, 1977, p. 57). Heidegger pensa sua poca
atual como Era da Tcnica, e suas reflexes, em algum
grau, influenciam Medard Boss (Feijo, 2011). Essa po-
ca em que Boss busca novos fundamentos mais cor-
respondentes ao ser humano tambm marcada pelo
isolamento do homem, por sua crena no autocontrole e
na autodeterminao e na expectativa de meios tcnico-
-cientficos para a resoluo de quaisquer problemas. A
psicoterapia de grupo poderia ser uma alternativa neste
quadro, dado que um processo psicolgico que ocorre
na convivncia com outras pessoas. Embora no possa
ser interpretada como uma tcnica para tratar a soli-
do do homem moderno, pode, sim, contribuir. Essa
uma perspectiva apontada por Camasmie (2012), cuja
tese de doutorado trabalho pioneiro na tematizao da
psicoterapia de grupo numa perspectiva fenomenolgico-
-existencial no Brasil.
O mtodo psicanaltico descrito por Freud surgiu e
se desenvolveu tematizando a relao dual analista-pa-
ciente. Mas ainda no incio do desenvolvimento da psi-
canlise surgem propostas de atendimentos em grupo. A
expresso psicoterapia de grupo foi utilizado pela pri-
meira vez por Jacob Moreno, que foi estudante de medi-
cina em Viena e conheceu Freud, mas rejeitou o modelo
psicanaltico em prol do que foi se desenvolvendo sob o
nome de Psicodrama, uma prtica psicoteraputica que,
em sua origem, s se realizava em grupos (Osrio, 2003;
Calderoni & Bassani, 2010). Mas o Psicodrama no a
nica nem a ltima abordagem psicoteraputica grupal
na histria da psicologia. Prticas psicolgicas grupais
surgem fundamentadas nas psicologias correntes, assim
como erigem novas psicologias. H grupos de encontro
fundamentados em Carl Rogers (1970/1974), grupos na
Gestalt-terapia, grupos psicanalticos, grupos operati-
vos (Osrio, 2003). At o momento, entretanto, no apa-
receu nenhuma tentativa de fundamentar uma psicote-
rapia de grupo daseinsanaltica. O mais prximo disso
a reflexo de Calderoni & Bassani (2010), aproximando
Psicodrama e Daseinsanalyse, e a recente tese de dou-
torado de Camasmie (2012), que busca fundamentos fi-
losficos heideggerianos, mas passa ao largo da obra de
Medard Boss. Os estudos que refletem sobre a psicotera-
pia de grupo frequentemente o fazem em comparao
psicoterapia individual. Isso situa a psicoterapia de gru-
po num lugar instvel nas prticas clnicas (Camasmie,
2012, p. 1); pouco reconhecida por sua especificidade,
ela medida por sua eficincia em relao aos processos
individuais, principalmente pela quantidade de pacien-
tes que podem ser atendidos ao mesmo tempo
1
. Ser que
o modelo psicoteraputico daseinsanaltico no permi-
te tal prtica?
Freud desde muito cedo na histria da psicanlise te-
oriza sobre a relao dos homens em grupos e comuni-
dades. Em 1913 publica Totem e Tabu (Freud, 1913/2013),
reunio de ensaios nos quais debate com a psicologia so-
cial. Nesse livro, recorre aos relatos da antropologia de
organizaes sociais de povos primitivos para discutir
a formao de laos comunitrios, comparando-os aos
comportamentos de pacientes neurticos. Por exemplo,
a relao de um povo com seu lder caracterizada como
ambivalente; a figura do lder (rei, sacerdote, governante,
etc.) incita nos demais o desejo de realizar um ato proibi-
do o tabu mas, por isso, ele detestado. O lder , as-
sim, amado e odiado concomitantemente. Os rituais que
o cercam restringem seus comportamentos, punindo-o
por seu poder. Um dos dois tabus fundamentais nessas
comunidades primitivas a proibio de matar o totem
seja ele animal ou coisa estendida ao lder. A trans-
gresso do tabu resultaria, hipotetiza Freud (1913/2013),
na dissoluo da comunidade. O segundo tabu onipre-
sente nessas comunidades refere-se a relaes sexuais
com membros do mesmo cl (ou famlia). A moralidade
humana, enquanto reguladora das relaes sociais, fun-
da-se com a proibio do incesto e do parricdio; isto ,
com o complexo de dipo.
Freud no praticou nem recomendou que suas teo-
rias fossem usadas para psicoterapia de grupo. Mas elas
fundamentam a compreenso dos processos grupais que
surgem sob influncia da metapsicologia (Osrio, 2003).
Por exemplo, o tabu em relao a governantes (Freud,
1913/2013) pode ser claramente transposto para a inter-
pretao da relao dos participantes de uma psicotera-
pia de grupo com o analista. Aqueles nutrem pelo ana-
lista sentimentos ambivalentes; atribuem a ele o poder
curativo, mas temem seu poder. Sentem por ele afeio e
hostilidade, tal como uma criana por seu pai. Segundo
Freud, a imagem que um filho faz do pai habitual-
mente investida de poderes excessivos desta espcie e
descobre-se que a desconfiana do pai est intimamen-
te ligada admirao por ele (Freud, 1913/2013). Mas a
1
Por isso, a psicoterapia de grupo no Brasil acaba sendo vista como
atendimento oferecido em instituies e pelo servio pblico de
sade, em oposio psicoterapia individual realizada em consul-
trios particulares.
215
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 212-219, jul-dez, 2013
Um Breve Comentrio de Medard Boss sobre Psicoterapia de Grupo: a Transferncia na Situao Grupal
hostilidade para com o analista proibida, reprimida,
tabu. Essa compreenso sofre poucas alteraes ao longo
da obra freudiana, de modo que, quando a psicanlise
aplicada psicoterapia de grupos, o complexo de dipo
permanece sendo a matriz de interpretao dos fenme-
nos grupais. Nessa concepo, os participantes dos gru-
pos nutrem entre si sentimentos fraternais de rivalidade.
O cerne da psicanlise de grupos a relao transferen-
cial de cada participante com o analista, com quem re-
vive suas neuroses infantis, seus sentimentos de amor e
dio. Desta maneira, pode-se afirmar que cada paciente
tratado individualmente no grupo.
Como estudioso da obra de Freud, Boss conhece os
estudos de Freud sobre grupos. Porm, o daseinsanalista
escreve muito pouco sobre terapia de grupo ao longo de
sua obra. Ser que conhece outros intrpretes da psican-
lise, que levaram as propostas de Freud para o contexto
grupal? Conhece o trabalho de outros psiclogos contem-
porneos seus, como Wilfred Bion, Fritz Perls, Enrique
Pichon-Rivire, Carl Rogers, que desenvolveram modelos
de psicoterapia de grupo? Esta pergunta fica guardada
para outro estudo. Neste momento, o foco a compreen-
so que Boss tem da psicoterapia de grupo.
Pesquisando seus escritos, at o momento encontrei
apenas duas brevssimas menes a atendimentos em
grupo. A primeira um comentrio feito por Heidegger
em 1966, num seminrio em Zollikon; o filsofo diz aos
participantes que numa conversa particular, Boss com-
para os seminrios com um processo de terapia de grupo
que possibilitaria uma viso mais livre, um deixar ver
mais adequado da constituio humana. No decorrer de
tal terapia de grupo surgiriam, como numa anlise freu-
diana, resistncias que se dirigiriam contra a libertao.
As resistncias contra o tratamento heideggeriano (...)
(Boss & Heidegger, 1987/2009, p. 173).
O segundo comentrio que encontrei o que tradu-
zo abaixo. Tomando-o como referncia, tento depreender
uma compreenso da psicoterapia de grupo.
2. Daseinsanlise de Grupo?
Boss (1959/1965) publica um relato de suas via-
gens ndia e Indonsia entre 1956 e 1959 sob o t-
tulo Indienfahrt eines Psychiaters
2
. O psiquiatra con-
vidado em 1955 pelo diretor da Escola de Medicina
da Universidade de Jacarta e logo depois pelo Centro
Psiquitrico da Universidade de Lucknow, no norte da
ndia, para um perodo como professor visitante. Boss
responde afirmativamente a esses convites, consideran-
do a possibilidade de se aproximar do pensamento orien-
tal, que ele j estudava h 10 anos, quando participava
de grupos de estudo semanais com Jung.
2
Traduzido para o ingls em 1965 (Boss, 1959/1965) e para o francs
em 1971 (Boss, 1959/1971). Para o presente artigo, foram usadas
ambas as tradues.
Em Lucknow, em 1959, Boss encontra o rpido cres-
cimento de centros mdicos como modo de responder
demanda por mdicos para a populao, sobretudo aps
a recente independncia em relao Inglaterra (ocorri-
da em 1947). O servio de sade pblico do pas precisa
rapidamente se desenvolver. Para isso, so criados um
centro de treinamento mdico central e as universida-
des em cada estado recebem verba para se especializar
cada uma num ramo da medicina, de modo a dispor de
todas as especialidades mdicas e a poder formar futuros
mdicos em todas elas (Boss, 1959/1965). Esses centros e
as especialidades mdicas recebem influncia direta da
medicina europeia, encontrando estudantes maravilha-
dos com os mtodos de pesquisa e os resultados das in-
tervenes ocidentais, o que tambm acirrou os nimos
de defensores da tradio milenar da medicina ayurv-
dica. O convite a Boss, ento presidente da Federao
Internacional de Psicoterapia Mdica, , portanto, para
que ensine aos mdicos indianos a psicoterapia ociden-
tal, o que ele realiza atravs de atendimentos, seminrios
e supervises clnicas.
Como mdico e psicoterapeuta convidado, Boss su-
pervisiona sesses de psicoterapia de grupo didtica aos
psicoterapeutas indianos em treinamento. Ele se refere
a essa experincia no seu relato com o objetivo de consi-
derar a semelhana do sofrimento humano no oriente e
no ocidente, mostrando que o objetivo da psicoterapia
lidar com o sofrimento humano. Nessa reflexo, ento,
mostra que a psicoterapia em grupo com participantes in-
dianos apresenta fenmenos similares aos que encontrava
na Europa. Vejamos seu comentrio sobre estes grupos:
Por exemplo, no caso de psicoterapia realizada para fins
de treinamento com uma dzia de estudantes saudveis
de psicologia e medicina, ao longo dos muitos meses de
tratamento apareceram primeiramente uma competi-
o por status mais ou menos contida dentro do grupo,
assim como ocorre entre pessoas do Ocidente. Depois
apareceram problemas de autoridade em relao ao l-
der do grupo com cada um dos participantes, repetindo
as experincias de vida formativas que tiveram com
pais e cuidadores; cada um reagindo diferentemente
de acordo com suas particularidades. Novamente
aqui, os fenmenos correspondem exatamente ao que
esperaramos encontrar no Ocidente. Em uma pessoa
imediatamente, em outra, logo depois apareceram os
fenmenos costumeiros de resistncia, o desejo de se
abster, o mau humor, o secamento de memrias dos
sonhos, crticas aos outros membros do grupo e ao m-
dico responsvel. Estes so os mesmos fenmenos que
regularmente brotam no ocidente. Eles so os sintomas
de defesa contra a tomada de conscincia de tendncias
at agora repelidas, dificilmente compatveis com a
autossuficincia e com as concepes morais. A com-
preenso destas reaes como evases e a superao das
mesmas, a sinceridade consigo mesmo tornada assim
216
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 212-219, jul-dez, 2013
Paulo Evangelista
possvel e o aprender a assumir-se responsavelmente
correspondem de todas as maneiras a observaes cor-
rentes no Ocidente, tanto em terapias de grupo quanto
no curso de todas as psicanlises individuais. Nova-
mente, assim como no Ocidente, mostraram-se serem
os fatores curativos mais importantes e decisivos. Nos
seres saudveis, foram capazes de liberar ainda mais
energia criativa, enquanto nos seres doentes levaram
dissoluo dos sintomas.
Dentre os participantes doentes de outro grupo havia
um paciente esquizofrnico, que fora submetido a
uma operao psicocirrgica. Devido elimina-
o cirrgica dos lobos frontais, ele foi bastante
desumanizado. J na primeira hora desta terapia de
grupo, este paciente contou aos companheiros que era
preguioso demais para fazer qualquer coisa alm de
comer e dormir. Embora tenha feito essa afirmao
com bastante calma, sua fala deixou os demais muito
excitados. Para eles, que nada sabiam sobre a opera-
o, era muito perturbante e alarmante que um ser
humano conseguisse afundar a um nvel to baixo
de existncia. Todos eles tentaram insistentemente
descobrir se ele no tinha, afinal, nenhum tipo de
interesse ou objetivo futuro na vida. Eles, ento, se
sentiram bastante aliviados ao descobrirem que a pr-
pria participao dele nas sesses teraputicas grupais
j denunciava a vontade de tornar-se saudvel. Mas eu
j havia observado uma vez no Ocidente exatamente a
mesma reao numa sesso de psicoterapia de grupo.
L tambm a indignao geral com a desumanizao
de um participante leucotomizado foi ainda maior
do que o mal-estar causado pela confuso psictica e
pela violncia do mesmo paciente antes da operao
(Boss, 1959/1965, p. 59).
Portanto, nesta rpida comparao entre a psicote-
rapia de grupo conduzida na ndia e no Ocidente, Boss
revela uma compreenso sobre alguns fenmenos cos-
tumeiramente encontrados nessa modalidade de trata-
mento. Menciona: 1) competio por status no grupo, 2)
problemas de autoridade com o lder, 3) repetio das
experincias de vida formativas com pais e cuidadores,
4) resistncia, 5) sintomas de defesa e 6) compreenso e
superao das resistncias como fatores curativos, apon-
tando isto como o sentido do processo psicoteraputico
tanto individual quanto de grupo.
Passemos ento explicitao destes fenmenos, con-
siderando a compreenso que os fundamenta.
3. Explicitao dos fundamentos da compreenso
bossiana dos fenmenos grupais
A obra de Medard Boss dedicada elaborao de
uma psicologia e uma medicina mais pertinentes ao
existir humano. Ele encontra na analtica do Dasein
uma compreenso sobre o humano e seus modos de ser
livres dos pressupostos cientfico-naturais at ento usa-
dos para explicar o adoecer humano e os processos de
cura. Com base na analtica do Dasein, formula compre-
enses mais bem fundamentadas do que (...) as estr-
nuas acrobacias mentais impostas pela psicanlise em
ambos o analista e o analisando (Boss, 1994, p. xii),
fundando uma cincia mais objetiva e mais cientfi-
ca do que as cincias do comportamento (Boss, 1963,
p. 29), pois possibilita um entendimento livre de hip-
teses sobre o que um processo psicoteraputico. esse
interesse cientfico que o leva tambm a propor o aban-
dono de alguns termos psicanalticos, pois, fiel ao mto-
do fenomenolgico, reconhece que entrincheirados por
trs das palavras validadas por uma orientao conceitu-
al particular esto seus prejuzos secretos. (Boss, 1994,
p. 125) Essa compreenso Boss retoma de Ser e Tempo,
onde Heidegger explica que:
(...) o Dasein no tem somente a tendncia de de-cair
no mundo em que e est, e de interpretar a si mes-
mo pela luz que dele emana. Juntamente com isso, o
Dasein tambm de-cai em sua tradio, apreendida de
modo mais ou menos explcito. A tradio lhe retira
a capacidade de se guiar por si mesmo, de questionar
e escolher a si mesmo. (...) A tradio assim predomi-
nante tende a tornar to pouco acessvel o que ela lega
que, na maioria das vezes e em primeira aproximao,
o encobre e esconde (Heidegger, 1927/1998, p. 49).
Assim como a obra de Heidegger lhe referncia, a
psicanlise apresenta-lhe uma prtica psicolgica voltada
para a libertao de amarras, que impedem o deixar-ser
dos fenmenos no mundo do paciente. E a obra freudia-
na lhe to prxima quanto a ontologia hermenutica
de Heidegger. Boss deixa claro que o seu esforo forne-
cer uma fundamentao mais adequada aos fenmenos
descobertos por Freud e, como j mencionado acima, ele
faz questo de no ser considerado um dissidente da psi-
canlise de Freud.
Como estudioso da obra freudiana, Boss certamen-
te conhece os escritos de Freud sobre grupos e conhece
as interpretaes psicanalticas, que partem do pressu-
posto enunciado acima de que as experincias infantis
com as figuras parentais so formadoras dos conflitos
revividos no setting analtico. No livro que rene sua
contribuio medicina e psicologia ele afirma que a
relao mdico-paciente, chamada de transferncia pela
psicanlise, a base genuna de todas as formas de tra-
tamento, o verdadeiro lcus de todos os esforos tera-
puticos (Boss, 1994, p. 257). O conceito de transfern-
cia criticado por Boss com base em seus pressupostos
mecanicistas. Ele afirma:
surpreendente que a teoria da transferncia tenha
tomado o lugar do pensamento mdico to rpida e
217
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 212-219, jul-dez, 2013
Um Breve Comentrio de Medard Boss sobre Psicoterapia de Grupo: a Transferncia na Situao Grupal
profundamente, pois bvio o carter fictcio de suas
suposies. Se as afeies so para ser deslocadas de
alguma representao dentro da psique para fora, para
objetos do mundo exterior, estas afeies endopsqui-
cas e representaes deveriam primeiro existir. Mas,
temos enfatizado repetitivamente que no h qualquer
evidncia nos fenmenos da existncia humana que
demonstre a presena de ambos (Boss, 1994, p. 267).
Por outro lado, reconhece que Freud descobriu um
importante fenmeno da relao teraputica. Quanto
aos fenmenos encontrados na psicoterapia de grupo
em Lucknow, no so os mesmos previamente delimi-
tados pela teoria psicanaltica? Sua leitura do proces-
so de terapia de grupo reconhece que os participantes
da terapia de grupo revivem as experincias infantis
de disputa pelo afeto dos pais, competindo entre si por
status e brigando com a autoridade do coordenador,
tal qual irmos brigando entre si. De acordo com isso,
aparece para Boss (1959/1965) a competio por status
mais ou menos contida dentro do grupo (p. 59), que
manifestao da rivalidade fraternal entre os partici-
pantes, todos desejosos do afeto do analista, que assu-
me nesta situao o lugar de pai. Da surge tambm a
ambivalncia afetiva com o analista, pois junto com o
amor e a admirao, ele visto como um obstculo para
a realizao dos desejos de poder de cada participante.
Ademais, o desejo de assumir seu lugar gera culpa. Essa
a explicao psicanaltica para os problemas de auto-
ridade em relao ao lder do grupo (Boss, 1959/1965,
p. 59) encontrados por Boss. Para a psicanlise, essa si-
tuao a reencenao das relaes afetivas infantis.
Tambm so descobertas no grupo experincias de vida
formativas que tiveram com pais e cuidadores (Boss,
1959/1965, p. 59).
Essas semelhanas chamam a ateno para a gran-
de proximidade entre a Psicanlise e a Daseinsanalyse
de Boss. A diferena est na compreenso que se desen-
volve dos fenmenos. Para a Daseinsanlise, as experi-
ncias parentais tambm so formativas de modos de
ser. Boss atribui vrios modos de restries neurticas
a experincias com os pais. A relao com as figuras
parentais pode restringir a realizao de possibilidades
existenciais da criana, que, ao amadurecer, permanece
restrita na possibilidade de lidar correspondentemente
com determinados campos de fenmenos. Quando um
paciente vivenciando tal restrio chega ao consultrio,
relacionar-se- com o profissional a partir das possibi-
lidades de que dispe e que podem ser poucas, limita-
das, restritas. Assim, ele no est transferindo para o
psicoterapeuta modos de ser com seus pais, mas est se
relacionando com ele a partir de como lhe possvel.
Boss explica isso:
O que pode parecer uma transferncia neurtica
na realidade um Dasein humano cuja abertura foi
substancialmente restrita atravs de um mau direcio-
namento dos pais no incio da vida. Tal Dasein pode
continuar na idade adulta a ser incapaz de perceber ou
responder a outros adultos, exceto nos poucos modos
restritos que os pais patognicos tenham-lhe permi-
tido durante a infncia. Uma pessoa cuja existncia
foi assim restringida desde a infncia, sem a ajuda
da psicoterapia, ir passar a vida vendo nos adultos
somente aquelas caractersticas que se ajustam
percepo limitada que lhe permitiram na infncia.
Entre outras coisas, isto significa que o terapeuta,
como qualquer outro adulto, ir aparecer na mesma
maneira original e infantil... (Boss, 1994, p. 268)
Assim, na situao da terapia de grupo, Boss reconhe-
ce os fenmenos j apontados pela psicanlise, mas no os
interpreta como questes transferenciais, mas, sim, como
modos possveis, porm limitados, de ser-com-os-outros.
A competio por status e os problemas com a autoridade
so modos restritos de se relacionar que podem, a partir
da psicoterapia, ser superados. A psicoterapia o cami-
nho para o desvelamento das proibies e expectativas
que sustentam esses modos e que impedem a apropriao
de novos modos de ser-no-mundo-com-outros, com vistas
a super-las. Mas esses modos podem aparecer nas rela-
es com todos os participantes do grupo. Assim como
no cotidiano h uma multiplicidade de modos possveis
de relaes pessoais, tambm em grupo possvel viver
essa multiplicidade.
O abandono de modos de se compreender e a aber-
tura para novas possibilidades existenciais uma tarefa
rdua, que os pacientes raramente assumem livremente,
mesmo sofrendo com suas restries. Frequentemente,
portanto, aparecem os fenmenos costumeiros de re-
sistncia (Boss, 1959/1965, p. 59), assim como sintomas
de defesa contra a tomada de conscincia de tendncias
at agora repelidas (Boss, 1959/1965, p. 59), encontradas
por Boss nos grupos. Mas nesse apontamento revela-se
outra semelhana entre seu modo e o modo psicanaltico
de interpretao de fenmenos grupais. Os fenmenos de
resistncia aparecem na relao mdico-paciente. Boss
enftico na afirmao de que Freud descobridor tambm
desses fenmenos caractersticos dessa relao, mas fica
restrito na possibilidade de compreend-los. Resistncia
o estar-fechado e sem liberdade para se apropriar de
e corresponder a possibilidades existenciais, impedin-
do a relao aberta com os entes que a se manifestam.
Frequentemente referem-se a proibies a experimentar
ser possibilidades existenciais que se anunciam, devido
a elas terem sido na biografia do paciente interpretadas
como erradas e pecaminosas. Mesmo na situao tera-
putica os pacientes no permitem que se manifestem
por as julgarem desagradveis, indiscretas, irrelevantes
ou banais.
A superao da resistncia e a apropriao de novos
modos de ser possvel a partir da relao mdico-pa-
218
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 212-219, jul-dez, 2013
Paulo Evangelista
ciente. Esta relao, que chamada pela Psicanlise de
transferncia, uma relao humana e precisa ser con-
siderada enquanto tal. Isso significa que os sentimentos
que o paciente tem pelo psicoterapeuta, ele realmente os
tem pelo psicoterapeuta; igualmente, os sentimentos que
pode ter pelos demais participantes de um grupo so, re-
almente, em relao a eles. Esta a principal divergncia
da Daseinsanalyse com a Psicanlise; as relaes mdico-
-paciente no so distores nem transferncias de afetos
destinados a outrem. Na relao teraputica o paciente se
relaciona com os outros tal como lhe possvel. Explica
Feijo (2011), que a pessoa se encontra limitada e res-
trita em suas possibilidades. Portanto, percebe o analis-
ta ou o cnjuge com a mesma limitao com que olhava
seu pai ou sua me. No dispondo de novas possibilida-
des de relao, mantm o mesmo padro de sua infncia
(p. 33). Mas exatamente no processo psicoteraputico
que os modos constitudos podem aparecer e novos mo-
dos de ser-com-os-outros podem surgir. Boss enfatiza a
relao de cada participante com o analista do grupo, tal
como aprendera com Freud.
Assim, a concepo de terapia de grupo de Boss est
em sintonia com aquela que deriva da psicanlise: cada
participante relaciona-se individualmente com o analis-
ta. Para ele, o objetivo da terapia individual e em grupo
o mesmo: a apropriao de possibilidades existenciais
impedidas em funo de restries do Dasein, que se d
atravs do poder-compreender e superar as resistncias
que impedem o desenrolar do processo psicoteraputi-
co. Assim, no h uma distino entre terapia de grupo
e terapia individual. Mas, ao privilegiar a relao com o
psicoterapeuta, relega a segundo plano as relaes entre
os participantes. Em decorrncia, essas relaes so com-
preendidas como competio por status e pela ateno
da figura de autoridade.
Boss (1959/1965) nota que os pacientes do grupo fi-
cam indignados com a desumanizao do participante
leucotomizado. Na sequncia do comentrio aos grupos,
ele fala de curiosidade, excitao, estranhamento, pertur-
bao e indignao diante do paciente lobotomizado. No
so esses modos de lidar fenmenos grupais que surgem
das relaes interpessoais entre os membros? No podem
esses fenmenos possibilitar aos pacientes o desvelamen-
to e a apropriao de novos modos de ser-no-mundo-com-
-os-outros? Esses fenmenos brotam da interrelao dos
participantes, que no , necessariamente, uma rivalida-
de, uma transferncia, nem uma resistncia. Mas a n-
fase dada por Boss relao analista-analisando ocorre
em detrimento da descoberta de que o grupo pode ser
um espao privilegiado para o surgimento de mltiplas
relaes interpessoais, assim como para o desvelamen-
to de novos modos de ser-com-os-outros. Como lembra
Camasmie (2012),
A clnica de grupo uma modalidade de psicote-
rapia marcada principalmente pela experincia da
convivncia. pela presena dessa caracterstica
constitutiva que os modos de ser-com-o-outro tendem
a se tornar visveis mais rapidamente do que outras
modalidadespsicoterpicas (p. 45).
Embora Boss perceba isso, sua interpretao da psico-
terapia de grupo permanece fiel psicanlise freudiana,
que concentra na relao com o analista o desenrolar do
processo teraputico.
Consideraes finais
Fenomenologia deixar e fazer ver por si mesmo
aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si
mesmo (Heidegger, 1927/1998, p. 65). essa atitude que
fundamenta as pesquisas de Boss, comprometido a resga-
tar o homem e os tratamentos a ele destinados das abstra-
es cientficas que os encobrem. assim que Boss proce-
de na Daseinsanalyse: fornecendo fundamentaes mais
correspondentes ao existir humano medicina e psi-
canlise. No mbito psicoteraputico, Boss parece partir
de um campo de fenmenos j desvelados por Freud para
fornecer-lhes a compreenso de que carecem. O mesmo
pode ser dito da leitura bossiana dos processos grupais,
s que, aqui, ele perde de vista outros fenmenos que po-
dem surgir nesse modelo psicoteraputico.
Boss era um psicoterapeuta individual. No tinha,
portanto, condio nem obrigao de conhecer a fundo
os processos psicoteraputicos em grupo. Desse modo,
os questionamentos aqui levantados no so uma crtica
a ele; so apenas uma tentativa de libertar os fenmenos
da psicoterapia de grupos das delimitaes fundadas pela
tradio psicanaltica.
Ser que a leitura fenomenolgico-existencial dos
fenmenos grupais revela que a psicoterapia de grupo
um processo psicoteraputico individual conduzido em
grupo? Esta uma possibilidade aberta pela psicanlise,
que entende que a problemtica apresentada na situao
de grupo uma problemtica individualizada, restrita
existncia isolada de cada paciente e s relaes com a
famlia nuclear. Boss corrige a interpretao psicanalti-
ca de que a relao com o terapeuta do grupo a trans-
ferncia de afetos ligados s figuras materna e paterna,
mas mantm a noo de que modos imaturos de se re-
lacionar provenientes da histria de vida, sobretudo fa-
miliar, aparecem nessa relao, fomentando competio
entre os demais participantes, admirao e competio
com o coordenador e resistncia para assumir as limita-
es e apropriar-se de novos modos de ser. Mas a seu ver,
isso ocorre na relao terapeuta-paciente no grupo. Boss,
assim como psicanlise, privilegia a relao de cada pa-
ciente com o terapeuta, trabalhando as questes de cada
membro individualmente em grupo. Trata-se de uma ex-
tenso do modelo psicoteraputico individual, que ele
conhece to bem, ao modelo grupal.
219
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 212-219, jul-dez, 2013
Um Breve Comentrio de Medard Boss sobre Psicoterapia de Grupo: a Transferncia na Situao Grupal
Referncias
Boss, M. (1949). Meaning and Content of Sexual Perversions:
A Daseinsanalytic Approach to the Psychopathology of the
Phenomenon of Love. Traduo de Liese Lewis Abell. New
York: Grune & Stratton (Original publicado 1947).
Boss, M. (1965) A Psychiatrist Discovers India. Traduo de
Henry Frey. London: Oswald Wolff (Original publicado
em 1959).
Boss, M. (1971). Un Psychiatre en Indie. Traduo de Rmi
Laureillard. Paris: Fayard (Original publicado em 1959).
Boss, M. (1963) Psychoanalysis & Daseinsanalysis. Traduo
de Ludwig B. Lefebre. New York; London: Basic Books,
Inc. Publishers.
Boss, M. (1997). Encontro com Boss. Daseinsanalyse Revista
da Associao Brasileira de Daseinsanalyse, 1, 2 e 4,
5-21(Original publicado em 1974).
Boss, M. (1997). Anlise Existencial - Daseinsanalyse: Como
a Daseinsanalyse entrou na Psiquiatria. Daseinsanalyse
Revista da Associao Brasileira de Daseinsanalyse, 22,
23-35 (Original publicado em 1975).
Boss, M. (1977). Angstia, Culpa e Libertao: Ensaios de
Psicanlise Existencial. Traduo de Barbara Spanoudis.
2a. ed. So Paulo: Duas Cidades.
Boss, M. (1997). Introduo Daseinsanalyse e Medicina
Psicossomtica: Cincia ou Magia? Daseinsanalyse Revis-
ta da Associao Brasileira de Daseinsanalyse, 8, 17-29
(Original publicado em 1985).
Boss, M. (1994). Existential Foundations of Medicine & Psy-
chology. Northvale, New Jersey; London: James Aronson Inc.
Boss, M. (1997). Introduo Daseinsanalyse. Daseinsanalyse
Revista da Associao Brasileira de Daseinsanalyse, 8,
6-16 (Original de 1984).
Boss, M. & Heidegger, M. (2009) Os Seminrios de Zollikon -
Protocolos, Dilogos, Cartas. Traduo de Ftima Almeida
Prado. Petrpolis, RJ: Vozes (Original publicado em 1987).
Calderoni, C. R. & Bassani, M. (2010). Psicodrama e Daseinsa-
nalyse: compatibilidades. Lins, SP: Razes Grfica e Editora.
Camasmie, A. T. (2012). Psicoterapia de grupo na abordagem
fenomenolgico-existencial: Contribuies heideggerianas.
Doutorado em Psicologia. Universidade Federal Fluminense
(UFF), Rio de Janeiro.
Evangelista, P. (2004) A Recepo do Inconsciente Freudiano da
Daseinsanalyse de Medard Boss. Daseinsanalyse Revista
da Associao Brasileira de Daseinsanalyse, 13, 21-49.
Feijo, A. A. (2011). Clnica Daseinsanaltica: Consideraes
Preliminares. Revista da Abordagem Gestltica, 17(1), 30-36.
Freud, S. (2013) Totem e Tabu e outros trabalhos. Freud
Online. Vol. XIII da Edio Standard das Obras Completas
Disponvel em http://www.freudonline.com.br/livros/
volume-13/vol-xiii-3-ii-tabu-e-ambivalencia-emocional/
Acessado em 27/06/2013 (Original de 1913).
Heidegger, M. (1998). Ser e Tempo. Petrpolis: Vozes (Original
publicado em 1927).
Osrio, L. C. (2003). Psicologia Grupal: Uma nova disciplina
para o advento de uma era. Porto Alegre: Artmed.
Rogers, C. (1974) Grupos de Encontro. Traduo de Joaquim
Proena. Lisboa: Livraria Martins Fontes (Original publi-
cado em 1970).
Stern, P. (1994). Introduction to the English Translation.
In: Medard Boss, Existential Foundations of Medicine &
Psychology. Traduo de S. & Cleaves, A Conway. New Jersey/
London: Jason Aronson Inc (Original publicado em 1979).
Paulo Eduardo Rodrigues Alves Evangelista - Psiclogo e Mestre em
Filosofia pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP);
Professor e Coordenador das disciplinas de Psicologias Humanistas
e fenomenolgicas na Universidade Paulista (UNIP-SP); Doutorando
em Psicologia da Educao e do Desenvolvimento Humano na Univer-
sidade de So Paulo (USP), e Coordenador do Centro de Formao e
Coordenao de Grupos em Fenomenologia. Endereo Institucional:
Universidade Paulista Instituto de Cincias Humanas: Rua Dr. Ba-
celar, 1212, Vila Clementino, So Paulo, SP, CEP 04026-002. E-mail:
pauloeevangelista@gmail.com
Recebido em 12.01.13
Primeira Deciso Editorial em 26.05.13
Segunda Deciso Editorial em 03.07.13
Aceito em 26.11.13
220
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
Valdir B. L. Neto
A ESPIRITUALIDADE EM LOGOTERAPIA E ANLISE
EXISTENCIAL: O ESPRITO EM UMA PERSPECTIVA
FENOMENOLGICA E EXISTENCIAL
The Spirituality in Logotherapy and Existential Analysis: The spiritual in a phenomenological
and existential perspective
La espiritualidad en Logoterapia y Anlisis Existencial: El Espritu en una perspectiva
fenomenolgica y existencial
VALDIR BARBOSA LIMA NETO
Resumo: O artigo visa abordar o conceito de esprito em Logoterapia e Anlise Existencial, contemplando a viso ontolgica e a
antropologia filosfica elaborada por Viktor Emil Frankl sobre tal conceito, bem como os principais fundamentos e pensadores
que embasam e dialogam com as ideias do referido autor. O trabalho visa esclarecer e aprofundar a dimenso notica ou espi-
ritual do homem, tomando-o como a pedra angular da terapia do sentido. Enfocando a importncia de compreender o esprito
do homem dentro de uma viso antropolgica para desenvolver uma humanizao da cincia psicolgica e da psicoterapia, bem
como promover uma compreenso adequada da perspectiva e da metodologia logoterpica. O artigo contemplar uma breve in-
troduo no contexto histrico no qual Frankl prope como uma psicologia que abrange o estudo da pessoa espiritual, em se-
guida ser abordado o conceito de esprito na tica logoterpica, bem como sua fundamentao fenomenolgica e existencial.
Depois ser aprofundada a questo da dimenso notica, explicitando a abordagem e suas principais fundamentaes metodo-
lgicas, esclarecendo questes importantes a respeito da categoria espiritual, concluindo a relevncia do conceito de esprito
para a compreenso da Logoterapia e para a Anlise Existencial, bem como para a uma prtica humanizada em psicoterapia e
em Psicologia como um todo.
Palavras-chave: Logoterapia; Esprito; Humanizao.
Abstract: This paper aims to address the concept of spirit in Logotherapy and Existential Analysis, issuing the ontological vi-
sion and the philosophical anthropology developed by Viktor Emil Frankl on this concept, as well as the theoretical founda-
tions and key thinkers who gave support to the authors ideas. The work aims to clarify and deepen the theory behind the spir-
itual or noetic dimension of man, understanding it as the cornerstone of a meaning-centered therapy. Focusing on the impor-
tance of understanding mans spirit within an anthropological view for the humanization of the psychotherapy and the psy-
chological science, promoting a proper understanding of the Logotherapys comprehension and methodology. The article will
include a brief introduction about the historical context in which Frankl proposes a psychology school that covers the study of
the spiritual person, then we will address the concept of spirit in Logotherapys perspective, as well as its phenomenological
and existential foundations. Then the question of the noetic dimension will be depeened, as we will cover the logotherapeu-
tic approach and its main methodological foundations, clarifying important questions about the spiritual category, concluding
the relevance of the concept of spirit for understanding the Logotherapy and Existential Analysis, as well as the humanization
practice in psychotherapy and in psychology as a whole.
Keywords: Logotherapy; Spirit; Humanization.
Resmen: El artculo pretende abordar el concepto del espritu en la Logoterapia y en la Anlisis Existencial, contemplando
la visin ontolgica y la antropologa filosfica desarrollada por Viktor Emil Frankl en este concepto, as como los principales
pensadores y fundaciones que apoyan y que interactan con las ideas de este autor. El trabajo pretende aclarar y profundizar
la dimensin espiritual o notica del hombre, la piedra angular de la constitucin de la terapia del sentido, basndose en la im-
portancia de comprender el espritu del hombre en una visin para la humanizacin de la ciencia psicolgica y psicoterapica,
as como para una adecuada comprensin del punto de vista antropolgico y de la metodologa de la Logoterapia. El artculo in-
cluye una introduccin en el contexto histrico en el que Frankl propone una psicologa que contiene el estudio de la persona
espiritual, despus se ir abordar el concepto del espritu en la vision de la Logoterapia, as como sus fundamentaciones feno-
menolgicas y existenciales. A continuacin vamos a profundizar la cuestin de la dimensin notica, explicando el enfoque
logoterapeutica y sus principales fundamentos metodolgicos, aclarar cuestiones importantes con respecto a la categora espiri-
tual, concluyendo la relevancia del concepto de la espritu para comprender la Logoterapia y Anlisis Existencial, as como para
una prctica humana en la psicoterapia y la psicologa en su conjunto
Palabras-clave: Logoterapia; Espritu; Humanizacin.
221
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
A Espiritualidade em Logoterapia e Anlise Existencial: o Esprito em uma Perspectiva Fenomenolgica e Existencial
O esprito o nico ser que por si incapaz de ser
objetivado ele pura atualidade, s tem seu ser na
livre realizao de seus atos. O centro do esprito, a
pessoa, no , portanto, nem um ser objetivo nem
um ser coisificado, mas apenas uma estrutura or-
denadora de atos que leva a tempo constantemente
a si mesmo. A pessoa s em seus atos e atravs
deles... algo anmico no realiza a si mesmo: ele
uma srie de acontecimentos no tempo...tudo o que
anmico passvel de objetivao mas no o ato
espiritual. Ns s podemos nos reunir ao ser da
nossa pessoa, nos concentrar em sua direo mas
no podemos objetiv-lo. Como pessoas no pode-
mos objetivar nem mesmo as outras pessoas.
(Max Scheler, 1928/2003, p. 45)
Introduo
Logoterapia e Anlise Existencial so duas faces da
mesma escola de pensamento psicolgico e psicoterapu-
tico. Oriunda de Viena, surgindo no sculo XX, tendo
sua ascenso no perodo ps-segunda guerra mundial, a
abordagem tambm conhecida como a terapia do sen-
tido, sendo edificada, sobretudo, a partir do pensamento
fenomenolgico e das inspiraes da filosofia existencial
(Frankl, 1987/2012).
A Logoterapia entendida como o mtodo psicotera-
putico que visa o desdobramento de cada sentido con-
creto experimentado em cada situao imediata viven-
cialmente. A Anlise Existencial atua como a pesquisa
filosfica de Viktor Emil Frankl (1987/2012), fundador da
abordagem, que visa fundamentar e embasar sua psicote-
rapia, de modo que ela se constitua no como uma anli-
se da existncia, mas como uma anlise dirigida exis-
tncia, a fim de enfocar o ser humano em sua dimenso
vivida, concreta e, portanto, existencial, uma vez que o
sentido, por essa tica, no passvel do alcance objeti-
vante e explicativo, s sendo atingido de modo vivencial.
A palavra logos vem do grego e significa sentido ou o ca-
rter espiritual humano (Frankl, 1987/2012).
Para a construo de tal abordagem em psicologia e
em psicoterapia, Frankl (1972/2011) esforou-se em elabo-
rar uma antropologia, uma filosofia e uma ontologia que
embasasse e norteasse sua prtica e sua pesquisa psico-
lgica, uma vez que, para o autor, toda psicoterapia, di-
reta ou indiretamente, tenderia a promover uma viso de
homem e de mundo (Frankl, 1972/2011). Nas palavras do
prprio Frankl: Todo conhecimento, na medida em que
um conhecimento humano, est ligado a uma posio
(Frankl, 1987/2012, p. 81). Por essa perspectiva, para se
constituir devidamente uma teoria psicoterpica, fun-
damental expor os aspectos filosficos e metodolgicos
que permeiam a viso de mundo pressuposta por toda
prtica psicoteraputica proposta. Atravs de sua tica
antropolgica, o criador da Logoterapia compreendia o
ser humano como um ser espiritual, que escapa a qual-
quer reduo ntica, coisificada ou objetiva, ocupando
uma posio privilegiada dentre os demais entes do mun-
do (Heidegger, 1927/2009; Frankl, 1987/2012). O homem
o ser capaz de vivenciar e desvelar sentidos, um ser, que
alm de uma dimenso ntica, apresenta uma dimenso
ontolgica (Fonseca, 2006; Heidegger, 1927/2009). Por meio
de uma perspectiva de homem enquanto ser ontolgico e
espiritual, o conceito de esprito ocupa um lugar funda-
mental para o entendimento da Logoterapia e da Anlise
Existencial, uma vez que no voltar-se ao carter espiri-
tual do ser-homem que Viktor Frankl promove seu mtodo
do encontro de sentidos. Conhecer devidamente o modo
como a Logoterapia aborda o conceito de esprito torna-se
imprescindvel para todos aqueles que desejam explorar
as possibilidades da terapia do sentido e compreender a
viso de homem da Anlise Existencial frankliana.
Este trabalho tentar expor, brevemente, o modo como
o conceito de esprito abordado pela teoria logoterpi-
ca, promovendo um dilogo com as principais influn-
cias da fenomenologia e das filosofias da existncia que
fundamentaram os pensamentos de Frankl ao compor a
conceituao da dimenso espiritual ou notica (do grego
nous, que significa esprito), bem como suas principais
implicaes na viso e na atuao logoteraputica. Ser,
primeiramente, apresentado o contexto no qual Frankl
sentiu a necessidade de introduzir uma viso de pessoa
espiritual em psicoterapia. Depois, apresentar-se- a com-
preenso de esprito a partir da antropologia de Frankl
e dos autores influente em tal perspectiva, seguida das
principais intersees que o elemento espiritual faz com o
inter-humano, com a fenomenologia, com a psicoterapia e
com a religiosidade para ajudar no esclarecimento de tal
conceito e suas implicaes em psicologia, concluindo a
relevncia em se tematizar o conceito de espiritualidade
em Logoterapia e Anlise Existencial para o devido en-
tendimento de tal teoria e prtica psicoterpica.
1. A crtica de Viktor Frankl
Partindo do posicionamento no qual toda psicotera-
pia seria responsvel pela promoo de uma determina-
da cosmoviso de mundo e de homem, na construo da
Logoterapia, Viktor Frankl (1972/2011), mdico, psiquia-
tra e neurologista, realizou uma crtica as duas princi-
pais foras psicolgicas de seu tempo, acusando-as de
reducionistas e niilistas, argumentando que, at ento,
a psicologia estava tomando como seu objeto de pesquisa
apenas uma faceta do homem, limitando a humanidade
a este nico aspecto, que o autor chamou de carter fac-
tual do ser humano, Frankl(1978/2005) ressalta algumas
discordncias pontuais como os aspectos mecanicistas
e o deterministas que, segundo o autor, eram assumidos
tanto pelas psicologias do comportamento, quanto pelas
psicologias do inconsciente.
222
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
Valdir B. L. Neto
A psicanlise v a neurose como resultado de cer-
tas psicodinmicas e procura, consequentemente,
neutraliz-las suscitando a ao de outras psicodin-
micas... A terapia behaviorista, por sua vez, atribui
a neurose a certos processos de aprendizagem ou de
condicionamento e, consequentemente, prescreve
novas aprendizagens e novos condicionamentos para
neutraliz-la... Em ambos os casos a terapia permane-
ce no mbito da neurose. A logoterapia, ao contrrio...
Vai alm desse plano, seguindo o homem na dimen-
so humana onde ele pode alcanar os recursos que,
apenas a esto disponveis (Frankl, 1978/2005, p. 9).
Por um lado, o homem era visto como um organismo
imerso em um ambiente de estmulos e contingncias
que o condicionam a agir, pensar e sentir, eis o legado
do behaviorismo. Por outro lado, a psicanlise percebia
o homem constitudo de um aparato psquico que era
regido por leis energticas e mecnicas, tais foras in-
ternas e inconscientes seriam a causa primeira de todas
as aes humanas. O que duas linhas de pensamento, a
priori to distintas teriam em comum? Ambas acredita-
vam que o ser humano era aprisionado em uma lgica
causal. O determinismo ambiental ou pulsional seriam
as condies que regiam o homem e para abord-lo, seria
preciso compreender estes determinismos.
Logo, tomando apenas a dimenso determinada do
homem, por meio de uma reduo ntica, para se va-
ler das palavras de Martin Heidegger (1927/2009), a ci-
ncia psicolgica passou a reduzir o ser humano mera-
mente aos aspectos que o condicionam, objetalizando-o
(Frankl, 1987/2012). Nesse sentido, segundo o criador da
Logoterapia, o ser humano sofrera uma verdadeira coi-
sificao no incio do percurso da psicologia cientfica
e da psicoterapia, herana do legado tcnico-cientfico e
do paradigma positivista. Tal dimenso ntica havia sido
supervalorizada pelas escolas estudiosas do inconscien-
te, com toda sua perspectiva pulsional e psicodinmica
do psiquismo humano e pelas escolas pesquisadoras do
comportamento, elegendo o comportar-se como o nico
foco de estudo possvel para se chegar a um conhecimen-
to vlido e preciso sobre a psique.
Uma psicologia... que se orienta pelo modelo meto-
dolgico das cincias naturais, se comprometem com
uma falsificao, com uma desnaturalizao, e com
uma desumanizao do sujeito humano, na medida
em que este sujeito, submetido observao, se trans-
forma, inevitvel em objeto (Frankl, 1981/1990, p. 35)
O determinismo e o mecanicismo tambm se faziam
fortemente presente no pensamento psiquitrico e na vi-
so biomdica nos tempos de Frankl. O aparato biolgi-
co, a gentica e a hereditariedade, nesse sentido, seriam
a fonte que gerava e explicava todo o homem. Mais uma
vez, o determinismo se fazia presente e, a tica causal
se apresentava como a lgica possvel para se atuar com
esta perspectiva de ser humano. Sobre esse pensamento,
Frankl (1978/2005) afirmava: A hereditariedade sim-
plesmente o material com o qual o homem constri a si
mesmo. No se trata seno de pedras que so rejeitadas
e jogadas fora pelo construtor, ou no. Mas o construtor
como tal no feito de pedras (p. 44).
Contudo, de uma maneira geral, essas duas foras
do pensamento psicolgico do incio do sculo XX, bem
como a viso biologizante da psiquiatria clssica, com-
preendiam que o ser humano um ser determinado, seja
por foras internas do um inconsciente obscuro ou por
foras externas estimuladoras de comportamentos adapta-
tivos ou mesmo resultantes de uma carga gentica heredi-
tria. Instrumentalizadas a partir do mtodo positivista,
tanto a Psicanlise quanto as escolas comportamentais
passaram a objetificar o ser humano no intuito de enten-
d-lo e explic-lo. A proposta teraputica que emerge de
tais abordagens a de um analista, seja dos contedos
inconscientes seja dos comportamentos humanos, que
toma a pessoa em terapia como objeto a ser analisado e
interpretado (Lima Neto, 2012).
Alm dos aspectos deterministas, mecanicistas e re-
ducionistas, Frankl (1946/1989) tambm criticara o nii-
lismo presente no pensamento dos behavioristas e dos
psicanalistas, que compreendiam, de um lado, que o
mundo um meio para a satisfao de desejos e pulses
(tese defendida pela Psicanlise freudiana), e de outro,
que o mundo um contexto contingencial que determi-
na como o ser humano age e pensa, bem como afirmam
as linhas de inspiraes Behavioristas. Nas duas teses, o
mundo um estranho indiferente e frio s inquietaes
do homem que sofre e questiona-se a respeito do sentido
da vida e de suas dores. Nas duas perspectivas, falar de
liberdade e de sentido falar de iluses construdas pelo
homem e projetadas no mundo para tornar a existncia
humana, na medida do possvel, um pouco mais supor-
tvel (Frankl,1972/2011).
2. A proposta logoterpica
Frankl (1972/2011) acreditava que as principais linhas
psicolgicas de sua poca bem como a viso mdica e
psiquitrica, estavam negligenciando o aspecto genuina-
mente humano do homem, recorrendo a metodologias e
teorias que o reduziam a um nico faceta de sua comple-
xidade e de sua pluralidade, na inteno de determin-lo
e explic-lo, caindo em uma perspectiva limitadora das
possibilidades exclusivamente humanas. Para o autor se-
ria necessria uma concepo de homem e de mundo, di-
ferente das tradicionais psicoterapias de sua poca, para
ento estruturar-se uma teoria e uma prtica que inclua o
ser humano em sua totalidade, em sua pluralidade unifi-
cada e significativa, em sua singularidade integralmente
humana. Portanto, para a construo de uma abordagem
223
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
A Espiritualidade em Logoterapia e Anlise Existencial: o Esprito em uma Perspectiva Fenomenolgica e Existencial
em psicologia, segundo Frankl (1987/2012), como aten-
tado anteriormente, fundamental o embasamento em
uma antropologia filosfica para constituir um mtodo
psicolgico. No por acaso que as crticas do autor s es-
colas psicolgicas de seu tempo j se mostram permeadas
pela sua prpria compreenso antropolgica, a ontologia
dimensional: que teoriza a possibilidade de enxergar o
homem sob diferentes dimenses que o compem e o in-
tegram como uma alteridade irredutvel.
Ao acusar os comportamentais e psicanalistas de esta-
rem reduzindo o ser humano a um nico aspecto de sua
totalidade unificada na pluralidade, Frankl (1946/1989)
parte da premissa de que o homem apresenta-se em trs
dimenses principais: somatolgica, psicolgica e nool-
gica. A dimenso somatolgica ou somtica inclui todo o
aspecto fisiolgico do homem, tematizando a viso biol-
gica e orgnica do ser humano. A dimenso psicolgica ou
psquica abrange as pulses, bem como o funcionamento
psicodinmico do psiquismo, os comportamentos operan-
tes, os processos psicolgicos, etc. Para Frankl, essas duas
primeiras dimensionalidades da pessoa caracterizariam
o aspecto factual, determinado e passvel de ser explica-
do objetivamente. Diferindo destas duas dimenses ou
deste referido carter determinista da condio humana,
aparece a dimenso noolgica, tambm nomeada de es-
piritual. a dimenso na qual o homem opera em uma
realidade existencial, presentificada no momento criador
e recriador de si mesmo em sua relao com o mundo.
Esta seria a dimenso que contemplaria devidamente o
ser humano, plena de valores e sentidos concretos, o as-
pecto no qual se reconhece a validade da liberdade, da
responsabilidade e da conscincia. Exatamente aquela
dimenso que, segundo Frankl (1978/2005), estava sendo
negligenciada pelas psicologias do comeo do sculo XX.
Portanto, a grande crtica de Frankl (1972/2011) diri-
giu-se indiferena para com o elemento espiritual por
parte dos psiclogos de seu tempo. Resgatar o aspecto
espiritual, bem como promover um mtodo de atuao
para o esprito e a partir dele exatamente a proposta
logoteraputica. Para compreend-la, faz-se imprescin-
dvel o devido entendimento de tal conceito em Frankl,
calcados em embasamentos filosficos, antropolgicos
e psicolgicos.
3. A dimenso espiritual na antropologia frankliana
Como j enfatizado anteriormente, Frankl (1987/2012)
parte de uma slida fundamentao filosfica para elabo-
rar sua concepo de homem e de esprito. O pensamen-
to de Max Scheler (1928/2003), filsofo inserido na linha
fenomenolgica, , sem dvida, um dos principais pila-
res de seu pensamento antropolgico. Outros pensadores
como Martin Heidegger (1927/2009), Nicolai Hartmann
(1949/1975), Martin Buber (1923/2010), entre outros no-
mes importantes de estudiosos da fenomenologia-existen-
cial, comporiam os outros pilares que integram a viso
de homem da Anlise Existencial frankliana. O dilogo
com esses vrios autores s aumenta a singularidade do
pensamento de Frankl, que no se limita a uma mera re-
produo e aplicao das ideias de alguns filsofos, psi-
quiatras e psiclogos psicologia, mas sim, na criao
de um autntico pensamento filosfico, antropolgico e
psicolgico, a partir de uma fundamentao consistente.
, sobretudo, por meio das contribuies das ideias de
Scheler (1928/2003), que o conceito de esprito se insere
na obra de Frankl (1987/2012). O pensamento scheleriano
aborda o homem enquanto um ser espiritual. Esse fato an-
tropolgico, por sua vez, destacaria o ser humano dentre
todos os outros seres na natureza. Enquanto os animais
compartilhariam com o homem aspectos semelhantes
como: impulso afetivo, instintos, memria associativa e
inteligncia prtica, denominadas por Scheler(1928/2003)
de as quatro formas essenciais da vida, o homem apre-
sentaria algo qualitativamente diferente a todo e qual-
quer outro ser na natureza, o chamado aspecto espiritual.
Mas que diferenas seriam essas que se apresentariam
a partir desse novo aspecto? Scheler, como mostrado an-
teriormente, observara a presena de caractersticas ani-
mais no homem. Coexistindo com o carter anmico, que
abrangeria os instintos, as pulses e tudo o que natu-
ralmente condicionam e determinam o homem, haveria
tambm os elementos espirituais, que se diferenciariam
daquilo que entendido como vida no seu sentido na-
tural, ressaltando-se aos aspectos anmicos. Enquanto
na realidade anmica o homem impulsionado por algo,
colocando o ser humano num paradigma de causa e efei-
to, a realidade espiritual situa-se inteiramente no mbito
da atualidade. O esprito ato puro, presena que s
se manifesta no momento em que se realiza, no instante
do aqui e agora (Scheler, 1928/2003; Buber, 1923/2010).
Nessa perspectiva, o esprito inserir-se-ia no mbito do
possvel, da possibilidade ascendente que se desdobra
e se instala na realidade. Uma atitude Eu-Tu, ontolgi-
ca dimenso do possvel em desdobramento que tende a
se realizar e, ento, converte-se em um Eu-Isso, dimen-
so da prpria instalao do real (Heidegger, 1927/2009;
Buber, 1923/2010). algo que caracteriza a liberdade e a
conscincia humana imediata, instantnea, vivida dian-
te do mundo e da prpria realidade, um acontecimento
que se configura, em toda a sua extenso, como sentido.
Nas palavras de Frankl:
Trata-se em particular de fazer qualquer coisa em
relao situao na qual nos encontramos para
modificar, se for necessrio, a realidade. Desde que a
situao sempre nica, com um sentido que tambm
necessariamente nico, segue-se que a possibili-
dade de fazer qualquer coisa em relao situao
tambm nica, porque transitria. Ela possui uma
qualidade kairos, isto , se no aproveitamos a opor-
tunidade de dinamizar o sentido intrnseco e como
224
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
Valdir B. L. Neto
que mergulhando na situao, o sentido passar e ir
embora para sempre (Frankl, 1978/2005, p. 32).
Nessa tica, o carter espiritual o elemento que per-
mite o desdobramento de sentido, caracterizando o ser
humano enquanto possibilidade, se diferenciando de
tudo o que o determina, o esprito ressalta a capacidade
humana de transcender a toda cadeia determinante, a
todo meio que condiciona, possibilitando que o homem
espiritual torne tudo alvo de ao para si, inclusive sua
prpria natureza anmica (Scheler, 1928/2003). As coi-
sas, as criaturas, so determinadas, so seres do passado,
condicionados a reproduo do padro da instalao do
real. O elemento espiritual sempre novo, atual, criao,
ele guarda uma relao intrnseca com o imediato, com
a instantaneidade reveladora e imprevisvel do momento
(Buber, 1923/2010). O fator espiritual ressalta a capacidade
de deciso do homem, uma vez que este passa a agir, no
apenas inteiramente impulsionado por seus contedos
anmicos, mas tambm orientado por sua espiritualidade.
O anmico apresenta-se factualmente, porm, toda a di-
menso espiritual se d facultativamente, enquanto uma
escolha autntica e vivida (Frankl 1972/2011; 1987/2012).
importante frisar a relao intrnseca existen-
te entre o anmico e o espiritual destacada por Scheler
(1928/2003), pois, partindo da compreenso de que toda
forma de ser mais elevada apresenta, necessariamente,
menos fora e mais dependncia em relao s formas
menos elevadas, o filsofo entendia que o esprito no
tem nenhuma fora em si mesmo, na verdade, ele ne-
cessita do impulso anmico, que sendo uma dimenso
inferior dimenso do esprito, apresentaria mais inde-
pendncia e mais poder a partir da fora das pulses e
dos instintos para agir na pessoa espiritual. Na tentativa
de ilustrar tal ideia, lembremo-nos do sbio verso de O
Profeta, de Kahlil Gribran:
A vossa razo e a vossa paixo so o leme e as velas
da vossa alma navegante. Se um de vs navegar e
as velas se partirem, s podereis andar deriva ou
ficar imveis no meio do mar. Pois a razo, por si s,
reprimi toda pulso; e a paixo, no controlada,
chama que arde at a sua prpria destruio (Gibran,
1923/2010, p. 38).
Analogamente metfora de Gibran, a razo repre-
sentaria o esprito que opera como o leme, e as paixes
estariam na mesma posio que o anmico que, como as
velas de um barco, ou sendo o motor de um navio, empur-
ram e impulsionam a pessoa atravs das guas da exis-
tncia. Nossa alma navegante, como chamou o escritor,
precisaria tanto das velas e dos motores quanto do leme,
o anmico o motor da alma e o esprito seu guia e seu
orientador. Diante do desejo pulsional, que a pura fora
que move, surge a vontade do esprito para guiar a alma
navegante, a pessoa espiritual. Scheler no tem a inten-
o de negar ou reprimir o anmico na sua viso de ser
humano, mas reconhece a pulsionalidade como consti-
tuinte do homem e como fora fundamental para o esp-
rito emergir. Tal qual na metfora de Gibran, anmico e
espiritual so duas facetas da alma humana, da pessoa
espiritual. A alma navegante representaria a pessoa, do
latim personare, que significa soar atravs, representando
o conceito de pessoa como um ordenador de atos intuiti-
vos e conscientes, aquela por meio do qual soa o sopro do
esprito, que leva a prova a si mesma em cada ato espiri-
tual e intencional (Scheler, 1928/2003; Buber, 1923/2010).
4. O espiritual em uma perspectiva fenomenolgica,
existencial e dialgica
Ao discorrer sobre as caractersticas do esprito,
Frankl (1946/1989) considera o pressuposto dialgico
(Dia: compartilhamento, Logos; sentido) fundamental,
no qual tudo que , existe em compartilhamento, no
qual o princpio da existncia a relao. Martin Buber
(1923/2010), principal expoente do estudo dialgico, afir-
mou que no relacionar-se que o Eu se constitui, ou seja,
o homem se torna Eu diante do Tu. O mundo e o outro
se do como condies de existncia, como coorigin-
rios no surgimento da humanidade. Martin Heidegger
(1927/2009), enfatizou que o Dasein, termo que o filso-
fo designou para ressaltar o ser humano em sua dimen-
so existencial, sempre um ser-com, e, portanto, um
ser-com-o-outro e um ser-no-mundo. O homem exis-
tencial, enquanto ao, enquanto presena, portanto, o
Dasein, j se d em uma coexistncia com demais alte-
ridades no mundo. Frankl (1946/1989) afirma que o ser-
-homem um ser-referido, logo, um ser em relao, pois
s na relao que o ser existe, diferencia-se, destaca-se,
particulariza-se e torna-se nico e singular. Portanto,
entende-se o elemento espiritual em Logoterapia como a
caracterstica essencial da dimenso existencial do ho-
mem. Nesse sentido, divergindo das tradicionais vises
psicolgicas mencionadas anteriormente, o mundo, na
compreenso logoterpica, no algo indiferente ao ho-
mem, que surge como um natural absurdo. Mas sim um
Tu que se relaciona intrinsecamente e constantemente
com o Eu espiritual, ambos se constituindo e afetando-
-se reciprocamente. O mundo responde ao Eu espiritual
e nessa premissa o esprito sempre um estar-junto-a,
existindo necessariamente em relao concreta e dire-
ta com o mundo (Frankl, 1987/2012). A qualidade deste
estar-junto-a existir sempre entrelaado com o outro,
com o Tu, seja este outro, como atentou Buber(1923/2010),
a natureza e os objetos naturais, outros seres humanos
ou at mesmo o absoluto, esta a qualidade dialgica da
pessoa espiritual. A condio dialgica indispensvel
para o entendimento do esprito, pois, reafirmando, este
se d sempre e de certa maneira, exclusivamente, em re-
lao (Frankl, 1987/2012).
225
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
A Espiritualidade em Logoterapia e Anlise Existencial: o Esprito em uma Perspectiva Fenomenolgica e Existencial
O esprito em sua manifestao humana a resposta
do homem ao seu Tu... Este esprito a resposta ao
Tu que se revela dos mistrios, e que do seio desde
mistrio o chama. O esprito palavra. O esprito no
est no Eu, mas entre o Eu e o Tu. Ele no comparvel
ao sangue que circula em ti, mas ao ar que respiras.
O homem vive no esprito na medida em que pode
responder ao seu Tu. Ele capaz disso quando entra
na relao com todo o seu ser. Somente em virtude
de seu poder de relao que o homem pode viver no
esprito (Buber, 1923/2010, p. 75).
Tais consideraes a respeito do espiritual j revelam
influncias diretas da fenomenologia. A compreenso do
princpio relacional dialoga diretamente com o conceito de
intencionalidade cunhado por Franz Brentano (1874/1935),
no qual a conscincia cooriginria ao mundo, s exis-
tindo um mundo para uma conscincia, e, mutuamente,
s havendo uma conscincia em relao a um mundo.
Husserl (1973/2008), conhecido como o fundador da fe-
nomenologia, carregou consigo tal conceito ao falar do a
priori da correlao, lanado ao mundo a grande herana
de Brentano fenomenologia, o princpio relacional, a qua-
lidade emprica e concreta da conscincia em seu estado
puro, fenomenal, que se d no mundo enquanto vivncia.
Frankl (1987/2012) teve fortes inspiraes a partir de
tais ideias, sobretudo por influncias diretas da fenome-
nologia de Scheler (1928/1986) que, por meio do contato
com Husserl e Brentano, afirmou a importncia do aspec-
to intuitivo e experiencial da conscincia vivida empirica-
mente. O que se faz compreender que esse estar em rela-
o, o ser-junto como escreveu Frankl, se d como cons-
cincia, como cognio, como compreenso vivencial,
pr-reflexiva, estabelecida concretamente (Fonseca, s.d.).
O que , ento, em ultima instncia, esse ser-junto-a
do espiritualmente ente? Trata-se da intencionalidade
desse ente que de maneira espiritual! O ente que
espiritualmente, porm, intencional no fundo de
sua essncia, e, assim, possvel dizer: um ente que
de maneira espiritual espiritualmente ente, um
ser-consciente, junto a si a medida que junto
a um outro ente medida que se conscientiza de
um outro ente. Com isso, o espiritualmente ente se
realiza no ser-junto-a, assim como esse ser-junto-a
do ser espiritual a sua possibilidade mais origina-
riamente prpria, sua capacidade propriamente dita
(Frankl, 1987/2012, pg.75).
Frankl (1946/1989) anunciara que o cerne antropolgi-
co do ser humano sintetiza-se em um binmio: ser-cons-
ciente e ser-responsvel. Agora, j aps algumas explici-
taes a respeito do conceito de esprito, faz-se entender
a profundidade de seu anncio. Uma vez que o homem
sempre em intencionalidade no mundo, logo, em relao
constante, esse se relacionar d-se como conscincia. Ao
mesmo tempo em que a relao sempre uma ao, uma
resposta do Eu ao Tu em todo desdobramento do poss-
vel. Ser-consciente e ser-responsveis so duas faces da
pessoa humana, duas caractersticas ontolgicas do modo
de ser humano, pois toda resposta do homem, toda afir-
mao da vida consciente, assim como tambm toda
conscincia se d na afirmao da vida, na resposta da
palavra princpio Eu-Tu (Fonseca, s.d.; Buber, 1923/2010).
5. O espiritual e a metodologia fenomenolgica em
logoterapia
As influncias fenomenolgicas expostas at ento se
sintonizam inteiramente com a perspectiva antropolgi-
ca de Frankl (1978/2005), uma vez que as prprias bases
tericas do autor vieram de pensadores que se situam na
vertente da fenomenologia. Essa aproximao compre-
endida pelo fato de que a nica forma capaz de alcanar
o esprito seria, de fato, por meio da captao do dado da
experincia imediata. Uma vez que o esprito compre-
endido como sendo pura atualidade, apenas de um modo
que se capte a vivencia do momento seria possvel temati-
zar a dimenso espiritual, o que aponta diretamente para
o mtodo fenomenolgico, ou, como tambm conheci-
do na sua apropriao para a psicologia e psicoterapia, o
mtodo compreensivo (Figueiredo, 2008).
J se sabe, at aqui, que a proposta de Frankl foi de
construir uma terapia voltada para o carter espiritual do
homem. J foi visto tambm que o autor faz uso da fenome-
nologia tanto enquanto mtodo como quanto fundamen-
to para sua viso antropolgica. Dialogando com vrios
autores, o fundador da Logoterapia construiu uma viso
de homem que pretende abranger a dignidade prpria da
condio humana. Nesse sentido, confirma-se que, como
tambm j explicitado anteriormente, no seria exagero
afirmar que conceito de esprito pode ser tomado como a
pedra angular da teoria psicolgica proposta por Viktor
Frankl e que a aproximao com uma perspectiva de atu-
ao fenomenolgica justifica-se j na gnese do prprio
conceito de espiritual, uma vez que o esprito no pode
ser objetivado, determinado, manipulado nem mesmo ex-
plicado, sendo a nica forma de alcan-lo, de acordo, por
exemplo, com Scheler (1928/2003), seria acompanhando
seus atos coparticipativamente.
S conseguimos conquistar uma participao nas pes-
soas se acompanharmos a realizao e co-realizarmos
seus atos livres. Isto s pode ser alcanado atravs do
que expresso pela msera palavra sequaz ou atra-
vs daquela compreenso que s possvel em meio
postura do amor espiritual, em meio identificao
com o amor, com a vontade de uma pessoa, e, atravs
da, com ela mesma. Essa compreenso , por sua vez,
o oposto mais extremo de toda objetivao (Scheler,
1928/2003, pg. 46).
226
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
Valdir B. L. Neto
A metodologia fenomenolgica em Logoterapia impli-
ca no reconhecimento e na afirmao da relao como
condio de existncia e, portanto, como fundamento
ontolgico. Focando-se em um encontro existencial que
promove a expresso vivencial do cliente, que privile-
gia um dilogo autntico e uma dialgica, possibilitan-
do momentos de vivncias e experincias de valores que
culminam em desdobramento de sentidos.
A experincia interna duma vivncia simples e
isenta de preconceitos tericos, no nos estar antes
a ensinar mais que, por exemplo, a alegria evidente de
ver um pr do sol tem no sei qu de mais real do
que, digamos, um clculo astronmico sobre o suposto
momento em que a terra vir a chocar contra o sol?
Poder ser-nos dado algo de mais imediato do que a
experincia de ns mesmo a auto-compreenso de
nosso ser-homem enquanto ser- responsvel? (Frankl,
1946/1989, p. 71)
A nfase da Logoterapia em possibilitar que o clien-
te experimente-se como ser-responsvel significa exata-
mente enfatizar uma ao espiritual, pois de que outra
forma o esprito se d, se no por meio da prpria ao,
de uma vivncia coparticipativa e cocriativa com o ou-
tro, com o Tu que confirma a prpria pessoa espiritual?
Privilegiar um ato vivencial, logo, um ato de resposta,
necessariamente possibilitar um momento dialgico,
que surge por meio de um encontro, um Eu-Tu, que po-
tencializa o cliente a resignificar a si mesmo por meio
do desdobramento de sentido (Buber, 1923/2010). desse
modo que a fenomenologia fundamenta o mtodo logo-
teraputico, nomeado aqui como mtodo compreensivo,
para diferenciar-se do mtodo explicativo assumido pe-
las abordagens psicolgicas que concebem uma postura
analtica, explicativa e interpretativa. A compreenso
promove uma postura relacional, que privilegia a expe-
rincia vivencial, que se constitui como conscincia de
sentido por meio do da expresso existencial. Portanto, a
Logoterapia, orientada pela Fenomenologia, aparece como
uma psicoterapia compreensiva tambm por ser um m-
todo co/apreenviso de sentidos, uma vez que por meio
de um encontro entre duas alteridades, cliente e terapeu-
ta, no qual se apreende significados conjuntamente, na
relao e por meio dela. Sentido , portanto, entendido
como uma corealizao dos atos espirituais sempre em
vivncia e em relao dialgica, um dialogo face a face
com um Tu, com uma alteridade radical que se dispo-
nibiliza a relao e que confirma o Eu correspondente
(Fonseca, s.d.). Apresentar-se como tal alteridade na pro-
posta de promover a experincia vivencial imediata do
cliente como espiritual, que se configura como vivncias
e descobrimentos de sentidos, a postura fenomenolgi-
ca do logoterapeuta.
6. Espiritualidade e religiosidade
Muitos so os mal-entendidos acerca do pensamen-
to frankliano sobre a religiosidade e a espiritualidade. O
autor sempre manteve a preocupao em esclarecer os
possveis desentendimentos a respeito de sua concepo
antropolgica justamente por abrir-se a uma perspectiva
que concebe dimenso espiritual e uma espiritualidade.
Ao mesmo tempo, nunca se importou em expressar seu
interesse em explorar as possibilidades do esprito, mes-
mo quando tais possibilidades apontam para uma rela-
o com o sagrado.
O dilogo com a instncia do absoluto comea des-
de a prpria compreenso e descrio sobre o que vem a
ser o elemento espiritual. Scheler (1928/2003) argumenta
que desde o momento em que o ser-homem se destaca de
sua condio anmica, e, portanto, alcana uma dimen-
so existencial, nasce uma necessidade que aponta para
um novo norte, alm de seu carter natural. Esse novo
horizonte que vem nortear e relacionar-se com a pessoa
espiritual exatamente a dimenso do absoluto, segun-
do o filsofo.
Exatamente no mesmo instante em que o homem
deveniente rompeu os mtodos de todo viver animal
que lhe era precedente para ser adaptado ao meio
ambiente ou para se adaptar a ele, tomando a direo
inversa: a adaptao do mundo descoberto a si e sua
vida que se tornou organicamente estvel; exatamente
no mesmo instante em que o homem se arrancou
da natureza e a tornou objeto de sua dominao e
do novo princpio da arte e dos signos: justamente no
mesmo instante o homem tambm precisou ancorar
seu centro de algum modo fora e para alm do mundo.
Ele no podia mais se tomar como uma simples par-
te ou como um simples membro do mundo, sobre
o qual ele tinha se colocado de maneira to audaz!
(Scheler, 1928/2003, p. 87)
Scheler compreendia que a dimenso da totalidade
apresentava-se como horizonte para o qual aponta a trans-
cendncia do homem espiritual, como um direcionamen-
to que marca ontologicamente a qualidade cocriativa e
corealizadora do esprito com o absoluto, enquanto uma
totalidade que se expressa e se realiza com o esprito hu-
mano, sobre isso, ele acentua:
A realidade derradeira do ser que existe por si no
passvel de objetivao... S se pode tomar parte
em sua vida e de sua realizao espiritual atravs
da co-realizao, s atravs do ato de entrega e da
identificao ativa. O ser absoluto no est a para
o apoio do homem, para a mera complementao de
suas fraquezas e carecimento que sempre acabam
por transform-lo uma vez mais em objeto (Scheler,
1928/2003, p. 90).
227
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
A Espiritualidade em Logoterapia e Anlise Existencial: o Esprito em uma Perspectiva Fenomenolgica e Existencial
Viktor Frankl (1948/2007) inspirado pelas conside-
raes de Scheler (1928/2003) a respeito da espiritualida-
de e da totalidade, bem como por toda a tradio judaica,
porm, o pai da Logoterapia pretende afirmar a relao do
ser humano com o sagrado, antes de tudo, por um olhar
psicolgico, alm de filosfico. Para Frankl (1948/2007),
o entrelaamento humano com o absoluto se expressa
ao nvel do sentido, uma vez que o mesmo aborda duas
dimenses possveis para este: a dimenso concreta, a
qual a Logoterapia se prope a dar conta, e a supradi-
menso, a qual Frankl afirma existir o super sentindo
ou o supra sentido. Entendendo o supersentido como um
sentido ltimo, que representaria o mosaico de todos os
sentidos desdobrados na existncia. Segundo Frankl, o
sentido constitui-se como uma percepo gestltica do
possvel diante do real, em cada situao especifica, uma
possibilidade se expressa como sentido que se realiza. O
sentido ltimo seria a configurao de todas as possibi-
lidades realizadas, de todas as gestaltens desdobradas ao
longo da existncia de uma pessoa particular e, o qual a
pessoa estaria direcionada. Seria como se todas as confi-
guraes de possibilidade constitudas enquanto gestal-
tens, e, portanto, enquanto sentidos, reunidas, chegassem
uma ultima configurao. O horizonte para o qual a
autotranscendncia humana aponta desde os primeiros
sentidos desvelados na vida de cada pessoa. Portanto, em
cada primeiro sentido desdobrado, por meio das primei-
ras palavras princpio Eu-Tu proferidas, pois o prprio
desdobramento de sentido dar-se com um momento dia-
lgico, j se mostra presente o Tu eterno. A instncia do
absoluto surge como horizonte, sempre presente desde o
primeiro sopro espiritual da pessoa humana.
Frankl (1948/2007) teoriza que exista uma relao a
nvel inconsciente, ou ao menos no reflexivo, com a ins-
tncia do sagrado, de modo ontolgico no ser humano.
Inspirado pela dialgica de Buber (1923/2010) e pela an-
tropologia filosfica de Scheler (1923/2003), para Frankl
existe um nvel de conscincia pr-reflexiva, que se apre-
senta uma realidade de execuo, usando as palavras
do prprio autor, em que a vivncia da relao com o Tu
eterno possvel, porm sempre de maneira experiencia-
da e nunca objetivada.
Acreditando que o ser humano est direcionado para
o Tu eterno, para o absoluto, para a totalidade, portan-
to, para o sentindo ltimo, Frankl (1948/2007) faz uma
analogia sobre o super sentido tomando-o como um fil-
me rodando no cinema, que composto por uma srie
de cenas individuais, que transmitem um sentido situa-
cional o expectador. Para o filme ser entendido, percebi-
do, necessrio passar por todas as cenas at o final. Os
sentidos concretos, abordados em Logoterapia, seriam as
cenas individuais, e o filme, constitudo por todas as ce-
nas, assistido at o seu fim, seria o sentido ltimo. Diante
de tal analogia, resgato o sentido das sbias palavras de
Buber(1923/2010) sobre o sagrado: As linhas de todas
as relaes, se prolongadas, entrecruzam-se no Tu eter-
no. Cada tu individualizado uma perspectiva para ele.
Atravs de cada tu individualizado a palavra-princpio
invoca o Tu eterno (p. 99).
Como j demonstrado acima, o suprasentido o ho-
rizonte para o qual aponta a transcendncia originria
de todo ser-homem, o Tu eterno presente relacionalmen-
te a toda pessoa espiritual. Ao se deslocar de todo habi-
tat natural, ao destacar-se de todo meio que o condicio-
nasse a partir de sua dimenso anmica, o ser espiritual
estranha a si mesmo, questiona a sim mesmo, duvida de
seu prprio fundamento. De sua dvida, ele direciona-
-se para o absoluto. Geralmente, de acordo com Frankl
(1946/1989), o sentido ltimo desdobrado quando as
pessoas encontram-se no final de suas vidas, e a religio
entendida, nesta concepo, como uma forma do ho-
mem tentar direcionar-se para este sentido ltimo, que
tambm se mostra como nico, singular e relativo a cada
pessoa na vivncia particular de sua existncia (Scheler,
1928/2003; Frankl, 1978/2005).
Portanto, a religiosidade teria, para Frankl (1948/2007),
um papel de orientar o direcionamento do homem para
seu sentido ultimo, porm, sempre que os valores, cos-
tumes, morais e institucionalizaes das religies e igre-
jas se imporem a frente da relao vivencial e genuna da
pessoa espiritual com o absoluto, mais objetivante, coi-
sificante e distante da relao ontolgica com o sagrado
tal religiosidade se apresentar.
A religiosidade... S genuna quando existencial,
quando a pessoa no impelida para ela, mas se
decide por ela... A religiosidade verdadeira, para que
seja existencial, deve ser dado o tempo necessrio
para que possa brotar espontaneamente (Frankl,
1948/2007, p. 69).
Contudo, a espiritualidade caracterizaria a dimenso
eminentemente humana e existencial, aberta e trans-
cendente, que se constitui como conscincia e respon-
sabilidade. Esta dimenso relaciona-se com a totalidade,
tomando-a enquanto horizonte. Apontando para o abso-
luto, a relao espiritual originria com o sagrado, essa
linguagem que expressa a relao do Eu com o Tu eterno,
o que Frankl entende por religiosidade. Poderia, sinte-
ticamente, ser colocada a espiritualidade como a dimen-
so propriamente humana que se abre para o mundo e a
religiosidade como a qualidade do esprito que est em
relao com a totalidade, constituindo-se como a palavra
dirigida ao absoluto. Nesse sentido, a espiritualidade e a
religiosidade tornam-se questes reconhecidamente hu-
manas para a Anlise Existencial e para a Logoterapia,
no se constituindo como epifenmenos resultantes de
fantasiais ou de projees do homem para reconfortar
a existncia, pressuposta sem sentido. Pelo contrrio, a
relao com a instncia do absoluto abre-se como uma
categoria ontolgica da antropologia frankliana, e exa-
tamente por um vis filosfico e psicolgico que tal di-
228
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
Valdir B. L. Neto
logo reconhecido e possibilitado. Retomando a compre-
enso de supra-sentido, Frankl (1948/2007) entende que
a vontade humana no s por um sentido concreto, mas
tambm por um sentido ltimo, constitui-se como a f
religiosa, a f no supersentido. Logo, a vontade de sentido
ltimo, em si, j demonstra a expresso da religiosidade
no homem, do direcionamento espiritual para o absoluto.
A compreenso da relao com o sagrado em Frankl
(1948/2007) proposta como um reconhecimento da hu-
manidade e da genuinidade dos fenmenos religiosos,
mas nunca como uma aproximao religiosamente insti-
tucional valorativa ou mesmo moralista a respeito de sua
viso de homem. Sobre isso, Frankl ressalta:
A religio um fenmeno humano que ocorre no
paciente, um entre outros fenmenos com os quais
se depara a Logoterapia. Em princpio, entretanto, a
existncia religiosa e irreligiosa so para a Logote-
rapia fenmenos coexistentes, e ela tem a obrigao
de assumir uma posio neutra perante eles (Frankl,
1948/2007, p. 73)
O enfoque da possibilidade humana em relacionar-
-se com o absoluto uma caracterstica inerente ao esp-
rito, e a este quem Frankl pretende evidenciar na sua
escola psicoterpica. Resgatar o elemento espiritual em
Psicologia e explorar suas possibilidades: esta a inteno
da Logoterapia. importante ressaltar as totais incoern-
cias metodolgicas e ticas em se utilizar da Logoterapia
em psicologia e em psicoterapia de maneira moralista-
mente religiosa e enviesada, pois tal fato caracterizaria
um total desconhecimento dos fundamentos antropol-
gico e metodolgicos logoteraputicos, bem como srios
problemas ticos.
Consideraes finais
Portanto, conclui-se a relevncia de se esclarecer o
conceito de esprito para a Logoterapia e para a Anlise
Existencial, uma vez que tal conceito mostra-se como a
pedra angular para a compreenso de toda a viso an-
tropolgica, para a metodologia e para a prpria atuao
logoteraputica. Apresentado-se como uma conceituao
psicolgica, fundamentada filosoficamente, o elemento
espiritual para Viktor Frankl acrescenta pessoa a sua
qualidade e dignidade humana. Essa compreenso abre
possibilidades e resignifica a imagem humana no cenrio
da cincia e as implicaes desse feito na prtica psico-
lgica so imensurveis. O reconhecimento da instncia
espiritual ocorre, em Logoterapia, de maneira filosfica
e psicolgica, mas de modo algum de forma religiosa no
sentido de julgamentos ou moralismos. Tal reconheci-
mento potencialmente aberto a incluir no mbito psico-
lgico os fenmenos espirituais e religiosos, abordando-
-os de forma fenomenolgica e, sobre tudo, psicolgica.
Por meio da dimenso notica ou espiritual que
abrem-se as possibilidades para falar de sentidos e valo-
res, liberdade e responsabilidade. Desse modo, a ques-
to espiritual, enquanto um marco ontolgico, o fun-
damento e, ao mesmo tempo, o prprio objeto no qual
a Logoterapia se edifica e se direciona no campo da
Psicologia. por meio da dimenso notica e da ressignifi-
cao da viso de homem que esta promove em Psicologia
e em psicoterapia, que Frankl defende e justifica a pro-
posta de humanizao da terapia e da prpria cincia psi-
colgica. Acima de tudo, compreender os fundamentos
epistemolgicos da terapia do logos, e principalmente,
clarificar o conceito de esprito e de espiritualidade em
Frankl, faz-se essencial para o real entendimento da pro-
posta logoteraputica do ponto de vista tico, filosfico,
psicolgico e poltico; alm de ser fundamental para que
no ocorram atuaes precipitadas e acusaes infunda-
das a respeito da prtica logoterpica e de sua viso de
homem como pessoa espiritual.
Conhecer devidamente os significados e as impli-
caes que a dimenso espiritual trs na constituio
da Logoterapia demonstra-se, portanto, indispensvel e
imprescindvel para o entendimento do pensamento de
Viktor Frankl e para uma atuao responsvel enquanto
logoteraputa. O apelo do pai da Logoterapia, ao longo do
desenvolvimento de sua abordagem, foi pela tematizao
da humanidade potencialmente presente no homem. Sua
luta foi pela humanizao da psicoterapia e das prticas
de sade como um todo e pela ressignificao do conceito
de humanismo, acrescentando sua qualidade eminente-
mente existencial. Este o sentido do conceito de esprito
em Logoterapia, este o seu verdadeiro legado, seu valor e
sua importncia dentro da abordagem do sentido da vida.
Referncias
Brentano, F. (1935). Psicologia desde um punto de vista emprico.
Madrid: Revista de Occidente (Original publicado em 1874).
Buber, M. (2010). Eu e Tu. So Paulo: Centauro (Original pu-
blicado em 1923).
Frankl, V. E. (1989). Psicoterapia e Sentido Da Vida: Fundamentos
de Logoterapia e Anlise Existencial. So Paulo: Quadrante
(Original publicado em 1946).
Frankl, V. E. (1990). A Questo do Sentido em Psicoterapia.
Campinas: Papirus (Original publicado em 1981).
Frankl. V. E. (2005). Um Sentido para a Vida: Psicoterapia e
Humanismo. So Paulo: Ideias & Letras (Original publi-
cado em 1978).
Frankl V. E. (2007). A Presena Ignorada de Deus. Petrpolis:
Vozes (Original publicado em 1948).
Frankl. V. E. (2011). A Vontade de Sentido: Fundamentos e
Aplicaes da Logoterapia. So Paulo: Paulus (Original pu-
blicado em 1972).
229
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 220-229, jul-dez, 2013
A Espiritualidade em Logoterapia e Anlise Existencial: o Esprito em uma Perspectiva Fenomenolgica e Existencial
Frankl. V. E. (2012). Logoterapia e Anlise Existencial: Textos de
seis dcadas. Rio de Janeiro: Forense Universitria (Original
publicado em 1987).
Figueiredo, L. C. M., (2008). Matrizes do Pensamento Psicolgico.
Petrpolis: Vozes.
Fonseca, A. H. L. (s.d.). Interpretao Fenomenolgico-
Existencial: Sobre o Sentido do Interpretativo na Concepo
e Mtodo da Psicologia e Psicoterapia Fenomenolgico-
Existencial. Laboratrio Experimental de Psicologia e
Psicoterapia Fenomenolgico Existencial. Disponvel
em: https://sites.google.com/site/eksistenciaescola/
eksistencia.
Fonseca, A. H. L. (2006). Para Uma Historia da Psicologia e da
Psicoterapia Fenomenolgico Existencial - Dita Humanista.
Macei: Pedang.
Gibran, K. (2010). O Profeta. Rio de Janeiro (SP): BestBolso
(Original publicado em 1923).
Hartmann, N. (1975). New Ways of Ontology. Westport,
Connecticut: Greenwood (Original publicado em 1949).
Heidegger, M. (2009). Ser e Tempo, Petrpolis: Vozes (Original
publicado em 1927)
Husserl, E. (2008). A Ideia da Fenomenologia. So Paulo: Edies
70 (Original publicado em 1973).
Lima Neto, V. B. (2012). Morte e sentido da vida: Tanatologia
e Logoterapia, um dilogo ontolgico. Revista Logos e
Existncia. 1(1), 38-49.
Penna, A. G. (2001). Introduo a Psicologia Fenomenolgica.
Rio de Janeiro: Imago.
Scheler, M. (1986). Viso Filosfica do Mundo. So Paulo:
Perspectiva (Original publicado em 1928).
Scheler, M. (2003). A Posio do Homem no Cosmos. Rio de
Janeiro: Forense Universitria (Original publicado em 1928).
Zinker, J. (2007). Processo Criativo em Gestalt-Terapia. So
Paulo: Summus.
Valdir Barbosa Lima Neto - Graduado em Psicologia pela Universi-
dade Federal do Cear. Coordenador pedaggico no Instituto Sherpa
de Psicologia e Desenvolvimento Humano. Endereo Institucional:
Instituto Sherpa de Psicologia e Desenvolvimento Humano. Av. Vie-
na Weyne, 1167 (Cambeba), CEP: 60.822-180. Fortaleza, CE. E-mail:
valdir@institutosherpa.com
Recebido em 01.03.13
Primeira Deciso Editorial em 22.09.13
Segunda Deciso Editorial em 02.12.13
Aceito em 12.12.13
230
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
Mariana C. Puchivailo; Guilherme B. da Silva & Adriano F. Holanda
A REFORMA NA SADE MENTAL NO BRASIL E SUAS
VINCULAES COM O PENSAMENTO FENOMENOLGICO
Brazilian Mental Health Reform and linkages with the phenomenological thinking
Reforma de Salud Mental en Brasil y vnculos con el pensamiento fenomenolgico
MARIANA CARDOSO PUCHIVAILO
GUILHERME BERTASSONI DA SILVA
ADRIANO FURTADO HOLANDA
Resumo: A reforma na sade mental brasileira teve como grandes diretrizes, a experincia de desinstitucionalizao italiana e do
pensamento de Franco Basaglia. Estes, por sua vez, possuem bases e fundamentos em discusses e posies derivadas do pensa-
mento fenomenolgico (na filosofia) e de perspectivas da Psiquiatria fenomenolgica, a partir de autores como Jaspers e Minko-
wski. O objetivo deste artigo demonstrar as vinculaes do pensamento fenomenolgico na concepo da reforma da ateno
sade mental brasileira. Para isso foi articulado teoricamente o pensamento destes autores na compreenso da sade mental.
Palavras-chave: Reforma na Sade Mental brasileira; Fenomenologia; Psiquiatria.
Abstract: The reform of mental health had as major guidelines, the experience of Italian deinstitutionalization and Franco
Basaglias intellectual legacy. These, in turn, have bases and foundations in discussions and derivative positions of phenomenolog-
ical thought (in philosophy) and phenomenological perspectives of Psychiatry, from authors such as Jaspers and Minkowski. The
purpose of this article is to demonstrate the linkages of the phenomenological approach in the designing of the Brazilian reform
of mental health care. Therefore was theoretically articulated the thought of these authors in the understanding of mental health.
Keywords: Brazilian Mental Health Reform; Phenomenology; Psychiatry.
Resumen: La reforma a la salud mental tuvo como grandes directrices, la experiencia de desinstitucionalizacin italiana y
el pensamento de Franco Basaglia. Estos, a su vez, tienen bases y fundamentos en los debates y posiciones en derivados del
pensamiento fenomenolgico (em la filosofa) y las perspectivas fenomenolgicas de Psiquiatra, de autores como Jaspers y
Minkowski. El propsito de este artculo es demostrar la vinculacin del enfoque fenomenolgico en el diseo de la reforma de
la atencin de la salud mental para el brasileo. Para ello se articula en teora el pensamiento de estos autores en la compren-
sin de la salud mental.
Palabras-clave: Reforma de la Salud Mental en Brasil; Fenomenologa; Psiquiatra.
1. O processo histrico de reforma na sade mental
brasileira
No Brasil, a reforma da ateno sade mental tem
como marco a Lei 10.216 aprovada em abril de 2001, que
dispe sobre a proteo e os direitos das pessoas porta-
doras de transtornos mentais e redireciona o modelo as-
sistencial em sade mental (Brasil, 2001). O direciona-
mento dado por esta Lei o de uma ateno em Sade
Mental preferencialmente comunitria, com equipamen-
tos territorializados, seguindo a lgica do Sistema nico
de Sade (SUS).
A partir dessa proposta, diversos servios e equi-
pamentos foram implantados visando atendimen-
to substitutivo ao Hospital Psiquitrico: os Centros de
Ateno Psicossocial (CAPS), os Servios Residenciais
Teraputicos (SRT), os Centros de Convivncia e Cultura,
os Ambulatrios de Sade Mental e leitos de ateno in-
tegral em Hospitais Gerais (Ministrio da Sade, 2005).
A reforma na ateno Sade Mental brasileira foi
formulada e desenvolvida tomando como referncia di-
ferentes reflexes tericas e experincias prticas e, uma
de suas principais fontes foi a da Desinstitucionalizao
Italiana, que Amarante (2007) divide em trs perodos.
O primeiro deles surge das crticas estrutura dos hos-
pitais psiquitricos, que se institui aps o trmino das
duas grandes guerras mundiais. Principalmente depois
do nazismo, existia certo desconforto mundial a todos os
tipos de confinamento. Alm disso, no perodo das guer-
ras, muitos europeus morreram e vrios voltaram para
suas casas com doenas mentais. Concomitantemente,
havia uma busca por fora de trabalho, logo, existia a
necessidade de que os soldados pudessem ser tratados
(Amarante, 2007).
Um dos exemplos dos processos de desinstitucionali-
zao deste perodo so as Comunidades Teraputicas, que
surgem na Inglaterra nos anos 50 e 60 como alternativa
e complemento ao tratamento em hospitais psiquitricos
231
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
A Reforma na Sade Mental no Brasil e suas Vinculaes com o Pensamento Fenomenolgico
(Robortella, 2000), visando liberdade de comunicao e
reaprendizagem social. Este sistema receberia crticas
da Antipsiquiatria e da Psiquiatria Democrtica por ain-
da manter os hospitais psiquitricos, e no questionar a
excluso e a responsabilidade junto a toda comunidade
(Amarante, 2007). Segundo Robortella (2000), a concepo
de Comunidades Teraputicas contribuiu para a ideia da
desinstituicionalizao italiana, devido a sua caractersti-
ca de no hierarquizao entre mdicos, pacientes e auxi-
liares que participavam no tratamento da doena mental.
O segundo perodo se caracteriza por uma procura
por solues diferentes e substitutivas ao hospital psi-
quitrico (e, portanto, ideia de manicmio), baseada na
preveno e promoo da sade (Amarante, 2007). Nasce,
nos Estados Unidos, a Psiquiatria Preventiva, que tinha
como objetivo reduzir as doenas mentais privilegiando
a preveno; o objeto da psiquiatria passa, ento, a ser a
Sade Mental. Jardim & Dimenstein (2007) colocam que os
tratamentos eram realizados atravs de medidas terapu-
ticas de urgncia, porm estas, segundo os autores, no
viabilizavam novas configuraes, mas apenas um en-
quadramento s regras j institudas causando, frequen-
temente, mais sofrimento e iminentes reedies da crise.
Na psiquiatria preventiva, a situao de risco en-
tendida como um prenncio do agravamento ou desen-
cadeamento de uma suposta doena mental. Este con-
ceito est atrelado ideia da medicina preventiva, j que
nasce a partir do clculo estatstico da probabilidade de
surgimento de alguma doena com o intuito de preveni-
-la. A medicina preventiva herdeira do movimento hi-
gienista que buscava no o combate ao problema, mas
apenas um deslocamento, uma limpeza social (Jardim &
Dimenstein, 2007).
O terceiro perodo surge com uma proposta de rup-
tura do paradigma psiquitrico (Amarante, 2007). Tem-
se, neste perodo, a Antipsiquiatria como possibilidade
de desinstitucionalizao na qual o papel da psiquiatria
posto em cheque e reforada a ideia de que a loucu-
ra produzida na relao com a famlia e a sociedade.
A Antipsiquiatria movimento constitudo em tor-
no de uma contestao geral das prticas psiquitricas
tradicionais (o termo foi cunhado por David Cooper, em
1967
1
) propunha um questionamento desse modelo tra-
dicional em mltiplas dimenses.
1
Uma nota importante a ser destacada refere-se ao contedo miti-
ficado construdo em torno da expresso antipsiquiatria. Laing
(1989) declara que (...) nunca disse que eu era antipsiquiatra: os
antipsiquiatras so os outros, os mdicos que mancham o nome
da psiquiatria com a sua brutalidade, a sua crueldade (p. 138).
Por outro lado, Cooper (1979) coloca que: Quando comecei a usar
o termo anti-psiquiatria (...) no imaginava quanto inocentes que
trabalham no campo da loucura dos dois lados da suposta diviso
entre loucos e os que tratam os loucos seriam apanhados na rede
mtica e repleta de misticismo que se gerou em torno dessa palavra
aparentemente simples (...). Para mim, a anti-psiquiatria era e in-
teiramente suscetvel de definio (...) (p. 69). A melhor definio
para esta ideia vem do prprio Cooper (1979): A anti-psiquiatria
procurar inverter as normas do jogo psiquitrico como um preldio
para pr fim a esses jogos (p. 71).
Numa perspectiva epistemolgica, ou seja, no que
se refere construo do saber em relao patologia, a
Antipsiquiatria apontava que a psiquiatria clssica estaria
apoiada numa representao objetiva de doena mental,
entendida como entidade mrbida, de fundo orgnico ou
mental, criando assim uma dicotomia organicismo ver-
sus mentalismo, sem contudo super-los. Deste modo, a
psiquiatria clssica estaria retida num modelo empiricis-
ta que no questionaria nem a essncia nem as condies
de possibilidade dos fenmenos psicopatolgicos (Laing
& Cooper, 1964/1976; Laing, 1979).
Decorre disto uma concepo antropolgica da
noo de loucura que desconstitui o sujeito (Szasz,
1961/1982; Laing, 1989), o desqualifica enquanto expe-
rincia pois a doena ou do corpo (cerebral) ou da
mente (um suposto psiquismo subjetivista) ; o que tem
repercusses polticas: esta noo faz com que o lou-
co seja destitudo de cidadania e, ao ser segregado em
hospitais aqui comparados a outras instituies totali-
trias leva-o a diversos modos de mortificao, como o
alheamento, o despojamento material, a degradao da
autoimagem, a violao da intimidade e a desqualifica-
o de seu prprio ser no mundo, dentre outras (Goffman,
1961/1993; 1963/2003).
Por fim, promove um questionamento aos modos de
tratamento, centrados na hospitalizao e no manic-
mio (por um lado), e na farmacoterapia como principal
ferramenta (por outro), pondo em cheque, inclusive, os
interesses da indstria farmacutica na constituio
de demandas de teraputica (Szasz, 1961/1982; Cooper,
1967/1989). Tudo isto teria como consequncia, o que co-
mumente passou a ser chamado de psiquiatrizao do
social, ou seja, o fato de que, sob o prisma dessas apro-
priaes, todos os aspectos da vida humana passariam
a ser objetos psiquiatrizveis. Decorrente disto tudo, a
Antipsiquiatria acaba por propor novas formas de enten-
dimento de todas essas dimenses.
A tudo isto, contrape a ideia de um sofrimento ps-
quico no mais centrado no orgnico ou na interiorida-
de de um sujeito, mas como um problema construdo so-
cialmente: a doena mental passa a ser um mito (Szasz,
1961/1982) e retoma-se os determinantes sociais da loucu-
ra (Laing & Cooper, 1964/1982; Cooper, 1967/1989). Ainda
nesta direo, faz-se um grande questionamento em rela-
o s classificaes psicopatolgicas nosolgicas e no-
sogrficas como meras rotulaes, propondo a loucura
como uma linguagem (Cooper, 1979; Laing, 1979), e uma
certa dialtica, pautada na continuidade entre sade/do-
ena ou normal/patolgico. No campo poltico, faz uma
crtica social psiquiatria, na direo de um resgate da
cidadania do louco, priorizando a dimenso poltica e
social do tratamento da loucura. E, finalmente, dimen-
so do tratamento, faz uma negao do modelo hospitalar,
propondo servios substitutivos; e um questionamento
mordaz ao tratamento farmacolgico entendido como
uma camisa de fora qumica propondo transforma-
232
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
Mariana C. Puchivailo; Guilherme B. da Silva & Adriano F. Holanda
es sociais como fundamento para a modificao da
loucura (Szasz, 1961/1982; Laing & Cooper, 1964/1982).
De todas essas crticas, resulta o clssico questiona-
mento sobre a existncia ou realidade da doena men-
tal mais claramente expresso na obra de Thomas Szasz
(1961/1982), particularmente no O Mito da Doena Mental
e a construo de uma srie de conceitos e ideias que
falam do sujeito da psicopatologia, como a noo de
estigma, desenvolvida por Erving Goffman (1963/2003).
E tudo isto, junto, leva ao Movimento Antimanicomial.
No que nos interessa particularmente a este texto,
que do ponto de vista filosfico a Antipsiquiatria
encontra boa parte de seus alicerces conceituais na
Fenomenologia, em especial no que direciona para o
rompimento com as lgicas determinsticas, apoiando-
-se particularmente nos pensamentos de Jaspers e Sartre
(Schneider, 2009; Spohr & Schneider, 2009) mas ten-
do Sartre como interlocutor direto ou, como afirma
Delacampagne (2004), de Sartre Antipsiquiatria, a via
foi direta (p. 27) tendo, contudo, outros autores da fe-
nomenologia como apoio, como Scheler, Merleau-Ponty e
o prprio Husserl, que Laing (1981) ter lido aps conhecer
o Ser e o Nada, de Sartre
2
.
J na Itlia, a reflexo acerca do enfrentamento aos
manicmios e a mudana na forma da ateno em Sade
Mental, surge com Franco Basaglia e seus colaborado-
res. Goulart (2007) aponta que a principal experincia,
enquanto momento fundante do movimento antimani-
comial e das mudanas subsequentes, foi a da cidade de
Gorizia, no qual Basaglia atuou como diretor do hospital
psiquitrico, no incio da dcada de 60. O grande impac-
to dessa experincia foi a de que o encontro com o do-
ente mental s seria possvel se ele e todos os membros
da comunidade, incluindo mdicos, enfermeiros, entre
outros, se encontrassem em um plano de liberdade e res-
ponsabilidade (Goulart, 2007). Enquanto a experincia
de Gorizia foi o incio de uma gerao de profissionais
de Sade Mental que questionava os manicmios, a ex-
perincia seguinte, da cidade de Trieste, foi o local de
consolidao de uma prtica que influenciou diversos
modelos de reforma, incluindo a brasileira. A experin-
cia de Gorizia deu origem ao livro A instituio negada
(Basaglia, 1968/1985), com relatos dos procedimentos e
discusses que resultaram na gradativa abertura do hos-
pital psiquitrico.
Basaglia chegou a Gorizia, com uma concepo fe-
nomenolgico-existencial da relao mdico-paciente,
baseada na antropofenomenologia de Binswanger e de
Minkowski, e na filosofia de Sartre (Goulart, 2007). Esta
2
Sobre a importncia de Sartre na fundamentao do pensamento
antipsiquitrico de Laing e Cooper, basta assinalar que o prprio
filsofo francs que faz o prefcio ao livro Razo e Violncia (Laing
& Cooper, 1964/1976), datado de 1963. Este livro, na realidade,
um ensaio sobre o pensamento sartreano, a partir de trs ensaios,
cada qual referente a uma de suas principais obras: Questions de
Mthode e Saint Gnet (escritos por Cooper), e Critique de la Raison
Dialectique (escrito por Laing).
influncia pode ser percebida em suas ideias e em seus
textos, como nos seus Escritos selecionados em sade
mental e reforma psiquitrica, nos quais cita, alm dos
autores supramencionados, Foucault, Goffman, Husserl
e Scheler, dentre outros (Basaglia, 2005). Tal concepo
dizia de um outro olhar doena mental e suas formas
de cuidado. Basaglia discorre sobre a importncia de se
colocar entre parnteses a doena como categoria dada,
para compreender o sujeito que se encontra sua frente.
Basaglia (2005) traz uma crtica cincia, mais especifi-
camente cincia mdica no campo da Psiquiatria, que
caminha em busca de explicaes para a doena men-
tal numa posio metafsica dogmtica, sob a gide da
qual teve de confirmar suas hipteses no corpo do pr-
prio doente: encaix-lo em suas hipteses construdas.
Segundo Goulart (2007), Basaglia liderou uma passa-
gem do movimento filosfico antropofenomenolgico e
existencialista para um movimento social e politizado.
Sob a crtica do movimento filosfico e epistemolgico
da Fenomenologia, Basaglia questionou um fazer, uma
situao social dentro de um contexto poltico. Pode-se
compreender a crtica de Basaglia como uma metfora
da crtica de Husserl ou Dilthey ao modelo das cincias
naturais, aplicada s cincias humanas. O que Basaglia
traz, em sua crtica, que ao tornar o doente mental um
corpo objeto no qual se aloca uma doena, perde-se todo
o contato com o sujeito em sofrimento, perde-se tambm
o olhar atento ao fenmeno que se coloca. Ao invs desse
olhar atento, h um olhar que perpassado e direcionado
por uma concepo terica a respeito da doena mental.
Que a psiquiatria asilar reconhea, enfim, ter fracas-
sado em seu encontro com o real, esquivando-se da
verificao que atravs daquela realidade poderia
ter efetuado. Uma vez que a realidade lhe escapou, ela
limitou-se a continuar fazendo literatura, elaboran-
do suas teorias, enquanto o doente se via pagando
as consequncias dessa fratura encerrado na nica
dimenso considerada adequada a ele: a segregao
(Basaglia, 2005, p. 69).
O que Basaglia alerta que, ao compreender e tratar
os sujeitos com esta forma de sofrimento, criam-se ou-
tras questes que marcaram o sujeito como um sujeito
que no sabe de si, sem liberdade nem responsabilidade
sobre si. Esse isolamento metaforicamente e fisicamen-
te representado nos muros do manicmio.
A questo que, mesmo a cincia tratando seu objeto
de pesquisa como um objeto que pode ser compreendi-
do por meio do afastamento subjetivo do pesquisador, o
pesquisador, ainda sim, influencia seu objeto. Segundo
Basaglia (2005), a consequncia da cincia ter se ocupado
da pesquisa ideolgica da doena mental ao invs de se
dedicar ao sujeito doente, ou em sofrimento, foi a coisi-
ficao do doente mental, sua excluso, sua intimida-
o e docilizao. As formas de tratamento manicomiais
233
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
A Reforma na Sade Mental no Brasil e suas Vinculaes com o Pensamento Fenomenolgico
que foram uma consequncia do olhar para o sujeito em
sofrimento como um objeto que no possua autoridade
sob si mesmo nem voz para falar de si, tornaram este,
um ser imvel, sem objetivos, sem futuro nem interesses.
Uma das principais posturas preconizadas nessa
nova compreenso fenomenolgica, na qual se baseia
Basaglia, a de escutar o sujeito sem pressuposies e
representaes a respeito de suas possveis patologias,
na expectativa de superar os pr-julgamentos tradicio-
nais e os estigmas derivados dessas representaes. Nas
palavras do autor:
Uma instituio que se pretende teraputica deve
tornar-se uma comunidade baseada na interao pr-
-reflexiva de todos os seus membros; uma instituio
na qual a relao no seja a relao objetificante do
senhor com o servo, ou de quem d e quem recebe;
na qual o doente no seja o ltimo degrau de uma
hierarquia baseada em valores estabelecidos de uma
vez por todas pelo mais forte; na qual todos os mem-
bros possam mediante a contestao recproca e a
dialetizao das recprocas posies reconstruir
o prprio corpo prprio e o prprio papel (Basaglia,
2005, p. 89).
Basaglia lutou por uma modificao no olhar que se
tinha da loucura, para que pudesse ser vista como sofri-
mento existencial e social. O movimento social que sur-
ge com Basaglia e seus colaboradores, decorrente de suas
experincias prticas de desinstitucionalizao, seria de-
nominado de Psiquiatria Democrtica (Robortella, 2000).
A Reforma na assistncia Sade Mental brasileira
se baseia neste modelo italiano de desinstitucionaliza-
o. Ento, como se verifica nas bases que norteiam a
Reforma, ela mais do que uma simples modificao f-
sica dos equipamentos de ateno em Sade Mental; ela
o resultado de complexas discusses a respeito da com-
preenso sobre o conceito e os mltiplos sentidos com
respeito loucura.
2. Ateno sade mental: contribuies da fenome-
nologia
Para a realizao dessas discusses e reflexes a res-
peito da doena mental e da reforma dos modos de sua
ateno, estaremos retomando o embasamento terico
da Fenomenologia, pois [...] a maior parte das concep-
es atuais de sade mental em especial as crticas
formalizao e aos tradicionalismos psiquitricos ali
encontra apoio e estmulo (Holanda, 2011, p. 120). A
Fenomenologia influencia novos caminhos da compre-
enso da loucura na atualidade, tendo reverberao
particular nos movimentos da Antipsiquiatria e da Luta
Antimanicomial que ali encontram um alicerce terico
para suas propostas (Schneider, 2009; Holanda, 2011).
Fenomenologia uma palavra de origem grega, phai-
nmenon, que significa aquilo que vem luz, que
se mostra, que se manifesta. Este termo foi utilizado
por diversos pensadores como Kant e Hegel. Porm, a
Fenomenologia, a que nos referimos, a que produziu
uma revoluo paradigmtica, a de Husserl (Holanda &
Freitas, 2011) e a esta que aqui nos reportamos.
A Fenomenologia surge com Husserl no incio do s-
culo XX como um questionamento sobre os rumos e fun-
damentos da cincia positiva. Toda a vida filosfica de
Husserl marcada por um sentimento de crise da cul-
tura, e a prpria Fenomenologia surge em meio crise
da cincia e da filosofia, sendo este um tema que acom-
panha o pensamento husserliano desde suas primeiras
obras como temos, por exemplo, em A Filosofia como
Cincia de Rigor (Husserl, 1910/1965) at seus ltimos
escritos como em A Crise da Humanidade Europeia e
a Filosofia, por exemplo (Husserl, 1935/2006). Essa crise
diz respeito ao objetivismo da cincia, o mesmo ao qual
Basaglia tambm se reporta, como mencionado ante-
riormente; crise de uma cincia fundamentada na posi-
tividade do conhecimento, mais especificamente na sua
objetividade ao abrigo das construes subjetivas, que
no deu conta da complexidade da vida, especialmente
da vida humana (Husserl, 1935/2006; Dartigues, 2008).
Paul Ricoeur (1986/2006), ao discutir a crise da humani-
dade europeia, discorre sobre a compreenso de Husserl
de que esta crise est relacionada significao das ci-
ncias para a vida.
No se pretende com isto, realizar uma destruio da
cincia positiva, visto que esta tem e deve ter seu espao
garantido. Carl Sagan (1995/2006) relembra a importn-
cia da cincia em seu livro O mundo assombrado pelos
demnios, ressaltando a importncia da atitude cient-
fica de no acomodao em verdades ou hipteses. O
cientista deve compreender as limitaes do ser humano
em sua busca pelo conhecimento. Sagan (1995/2006) re-
corda que a cincia construda por perguntas, e que o
bom cientista aquele que sempre se questionar sobre
sua verdade. O prprio Husserl (1910/1965) faz uma de-
fesa importante da necessidade de um saber rigoroso,
tendo a cincia como referncia.
Porm, em meio a uma cultura positivista, as cin-
cias do esprito
3
se debatiam com as exigncias da cin-
cia naturalista que ditava todo o pensamento e aceitao
da poca. Assim, a psicologia busca se adequar criando
uma psicologia explicativa que funciona por lgicas cau-
sais, segundo o princpio de causa e efeito. Ao considerar
o homem, bem como toda a natureza, matematizvel, ou
seja explicado por sistemas formais, a cincia compreen-
de o funcionamento psquico tomando como referncia o
3
Cincias do esprito, aqui a expresso corrente entre os sculos
XVIII e XIX, para se referir ao conjunto de cincias distintas das
cincias naturais. Posteriormente, a partir do sculo XX, passa
a denominar o conjunto de cincias do homem, que podemos
atualmente circunscrever como o espectro das cincias humanas,
antropolgicas e sociais.
234
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
Mariana C. Puchivailo; Guilherme B. da Silva & Adriano F. Holanda
modelo fsico. Segundo Ricoeur (1986/2006), tanto a sepa-
rao entre fsico e psquico como o naturalismo psico-
lgico atestavam uma perda da subjetividade do homem.
Eu no sou o resultado ou o entrecruzamento de
mltiplas causalidades que determinam meu corpo ou
meu psiquismo, eu no posso pensar-me como uma
parte do mundo, como o simples objeto da biologia,
da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o
universo da cincia [...] eu sou a fonte absoluta; minha
experincia no provm de meus antecedentes, de
meu ambiente fsico e social, ela caminha em direo
a eles e os sustenta (Merleau-Ponty, 1945/1999, p. 3).
Comeam a ser feitas crticas adequao desse mo-
delo de cincia compreenso do ser humano. Wilhelm
Dilthey um exemplo dentre diferentes pensadores que
questionam a universalidade do entendimento da cin-
cia positiva. Em seu livro Idias acerca de uma psicologia
descritiva e analtica, de 1894, defende a impossibilida-
de das cincias do esprito funcionarem da mesma forma
que as cincias naturais. Dilthey (1894/2008) coloca que
as cincias do esprito, em oposio s cincias da natu-
reza, no podem ser explicativas, somente compreensi-
vas, j que seu objeto parte do homem, de dentro, como
uma conexo viva.
A Fenomenologia surge na tentativa de dar conta desse
desafio, buscando uma terceira via entre o raciocnio
das cincias positivas, que considera apenas os aspectos
objetivos do mundo e o discurso especulativo da meta-
fsica, que acabava por produzir teorias descoladas do
mundo e que se encerram em si mesmas (Dartigues, 2008).
Para isso ela no se enfoca apenas no sujeito ou apenas
no objeto, mas na relao entre eles. Ela se d pela apre-
enso das relaes do homem com o mundo. O mundo
para a Fenomenologia um objeto intencional, ou seja,
que referido por um sujeito e que faz referncia a um
sujeito. O homem tambm no homem sem o mundo e,
dado que a conscincia uma conscincia intencional,
sempre uma conscincia no mundo e voltada para o mun-
do, sempre direcionada ao mundo (Ricoeur, 1986/2006).
Husserl declara que fenmeno tudo aquilo que se
reporta a uma conscincia. E o fenmeno subjetivo tem
como caracterstica central o fato de ser conscincia-no-
-mundo e em relao, o que constitui como sendo neces-
sariamente intersubjetivo, j que no pode ser considera-
do destacado do mundo, pois a sim estaria fechado sobre
si mesmo (Husserl, 1931/1980; Merleau-Ponty, 1945/1999;
Drummond, 2007). O mundo no apenas uma represen-
tao de uma conscincia, mas compartilhado. Por ser
um fenmeno intersubjetivo, s o poderemos compreen-
der, ou seja, co-apreender. Para que haja uma compre-
enso do fenmeno necessrio ir s coisas-mesmas, ou
seja, ao fenmeno, relao entre uma conscincia e o
mundo. A compreenso parte da descrio do fenmeno,
de como ele se apresenta percepo, e preciso que esse
contato seja sem prvias representaes ou significaes,
para que se consiga uma descrio fiel (Holanda, 2009).
Husserl foi aluno de Brentano e traz em sua obra a
influncia deste. Uma das heranas diz respeito cons-
truo de uma Psicologia Descritiva (Holanda & Freitas,
2011). O entendimento de que a descrio deve preceder
a explicao nas cincias do esprito tambm est pre-
sente na obra de Dilthey (1894/2008).
Para a realizao de uma psicologia descritiva e ana-
ltica necessrio buscar expor a realidade integral da
vida psquica pela descrio, e quando possvel, analis-
-la. Para isso no possvel ir de encontro ao fenmeno
com hipteses, estas devem ser realizadas aps o encon-
tro com o prprio fenmeno (Dilthey, 1894/2008). Para
compreender, conhecer, se aproximar de um fenmeno
necessria uma atitude de reduo, ou seja de se colo-
car de lado pressuposies a respeito do fenmeno para
vislumbr-lo enquanto tal. , como relata Basaglia, co-
locar o conceito de doena mental entre parnteses para
se encontrar com o sujeito que se encontra a sua frente.
A compreenso um processo integrativo, no dissocia-
tivo, no qual toda perspectiva vlida pois nos auxilia a
compreender diferentes aspectos do fenmeno.
Neste sentido, no mais falamos em revelar o
mun do, oculto de algum modo, mas em des-velar
sentidos, naquilo que o mundo se apresenta para
uma conscin cia, no mais como coisa, mas como
fenmeno e, por tanto, como dotado de um conjunto
de significados que incluem de modo inalienvel
todos os elementos da equao: sujeito, ato e mundo
de fenmenos (Holanda, 2009, p. 88).
A Fenomenologia se estabelece como uma epistemo-
logia enquanto crtica e teoria do conhecimento; mas
tambm uma filosofia, no sentido clssico do termo, en-
quanto reflexo sobre a realidade, e uma metodologia
dessa mesma realidade. Alm disso, uma cincia, um
conhecimento atento e aprofundado de alguma coisa
(Holanda, 2009). A Fenomenologia um marco na hist-
ria da filosofia e influenciou diversas reas do conheci-
mento (Holanda & Freitas, 2011).
A revoluo realizada pela Fenomenologia possibili-
tou uma nova forma de acesso ao mundo, especialmente
o mundo humano, recuperando as relaes intersubjeti-
vas e recolocando a subjetividade num contexto histrico
e mundano. Recoloca-se o sujeito da cincia como ator; o
homem o centro, j que tudo que percebido no mundo
referente a uma conscincia e esta ligao entre mundo
e conscincia colocada como enfoque (Holanda, 2011).
justamente na recolocao do homem como referncia
num contexto histrico e mundano que se d fundamento
para repensar a doena mental. contraditrio para a
Fenomenologia pensar em uma cincia centrada na pa-
tologia ao invs de estar centrada no ser. O enfoque no
est na explicao das causas da doena, mas na com-
235
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
A Reforma na Sade Mental no Brasil e suas Vinculaes com o Pensamento Fenomenolgico
preenso do significado que ela tem para o sujeito na ex-
perincia presente (Stockinger, 2007).
3. Psiquiatria, psicopatologia fenomenolgica e sade
mental
Muito do que se entende hoje como psicopatologia
se constri alicerado em fundamentos fenomenolgicos
(Schneider, 2009; Holanda, 2011). Ao longo da histria
podem ser encontrados alguns importantes psiquiatras
fenomenlogos que contriburam para a psicopatologia
e para a compreenso da doena mental. Compreende-
se nesta pesquisa a psiquiatria como profisso prtica e
a psicopatologia como cincia propriamente dita, como
caracterizou Karl Jaspers (1913/1987).
Apesar da Psicopatologia ser um campo anterior
a Jaspers, sua obra de 1913 Psicopatologia Geral
que funda e marca o incio da chamada Psicopatologia
Fenomenolgica (Holanda, 2011). Esta obra realiza uma
ampla discusso a respeito da Psicopatologia e descreve os
fenmenos psicopatolgicos. Jaspers quem inaugura uma
forma de se pensar as psicopatologias do ponto de vista
fenomenolgico, em uma posio epistemolgica voltada
apreenso da transformao nas psicopatologias, em opo-
sio posio de enfoque na estabilidade (Messas, 2004).
Outros grandes nomes da psicopatologia fenome-
nolgica que podem aqui ser referenciados so Ludwig
Binswanger, Eugne Minkowski, Henri Ey, Viktor Emil
von Gebsattel, Erwin Straus, Henricus Cornelius Rmke,
Janse de Jonge, L.Van der Horst, Frederik J.J. Buytendijk e
J.H.Van den Berg, dentre outros (Van den Berg, 1966/1994;
Messas, 2004; Holanda, 2011). Deste rol, escolhemos
Jaspers e Minkowski como autores para demonstrar a re-
lao entre Psicopatologia, Psiquiatria e Fenomenologia.
No sero realizados aprofundamentos em seus traba-
lhos, mas ser apresentada como a atitude fenomenol-
gica os perpassa.
Jaspers, em sua Psicopatologia Geral (1913/1987) dis-
corre a respeito de algumas posies que tomam frente
ao desafio do psicopatologista. Seu objetivo no criar
uma compndio de classificaes didticas e de fcil me-
morizao, mas o de exercitar o pensamento psicopato-
lgico dentro de um saber estruturado e de uma experi-
ncia metodolgica que possa abranger a complexidade
desse fenmeno. Logo na introduo, Jaspers realiza di-
versas discusses a respeito da tarefa de construo de
uma psicopatologia geral, apontando que o objeto da psi-
copatologia o homem como um todo. Mas alerta para os
limites dessa cincia, pois no se pode reduzir o sujeito
aos conceitos psicopatolgicos: Sempre o homem algo
mais do que se pode conhecer (Jaspers, 1913/1987, p. 63).
Por isso a atitude cientfica fundamental estar aberto a
todas as possibilidades de investigao emprica. H de
se esforar para conhecer a vida psquica por todos seus
lados e por todas as vias.
A influncia da Fenomenologia aparece em diversas
partes de seu trabalho, como por exemplo, na compreen-
so da conscincia enquanto relao intersubjetiva com o
mundo; uma totalidade de um mundo interior e um mun-
do ambiente. Jaspers no considera a conscincia como
objeto, mas enquanto fluxo, herana da compreenso de
William James. Ele tambm ressalta que trabalha com
o que vivenciado, com a vida psquica imediatamen-
te dada. Jaspers alerta acerca dos preconceitos, ou seja,
conceitos anteriores que anuviam nosso olhar ao fen-
meno. Um dos exemplos trazidos pelo autor o precon-
ceito terico, pois corre o srio risco de se voltar somen-
te ao que confirma a teoria em questo. Tambm critica
a naturalizao da vida psquica, colocando como tarefa
constante a abstrao das teorias e outros preconceitos
em busca de um acolhimento dos dados.
Com respeito ao diagnstico, coloca que este o menos
essencial no trabalho do psicopatologista, e que, apesar
de fazer parte do processo, a ltima compreenso em
um caso. Realiza tambm uma discusso a respeito dos
mtodos, abrangendo vrias possibilidades metodolgi-
cas, sempre se perguntando como cada um pode ampliar,
aprofundar, alargar a experincia, levando em conta sua
relevncia e seus limites. Ele tambm aponta a importn-
cia das outras cincias, com diferentes mtodos e concei-
tos. Em suas palavras: A conscincia metodolgica nos
mantm frente realidade que deve ser apreendida sem-
pre de novo. A dogmtica do ser nos tranca num saber
que, como um vu, se antepe a toda nova experincia
(Jaspers, 1913/1987, p. 58).
A histria da Psicopatologia Fenomenolgica remon-
ta tambm figura de Dilthey (Holanda, 2011). Segundo
Van den Berg (1966/1994), pode-se verificar em Jaspers a
influncia de Dilthey em seu trabalho e o fato de ter sido
o primeiro a introduzir na psiquiatria suas ideias. Para
Jaspers o mtodo explicativo tambm ser utilizado para a
compreenso da psicopatologia, porm, esse no abarca a
complexidade deste fenmeno, defendendo o mtodo com-
preensivo como aquele capaz de acolher a subjetividade.
Tal qual outros psicopatologistas fenomenlogos
(Minkowski, Van den Berg, entre outros), Jaspers ir dis-
correr a respeito da importncia dos casos raros para com-
preender os casos triviais. Ele defende que muitas vezes
o aprofundamento em um caso particular ensina o que
geral para outros casos. No h necessidade de exemplos
de srie, visto que a compreenso da psicopatologia no
est na quantidade, mas na qualidade dos casos estuda-
dos. Um exemplo disto o livro O Paciente Psiquitrico de
Van den Berg (1966/1994), no qual se descreve a condio
de um paciente. Ele escolhe um s sujeito, pois acredi-
ta que um paciente pode englobar toda a psicopatologia.
Minkowski um psiquiatra francs de grande in-
fluncia na histria da Fenomenologia e na psiquiatria
da Frana. No incio do sculo XX introduziu a obra de
Husserl em seu pas; foi membro fundador e primeiro
presidente do grupo volution Psychiatrique, em 1925.
236
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
Mariana C. Puchivailo; Guilherme B. da Silva & Adriano F. Holanda
Minkowski trabalhou com Bleuler em Zurique (entre 1912
e 1914), e conviveu durante este perodo com Binswanger,
Jung e Rorschach (Abreu e Silva Neto, 2004). Apesar
de sua importncia, especialmente na Psicopatologia
Fenomenolgica, a obra deste autor no muito conhe-
cida no Brasil. Nenhum de seus livros foi traduzido para
o portugus (Abreu & Silva Neto, 2004).
A psicopatologia para Minkowski (1968/2000) cons-
titui uma psicologia do patolgico e no uma patologia
do psicolgico. Ou seja, a loucura compreendida en-
quanto modo de estar no mundo, no errado ou doentio,
mas apenas como mais uma forma de estar em relao
com o mundo. Desconstri-se, deste modo, a noo de
normalidade, enquanto padro absoluto que define os
desvios mrbidos da vida mental.
Ao conhecer a experincia humana como intrinse-
camente ptica, fundada sobre o pathos da paixo e do
sofrimento, a psicologia do patolgico tem por tarefa a
descrio de formas singulares de existncia e de estar-
-no-mundo. A psicologia do patolgico se refere descri-
o global da experincia vivida pelo enfermo e, global,
nesse caso, implica em viso integrada do todo psquico
com o todo vivido pela pessoa. Com tal atitude metodo-
lgica, Minkowski aborda o fenmeno de pathos visando
exprimir seu fundo existencial, antes de realizar um re-
censeamento de sintomas e de alteraes na alma.
Minkowski procurou desenvolver uma cincia antro-
polgica, j que buscou o homem enquanto referncia.
Entende-se por antropologia a cincia da totalidade do
fenmeno humano. Uma viso antropolgica da psicopa-
tologia busca compreender as modalidades existenciais
do homem, levando em conta sua singularidade com o
objetivo de elucidar os sentidos dos sintomas. Nesta vi-
so antropolgica da psicopatologia se prope tentar al-
canar um quadro mais amplo da estrutura existencial
do homem (Holanda, 2001).
Em seu livro A Esquizofrenia, publicado originalmen-
te em 1927, Minkowski alega que o mtodo utilizado no
se deteve psicopatologia, mas sim a aspectos da vida. O
fenmeno psicopatolgico no delimitado por seu car-
ter mrbido ou doentio, nem por comparao com a nor-
malidade, e sim por se constituir como uma outra forma
de ser (Pereira, 2000). Minkowski (1968/2000) concor-
da com as ideias de Bergson sobre a impossibilidade de
quantificar e mensurar aspectos mais fundamentais da
existncia, tais como a vivncia de pathos; recorre ainda
a suas prprias experincias clnicas para se aproximar
de tal fenmeno.
Segundo Minkowski (1968/2000), o enfoque clnico
ou terico ao colocar seu olhar sobre o pathos deve sepa-
rar seus processos em si das alteraes nos desempenhos
mentais; deve-se tambm abrir mo da exatido, exigida
pela cincia exata. Na Psicologia do Pathos, os sintomas
servem a um fim (Pessotti, 2006), sendo como a carne,
sangue e nervos, apenas finas camadas que envolvem
um segredo invisvel, uma histria que mora em ns; os
sintomas so apenas a superfcie que protege o fenmeno
ptico. O paciente no um caso, e sim uma pessoa, cuja
linguagem da alma se expressa no corpo, no tempo do re-
lgio e no tempo vivido (Costa & Medeiros, 2009, p. 383).
Minkowski discorre sobre o sofrimento como um mo-
mento da existncia: O sofrimento no absolutamente
sinal de desequilbrio, no h nada de anormal nele. Ele
faz normalmente parte de nossa existncia [...] o sofri-
mento humano o que nos revela o aspecto mais aparen-
te, mas dramtico e mais vivo (Minkowski, 1968/2000,
p. 164). Na psicopatologia fenomenolgica o enfoque est,
pois, no mundo-vida do indivduo, no significado de
ser patolgico; na compreenso das modalidades exis-
tenciais do homem, seus modos de ser e as maneiras
de vivenciar as psicopatologias (Holanda, 2001). Busca-
se no apenas uma pura descrio dos fenmenos psico-
patolgicos, mas a sua essncia, trans cendendo suas ma-
nifestaes particulares (Messas, 2004).
fenomenologia compete apresentar de maneira viva,
analisar em suas relaes de parentesco, delimitar,
distinguir da forma mais precisa possvel e designar
com termos fixos os estados psquicos que os pacientes
realmente vivenciam. (Jaspers, 1913/1987, p. 71)
A caracterstica fundamental da psicopatologia fe-
nomenolgica a busca pela compreenso das vivncias
psquicas tais e quais realmente experimentadas pelos
pacientes. Uma das principais caractersticas da feno-
menologia que no visa procura de uma teoria sutil,
mas apenas a um plausvel conhecimento ntimo (Van
den Berg, 1966/1994, p. 8). A Fenomenologia busca olhar o
homem e seu sofrimento no como um entrecruzamento
de mltiplas causalidades que o determinam, mas como
uma singularidade que se apresenta compreenso. A
Fenomenologia da psicopatologia no ir se focar na do-
ena, mas na expressividade, contexto e forma de ser do
sujeito que se apresenta.
J no deveramos retroceder ante tarefa, por ex-
tensa que esta seja, que consistiria em estudar todas
as manifestaes, o mesmo que todas as atividades
e todos os movimento da alma, em sua variedade e
em suas matrizes, que chega a fixar e a expressar a
linguagem. Em todos os casos, nada nos impede de nos
comprometermos a esta via. Qui seja essa tambm
um meio de liberar a psicologia do cerco estreito no
qual, em virtude dos princpios que ela considera
cientficos, se encerra, para aproxim-la novamente
do humano e do vivido, para retorn-la a grande arena
da vida. E a psicopatologia se beneficiaria igualmente
isto. Perspectivas... (Minkowski, 1927/1960, p. 218).
Minkowski finaliza seu livro A Esquizofrenia com
esta passagem, alertando tarefa que tambm propos-
ta pela Fenomenologia, a de se aproximar da experincia
237
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
A Reforma na Sade Mental no Brasil e suas Vinculaes com o Pensamento Fenomenolgico
vivida. Uma tarefa que como coloca Jaspers (1913/1987),
exige esforo, mas se torna a forma mais coerente para
se aproximar da complexidade do fenmeno humano.
Consideraes finais
A Reforma da Sade Mental brasileira influencia-
da pelo modelo de desinstitucionalizao italiano, cuja
principal influncia so o pensamento e as experincias
de Franco Basaglia. Como pode-se observar, Basaglia
possui influncia da compreenso fenomenolgica e de
psiquiatras fenomenlogos. Igualmente a experincia de
Laing e Cooper, com a Antipsiquiatria inglesa, trouxe
alternativas e reflexes de forte cunho fenomenolgico
e existencial para o movimento da Reforma na ateno
sade mental brasileira.
A perspectiva de reabilitao psicossocial; de reinte-
grao do sujeito da sade mental em seu contexto fami-
liar, social, econmico e cultural; a ideia de territrio,
devem muito ao resgate da subjetividade contextualiza-
da propugnada por uma srie de pensadores da filosofia
e psiquiatria fenomenolgicas. Como podemos observar
igualmente na ideia de rede, proposta pela referncia
aos Centros de Ateno Psicossocial (CAPS):
Para constituir essa rede, todos os recursos afetivos
(relaes pessoais, familiares, amigos etc.), sanitrios
(servios de sade), sociais (moradia, trabalho, escola,
esporte etc.), econmicos (dinheiro, previdncia etc.),
culturais, religiosos e de lazer esto convocados para
potencializar as equipes de sade nos esforos de
cuidado e reabilitao psicossocial (Ministrio da
Sade, 2004, p. 11).
A influncia da fenomenologia no pensamento de
Basaglia e de psiquiatras como Jaspers e Minkowski
est na possibilidade de colocar a doena entre parnte-
ses para que se possa alcanar o fenmeno em si, neste
caso, o sujeito. Uma aparente pequena mudana que traz
grandes consequncias. Uma delas o posicionamento
do sujeito como centro da questo tanto do estudo psico-
patolgico quanto da ateno sade mental. Como traz
Basaglia, as formas de tratamento so consequncias do
olhar que se tem doena mental.
Dilthey e Husserl discorrem a respeito da impossi-
bilidade das formas de explicao das cincias naturais
darem conta da complexidade das cincias do esprito;
trazendo como alternativa o mtodo compreensivo que
pretende ir ao encontro do fenmeno e do co-apreender.
Jaspers constri sua Psicopatologia Geral demonstrando
sua forma de pensar a psicopatologia, cujo objeto o ho-
mem como um todo. Jaspers busca compreender o homem
sob diferentes ngulos e ao mesmo tempo com especial
cuidado s diferentes possibilidades de pr-conceitos.
Minkowski busca a compreenso das psicopatologias
como modos de estar no mundo, o que desconstri a no-
o de anormalidade ligada psicopatologia. Colocando
o homem como centro de referncia ao invs de sua do-
ena. Tanto Minkowski, quanto Jaspers e Basaglia bus-
cam compreender aspectos mais amplos dos fenmenos
psicopatolgicos: sua expressividade, contexto e formas
de ser; um sofrimento existencial e social.
As discusses propostas pela leitura fenomenolgica
apontam mesmo para um novo questionamento sobre o
que sade e doena como encontramos nos clssicos
pensadores da psiquiatria fenomenolgica , que encontra
eco nos contemporneos questionamentos sobre a noo
de sade mental, por exemplo (Amarante, 2007). Mas
, fundamentalmente, uma mudana de paradigma:
O processo de desinstitucionalizao torna-se agora
reconstruo da complexidade do objeto. A nfase no
mais colocada no processo de cura mas no projeto
de inveno da sade e de reproduo social do pa-
ciente. (...) O problema no a cura (a vida produtiva)
mas a produo de vida, de sentido, de sociabilidade,
a utilizao das formas (dos espaos coletivos) de
convivncia dispersa (Rotelli, De Leonardis & Mauri,
1986/2001, p. 30. Grifos no original).
A simplicidade destas mudanas ajuda a compreen-
der como a desinstitucionalizao sobretudo um traba-
lho teraputico, voltado para a reconstituio das pesso-
as, enquanto pessoas que sofrem, como sujeitos (Rotelli,
De Leonardis & Mauri, 1986/2001, p. 33). E este um do
principais focos do pensamento fenomenolgico: o res-
gate da subjetividade.
A fenomenologia influencia diferentes reas do co-
nhecimento, dentre elas a sade mental e a psicopato-
logia. O processo de reforma na Sade Mental brasileira
e as concepes atuais de sade mental sofreram influ-
ncias e tambm encontraram fundamento e inspirao
nela. Espera-se que essa herana continue a ser fonte de
inspirao e recurso de fundamentao para que o pro-
cesso de reforma da ateno sade mental no se perca
em aspectos meramente estruturais ou polticos. J que
como bem aponta os fenomenlogos citados ao longo do
artigo, o ponto central de preocupao deve ser o sujeito.
Referncias
Abreu e Silva Neto, N. (2004). A Atualidade da Obra de Eugne
Minkowski (1885-1972). Boletim Academia Paulista de
Psicologia, XXIV(2), 50-62.
Amarante, P. (2007). Sade mental e Ateno psicossocial. Rio
de Janeiro: Fiocruz.
Basaglia, F. (1979). Psiquiatria alternativa: contra o pessimis-
mo da razo, o otimismo da prtica. (Vol. 1). Traduo de
Sonia Soianesi e Maria Celeste Marcondes. So Paulo:
Editora Brasil Debates.
238
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
Mariana C. Puchivailo; Guilherme B. da Silva & Adriano F. Holanda
Basaglia, F. (1985). A Instituio Negada: Relato de um Hospital
Psiquitrico. So Paulo: Graal (Original de 1968).
Basaglia, F. (2005). Escritos selecionados em sade mental
e reforma psiquitrica. Organizao: Paulo Amarante.
Traduo de Joana Anglica dvila Melo. Rio de Janeiro:
Garamond.
Brasil (2001). Lei 10.216 de 6 de abril de 2001 (Dispe so-
bre a proteo e os direitos das pessoas portadoras de trans-
tornos mentais e redireciona o modelo assistencial em sa-
de mental). Braslia: Senado Federal. Disponvel em http://
www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/legis/legis1.asp
Cooper, D. (1979). A Gramtica da Vida. Lisboa: Editorial
Presena.
Cooper, D. (1989). Psiquiatria e Antipsiquiatria. So Paulo:
Perspectiva (Original publicado em 1967).
Costa, V. E. S. M., & Medeiros, M. (2009). O tempo vivido
na perspectiva fenomenolgica de Eugne Minkowski.
Psicologia em Estudo, 14 (2), 375-383.
Dartigues, A. (2008). O que fenomenologia? Traduo Maria
Jos J. G. de Almeida. (10 ed.). So Paulo: Centauro.
Delacampagne, C. (2004). A contestao antipsiquitrica.
Mental (Online), 2 (2), 27-34.
Dilthey, W. (2008). Idias acerca de uma Psicologia Descritiva
e Analtica. Traduo de Artur Moro. Covilh: LusoSofia
(Original publicado em 1894).
Drummond, J.J. (2007). Historical Dictionary of Husserls
Philosophy. New York: Hardcover.
Goffman, E. (1996). Manicmios, Prises e Conventos. So Paulo:
Perspectiva (Original publicado em 1961).
Goffman, E. (2003). Estigma. Notas sobre uma manipulao
da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: LTC (Original
de 1963).
Goulart, M. S. (2007). As razes italianas do movimento anti-
manicomial. So Paulo: Casa do Psiclogo.
Holanda, A. (2001). Psicopatologia, exotismo e diversidade:
ensaio de antropologia da psicopatologia. Psicologia em
Estudo, 6(2), 29-38.
Holanda, A. (2009). Fenomenologia e Psicologia: dilogos e in-
terlocues. Revista da Abordagem Gestltica, 15(2), 87-92.
Holanda, A. F. (2011). Gnese e histrico da psicopatologia fe-
nomenolgica. Em V. A. Angerami (Org.). Psicoterapia e
Brasilidade. So Paulo: Cortez.
Holanda, A. F. & Freitas, J. (2011). Fenomenologia e Psicologia:
Vinculaes. Em Ado Jos Peixoto, Fenomenologia dilogos
possveis (pp. 97-112). Campinas: Alnea Editora.
Husserl, E. (1965). Filosofia como Cincia Rigorosa. Lisboa:
Atlantida (Original de 1910).
Husserl, E. (1980). Mditations Cartsiennes. Introduction
la phnomnologie, Paris: Librairie Philosophique J.Vrin
(Original de 1931).
Husserl, E. (2006). Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia.
Lisboa: LusoSofia (Original de 1935).
Jaspers, K. (1987). Psicopatologia Geral. Traduo Samuel
Penna Reis. Rio de Janeiro: Atheneu (Original publica-
do em 1913).
Jardim, K. & Dimenstein, M. (2007). Risco e crise: pensando
os pilares da urgncia psiquitrica. Psicologia em Revista,
13(1), 169-190.
Laing, R. (1981). Sobre loucos e sos. Entrevista a Vincenzo
Caretti. So Paulo: Brasiliense.
Laing, R. (1989). A loucura. Entrevistas do Le Monde (pp. 137-141).
So Paulo: Editora tica.
Laing, R. & Cooper, D. (1976). Razo e Violncia. Petrpolis:
Vozes (Original publicado em 1964).
Merleau-Ponty, M. (1999). Fenomenologia da percepo. So
Paulo: Martins Fontes (Original publicado em 1945).
Messas, G. P. (2004). Psicopatologia e Transformao:
Um esboo Fenmeno-Estrutural. So Paulo: Casa do
Psiclogo.
Ministrio da Sade (2004). Sade Mental no SUS. Os Centros
de Ateno Psicossocial. Braslia: Ministrio da Sade.
Ministrio da Sade (2005). Reforma psiquitrica e poltica
de sade mental no Brasil. Braslia: Ministrio da Sade/
OPAS.
Minkowski, E. (1960). La esquizofrenia: Psicopatologa de los
esquizoides y los esquizofrnicos. Buenos Aires: Paidos
(Original publicado em 1927).
Minkowski, E. (2000). Breves reflexes a respeito do sofrimen-
to (aspecto ptico da existncia). Revista Latinoamericana
de Psicopatologia Fundamental, 3(4), 156-164 (Original pu-
blicado em 1968).
Pereira, M. E. (2000). Minkowski ou a psicopatologia como
psicologia do pathos humano. Revista Latinoamericana de
Psicopatologia Fundamental, III, 153-155.
Pessotti, I. (2006). Sobre a teoria da loucura no sculo XX. Temas
em Psicologia, XIV(2), Dezembro, 113-123.
Ricoeur, P. (2006). Na escola da fenomenologia. Rio de Janeiro:
Vozes (Original publicado em 1986).
Robortella, S. C. (2000). Relatos de usurios de sade mental
em liberdade: o direito de existir. Dissertao de Mestrado
em Sade Coletiva, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, So Paulo.
Rotelli, F.; De Leonardis, O. & Mauri, D. (2001). Desins-
titucionalizao, uma outra via. In Franco Rotelli, Ota
De Leonardis & Diana Mauri, Desinstitucionalizao
(pp. 17-60). So Paulo: Editora Hucitec (Original publica-
do em 1986).
Sagan, C. (2006). O mundo assombrado pelos demnios.
Traduo Ephraim Ferreira Alves. So Paulo: Companhia
de Bolso (Original publicado em 1995).
239
A
r
t
i
g
o
-
E
s
t
u
d
o
s
T
e
r
i
c
o
s
o
u
H
i
s
t
r
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 230-239, jul-dez, 2013
A Reforma na Sade Mental no Brasil e suas Vinculaes com o Pensamento Fenomenolgico
Schneider, D. R. (2009). Caminhos histricos e epistemolgi-
cos da psicopatologia: contribuies da fenomenologia e
existencialismo. Cadernos Brasileiros de Sade Mental,
1 (2), 62-76.
Spohr, B. & Schneider, D. R. (2009). Bases Epistemolgicas da
Antipsiquiatria: A Influncia do Existencialismo de Sartre.
Revista da Abordagem Gestltica, 15 (2), 115-125.
Stockinger, R. C. (2007). Reforma Psiquitrica Brasileira:
Perspectivas Humanistas e Existenciais. Rio de Janeiro:
Vozes.
Szasz, T. (1982). O Mito da Doena Mental. So Paulo: Crculo
do Livro (Original publicado em 1961).
Van den Berg, J. H. (1994). O Paciente Psiquitrico. Campinas:
Editorial Psy (Original publicado em 1966).
Mariana Cardoso Puchivailo - Musicoterapeuta pela Faculdade de Artes
do Paran (FAP), Psicloga e Mestranda em Psicologia pela Universidade
Federal do Paran (UFPR) e Ps-graduada em Psicologia Analtica pela
Pontifcia Universidade Catlica do Paran (PUCP-PR). Endereo Insti-
tucional: Mestrado em Psicologia. Praa Santos Andrade, 50 (2 Andar),
Sala 216. Curitiba, PR. E-mail: marianapuchivailo@yahoo.com.br
Guilherme Bertassoni da Silva - Psiclogo graduado pela Universidade
Federal do Paran (UFPR), Especialista em Sade da Famlia/Sade
Coletiva e em Sade Mental, Psicopatologia e Psicanlise pela Pontifcia
Universidade Catlica do Paran (PUC-PR), Mestrando em Psicologia
pela Universidade Federal do Paran (UFPR) e Vice-Presidente do Con-
selho Regional de Psicologia (8 Regio). E-mail: silvapsi@hotmail.com
Adriano Furtado Holanda - Psiclogo, Mestre em Psicologia pela
Universidade de Braslia (UnB) e Doutor em Psicologia pela Pontifcia
Universidade Catlica de Campinas (PUC-Campinas); Professor Ad-
junto do Departamento de Psicologia e do Programa de Mestrado em
Psicologia da Universidade Federal do Paran (UFPR); Coordenador
do Laboratrio de Fenomenologia e Subjetividade (LabFeno/UFPR) e
Primeiro-Presidente da Associao Brasileira de Psicologia Fenome-
nolgica (ABRAPFE). E-mail: aholanda@yahoo.com
Recebido em 12.06.13
Aceito em 15.12.13
T
E
X
T
O
S
C
L
S
S
I
C
O
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
243
T
e
x
t
o
s
C
l
s
s
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 243-246, jul-dez, 2013
Arte e Religio (1941)
ARTE E RELIGIO
1
Fritz Kaufmann
(1941)
Ao longo dos sculos, tanto descries populares
quanto anlises cientficas frequentemente usaram o vo-
cabulrio religioso para descrever a experincia artstica.
Quais seriam os motivos de transpor os termos religiosos
para a linguagem esttica? Pode esta transposio ser jus-
tificada? E se sim, como e em que medida? Essas so as
perguntas que este artigo se prope a responder atravs
de um breve estudo comparativo entre arte e religio.
No h dvida que os termos religiosos to frequente-
mente utilizados para descrever a arte figurativa so me-
tafricos em alguma medida. A questo : em que medi-
da eles so metafricos? Por um lado, tais expresses so
usadas para enfatizar a maravilha ou a bem-aventurana
da experincia esttica e, por outro, para indicar a misso
e a vocao quase religiosa do artista. Desse modo, diz-
-se que o artista age sob a inspirao de um mandamen-
to divino e que por meio de seu trabalho a humanidade
recebe uma revelao. Mais uma vez, o artista denomi-
nado como segundo criador e o primeiro Criador, Deus,
ao contrrio referido como o artista mundi o artista do
mundo. Poeta e profeta encontramos estes termos usa-
dos de forma intercambivel pelo menos desde os tempos
de Pseudo-Longinus e Saadja Gaon e, com a secularizao
das ideias nos tempos modernos, encontramos Kant des-
crevendo a estrutura da experincia esttica em termos
notavelmente similares queles usados por Maimnides
ao se referir ao estado de esprito proftico.
Em que medida tal uso tem uma base objetiva? At
que ponto h uma analogia estrutural genuna entre a
experincia religiosa e a experincia esttica ou artsti-
ca? Uma anlise fenomenolgica dos dois tipos de expe-
rincia deve nos habilitar a compar-las e a responder a
tais questes no mbito da reduo fenomenolgica. Em
primeiro lugar, tal anlise destaca que em ambos os tipos
de experincia h um sentido de contato com algo ab-
soluto ou mesmo com o Absoluto em si, em pessoa.
Ns podemos ento descrever este sentimento e, correla-
tivamente, descrever este absoluto apenas como o que
se percebe em tais experincias, independentemente se
1
Ttulo original: Art and Religion. Publicado originalmente na Phi-
losophy and Phenomenological Research, Vol. 1, No. 4 (Jun., 1941),
pp. 463-469; editada pela International Phenomenological Society.
este merece ser nomeado de absoluto e se h realmen-
te algo absoluto em si mesmo; isto , se podemos abs-
trair da experincia finita, sem pr-julgamento, o sentido
prprio do absoluto tal qual revelado nesta experincia.
A partir dessas anlises poderia parecer que em sua
forma mais pura, a experincia religiosa um reconhe-
cimento existencial no um conhecimento teortico
de nossa relao com algo que nessa relao goza de su-
perioridade absoluta sobre nossa dependncia absoluta.
Este reconhecimento existencial na medida em que a
vida particularmente determinada por ele. Embora es-
tes constituintes paream ser essenciais para qualquer
relao religiosa pura, eles no esgotam o significado con-
creto ou a essncia histrica da tradio Judaico-Crist. A
caracterstica que distingue esta tradio parece ser uma
unio paradoxal, a combinao inteiramente dspare en-
tre os dois termos da relao religiosa, com a intimidade
irrestrita de uma relao de mutualidade, como parcei-
ros responsveis em uma aliana histrica.
Essas determinaes podem servir como pano de fun-
do para a discusso de nossa questo principal: a arte
pura , como tal, capaz de perceber o significado hist-
rico ou, pelo menos, a essncia geral da religio? a arte
possvel como religio? Tal foi a afirmao do humanis-
mo alemo poca de Goethe. De acordo com uma fa-
mosa quadra, arte e cincia implicam o dom da religio.
Seria isso verdade? Ou, ao contrrio, deve ser dito que
a expresso arte religiosa aponta para uma determina-
o adicional na qual a arte seria incapaz de produzir
em seu prprio favor?
Para responder essas questes, poder-se-ia comparar
as maiores pretenses do artista com as exigncias in-
dispensveis da experincia religiosa. Para o propsito
desta comparao, temos que lidar com a arte em uma
fase tardia, profundamente emancipada, regida por suas
regras prprias e abandonada a seus prprios recursos.
A irrestrita reivindicao pela arte defendida, por
exemplo, por Goethe e seus seguidores, gira ao redor de
dois pontos. Primeiro, a harmonia entre o artista e a na-
tura naturans, a fonte de toda gnese; segundo, a univer-
salidade do smbolo artstico, a obra de arte. A primeira
alegao no mero produto do autoconceito artstico,
TEXTOS CLSSICOS
244
T
e
x
t
o
s
C
l
s
s
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 243-246, jul-dez, 2013
Fritz Kaufmann
mas aponta a direo para a qual muitas ideias estti-
cas do sculo XVIII convergem. A unidade interna entre
os poderes formativos, o Bildungskraft da natureza, e o
Einbildungskraft do artista (a sntese da imaginao arts-
tica), o segredo metafsico subjacente Crtica do Juzo
em Kant. A segunda alegao que o smbolo artstico
universal melhor ilustrada pela referncia escala
de Leibniz da representao universal. a amplitude
e a assimilao dessa teoria para o interior da arte: a re-
presentao meramente factual do universo pelas mna-
das inferiores superada pela representao consciente
do universo em nossas almas, o que culmina na repre-
sentao livre e criativa do universo na obra do artista.
O artista, grato natureza que o produziu, retorna a ela
uma segunda natureza embora se trate de uma nature-
za sentida, pensada e humanamente perfeita (Goethe)
2
.
A forma caracterstica desta representao univer-
sal a unidade de estilo em uma obra de arte: uma ex-
presso idiomtica, a qual uma sntese pessoal das im-
presses da vida de um ponto de vista individual. Essa
determinao pessoal envolve uma negao necessria.
O mundo representado dentro dos limites da capaci-
dade do artista: o artista reconhece e reproduz os pode-
res formativos da natura naturans, no em todas as suas
formas manifestas, mas naquela forma que agradvel a
ele; ele responde aos impactos da natureza na medida de
sua participao em seus impulsos. Em sua obra enfatiza
certos modos de apario e abstrai outros. Sua devoo
e seu interesse esttico so seletivos: se aplicam a tudo,
mas no a tudo em todos os seus aspectos. Natura infini-
ta est, sed qui symbola animadverterit, omnia intelliget,
licet non omnino. Reivindicando para a arte a dignidade
da religio, Goethe fala de dois tipos religiosos principais:
um que identifica e venera a santidade tal como ela ha-
bita em ns e ao nosso redor, independente de qualquer
forma, e outro que restringe seu reconhecimento e vene-
rao para a forma mais bela
3
.
Esses so aspectos do ser que o artista pode suportar
por serem proporcionais sua compreenso produtiva.
Para alm desse reinado e dessa compreenso da beleza
e da ordem, jazem terror e caos. Das Schne ist nichts als
des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen: A
beleza no nada, mas apenas o incio do terror que ns
mal podemos suportar. Mas na medida em que a obra
de arte protegida do abismo da falta de forma aparente,
no inclui e no pode revelar este indomado mysterium
tremendum. A medida da arte o homem, a medida da
religio Deus. A devoo religiosa implica e confessa o
tremendo mistrio da Divindade. Ela reconhece o divino
como algo alm das capacidades pessoais da compreen-
so humana. A arte permanece firme mesmo no naufr-
2
The artist, grateful to nature who produced himself, returns to
her a second nature albeit a nature felt and thought and humanly
perfect (Goethe).
3
one of which recognizes and worships the holy as it abides in us
and around us, apart from any form, while the other restricts this
recognition and worship to the most beautiful form.
gio das intenes humanas. O artista experimenta a Fiat
Voluntas na concretizao de sua obra como a confir-
mao de sua genialidade; a pessoa religiosa a proclama
mesmo quando enfrenta a runa de seu mundo.
Participando do processo formativo da natura natu-
rans, o artista sente a si prprio como uma parte mas
somente uma parte do inteiro absoluto. Desta maneira,
ele experimenta o infinito como transcendendo o finito.
Tal transcendncia, contudo, meramente quantitativa e
no implica em um sentimento do infinito como qualita-
tivamente superior, como divino. Ao contrrio, de acor-
do com esta concepo, o homem inscreve, em seu poder
de representao artstica, um clmax na formao e na
transformao do ser. Ele d ao ser sua perfeio prpria
uma obra de arte perfeita. por isso que de acordo com
Goethe a arte faz o homem divino. Uma vez que o ho-
mem colocado no cume da natureza, ele se considera a
natureza inteira que em si mesma tem que produzir um
pice apropriado
4
.
O principal aspecto sob o qual o Absoluto aparece
aqui , portanto, o aspecto de uma produtividade onipo-
tente um poder que apenas pode manifestar-se a si mes-
mo com uma necessidade elementar igualmente caracte-
rstica da natureza e do artista. Diferentemente de uma
pessoa, este poder produtivo no capaz de manter-se a
si mesmo. No liderado nem restringido por propsitos
definidos ou pelo respeito cuidadoso por seres humanos.
Desta forma, a experincia artstica no prov nenhuma
base para a ideia de um Deus pessoal e benevolente. No
por acaso que o poema Prometeu, este desafio a um Deus
pessoal, esta negao de um Pai todo amoroso no cu, te-
nha sido o primeiro documento do absolutismo artstico
de Goethe e a arma principal na controvrsia de Spinoza
nos anos oitenta. O poder produtivo no artista ecoa o ape-
lo deste poder constitutivo que lhe familiar, manifesto
como aparncia exterior. A obra de arte , nessa medida,
a eternizao e a glorificao da aparncia. Mas ao mes-
mo tempo em que este poder pode ser louvado, ele ces-
sar a falta de orao, isto , cessar com a falta de uma
aproximao pessoal em direo a um ser absoluto, tal
como um alter ego.
A simpatia universal do artista reconhece e responde
ao apelo de qualquer poder comunicvel pela dinmica
de sua obra. O que conta a intensidade do poder e seu
impacto - no o seu propsito. A mesma atividade que
pode ser benfica para alguns, pode ser nociva para ou-
tros. O Absoluto como tal no pode ser considerado em
termos morais, como bom ou mau, Deus ou Diabo. So
ambos, exclama Goethe, beno e maldio!... No o
mau bom, o bom mau? ... Verdadeiramente tudo em um.
O que chamamos mau, apenas o outro lado do bom.
5
4
As man is placed on the summit of nature, he considers himself a
whole nature that in herself has to produce a proper acme.
5
Both then, exclaims Goethe, blessing and curse!... Is not the evil
good, good evil?... Truly tis all one. What we call evil, is only
the other side of the good.
245
T
e
x
t
o
s
C
l
s
s
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 243-246, jul-dez, 2013
Arte e Religio (1941)
Uma amoralidade latente ou aberta no monoplio dos
imoralistas, bem-conhecidos entre os artistas - mas tem
seu fundamento na atitude artstica como tal: indepen-
dente de intenes morais pessoais, um sinal de que o
artista est fascinado pela grandeza at mesmo em sua
aparncia mais sombria, caracterstica de artistas apaixo-
nados e obcecados pela sua misso artistas como Dante
ou Corneille, Milton ou Goethe, Thomas Mann ou Rilke.
A predileo artstica pela simetria entre cu e inferno
ou por certa tolerncia divina, at mesmo pelo Demnio,
so indicativas de uma justia potica equivalente a in-
diferena esttica.
A indiferena do artista representa o afastamento das
diferenas da vida. Ele se retira para um ponto vantajo-
so onde essas diferenas so livremente percebidas e re-
presentadas. A livre receptividade , portanto, transfor-
mada no caminho e no trabalho da livre produtividade.
Esta liberdade, entretanto, no uma liberdade moral:
ela no alcanada nas lutas da vida, e no uma prova
de que o homem tenha resolvido os problemas e supera-
do os conflitos da existncia mundana. O artista, tendo
sido removido do emaranhado da vida, percebe um pon-
to de vista que reside antes das diferenas, nem por trs
nem alm delas. Por isso, a obra de arte pode transmitir
o sentimento de uma unidade primitiva do ser, mesmo
que as ramificaes e as divergncias de dadas tendncias
possam preservar suas tenses dentro da obra e lev-la
a nenhuma harmonia final. Mas a prpria compreenso
de que h um lugar separado dos dilacerantes conflitos
da vida um conforto peculiar. Isso se refere alegria
da experincia esttica quase como uma antecipao da
paz eterna depois da luta. Ns sentimos este puro deleite
como um milagre em contraste com o estado despedaado
da nossa vida real, que no admite nenhuma mediao
ou reconciliao duradouras. A compostura comunicada
pelo livre deleite da composio artstica, no uma com-
postura existencial. Ela no perdura, ela circunscrita
a uma experincia nica e singular (exttica). Contudo,
ela pode ser considerada anloga ao mais alto estado do
ser, o estado de graa. Tal sentimento pode impregnar
nosso prazer esttico, mesmo que em nossa experincia
mundana ns no encontremos nenhum lugar para tal
esperana transcendente.
Enquanto o desinteresse esttico salva o artista de
envolvimentos nas diferenas da vida, isso tambm en-
surdece seus ouvidos para o clamor das necessidades hu-
manas. O imitatio na formao da obra tende a deslocar
o imitatio dei na transformao do nosso mundo. A sim-
patia universal do artista transcende (e substitui) o amor
para com nosso vizinho, ele cristalizado na forma de
um poema ou pintura e colocado entre parnteses a par-
tir das interferncias da vida real. No artista autntico,
a bem sucedida transmutao de im-presses decisivas
em suas perfeitas ex-presses absorve a energia neces-
sria para a penosa reforma de nossa vida imperfeita. O
artista que ao todo consagra o singular, o combinou em
uma nica doce harmonia para badalar
6
(Goethe). Ele
no supera a misria da vida; ele apenas a transfigura
na glria da arte.
No obstante, o artista considera sua obra como uma
resposta adequada a um chamado recebido, um chamado
que pode ser intermitente como o chamamento recebido
pelo profeta: para ele uma obra de inspirao, no uma
habilidade embora at mesmo a inspirao no chegue a
uma mente despreparada. Ele trabalha sob uma ordenan-
a, o que significa que ele no tem nenhum livre coman-
do sobre a sntese que as coisas recebem de suas mos.
Sua composio um smbolo do modo geral no qual as
coisas o afetam. E este smbolo de um estado de esprito
pessoal precisa ser encontrado, no pode ser inventado.
O apelo da obra de arte apenas o eco do que foi re-
cebido e proclamado pelo artista. Desse modo ele sente e
realiza o anseio de ser para formas cada vez mais eleva-
das de representao. O estado das coisas reconhecido
por meio de um estado mental compreensivo e dado como
uma presena ideal na forma sincera da obra de arte. A
multifatorialidade das impresses nicas e cambiantes
reduzida a um denominador comum no estilo marca-
do da expresso artstica. De acordo com Rilke apenas o
poema bem sucedido na manifestao da concretude e
na definio do significado do fenmeno rvore, ponto
ou torre, e assim por diante. Czanne costumava dizer
que este mundo mostra apenas aparncias vacilantes, he-
sitantes e provisrias; ele falava disso como uma criao
que geme no trabalho at que o artista, como seu redentor,
possa agraci-la com uma forma final e eterna, como um
ser apropriado. Eu serei seu Olimpo, eu serei seu Deus
7
.
Aqui a participao mstica do artista exaltada pela sua
identificao com o Divino. Em expresses como essa a
dependncia do homem ao Divino a quintessncia da
experincia religiosa cai em completa obviedade.
Embora uma arte autnoma no possa, pela sua natu-
reza, cumprir os clamores prprios da experincia religio-
sa, ela no precisa ser escravizada por tais reivindicaes
e ser alienada de si sob a forma de arte religiosa. Este
o estado do qual ela surgiu originalmente e do qual ela
se emancipou apenas h poucos sculos. A experincia
religiosa (no sentido acima definido) no contradiz ou al-
tera a experincia artstica: ela a inclui potencialmente
maneira de uma concretizao superior.
O louvor artstico de ser no envolve orao, mas a
orao tal como palavra e pedra envolve louvor. A
fascinao do artista, engendrada pelas aparncias como
janelas em direo ao Absoluto, no por si s uma con-
fisso religiosa; no entanto o fascinosum um coeficien-
te em nosso sentimento do Divino. Como as esttuas das
artes liberais de nossas catedrais medievais, a arte tem
seu lugar no hall de entrada para o Sagrado. Isso no
significa que a arte em si mesma garanta a entrada no
6
to the whole does consecrate the single, blended in one sweet
harmony to ring.
7
Je serai leur Olympe, je serai leur Dieu.
246
T
e
x
t
o
s
C
l
s
s
i
c
o
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 243-246, jul-dez, 2013
Fritz Kaufmann
domnio da religio. Ao contrrio. Ns perdemos tem-
po na contemplao da beleza porque tal contemplao
fortalece e se reproduz a si mesma
8
de acordo com Kant
(K.d.U, sec.12). Essa perda de tempo na contemplao
sintomtica da atitude esttica, prev autossuficincia e
perfeio aparentes no estado de esprito esttico e pode
evitar a transio do deleite esttico para o que o religio-
so entende como estado de graa.
Mas a grande indiferena do artista, ao perceber as
diferenas da vida, restaura - pelo menos durante a ex-
perincia esttica - um estado de inocncia paradisaca.
Ele alcana uma quietude sublime dentro das prprias
paixes da vida que podem ser experienciadas, portanto,
como um espetculo representado para, e apreciado por,
um expectador ideal. A convico de Goethe de que toda
direo e luta deste mundo descanso eterno em Deus, o
Senhor
9
abalizada na experincia artstica fundamen-
tal; e o dito assustador de Goethe de que a luta entre o
bem e o mal apenas um jogo para divertir Zeus um
Zeus zu amsieren encontra sua contrapartida mais su-
ave no dizer bblico de que a sabedoria de Deus age dia
aps dia em sua terra.
Sob este aspecto os fatos da vida perdem seu peso
absoluto e sua seriedade irrevogvel. O que conta no
o papel na representao, mas a representao do papel,
a livre performance da ordem dada. A desarticulao
artstica e religiosa das coisas do mundo tem isso em
comum: ambas tomam a vida seriamente como uma
representao. Desta maneira, a representao artstica
adquire seu ltimo e mximo sentido: culmina na cele-
brao da pea. Nossa pequena vida rodeada por uma
representao: um teatro seu estado inicial e final. O
clmax da formao da vida (paideia) alcanado na
forma final da representao (paidia). Este sublime tro-
cadilho de Plato aparece na mesma passagem de Leis
onde o pensador religioso reavalia a vida e sanciona a
pea artstica como a mais das significantes funes da
vida: Embora no possamos nos furtar de tom-las se-
riamente, as questes humanas no merecem propria-
mente muitos cuidados... O homem algo parecido a
uma marionete nas mos de Deus. Funcionar como tal
seu maior presente. O significado substancial da vida
melhor oferecido em certas peas em ofertas de sa-
crifcio, msicas e danas
10
.
Este tem sido o passado e algo parecido a isso pode
ser o futuro da arte: a reintegrao religiosa da arte au-
tnoma na vida, como a vida, por sua vez, est integrada
ao smbolo da arte.
8
We linger over the contemplation of the beautiful, because this
contemplation strengthens and reproduces itself.
9
eternal rest in God the Lord.
10
Though we cannot help taking them seriously, the affairs of men
do not properly deserve very much care... Man is something like a
puppet in the hands of God. To function as such is his highest gift.
The substantial meaning of life is best given in certain plays - in
sacrificial offerings, songs and dances.
Nota Biogrfica
Fritz Kaufmann (1891-1958), fez parte do chamado grupo de Gttin-
gen, reunido em torno das lies de Husserl, entre 1901 e o incio
da Primeira Guerra. Kaufmann chega ao grupo em 1913, oriundo de
Leipzig, exatamente no momento em que Husserl publica suas Ideen.
Nascido em Leipzig, estudou em Berlim (1910), Leipzig (1911-1912),
Gttingen (1913-1914) e Freiburg (1920-1925). Seu doutorado foi obtido
summa cum laude, sob orientao de Husserl, intitulado Das Bildwerk
als sthetisches Phnomen. Lecionou em Freiburg, como Privatdozent,
entre 1926 e 1936, indo posteriormente a Berlim. Em 1938, emigra
para os Estados Unidos, onde leciona de 1938 a 1946 como Lectu-
rer na Northwestern University. De 1946 a 1958 passa a lecionar na
University of Buffalo como Associate Professor, at sua aposentadoria,
aps a qual se muda para Zurich, na Suia, onde vem a falecer. Seu
principal interesse era com as relaes entre fenomenologia e arte,
sendo um estudioso de temticas estticas. Principais obras: Art and
Phenomenology (1940).
Traduo: Profa. Dra. Joanneliese de Lucas Freitas
(Universidade Federal do Paran) e Aneliana da
Silva Prado (Universidade Federal do Paran)
R
E
S
E
N
H
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
249
R
e
s
e
n
h
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 249-251, jul-dez, 2013
Psicologia da Religio no Mundo Ocidental Contemporneo: Desafios da Interdisciplinaridade, 2013
(Marta Helena de Freitas; Geraldo Jos de Paiva & Clia Carvalho de Moraes, Orgs.)
RESENHA
PSICOLOGIA DA RELIGIO NO MUNDO OCIDENTAL
CONTEMPORNEO: DESAFIOS DA INTERDISCIPLINARIDADE
(VOL. I & II)
(Marta Helena de Freitas; Geraldo Jos de Paiva & Clia Carvalho de Moraes, Orgs.)
Braslia: Universa, 2013
JANANA BAHIA OLIVEIRA
Universidade Catlica de Braslia
MARIA DE FTIMA GONDIM
Fundao de Ensino e Pesquisa em Cincias da Sade/DF
A psicologia da religio mostra, por meio de seus atu-
ais expoentes, a necessidade premente de uma perspec-
tiva interdisciplinar para enfrentar os desafios do mun-
do contemporneo em que, paradoxalmente, ao lado da
secularizao assistimos a uma busca intensa, por parte
das pessoas, tanto de desenvolvimento da religiosidade
como de insero em instituies religiosas. Imbudo de
tal propsito, o GT Psicologia & Religio da ANPEPP, em
parceria com o Programa de Mestrado e Doutorado em
Psicologia da Universidade Catlica de Braslia (UCB), re-
alizou em Braslia, em outubro de 2012, o VIII Seminrio
de Psicologia & Senso Religioso. A exemplo do ocorrido em
seminrios anteriores, os coordenadores do evento, Marta
Helena de Freitas (UCB) e Geraldo Jos de Paiva (USP-
SP), com a colaborao de Clia de Moraes (Arkamatra),
organizaram uma obra com os trabalhos apresentados no
evento, desta feita resultando em dois volumes: Psicologia
da Religio no Mundo Ocidental Contemporneo: Desafios
da Interdisciplinaridade, recentemente publicados pela
Editora da Universidade Catlica de Braslia.
O primeiro volume traz o texto completo de trs con-
ferncias que foram ministradas pelos convidados inter-
nacionais, tanto na verso original, em ingls ou francs,
como na verso em portugus, seguidas de seus respecti-
vos debates, tambm nas duas verses, ingls e portugus.
O primeiro captulo traz a conferncia de abertura
ministrada pelo filsofo, psiclogo e pesquisador Jeremy
Carrete (University of Kent Canterbury, Inglaterra)
Fundaes, Poder e Crtica: Repensando a Psicologia
da Religio com W. James, que consiste numa verdadei-
ra avaliao histrica e crtica do desenvolvimento da
Psicologia da Religio no mundo ocidental. Pautando-se
sobre as contribuies de Michel Foucault, que desvelou
a questo do poder na diviso da cincia em disciplinas,
Carrette aponta as vicissitudes do sculo XIX, ao longo
do qual, sob a vigncia da abordagem emprica e posi-
tivista, a psicologia ocupou o lugar de sujeito conhece-
dor do objeto religio, ou de objetos como religiosidade,
Deus, ritual religioso, com suas delimitaes precisas,
analisveis, mensurveis e passiveis de controle e dom-
nio. A partir disso, o autor sugere, portanto, um retorno a
William James, especialmente sua obra Os Princpios
(1890), a qual aponta a falibilidade e o carter provisrio
como condies do pensamento como tambm o valor
das crenas e iluses, propondo uma cincia pluralista,
que chamou de empirismo radical. Com estas bases, pro-
pe uma psicologia da religio pluralista, que considera
sua falibilidade enquanto cincia, o no conhecimen-
to ao lado do conhecido, a crena do observador atuan-
do no observado, lembrando que, no ato de criarmos ou
descobrirmos a realidade, esto vigentes nossas crenas
e nossas iluses.
O segundo captulo traz a conferncia proferida por
Denise Jodelet (cole des Hautes tudes en Sciences
Sociales EHESS, Paris): A Perspectiva Interdisciplinar
do Campo de Estudo do Religioso: Contribuio das Teorias
das Representaes Sociais. A autora chama a ateno
para a necessidade de maior interao entre as diversas
cincias sociais e a psicologia da religio. At o momen-
to estas disciplinas tm tido uma relao de justaposi-
o o que difere da interdisciplinaridade, pela qual as
interconexes levariam formao de novos conceitos,
interpretaes e instrumentos de anlises transversais.
Com este propsito, busca mostrar a potencialidade da
abordagem das representaes sociais, por ser particu-
larmente transversal e utilizada nas diferentes cincias
humanas e sociais, permitindo uma interao entre a
viso histrica, cultural, social e psicolgica do campo
250
R
e
s
e
n
h
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 249-251, jul-dez, 2013
Janana B. Oliveira & Maria de F. Gondim
de estudo do religioso. Em seus argumentos, recorre s
obras de seu expoente, Serge Moscovici que, ao debru-
ar-se sobre autores clssicos como Durkheim, Weber e
Simmel, concorda com a idia de ser a espiritualidade e
a f foras motrizes da formao social ou da sociedade.
Finalmente, o terceiro e ltimo captulo deste pri-
meiro volume traz a conferncia proferida pelo cien-
tista social Charles Watters (The State University of
New Jersey, Rutgers), intitulada Migrao, Identidade
Religiosa Psicossocial e Sade Mental no Sculo XXI.
Sendo o mundo contemporneo marcado por intensos
movimentos migratrios, o autor considera que tanto a
identidade religiosa como o pertencimento a um grupo
religioso, ambos respectivamente considerados como fa-
tores intrnseco e extrnseco da religio, so importantes
na manuteno da sade mental frente ao complexo pro-
cesso de desterritorializaco. Deste modo, nos processos
de urbanizao e migraes internas e externas, a iden-
tidade religiosa pode oferecer sustentao no processo
de mudana e novas aquisies de identidades urbanas.
A afiliao a grupos religiosos por sua vez enriquece ou
preserva o capital social entendido como diversidade,
quantidade, funes e significaes dos vnculos na rede
social do migrante. A autor aponta ainda o quanto as re-
des sociais tm sido positivamente relacionadas sade
mental em diversos estudos contemporneos.
Os debates que se seguem a cada um dos captulos
descritos acima foram respectivamente elaborados por
Geraldo Jos de Paiva (USP), Tnia Mara Campos de
Almeida (UnB) e Marta Helena de Freitas (UCB) e sus-
citam questes instigantes, fazendo ampliar a riqueza
deste primeiro volume, que, em seu conjunto, traz uma
discusso filosfica, epistemolgica e sociolgica para
pensarmos a psicologia da religio numa perspectiva
contempornea e interdisciplinar.
Quanto ao Volume II da referida obra (448p), re-
ne os trabalhos apresentados nas Mesas Redondas e
Sesses Coordenadas do evento citado, sendo cons-
titudo por dezenove captulos, distribudos em qua-
tros grandes tpicos: Religio e Vida Contempornea
no Mundo Ocidental, com dois captulos; Religio
e Interdisciplinaridade: Reflexes Epistemolgicas,
Resultados de Pesquisa e Relatos de Experincia, com
nove captulos; Religio, Imigrao e Sade Mental,
com quatro captulos; e Religio e Mundo Globalizado,
tambm com quatro captulos.
No primeiro tpico, o captulo um, de Norberto Abreu
e Silva Neto (USP, UnB e Academia Paulista de Psicologia)
trata das virtudes e do mundo contemporneo a partir de
anotaes sobre o movimento epicuriano, com reflexes
histricas e filosficas. J o captulo dois, de Gilberto
Safra (USP), aborda o papel da psicologia da religio e
da interdisciplinaridade para a compreenso das formas
contemporneas de subjetivao e adoecimento.
O segundo tpico inicia-se com o captulo trs, de au-
toria de Jos Francisco Miguel Henriques Bairro (USP),
e discute os desafios epistemolgicos e condicionantes
interdisciplinares para a psicologia em sua abordagem ao
tema da religio, no contexto acadmico e cientfico. O
texto aponta muitos aspectos que sero ento retomados
e aprofundados em captulos subsequentes deste mes-
mo tpico. Geraldo Jos de Paiva (USP-SP), por exemplo,
apresenta, no quarto captulo do livro, uma proposta de
dilogo consistente e receptivo entre a psicologia da reli-
gio e a sociologia da religio, ilustrando-a com pesquisas
realizadas no contexto brasileiro, em equipe multidisci-
plinar sob sua coordenao. No quinto captulo, Ednio
Valle (PUC-SP), aborda os desafios, as interfaces e as
perspectivas de dilogo entre a psicologia da religio e a
neuropsicologia, considerando os avanos das Cincias
Biolgicas nas ltimas dcadas e, mais especificamen-
te, pelas Neurocincias. O sexto captulo, de autoria de
Miguel Mahfoud (UFMG), discute a tenso constitutiva
entre a multiplicidade e a unidade do sujeito religioso,
de forma a estabelecer um produtivo dilogo entre a fi-
losofia antropolgica do telogo Luigi Giussani, a partir
de sua noo de experincia elementar, com as contri-
buies da Psicologia da Religio. Em seguida, Antnio
Avellar de Aquino (UFPB), no stimo captulo, estabelece
um dilogo entre Psicologia da Religio e Logoterapia de
Viktor Frankl. Segue-se o captulo oitavo, de autoria de
Maurcio S. Neubern (UnB), onde se discute as possibili-
dades de uma clnica ethnopsy e suas implicaes ticas
e prticas na atuao do psicoterapeuta e sua maneira de
lidar com a experincia religiosa de seus pacientes. O ca-
ptulo nono recebe contribuio de trs autoras, Tatiane
Regina Petrillo Pires de Arajo (UniCeub), Jlia Sursis
Nobre Ferro Bucher-Maluschke (UCB) e Marta Helena
de Freitas (UCB), onde apresentam o relato de uma pes-
quisa ilustrativa com casais participantes de um grupo
religioso, ilustrando as interconexes entre psicologia da
religio e psicologia conjugal e familiar. O dcimo cap-
tulo, de autoria de Luciana Fernandes Marques (UFRGS),
trata dos desafios da integrao da espiritualidade no
ensino superior, apresentando prticas educativas de
vrios cursos e atividades desenvolvidas em IES e res-
pectivas formas de organizao de seus espaos e expe-
rincias de contato com os alunos. J no captulo dcimo
primeiro, Hubertus Roebben (Universidade Tecnolgica
de Dortmund) apresenta reflexes educacionais e teol-
gicas sobre a experincia religiosa em sala de aula, de-
fendendo a ideia de crianas e jovens devem no apenas
ser ensinados a viver e aprender uns com os outros, mas
tambm tm o direito de adquirirem competncia para
estabelecerem os alicerces de suas prprias posies re-
ligiosas ou no religiosas.
O terceiro tpico inicia-se com o captulo 12, onde
Marta Helena de Freitas (UCB) apresenta e discute os re-
sultados de uma pesquisa exploratria sobre as relaes
entre religiosidade e sade mental em imigrantes na per-
cepo de psiclogos e psiquiatras dos servios de sade
mental ingleses e brasileiros. No captulo 13, Leila Bijos
251
R
e
s
e
n
h
a
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 249-251, jul-dez, 2013
Psicologia da Religio no Mundo Ocidental Contemporneo: Desafios da Interdisciplinaridade, 2013
(Marta Helena de Freitas; Geraldo Jos de Paiva & Clia Carvalho de Moraes, Orgs.)
(UCB), a partir de sua rica experincia no campo das re-
laes internacionais e por considerar a religio como um
importante elo de sustentao do imigrante, apresenta
vrios aspectos concernentes s implicaes do trnsito
migratrio, com nfase nas questes relativas afiliao
religiosa e suas influncias nos processos identitrios
de pessoas e comunidades de imigrantes. Em seguida, o
captulo 14, de Olga Sodr (GT Psicologia & Religio),
desenvolve o tema da migrao e desenvolvimento da ju-
ventude, onde analisa, de forma crtica, as consequncias,
sobre os jovens, das rupturas familiares, culturais e reli-
giosas provocadas pelo trnsito migratrio na contempo-
raneidade. Isto tem uma conexo direta com o captulo 15,
de autoria de James Farris (UMESP), que discute efeitos
de uma sociedade globalizada sobre as experincias re-
ligiosas como tambm as relaes entre religio, sincre-
tismo e magia no contexto das igrejas contemporneas,
luz dos temas da migrao e da transdisciplinaridade.
O quarto tpico inicia-se com o captulo 16, de Jos
Bizerril (UniCEUB), tratando da religio e do mundo glo-
balizado, mais especificamente da disperso global de
tradies religiosas antes locais e consideradas exti-
cas, e apontando seus potenciais impactos sobre as sub-
jetividades contemporneas. Em seguida, de autoria de
Wellington Zangari (USP), o captulo 17 faz consideraes
sobre a alterao de conscincia numa cultura globaliza-
da, focando a chamada mediunidade de incorporao
como exemplo de permanncia fenomenolgica entre
diferentes culturas e suas conexes com manifestaes
religiosas diversas. De forma complementar, no captulo
seguinte, de Francisco Martins (UCB e UnB) relata um
estudo psicopatolgico do delrio religioso megalmano
de um imigrante fundador de uma religio e uma comu-
nidade, ilustrando, desta forma o que ele chama de uma
situao em que o delrio pode ser muito bem sucedido
no mundo globalizado. Finalizando o ltimo tpico, com
o captulo 19, Jos Lisboa Moreira de Oliveira (UCB) apre-
senta, a partir das contribuies das cincias da religio,
reflexes sobre o processo de converso/desconverso re-
ligiosa no mundo globalizado.
Enfim, a leitura dos dois volumes desta obra um
convite a um verdadeiro banquete, apresentando um
cardpio saboroso e bem variado. Tendo como ponto de
partida a psicologia da religio, que se mantm como fio
condutor ao longo de toda a obra, nela o fenmeno reli-
gioso no mundo globalizado pode ser visto e pensado sob
diferentes perspectivas filosfico, sociolgico, cultural,
histrico e teolgico e com vistas s respectivas impli-
caes para os mais diferentes contextos de pesquisa e
atuao do psiclogo: terico, clnico, educacional, co-
munitrio, familiar, social, dentre outros.
Recebido em 13.09.13
Aceito em 29.11.13
N
O
R
M
A
S
P
A
R
A
P
U
B
L
I
C
A
O
.
.
.
.
.
Normas de Publicao da Revista da Abordagem Gestltica
255
N
o
r
m
a
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 255-259, jul-dez, 2013
O encaminhamento de artigos revista implica a acei-
tao, por parte dos autores, de todas as normas expres-
sas neste documento.
1. Poltica Editorial
A Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenolo-
gical Studies foi criada com o objetivo de ser um veculo
de publicao da Abordagem Gestltica, bem como da-
quelas abordagens que se fundamentam em bases teri-
co-cientficas e filosficas dentro das perspectivas hu-
manistas, fenomenolgicas e existenciais.
Atualmente, suas diretrizes editoriais procuram pri-
vilegiar reflexes numa perspectiva multiprofissio-
nal e interdisciplinar em torno dos seguintes temas: a)
Fenomenologia; b) Psicologia Fenomenolgica; c) Filosofias
da Existncia; d) Psicologias Humanistas e Existenciais;
e) Pesquisa Qualitativa em Cincias Humanas e Sociais.
Sero aceitos para apreciao artigos de pesquisa em-
prica e artigos tericos, que envolvam temticas relacio-
nadas sade em geral, educao, humanidades, filosofia
ou cincias sociais e antropolgicas.
2. Informaes Gerais
Os manuscritos sero submetidos apreciao do
Conselho Editorial para realizao de parecer tcnico
(em nmero mnimo de dois pareceres por proposta, ou
mais, quando necessrio). A editoria da revista lanar
mo (caso necessrio) de especialistas convidados na
qualidade de consultores ad hoc que podero sugerir
modificaes antes de sua publicao.
A editorao da Revista da Abordagem Gestltica
- Phenomenological Studies adota o sistema de double
blind review, que assegura o anonimato dos autores e dos
consultores durante o processo de avaliao. Sero con-
sideradas a atualidade e a relevncia do tema, bem como
a originalidade, a consistncia cientfica e o atendimento
s normas ticas.
A revista proporciona acesso pblico a todo seu con-
tedo, seguindo o princpio que tornar gratuito o aces-
so a pesquisas gera um maior intercmbio global de
conhecimento.
Os trabalhos devero ser originais, relacionados psi-
cologia, filosofia, educao, cincias da sade, cincias
sociais e antropolgicas, e se enquadrarem nas catego-
rias que se seguem:
Relato de pesquisa relato de investigao concluda
ou em andamento, com uso de dados empricos, metodo-
logia quantitativa ou qualitativa, resultados e discusso
dos dados. O manuscrito deve ter entre 15 e 25 laudas.
Reviso Crtica de Literatura anlise abrangente
da literatura cientfica. O manuscrito deve ter entre 15
e 25 laudas.
Estudo Terico ou Histrico anlise crtica de cons-
trutos tericos ou anlise de cunho histrico sobre um
determinado tema. Busca achados controvertidos para
crtica e apresenta sua prpria interpretao das informa-
es. O manuscrito deve ter entre 15 e 25 laudas.
Resenha anlise de obra recentemente publicada (no
mximo h dois anos). Limitada a 5 laudas.
O Conselho Editorial ou os consultores ad hoc ana-
lisam o manuscrito, sugerem modificaes e recomen-
dam ou no a sua publicao. Este procedimento pode
se repetir quantas vezes for necessrio. Cabe Comisso
Editorial definir o nmero de avaliaes necessrio para
cada artigo. A deciso sobre a publicao de um manus-
crito sempre ser da Comisso Editorial, que far uma
avaliao do texto original, das sugestes indicadas pelos
consultores e das modificaes encaminhadas pelo autor.
No encaminhamento da verso modificada do seu ma-
nuscrito, os autores devero incluir uma carta ao Editor,
esclarecendo as alteraes feitas, aquelas que no julga-
ram pertinentes e a justificativa. Pequenas modificaes
podero ser feitas pela Comisso Editorial para viabilizar
o processo de avaliao e publicao. Os autores recebe-
ro a deciso da publicao ou no do seu manuscrito e
a data provvel de publicao, quando for o caso. Os ma-
nuscritos recusados podero ser apresentados novamente
aps uma reformulao substancial do texto conforme in-
dicaes dos consultores e da Comisso Editorial e, neste
caso, sero encaminhados aos mesmos consultores que
revisaram o trabalho anteriormente.
3. Encaminhamento e Apresentao dos Manuscritos
Os manuscritos submetidos publicao devem ser
inditos e destinarem-se exclusivamente a esta revista,
no sendo permitida a sua apresentao simultnea em
outro peridico. Todos os trabalhos sero submetidos a
uma avaliao cega, por no mnimo dois pareceris-
tas, pares especialistas na temtica proposta.
NORMAS DE PUBLICAO DA REVISTA
DA ABORDAGEM GESTLTICA
ISSN 1809-6867 verso impressa
ISSN 1984-3542 verso on-line
Normas de Publicao da Revista da Abordagem Gestltica
256
N
o
r
m
a
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 255-259, jul-dez, 2013
A submisso do manuscrito dever ser realizada por
sistema eletrnico de gerenciamento do processo de pu-
blicao, disponvel em http://submission-pepsic.scielo.
br/index.php/rag/. Procedida submisso, os autores re-
cebero uma mensagem de confirmao. Os manuscri-
tos recebidos por correio convencional, fax, e-mail ou
qualquer outra forma de envio no sero apreciados pela
Comisso Editorial. No sero admitidos acrscimos ou
alteraes aps o envio dos manuscritos para o Conselho
Editorial, salvo aqueles por ele sugeridos.
As opinies emitidas nos trabalhos, bem como a exa-
tido e adequao das Referncias so de exclusiva res-
ponsabilidade dos autores.
A publicao dos trabalhos depender da observn-
cia das normas da revista e da apreciao do Conselho
Editorial, que dispe de plena autoridade para decidir
sobre a convenincia da sua aceitao, podendo, inclu-
sive, apresentar sugestes aos autores para as alteraes
necessrias.
Quando a investigao envolver sujeitos humanos,
os autores devero apresentar no corpo do trabalho
uma declarao de que foi obtido o consentimento dos
sujeitos por escrito (Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido) e/ou da instituio em que o trabalho foi re-
alizado (Comisso de tica em Pesquisa). Trabalhos sem
o cumprimento de tais exigncias no sero publicados.
Os autores sero notificados sobre a aceitao ou a re-
cusa de seus artigos, os quais, mesmo quando no forem
aproveitados, no sero devolvidos.
4. Forma de Apresentao dos Mauscritos
A Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenolo-
gical Studies adota, em geral, normas de publicao base-
adas no Manual de Publicao da American Psychological
Association (APA) 6 edio, 2012.
Os manuscritos podero ser redigidos em portugus,
ingls, francs ou espanhol.
4.1 Partes do Manuscrito
1. Folha de rosto identificada: a) ttulo do trabalho
em portugus; b) ttulo do trabalho em ingls; c) ttulo do
trabalho em espanhol; d) indicao da categoria na qual
o trabalho se insere (relato de pesquisa, estudo terico ou
histrico, reviso crtica de literatura, resenha); e) nome
completo e afiliao institucional dos autores (apenas
universidade); f) nome completo, endereo completo (in-
clusive CEP) e email de pelo menos um dos autores para
correspondncia com a revista e leitores. Esta dever ser
a nica parte do texto com a identificao dos autores,
para que seja garantido seu anonimato. ATENO: A
folha de rosto identificada deve ser enviada, no sistema,
como documento suplementar, separada do texto prin-
cipal. O texto principal deve iniciar com o item a seguir
(folha de rosto sem identificao).
2. Folha de rosto sem identificao: a) ttulo do tra-
balho em portugus; b) ttulo do trabalho em ingls; c)
ttulo em espanhol; d) indicao da categoria na qual o
trabalho se insere (relato de pesquisa, estudo terico ou
histrico, reviso crtica de literatura, resenha).
3. Folha de resumos: a) resumo em portugus; b)
palavras-chave em portugus; c) abstract (verso do re-
sumo para o ingls); d) keywords (verso das palavras-
-chave para o ingls); e) resumen (verso do resumo em
espanhol); e) palavras-clave. Resenhas no precisam de
resumo. Maiores especificaes no item a seguir.
Os trabalhos devero ser digitados em programa Word
for Windows, em letra Times New Roman, tamanho 12,
espaamento interlinear 1,5 e margens de 2,5 cm, em pa-
pel formato A4, perfazendo o total mximo de laudas, de
acordo com o tipo de publicao desejada (ver Informaes
Gerais), observadas as seguintes especificaes:
4.2 Especificaes do Manuscrito
a) Ttulo recomendado que o ttulo do artigo seja
escrito em at doze palavras, refletindo as principais
questes de que trata o manuscrito. Deve ser redigido
em fonte 14, centralizado e em negrito. A seguir, devem
vir, em itlico, centralizados e em fonte 12, os ttulos em
ingls e espanhol.
b) Epgrafe quando for necessria, poder ser apre-
sentada, em letra normal, com espaamento interlinear
simples, fonte 10, e alinhamento direita. O nome do
autor da epgrafe dever aparecer em itlico, seguido da
referncia da obra.
c) Resumo e Palavras-chave devero ser redigidos
em portugus, ingls e espanhol, em pargrafo nico,
espaamento interlinear simples, fonte 10, entre 120 e
200 palavras. As palavras-chave (descritores), de trs a
cinco termos significativos, devero remeter ao conte-
do fundamental do trabalho. Para a sua determinao,
consultar a lista de Descritores em Cincias da Sade
elaborada pela Bireme e/ou Medical subject heading
comprehensive medline. Todas as palavras devero ser
escritas com iniciais maisculas e separadas por ponto
e vrgula. Incluir tambm descritores em ingls (keywor-
ds) e espanhol (Palabras-clave).
d) Estrutura do manuscrito os trabalhos referentes
a pesquisas devero conter introduo, objetivos, meto-
dologia, resultados e concluso. O trabalho dever ser
redigido em linguagem clara e objetiva. As palavras es-
trangeiras e os grifos do autor devero vir em itlico.
e) Nomenclaturas e Abreviaturas usar somente as
oficiais. O uso de abreviaturas e de siglas especficas ao
contedo do manuscrito dever ser feito com sua indica-
o entre parnteses na primeira vez em que aparecem
no manuscrito, precedida da forma por extenso.
Normas de Publicao da Revista da Abordagem Gestltica
257
N
o
r
m
a
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 255-259, jul-dez, 2013
f) Notas de rodap devero ser numeradas conse-
cutivamente na ordem em que aparecem no manuscrito
com numerais arbicos sobrescritos e restritas ao mni-
mo indispensvel. No coloque nmeros de rodap nos
ttulos do texto.
g) Citaes devero ser feitas de acordo com as
normas da APA (6 edio, 2012). Em caso de transcri-
o integral de um texto com nmero inferior a quarenta
palavras, a citao dever ser incorporada ao texto entre
aspas duplas, com indicao, aps o sobrenome do autor
e a data, da(s) pgina(s) de onde foi retirado. Uma citao
literal com quarenta ou mais palavras dever ser desta-
cada em bloco prprio, comeando em nova linha, sem
aspas e sem itlico, com o recuo do pargrafo alinhado
com a primeira linha do pargrafo normal. O tamanho
da fonte deve ser 12, e o espaamento interlinear dever
ser 1,5 como no restante do manuscrito. A citao des-
tacada deve ser formatada de modo a deixar uma linha
acima e outra abaixo da mesma.
h) Referncias denominao a ser utilizada. No
use Bibliografia. As referncias seguem as normas da
APA (6 edio, 2012) adotando o sistema de citao au-
tor-data e so listadas em ordem alfabtica na lista de
referncias. A fonte dever ser formatada em tamanho
12, espaamento interlinear 1,5. O subttulo Referncias
dever estar alinhado esquerda. A primeira linha de
cada referncia inicia-se junto margem esquerda e as
linhas subsequentes recuam 0,75cm direita, utilizan-
do o recurso deslocamento do editor de texto. Verificar
se todas as citaes feitas no corpo do manuscrito e nas
notas de rodap aparecem nas Referncias e se o ano da
citao no corpo do manuscrito confere com o indicado
na lista final.
i) Anexos usados somente quando indispensveis
compreenso do trabalho, devendo conter um mnimo
de pginas (sero computadas como parte do manuscri-
to) e localizados aps Referncias.
j) Figuras e Tabelas devem surgir no corpo do tex-
to, diretamente no local considerado adequado pelo(s)
autor(es). Devem ser elaboradas segundo os padres de-
finidos pela APA, com as respectivas legendas e ttulos.
Ttulos de tabelas devem obedecer ao seguinte padro:
em linha isolada, coloque o nmero da tabela (Ex.: Tabela
1), sem ponto final. Na linha seguinte, coloque o ttulo
da tabela, em itlico, usando maisculas no incio das
palavras (Ex.: Nmeros Mdios de Respostas Corretas de
Crianas Com e Sem Treinamento Prvio). Ttulos de figu-
ras devem obedecer ao seguinte padro: coloque o nmero
da figura em itlico, seguido de ponto final. Logo em se-
guida, coloque o ttulo da figura, apenas com a primeira
letra do ttulo em maisculas. (Ex.: Figura 1. Frequncia
acumulada de sequncias de respostas corretas). Os t-
tulos das tabelas devero ser colocados no alto das mes-
mas, e os das figuras devero ser colocados abaixo das
mesmas. Encerre os ttulos de figuras com ponto final,
mas no os ttulos de tabelas.
4.3 Tipos comuns de citao no texto
Citao de artigo de autoria mltipla
a) dois autores
O sobrenome dos autores explicitado em todas as
citaes, usando e ou & conforme a seguir: O mtodo
proposto por Siqueland e Delucia (1969) ou o mtodo foi
inicialmente proposto para o estudo da viso (Siqueland
& Delucia, 1969)
b) de trs a cinco autores
O sobrenome de todos os autores explicitado na pri-
meira vez em que a citao ocorrer de acordo com o exem-
plo: Spielberger, Gorsuch, Siqueland, Delucia e Lushene
(1994) verificaram que. A partir da segunda citao, in-
clua o sobrenome do primeiro autor seguido da expresso
et al. (sem itlico e com um ponto aps o al). Omita o
ano de publicao na segunda citao em caso citaes
subsequentes em um mesmo pargrafo.
Caso as Referncias e a forma abreviada produzam
aparente identidade de dois trabalhos em que os co-au-
tores diferem, esses so explicitados at que a ambigui-
dade seja eliminada.
Na seo de Referncias, os nomes de todos os auto-
res devem ser relacionados.
c) com mais de cinco autores
Neste caso, faa a chamada apenas com o sobrenome
do primeiro autor seguido de et al. e do ano de publi-
cao na primeira e nas citaes subsequentes. Na seo
de Referncias, todos os nomes so relacionados.
Citao de autores com o mesmo sobrenome
Se uma lista de referncias possui publicaes de dois
ou mais autores principais com o mesmo sobrenome, in-
dique as iniciais do primeiro autor em todas as chamadas
do texto, mesmo que o ano de publicao seja diferente.
Citaes de trabalho discutido em uma fonte
secundria
Caso se utilize como fonte um trabalho discutido
em outro, sem que o texto original tenha sido lido (por
exemplo, um estudo de Flavell, citado por Shore, 1982),
dever ser usada a seguinte citao: Flavell (conforme
citado por Shore, 1982) acrescenta que estes estudantes...
Na seo de Referncias, informar apenas a fonte se-
cundria (no caso Shore, 1982), com o formato apropriado.
Sugere-se evitar, ao mximo, o uso de citaes ou re-
ferncias secundrias.
Citaes de obras antigas reeditadas
a) Quando a data do trabalho desconhecida ou mui-
to antiga, citar o nome do autor seguido de sem data:
Piaget (sem data) mostrou que... ou (Piaget, sem data).
b) Em obra cuja data original desconhecida, mas
a data do trabalho lido conhecida, citar o nome do au-
Normas de Publicao da Revista da Abordagem Gestltica
258
N
o
r
m
a
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 255-259, jul-dez, 2013
tor seguido de traduo ou verso e data da traduo
ou da verso: Conforme Aristteles (traduo 1931) ou
(Aristteles, verso 1931).
c) Quando a data original e a consultada so diferen-
tes, mas conhecidas, citar autor, data do original e data
da verso consultada: J mostrava Pavlov (1904/1980)
ou (Pavlov, 1904/1980).
As referncias a obras clssicas, como a Bblia e o
Alcoro, cujas sees so padronizadas em todas as
edies so citadas somente no texto e no na seo de
Referncias.
Citao de comunicao pessoal
Este tipo de citao deve ser evitada, por no ofere-
cer informao recupervel por meios convencionais.
Se inevitvel, dever aparecer no texto, mas no na se-
o de Referncias, com a indicao de comunicao
pessoal, seguida de dia, ms e ano. Ex.: C. M. Zannon
(comunicao pessoal, 30 de outubro de 1994).
4.4 Seo de Referncias
Genericamente, cada entrada numa lista de refern-
cias contm os seguintes elementos: autor, ano de publi-
cao, ttulo e outros dados de publicao importantes
numa busca bibliogrfica. Os autores so os responsveis
pelas informaes em suas listas de referncias.
Assim, organize a lista de referncias por ordem al-
fabtica dos sobrenomes do primeiro autor seguido pelas
iniciais dos primeiros nomes. Ordene letra por letra, lem-
brando-se de que nada precede algo: Brown, J. S, pre-
cede Browning, A. S., embora o i preceda o j no alfabeto.
Em casos de referncia a mltiplos estudos do mesmo
autor, organize pela data de publicao, em ordem cro-
nolgica, ou seja, do estudo mais antigo ao mais recente.
Referncias com o mesmo primeiro autor, mas com dife-
rentes segundos ou terceiros autores, devem ser organi-
zadas por ordem alfabtica dos segundos ou terceiros au-
tores (ou quartos ou quintos...). Os exemplos abaixo auxi-
liam na organizao do manuscrito, mas certamente no
esgotam as possibilidades de citao. Utilize o Manual de
Publicao da APA/American Psychological Association
(2012, 6 edio) para suprir possveis lacunas.
4.4.1 Exemplos de tipos comuns de referncia
Artigo em peridico cientfico
Informar nome e volume do peridico em itlico, em
seguida, o nmero entre parnteses, sobretudo quando
a paginao reiniciada a cada nmero.
Tenrio, C. M. D. (2003b). O Conceito de Neurose em
Gestalt-Terapia. Revista Universitas Cincias da Sade,
1(2), 239-251.
Garcia, C. A., & Rocha, A.P. R. (2008). A Adolescncia
como Ideal Cultural Contemporneo. Psicologia Cincia
e Profisso, 28(3), 622-631.
Artigos consultados em mdia eletrnica
Quando houver verso impressa (mesmo que em PDF,
usar regras anteriores).
Toassa, G., & Souza, M. P. R. de. (2010). As vivncias:
questes de traduo, sentidos e fontes epistemolgicas
no legado de Vigotski. Psicologia USP, 21(4). Recuperado
em Outubro de 2009, de http://www.marxists.org/archive/
luria/works/1930/child/ch06.htm
Evangelista, P. (2010). Interpretao Crtica da teoria de
Campo Lewiniana a partir da Fenomenologia. Centro de
Formao e Coordenao de Grupos em Fenomenologia.
Disponvel em http://www.fenoegrupos.com/JPM-Arti-
cle3/index.php?sid=14
Ribeiro, C. V. S., & Leda, D. B. (2004). O significado do
trabalho em tempos de reestruturao produtiva. Estudos
e pesquisas em psicologia [online], vol. 4, supl. 2 [citado
em 13 Abril, 2011], pp. 76-83. Disponvel em: http://pepsic.
bvsalud.org/pdf/epp/v4n2/v4n2a06.pdf
Livros
Fres-Carneiro, T. (1983). Famlia: diagnstico e terapia.
Rio de Janeiro: Zahar.
Captulo de livro
Aguiar, W. M. J., Bock, A. M. B., & Ozella, S. (2001). A
orientao profissional com adolescentes: um exemplo
de prtica na abordagem scio-histrica. Em M. B. Bock,
M. da G. M. Gonalves & O. Furtado (Orgs.), Psicologia
scio-histrica: uma perspectiva crtica em Psicologia
(pp. 163-178). So Paulo: Cortez.
Parlett, M. (2005). Contemporary Gestalt Therapy: Field
theory. Em A. L. Woldt & S. M. Toman (Eds.), Gestalt the-
rapy History, Theory, and Practice (pp. 41-63). California:
Sage Publications.
Livro traduzido em lngua portuguesa
Salvador, C. C. (1994). Aprendizagem escolar e construo
de conhecimento. (E. O. Dihel, Trad.) Porto Alegre: Artes
Mdicas. (Originalmente publicado em 1990)
Se a traduo em lngua portuguesa de um traba-
lho em outra lngua usada como fonte, citar a tradu-
o em portugus e indicar ano de publicao do traba-
lho original.
No texto, citar o ano da publicao original e o ano
da traduo: (Salvador, 1990/1994).
Normas de Publicao da Revista da Abordagem Gestltica
259
N
o
r
m
a
s
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological Studies XIX(2): 255-259, jul-dez, 2013
Obras antigas com reedio em data muito posterior
Franco, F. de M. (1946). Tratado de educao fsica dos
meninos. Rio de Janeiro: Agir (Originalmente publicado
em 1790).
Obra no prelo
No devero ser indicados ano, volume ou nmero de
pginas at que o artigo esteja publicado. Respeitada a
ordem de nomes, a ultima referncia do autor.
Conceio, M. I. G. & Silva, M. C. R. (no prelo). Mitos sobre
a sexualidade do lesado medular. Revista Brasileira de
Sexualidade Humana.
Autoria institucional
American Psychiatric Association (1995). DSM-IV, Ma-
nual Diagnstico e Estatstico de Transtornos Mentais (4
ed. Revisada). Porto Alegre: Artes Mdicas
Relatrio tcnico
Birney, A. J. & Hall, M. M. (1981). Early identification
of children with written language disabilities (relatrio
n. 81-1502). Washington, DC: National Education Asso-
ciation.
Trabalho apresentado em congresso, mas no
publicado
Haidt, J., Dias, M. G. & Koller, S. (1991, fevereiro). Disgust,
disrespect and culture: moral judgement of victimless
violations in the USA and Brazil. Trabalho apresentado
em Reunio Anual (Annual Meeting) da Society for Cross-
-Cultural Research, Isla Verde, Puerto Rico.
Trabalho apresentado em congresso com resumo
publicado em publicao seriada regular
Tratar como publicao em peridico, acrescentando
logo aps o ttulo a indicao de que se trata de resumo.
Silva, A. A. & Engelmann, A. (1988). Teste de eficcia de
um curso para melhorar a capacidade de julgamentos
corretos de expresses faciais de emoes [resumo].
Cincia e Cultura, 40 (7, Suplemento), 927.
Trabalho apresentado em congresso com resumo
publicado em nmero especial
Tratar como publicao em livro, informando sobre
o evento de acordo com as informaes disponveis em
capa.
Todorov, J. C., Souza, D. G. & Bori, C. M. (1992). Escolha e
deciso: A teoria da maximizao momentnea [Resumo].
In Sociedade Brasileira de Psicologia (org.), Resumos de
comunicaes cientficas, XXII Reunio Anual de Psico-
logia (p. 66). Ribeiro Preto: SBP.
Meneghini, R. & Campos-de-Carvalho, M. I. (1995). reas
circunscritas e agrupamentos seqenciais entre crianas
em creches [Resumo]. In Sociedade Brasileira de Psico-
logia (org.), XXV Reunio Anual de Psicologia, Resumos
(p. 385). Ribeiro Preto: SBP.
Teses ou dissertaes
Dias, C. M. A. (1994). Os distrbios da fronteira de conta-
to: Um estudo terico em Gestalt-Terapia (Dissertao de
Mestrado). Universidade de Braslia, Braslia.
Santos, A. C. (2008) A crtica de Sartre ao ego transcenden-
tal na fenomenologia de Husserl (Dissertao de Mestrado
em Filosofia). Centro de Cincias Sociais e Humanas,
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.
5. Direitos Autorais
Os direitos autorais dos artigos publicados pertencem
Revista da Abordagem Gestltica - Phenomenological
Studies. A reproduo total dos artigos dessa revista em
outras publicaes, ou para qualquer outra utilidade,
est condicionada autorizao por escrito do Editor da
Revista da Abordagem Gestltica.
Reproduo parcial de outras publicaes
Manuscritos submetidos apreciao que contiverem
partes de texto extradas de outras publicaes devero
obedecer aos limites e normas especificados para garan-
tir a originalidade do trabalho submetido.
Recomenda-se evitar a reproduo de figuras, ta-
belas e desenhos extrados de outras publicaes, mas
caso o autor opte por faz-lo dever apresentar as cartas
de permisso dos detentores dos direitos autorais para a
reproduo do material protegido e a incluso de cpias
dessas cartas junto ao manuscrito submetido. A permis-
so deve ser endereada ao autor do trabalho submetido
apreciao.
Em nenhuma circunstncia, a Revista da Abordagem
Gestltica - Phenomenological Studies e os autores dos
trabalhos publicados nessa revista podero repassar a
outrem os direitos assim obtidos.
6. Correspondncias
Editor
Revista da Abordagem Gestltica -
Phenomenological Studies
ITGT - Instituto de Treinamento e Pesquisa
em Gestalt-terapia de Goinia
Rua 1.128 n 165 Setor Marista / Goinia-GO
CEP: 74.175-130
Você também pode gostar
- Morte e Luto em JungDocumento27 páginasMorte e Luto em JungAndré BXimenes100% (5)
- Pornografia Da MorteDocumento148 páginasPornografia Da MorteThaiane AlvesAinda não há avaliações
- A Propósito Do Luto - Dr. Flávio GikovateDocumento2 páginasA Propósito Do Luto - Dr. Flávio GikovateCaroline BrandaliseAinda não há avaliações
- A Importância Dos Grupos de Autoajuda No Acompanhamento Terapêutico de Pessoas Com Transtornos Mentais e FamiliaresDocumento29 páginasA Importância Dos Grupos de Autoajuda No Acompanhamento Terapêutico de Pessoas Com Transtornos Mentais e FamiliaresVida Mental100% (1)
- Maria Julia Kovacs Org Morte e Desenvolvimento Humano Casa Do Psicologo 1992-2-1Documento132 páginasMaria Julia Kovacs Org Morte e Desenvolvimento Humano Casa Do Psicologo 1992-2-1Amanda FreitasAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Dor Hernia de DiscoDocumento6 páginasTrabalho Sobre Dor Hernia de DiscoJosiel AraújoAinda não há avaliações
- Resumo Psicomed 2 (Caderno Do Arth)Documento12 páginasResumo Psicomed 2 (Caderno Do Arth)Alexandre de FariasAinda não há avaliações
- Luto Estudos Sobre A Perda Na Vida AdultaDocumento4 páginasLuto Estudos Sobre A Perda Na Vida AdultaAlexanderAinda não há avaliações
- Música e PsicanálsieDocumento9 páginasMúsica e PsicanálsieFábio BeloAinda não há avaliações
- A Perda Gestacional e o Processo de LutoDocumento134 páginasA Perda Gestacional e o Processo de LutoDea Matos100% (2)
- A Depressão Na AdolescênciaDocumento9 páginasA Depressão Na AdolescênciaLuciana Correa BorelAinda não há avaliações
- O Luto e o Silêncio Da MorteDocumento5 páginasO Luto e o Silêncio Da MorteFrancisco Rafael Da Silva DiasAinda não há avaliações
- A Arte de Falar Da Morte para CriançasDocumento229 páginasA Arte de Falar Da Morte para CriançasHenrique Magalhães100% (1)
- Caso de LutoDocumento16 páginasCaso de LutoSDCAinda não há avaliações
- Luto e Melancolia - CorretopptDocumento25 páginasLuto e Melancolia - CorretopptTatiany SchiavinatoAinda não há avaliações