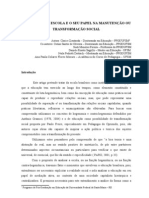Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mundo Imagens PDF
Mundo Imagens PDF
Enviado por
Rafael PereiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mundo Imagens PDF
Mundo Imagens PDF
Enviado por
Rafael PereiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Mundo das Imagens
Nise da Silveira
Quando se fala em ateli de pintura instalado num hospital psiquitrico, de
ordinrio supe-se duas alternativas.
Tratar-se-ia de um setor de teraputica ocupacional onde os doentes fariam
cpias de estampas vulgares, tentariam reproduzir objetos colocados diante de
seus olhos, decorariam vasos, cinzeiros, etc., sempre sob a orientao de um
tcnico. A criao espontnea seria habitualmente cerceada. Tal procedimento
sempre esteve fora de cogitao para ns.
Ou tratar-se-ia de anexo a um servio de psicoterapia analtica, no qual as
pinturas seriam utilizadas como ponto de partida para associaes verbais, aceito o
critrio de que as imagens constituem, segundo Freud, meio muito imperfeito para
as representaes tornarem-se conscientes. Seriam apenas dados para a busca
dos elos intermedirios que so recordaes verbais. S atravs dos elos verbais o
material reprimido, simbolizado nas imagens, chegaria ao consciente. Muitas vezes
nos perguntaram se seguimos essa diretriz no ateli do Museu de Imagens do
Inconsciente.
No nosso ateli, a pintura no entendida como "medium", tem valor prprio,
no s para pesquisas referentes ao obscuro mundo interno de esquizofrnico,
mas tambm no tratamento da esquizofrenia.
Atribumos grande importncia imagem em si mesma. Se o indivduo que
est mergulhado no caos de sua mente dissociada consegue dar forma s
emoes, representar em imagens as experincias internas que o transtornam, se
objetiva a perturbadora viso que tem agora do mundo, estar desde logo
despotencializando essas vivncias, pelo menos em parte, de suas fortes cargas
energticas, e tentando reorganizar sua psique dissociada.
A pintura dos esquizofrnicos muito rica em smbolos e imagens que
2
condensam profundas significaes e constituem uma linguagem arcaica de razes
universais. Linguagem arcaica, mas no morta. A linguagem simblica desenvolve-
se em vrias claves e pautas, transforma-se e transformadora.
Um dos objetivos principais de nosso trabalho o estudo dessa linguagem.
No nos preocupamos em fazer o debulhamento da imagem simblica, ou dissec-
la intelectualmente. Ns nos esforamos para entender a linguagem dos smbolos
colocando-nos na posio de quem aprende (ou reaprende) um idioma.
Procuramos ir at o doente. essa a nossa inteno, quando estudamos os
smbolos e seus paralelos na arqueologia, mitologia, histria da arte e das religies.
A fim de dar uma idia do que pode acontecer na condio denominada
ordinariamente esquizofrenia, citaremos Fernando: "... o mundo das imagens mudei
para o mundo das imagens mudou a alma para outra coisa as imagens tomam a
alma da pessoa."
So raras as verbalizaes explcitas. O indivduo cujo campo do consciente
foi invadido por contedos emergentes das camadas mais profundas da psique
estar perplexo, aterrorizado ou fascinado por coisas diferentes de tudo quanto
pertencia a seu mundo cotidiano. A palavra fracassa. Mas a necessidade de
expresso, necessidade imperiosa inerente psique, leva o indivduo a configurar
suas vises, o drama de que se tornou personagem, seja em formas toscas ou
belas, no importa.
Se o ambiente do ateli for livre de toda coao, se o doente encontrar a
suporte afetivo e em outros o desejo de aproximao, inicia-se no raro um
processo movido por foras instintivas de defesa em luta contra correntes
poderosas que se movem na direo das funduras no inconsciente. Decerto essas
foras autocurativas so derrotadas muitas vezes, entretanto nunca se apagam de
todo, mesmo nos casos mais graves.
Ser preciso estar de antenas ligadas e conhecer algo da linguagem dos
smbolos para acompanhar o processo que se desdobra em sries de imagens,
tornando "visvel o invisvel" (Paul Klee).
3
Os sonhos observados em sries, diz C. G. Jung, revelam surpreendente
repetio de motivos e a existncia de uma continuidade no fluxo de imagens do
inconsciente. Exatamente o mesmo acontece na expresso plstica dos psicticos
examinadas em sries, tomando-se em conta que, na produo da psique
dissociada, os contedos do inconsciente apresentam-se mais tumultuados e
imbricados uns nos outros, as imagens so mais estranhas e arcaicas que nos
sonhos. Entretanto, se dispusermos as pinturas em sries no ser necessrio
possuir pacincia extraordinria para encontrar o fio que lhes d sentido. Esta a
lio aprendida na escola viva que para ns o ateli de pintura.
Em decorrncia do avassalamento do consciente pelo inconsciente o
indivduo perde o contato com a realidade e desadapta-se no meio onde vive.
internado nos tristes lugares que so as instituies psiquitricas. O ateli de
pintura ser um osis, se o doente tiver a liberdade de exprimir-se livremente e a
relacionar-se afetivamente com algum que o aceite e procure entend-lo na sua
peculiar forma de linguagem. Entretanto fundamental no esquecer que as
imagens emergentes das camadas mais profundas da psique, por estranhas que
sejam, no so patolgicas em si mesmas, mas so inerentes s estruturas
bsicas da psique. O elemento patolgico no reside na presena dessas imagens,
mas na falncia do ego, que se tornou incapaz de controle sobre o inconsciente.
Acresce ainda que indivduos rotulados em hospcios como seres
embrutecidos e absurdos sejam muitas vezes capazes de criar formas comparveis
s produes de artistas socialmente reconhecidos. Eis um dos mistrios maiores
da psique humana.
4
A Linguagem Plstica Como Forma de Tratamento No-Verbal
Quando foi aberto o setor de pintura em 1946, na Seo de Teraputica
Ocupacional, a inteno era encontrar caminho de acesso ao mundo interior do
psictico, desde que com ele as comunicaes verbais apresentavam-se to
difceis e deixavam quase sempre o pesquisador do outro lado do muro. O
espantoso foi a verificao de que o ato de pintar podia adquirir por si mesmo
qualidades teraputicas, dando forma aos tumultos internos.
Se atualmente desenho e pintura so aceitos pela maioria dos pesquisadores
como mtodo diagnstico, a verdade que ainda no so muitos os que atribuem
eficcia teraputica ao ato de desenhar e de pintar.
A experincia do Museu comprova, porm, que desenho e pintura no s
constituem excelente meio de pesquisa, mas igualmente so instrumentos da maior
importncia teraputica.
As imagens do inconsciente objetivadas na pintura, tornam-se passivas de
um certa forma de trato, mesmo sem que haja ntida tomada de conscincia de
suas significaes profundas.
Retendo sobre cartolinas fragmentos do drama que est vivenciando
desordenadamente, o indivduo despotencializar figuras ameaadoras, conseguir
desidentificar-se de imagens que o aprisionavam. Estes so fenmenos que
podero acontecer num processo de autocura.
Um trabalho sinttico que reuna interpretao intelectual e emocional, de
regra na prtica com neurticos, torna-se enormemente difcil com os psicticos.
Nesses ltimos, as imagens vm de estratos muito profundos do inconsciente,
extremamente distante do consciente, revestem formas demasiado arcaicas e
estranhas e trazem consigo uma forte carga energtica. Antes de serem
despotencializadas, pelo menos em parte, de suas cargas energticas no haver
condio para apreend-las por meio de interpretaes. Isso s se tornar possvel
5
depois que passem por um processo de transformaes simblicas, e assim
possam aproximar-se do consciente.
A experincia tambm nos demonstra que a pintura pode ser utilizada pelo
doente como um verdadeiro instrumento para reorganizar a ordem interna e ao
mesmo tempo reconstruir a realidade. Os processos de autocura sero favorecidos
se o doente sentir-se livre no ateli, no se admitindo coao de qualquer espcie
nem a presena inoportuna de curiosos.
O indivduo que de sbito entra num confuso mundo mtico entender melhor
as linguagens daquele mundo que a linguagem das interpretaes racionais. Seria
preciso que o terapeuta se dedicasse com seriedade ao aprendizado das vrias
modalidades da linguagem simblica a fim de entender-se com seu doente no
mesmo idioma. Assim poder ajud-lo na tomada de conscincia de suas
estranhas experincias e na volta ao mundo real.
Compreender-se- ainda o valor teraputico que vir adquirir, na
esquizofrenia, a proposta, ao doente, de atividades j vivenciadas e utilizadas pelo
homem primitivo para exprimir suas violentas emoes.
Em vez dos impulsos arcaicos exteriorizarem-se desabridamente, lhe
oferecemos o declive que a espcie humana sulcou durante milnios para exprimi-
los: dana, representaes mmicas, pintura, modelagem, msica...Ser o mais
simples e o mais eficaz.
A comunicao com o esquizofrnico, nos casos graves, ter um mnimo de
probabilidade de xito se for iniciada ao nvel verbal de nossas ordinrias relaes
interpessoais. Isso s ocorrer quando o processo de cura j se achar bastante
adiantado. Ser preciso partir do nvel no verbal. a que se insere a teraputica
ocupacional, oferecendo atividades que permitam a expresso de vivncias no
verbalizveis por aquele que se acha mergulhado na profundeza do inconsciente,
isto , no mundo arcaico de pensamentos, emoes e impulsos fora do alcance das
elaboraes da razo e da palavra.
6
Afetividade na Esquizofrenia
Que validez ter o to arraigado conceito de demncia na esquizofrenia,
runa da inteligncia, embotamento da afetividade?
Decerto no se poderia esperar manifestaes exuberantes de afetividade
convencional da parte de pessoas que esto vivenciando desconhecidos estados
do ser em espao e tempo diferentes de nossos parmetros, o campo do
consciente avassalado por estranhssimos contedos emergentes da profundeza
da psique.
O esquizofrnico dificilmente consegue comunicar-se com o outro, falham os
meios habituais de transmitir suas experincias. E um fato que o outro tambm
recua diante desse ser enigmtico. Ser preciso que esse outro esteja seriamente
movido pelo interesse de penetrar no mundo hermtico do esquizofrnico. Ser
preciso constncia, pacincia e um ambiente livre de qualquer coao para que
relaes de amizade e de compreenso possam ser criadas. Sem a ponte desse
relacionamento a cura ser quase impossvel.
O afeto foi o ncleo de todas as atividades da Teraputica Ocupacional, no
s na pintura, mas tambm na encadernao, marcenaria, jardinagem, costura,
tapearia, etc.
Nosso ponto de vista que a volta realidade depende, em primeiro lugar,
de relacionamento confiante com algum, relacionamento que se ampliar
naturalmente.
A esquizofrenia uma condio patolgica muito grave, de cura quase
impossvel, repetem os psiquiatras, porm de ordinrio esquecem de acrescentar
que tambm quase impossvel reunir, no hospital psiquitrico, as condies
favorveis para ser tentado um tratamento eficaz.
7
Nessa apologia do afeto, no sejamos demasiado ingnuos, pensando que
ser fcil satisfazer as grandes necessidades afetivas de seres que foram to
machucados, e socialmente to rejeitados. Um deles escreveu:
"De que serve colher rosas
Se no tenho a quem ofert-las?"
O animal como co-terapeuta
Excelentes catalisadores so os co-terapeutas no humanos. Desde a
adoo da pequena cadela Caralmpia (1955) por um doente que freqentava uma
de nossas oficinas, verifiquei as vantagens da presena de animais no hospital
psiquitrico. Sobretudo o co rene qualidades que o fazem muito apto a tornar-se
um ponto de referncia estvel no mundo externo. Nunca provoca frustraes, d
incondicional afeto sem nada pedir em troca, traz calor e alegria ao frio ambiente
hospitalar. Os gatos tm um modo de amar diferente. Discretos, esquivos, talvez
sejam muito afins com os esquizofrnicos na sua maneira peculiar de querer bem.
Por iniciativa prpria, Abelardo construiu uma pequena casa de madeira, ao
lado da porta do atelier de modelagem, para servir de abrigo ao co sem dono que
por acaso vagabundeie pelos terrenos do hospital em noites frias. Esta casa de
cachorro foi representada em diversas telas pintadas ao ar livre, no morro onde fica
o atelier de modelagem, sinal que feriu a ateno e a sensibilidade dos outros
doentes. Abelardo, temido na enfermaria pela sua irritabilidade e grande fora
fsica, dedica-se a levar alimentos a ces e gatos abandonados dos quais somente
ele conhece os esconderijos.
A expresso verbal de Carlos era praticamente ininteligvel. As palavras
fluam em abundncia, freqentemente pronunciadas com veemncia, mas no se
8
ordenavam em proposies de significao apreensvel. O grande nmero de
neologismos tornava ainda mais difcil a compreenso de sua linguagem. O
caminho para o entendimento com Carlos fez-se por intermdio do animal.
Carlos e Sertanejo eram amigos inseparveis. O co, sem coleira e guia,
acompanhava Carlos em longas caminhadas pelos arredores do hospital, igreja
da parquia, ao cemitrio.
No dia 27 de agosto de 1965, logo que cheguei ao hospital, Carlos me disse:
- Quero dinheiro para despesas de Sertanejo. Perguntei espantada: - Que
despesas?, e Carlos respondeu: - gua oxigenada, mercrio cromo, gaze.
Sertanejo havia ferido uma das patas. Carlos fez as compras na farmcia prxima,
trouxe o troco certo do dinheiro que lhe dei, e com percia fez o curativo na pata de
Sertanejo.
Desde que existia polarizao intensa de afeto dirigida pelo desejo de
socorrer o amigo, tornava-se possvel retomar a linguagem verbal ordinria nem
que fosse por momentos. Sob a ao do afeto, os laos frouxos do pensamento
apertaram-se, permitindo comunicao com a exata pessoa que poderia ajudar
Dissociao/Ordenao - Mandala
Segundo a psiquiatria dominante, a ciso das diferentes funes psquicas
uma das caractersticas mais importantes da esquizofrenia. Seria de esperar, muito
logicamente, que as cises internas se refletissem na produo plstica dos
esquizofrnicos pela ruptura, pela fragmentao das formas.
Certo, a disjuno, a fragmentao achavam-se freqentemente presentes
na pintura dos esquizofrnicos de Engenho de Dentro. Este fenmeno
apresentava-se de mltiplas maneiras; desde os desenhos caticos, dissociao da
estrutura do corpo humano, desmembramentos, corpos sem cabea, sem braos
9
ou pernas, ou de rvores cortadas em pedaos, significando o despedaamento da
personalidade, traduo na linguagem da matria dos imponderveis fenmenos
de dissociao psquica.
Imagens circulares ou tendendo ao crculo, algumas irregulares, outras de
estrutura bastante complexa e harmoniosa, impunham sua presena na produo
espontnea dos freqentadores do ateli do hospital psiquitrico. A analogia era
extraordinariamente prxima entre essas imagens e aquelas descritas sob a
denominao de mandala em textos referentes a religies orientais. Uma escolha
de imagens desse tipo veio constituir o primeiro lbum do acervo do Museu de
Imagens do Inconsciente. Ali estava uma documentao reunida empiricamente,
mas as dvidas tericas permaneciam. Aquelas imagens seriam mesmo
mandalas? E em casos afirmativo, como interpret-las na pintura de
esquizofrnicos? Ento escrevi uma carta ao prprio C.G. Jung, enviando-lhe
algumas fotografias de mandalas brasileiras. A carta teve a data de 12 de
novembro de 1954 e a resposta. Escrita pela secretria e colaboradora de Jung,
Srta. Aniela Jaff, de 15 de dezembro de 1954:
"O Professor Jung pede-me para agradecer-lhe pelo envio das interessantes
fotografias de mandalas desenhadas por esquizofrnicos.
O Professor Jung faz diversas perguntas: que significaram esses desenhos
para os doentes, do ponto de vista de seus sentimento; o que eles quiseram
exprimir por meio dessas mandalas? Ser que esses desenhos tiveram alguma
influncia sobre eles?
O Professor Jung observou que os desenhos tm uma regularidade notvel,
rara na produo dos esquizofrnicos, o que demonstra forte tendncia do
inconsciente para formar uma compensao situao de caos do consciente. Ele
tambm notou que o nmero 4 (ou 8 ou 12, etc.) prevalece.
Queira receber a expresso de nossa alta considerao.
Ass.: Aniela Jaff"
10
Assim, as imagens do crculo pintadas em Engenho de Dentro davam forma
s foras do inconsciente que buscavam compensar a dissociao esquizofrnica.
Estvamos diante de uma abertura nova para a compreenso da esquizofrenia.
Como todo sistema vivo, a psique se defende quando seu equilbrio perturba-
se. As imagens circulares, ou prximas do crculo, do forma aos movimentos
instintivos de defesa da psique, aparecendo de ordinrio logo no perodo agudo do
surto esquizofrnico, desde que o doente tenha oportunidade de desenhar e pintar
livremente num ambiente acolhedor. Isso no indicar que, desde logo, ordem
psquica seja restabelecida. As imagens circulares exprimem tentativas, esboos,
projetos de renovao.
(Legendas para fotografias)
1.
O Museu de Imagens do Inconsciente participou do 2 Congresso
Internacional de Psiquiatria - Zurique, 1957. A exposio enviada pelo foi aberta por
C. G. Jung na manh de 2 de setembro. Ele visitou toda a exposio, detendo-se
particularmente na sala onde se encontravam as mandalas, fazendo sobre o
assunto comentrios e interpretaes.
2.
Este um gesto que por assim dizer resume a psicologia junguiana: apontar
para o centro, o self, simbolizado pela mandala. "O self o princpio e arqutipo da
orientao e do sentido: Nisso reside sua funo curativa".
11
Arqueologia da Psique
Aquele que estudar a psique em profundeza verificar, muitas vezes
surpreendido, estreitas semelhanas entre contedos emergentes do inconsciente
de indivduos contemporneos e achados da cincia arqueolgica.
Ao longo de sua obra Freud muitas vezes estabelece analogia entre a
anlise psquica e o trabalho do arquelogo. J nos primrdios da psicanlise, em
1892, Freud compara seu mtodo de investigao da etiologia da histeria s
pesquisas arqueolgicas. "Suponhamos que um explorador chega a regio pouco
conhecida, na qual despertam seu interesse runas constitudas de restos de
paredes e fragmentos de colunas e lpides com inscries quase apagadas e
ilegveis. Ele poder contentar-se em examinar a parte visvel, interrogar os
habitantes das cercanias, talvez semi-selvagens, sobre as tradies referentes
histria e significao daquelas runas monumentais, tomar nota de suas
respostas... e prosseguir viagem. Mas tambm poder fazer outra coisa: poder ter
trazido consigo instrumentos de trabalho, conseguir que os indgenas o auxiliem em
seu labor de investigao, e com eles atacar o campo das runas, praticar
escavaes e descobrir, a partir dos restos visveis, a parte sepultada."(1)
Em 1922, em A Psicanlise e a Teoria da Libido, Freud escreve: "No curso
de investigaes sobre a forma de expresso criada pela elaborao dos sonhos,
surgiu o surpreendente fato que certos objetos, situaes e relaes so
representados indiretamente, por smbolos, usados pelo sonhador sem que este
compreenda sua significao e para as quais, em regra no oferece associaes.
Sua traduo ter que ser feita pelo analista que somente a descobrir
empiricamente, adaptando-a experimentalmente no contexto. Mais tarde verificou-
se que usos lingsticos, mitologia e folclore apresentavam as mais amplas
analogias com os smbolos dos sonhos. Os smbolos levantam os problemas mais
12
interessantes e at ento no resolvidos. Parecem ser fragmentos de um
equipamento mental herdado, extremamente antigo. O uso de um simbolismo
comum estende-se muito para atrs do uso de uma linguagem comum."(2)
Noutro ensaio, A Civilizao e seus Desconfortos, de 1930, retoma a mesma
comparao. Imagina Roma vista num corte em profundeza conservada suas
diversas fases: a Roma quadrata, pequena colnia erguida sobre o monte Palatino;
a Roma dos Septimontium, que reunia a populao instalada sobre sete colinas;
depois a rea delimitada pela muralha de Srvio Tlio; a seguir a cidade cercada
pelas muralhas construdas pelo Imperador Aureliano e, posteriormente, cada fase
de transformao da cidade eterna, tudo preservado, todas as fases conservadas
intactas e no apenas runas esparsas, correspondentes a este ou quele perodo.
Assim seria a vida psquica do inconsciente. Seus contedos manter-se-iam
permanentemente iguais, nada se apagaria nem destruiria. No seu ltimo livro
Moiss e a Religio Monotesta (1938) Freud retoma e fortalece o tema da herana
arcaica. "O comportamento de uma criana neurtica em relao a seus pais, no
complexo de dipo e no complexo de castrao, apresenta-se injustificado em
certos casos e s pode ser compreendido filogeneticamente em relao a fatos
vividos por geraes anteriores. Valeria a pena reunir e publicar o material sobre o
qual me baseio para emitir esta hiptese. Creio que sua fora demonstrativa seria
suficiente para justificar outras suposies e poder afirmar que a herana arcaica
dos homens encerra no s predisposies, mas tambm traos de recordaes
vividas por nossos primeiros antepassados. Deste modo a extenso e a
importncia da herana arcaica aumentaria extraordinariamente."(3)
Portanto, permanecem gravadas sob as experincias do indivduo, as
experincias ancestrais. Estudando as marcas persistentes dessas experincias,
sem dvida Freud trabalhou com um arquelogo da psique.
Jung praticou, na psique, investigaes de tipo arqueolgico em dimenses
at ento ainda no realizadas. Suas principais descobertas fizeram-se na rea das
13
camadas subjacentes ao inconsciente pessoal, nas profundas camadas psquicas
que constituem o lastro comum a todos os homens e onde nascem as razes de
todas as experincias internas fundamentais, das religies, teorias cientficas,
concepes poticas e filosficas.
Desde o incio ele via o inconsciente num constante trabalho de revolver
contedos, de agrup-los e de reagrup-los. A imagem arquetpica representa no
somente alguma coisa que existiu num passado distante, mas tambm alguma
coisa que existe agora, isto , o arqutipo no exatamente um vestgio, mas um
sistema vivo funcionando no presente.
Mais tarde porm, atravs da experincia clnica, chegou concluso que
algo ainda mais importante acontecia: os contedos do inconsciente no se
mantinham necessariamente iguais para sempre. Eram susceptveis de
metamorfoses. O inconsciente sofre mudanas e produz mudanas, influencia o
ego e poder ser influenciado pelo ego.
Ser possvel acompanhar essas mudanas atravs dos sonhos, nos casos
individuais e nas imagens pintadas quando estudadas em sries, sobretudo nos
psicticos.
Caracterstica comum a muitas dessas pinturas a presena de um
simbolismo primitivo. Freqentemente nelas se constata qualidades arcaicas
inegveis que indicam a natureza das foras criativas que lhes esto subjacentes.
"Trata-se de correntes de foras irracionais produtoras de smbolos que fluem
atravs de toda a histria da humanidade, e so to arcaicas que no difcil
encontrar para elas paralelos na arqueologia e na histria comparada das
religies"(4). Podemos, portanto, admitir que essas imagens surgem das regies da
psique que Jung denominou inconsciente coletivo. Sob essa denominao, ele
entende um funcionamento psquico inconsciente comum a todos os homens, fonte
no s das pinturas simblicas modernas mas de toda produo similar do
passado. Essas imagens nascem de uma necessidade natural e vm satisfaz-la.
14
Tendo presentes esses dados, compreender-se- porque a psicologia
Junguiana no se interessa unicamente em fazer achados arqueolgicos nas
produes do inconsciente e em interpret-los como sobrevivncias de mundos
mais antigos. Afigura-se a esta psicologia ainda mais importante descobrir,
acompanhar, nessas produes, o contnuo processo de elaborao dos contedos
da psique.
1 Freud, S. O.C. I, 131 Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1967
2 -
3 Freud, S. O.C. III, 256 258
4 Jung, C. G. C.W.
15
"Do mesmo modo que o corpo humano um agrupamento completo de
rgos, cada um o termo de longa evoluo histrica, tambm devemos admitir na
psique organizao anloga.
Tanto quanto o corpo, a psique no poderia deixar de ter sua histria."
C.G.Jung
Neoltico
Raramente vi, talvez mesmo nunca haja visto, um s caso que deixasse de
recuar s formas de arte do neoltico ou revelar evocaes de orgias dionisacas."
C. G. Jung
Foi em barro, segundo convinha, o mais primordial dos materiais de trabalho,
que Adelina modelou as personagens assombrosas emergidas dos estratos mais
profundos do inconsciente. As figuras de Adelina so mulheres corpulentas,
majestosas. Caracterizam-se por um arcaismo que logo faz pensar nas deusas-
me da Idade da Pedra.
Rituais
Em linguagem psicolgica, Jung interpreta os rituais como recursos
instintivos de defesa para apaziguar a ansiedade diante das grandes foras
originadas na profundeza do inconsciente: "Com esse objetivo, o homem arcaico
construiu instintivamente as barreiras dos rituais, e ainda hoje, em situaes
psquicas de ameaadora desordem, os mesmos procedimentos so postos em
ao".
16
A idia de transformao e renovao por intermdio da serpente tem
fundamentos arquetpicos que podem ser encontrados, com freqncia, na histria
da humanidade. Animal que muda de pele e se renova, a serpente tambm
utilizada em rituais como instrumento de regenerao.
Mitos Egpcios
Desde milnios os homens jamais deixaram de tentar captar a imagem do
sol, esculpindo-a ou gravando-a em pedra, madeira, ou evocando sua imagem no
desenho ou na pintura. O astro foi um deus para nossos ancestrais e permanece o
smbolo de todas as foras celestes e terrestres, o regulador de todos os aspectos
da vida.
Sua venerao encontrada atravs dos tempos, alcanando grande
desenvolvimento, sobretudo no Egito, Peru, Mxico, pases onde a organizao
poltica e o culto do sol atingiram o apogeu. E, ainda em nossos dias, o sol
desperta inumerveis imagens e smbolos.
O Tema Mtico de Mithra
"Ver-se- um deus de imenso poder, face brilhante, jovem, cabelos
dourados, vestindo tnica branca e portando uma coroa de ouro, usando amplas
calas. Ver-se-o raios de luz saltarem de seus olhos e estrelas de seu corpo."
(Texto da Liturgia Mitraica)
No ltimo perodo da vida de Carlos, suas pinturas giraram cada vez mais em
17
torno do tema mtico do sol.
Ressaltam entre estas imagens, figuras masculinas de grandes propores
providas de coroas e outros atributos divinos bastante prximos de descries de
Mithra, deus indo-persa, dadas por seus adeptos.
Segundo narra o mito, foi Mithra quem instituiu o Sol governador do mundo
entregando-lhe o globo, smbolo de poder que ele prprio trazia na mo direita
desde o instante de seu nascimento.
Mithra um deus solar e heri cujo mito narra a dolorosa procura da
conscincia que o homem de todos os tempos vem representando sob mil faces.
O Tema Mtico de Dionisos
Nos profundos e intrincados labirintos da psique vivem ainda os deuses
pagos. Dois mil anos de cristianismo representam apenas a superfcie. Pesquisas
arqueolgicas e pesquisas psicolgicas so trabalhos paralelos feitos em reas
diferentes.
Dionisos manifesta-se em ntidas imagens sob mltiplos aspectos de sua
natureza dual jovem e velho, bissexuado, animalesco, orgistico, frentico, o
inventor do vinho, dom deste deus aos homens para ajud-los a provar, embora
fugazmente, a euforia da embriaguez e at mesmo o xtase religioso.
O Tema Mtico de Dafne
Apolo apaixona-se pela ninfa Dafne, filha do Rio Lado e da Me Terra. Ela
se esquiva, mas o deus no aceita ser recusado. Apolo persegue Dafne. Fugindo
sempre, a ninfa busca refgio junto de sua me, a terra, que a acolhe e a
metamorfoseia em vegetal.
18
O mito de Dafne exemplifica a condio da filha que se identifica to
estreitamente com a me, a ponto dos prprios instintos no lograrem desenvolver-
se.
Por estranho que parea, Adelina, modesta mestia do interior do Estado do
Rio, reviveu o mito da ninfa grega Dafne. Numa situao conflitiva, ela se rendeu e
disse: "Eu queria ser flor".
Alquimia
O trabalho alqumico freqentemente mal interpretado. Admitia-se que suas
manipulaes visavam ambiciosamente transmutar os metais vis em ouro.
Entretanto, os grandes alquimistas repetiam incessantemente que no buscavam o
ouro vulgar, mas o mistrio interno da arte de produzir ouro, o que significava
alcanar mais alto nvel de desenvolvimento.
motivo para reflexo que ainda hoje indivduos totalmente ignorantes do
opus alqumico projetem, quando tm oportunidade de configurar imagens, seus
contedos psquicos inconscientes em smbolos muito prximos daqueles utilizados
pelos alquimistas.
Obs.- Cada tema vem acompanhado de uma imagem com seu respectivo
paralelo (ver catlogo). Totalizam 14 fotografias, com legenda (crdito).
Você também pode gostar
- Antropologia Aplicada Ao Design de InterioresDocumento18 páginasAntropologia Aplicada Ao Design de InterioreseliabekostaAinda não há avaliações
- Trabalho de Fisica Nikolas TeslaDocumento10 páginasTrabalho de Fisica Nikolas TeslaMariana KülzerAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura - Leandro, Rei Da HelíriaDocumento4 páginasFicha de Leitura - Leandro, Rei Da Helíriaimartinsqtpalm88% (8)
- The Great Mage Returns After 4000 Years Volume 1 Capitulo 5Documento8 páginasThe Great Mage Returns After 4000 Years Volume 1 Capitulo 5XXX-nameAinda não há avaliações
- Dom Quixote Das Criancas Interpretacao.Documento3 páginasDom Quixote Das Criancas Interpretacao.MarcoPicoleTolomeotti33% (3)
- Português - Curso Básico (Apostila)Documento69 páginasPortuguês - Curso Básico (Apostila)maria eduarda araujo nunesAinda não há avaliações
- A Educação, A Escola e o Seu Papel Na Manutenção Ou Transformação SocialDocumento20 páginasA Educação, A Escola e o Seu Papel Na Manutenção Ou Transformação Socialevanildofernan_703830% (1)
- Artigo Psicologia em Artes MarciaisDocumento19 páginasArtigo Psicologia em Artes MarciaisFilippe XimenesAinda não há avaliações
- Empreendedorismo Unid1Documento79 páginasEmpreendedorismo Unid1Henrique Freitas PereiraAinda não há avaliações
- Contribuições Do Enfermeiro Do Trabalho Na Promoção Da Saúde Do TrabalhadorDocumento2 páginasContribuições Do Enfermeiro Do Trabalho Na Promoção Da Saúde Do TrabalhadorMarco Barros100% (1)
- Sermão de Santo Antonio-ResumoDocumento12 páginasSermão de Santo Antonio-ResumoClaudia Lazarini0% (1)
- 1998 Sinais Nao Verbais Do FlerteDocumento12 páginas1998 Sinais Nao Verbais Do FlerteO.L.D.E.Ainda não há avaliações
- Trabalho TCD ItqDocumento8 páginasTrabalho TCD ItqCristinaAinda não há avaliações
- Vínculos Do Indivíduo Com A Organização e Com o TrabalhoDocumento28 páginasVínculos Do Indivíduo Com A Organização e Com o TrabalhoMarcelo SoaresAinda não há avaliações
- Alexanian CelloDocumento2 páginasAlexanian CelloIsabelle Albuquerque100% (1)
- A Cidade Não para e A Memória Não PereceDocumento300 páginasA Cidade Não para e A Memória Não PereceMiguel Campos FilhoAinda não há avaliações
- Apostilas n.01 Noções de EstatísticaDocumento5 páginasApostilas n.01 Noções de EstatísticaCarlos Anjos AndreAinda não há avaliações
- QUITZAU GutsMuths Jahn PDFDocumento8 páginasQUITZAU GutsMuths Jahn PDFEvelise Amgarten QuitzauAinda não há avaliações
- Desigualdades Sociais em MocambiqueDocumento18 páginasDesigualdades Sociais em MocambiqueSergio Alfredo Macore100% (5)
- O Estado No Centro Da Mundialização PDFDocumento343 páginasO Estado No Centro Da Mundialização PDFfernandocprado100% (3)
- Defesa - Trabalho de Fim de Curso (Dércio Tsandzana)Documento25 páginasDefesa - Trabalho de Fim de Curso (Dércio Tsandzana)Dércio TsandzanaAinda não há avaliações
- Questão 36 - Da Pessoa Do Espírito Santo - Suma Teologíca - Sto. Tómas de AquinoDocumento18 páginasQuestão 36 - Da Pessoa Do Espírito Santo - Suma Teologíca - Sto. Tómas de AquinoSh-MikeAinda não há avaliações
- Apostila de Auditoria para Concursos PDFDocumento16 páginasApostila de Auditoria para Concursos PDFPaulo Henrique StaudtAinda não há avaliações
- O Mundo Está Muito ComplexoDocumento6 páginasO Mundo Está Muito ComplexoDagmar BarrosAinda não há avaliações
- O Poder Do Subconsciente - Cap 2Documento13 páginasO Poder Do Subconsciente - Cap 2lacerda703Ainda não há avaliações
- Transtextualidades: Das Complementações Do Modelo Semiótico-TextualDocumento13 páginasTranstextualidades: Das Complementações Do Modelo Semiótico-TextualEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- Aula 3 - TBNTDocumento40 páginasAula 3 - TBNTRafael Carvalho SilvaAinda não há avaliações
- O - Pedro - e - As - CoresDocumento36 páginasO - Pedro - e - As - Coresomxr100% (1)
- Teste 3 - Versão A (Turma H)Documento4 páginasTeste 3 - Versão A (Turma H)Alda Sofia SantosAinda não há avaliações
- Consideracoes Sobre A Subjetividade o Corpo e As Estrategias Na Pesquisa Antropolgica 2Documento17 páginasConsideracoes Sobre A Subjetividade o Corpo e As Estrategias Na Pesquisa Antropolgica 2jeffeson2001silvaAinda não há avaliações