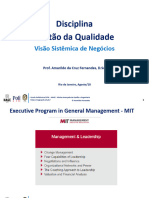Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Vínculos Organizacionais PDF
Vínculos Organizacionais PDF
Enviado por
Paula Stephania FerreiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Vínculos Organizacionais PDF
Vínculos Organizacionais PDF
Enviado por
Paula Stephania FerreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev.
2007
Vnculos organizacionais*
Gustavo Garcez Kramer**
Jos Henrique de Faria***
SUMRI O: 1. Introduo; 2. Caracterizao da organizao pesquisada;
3. Vnculos organizacionais; 4. Consideraes finais.
SUMMARY: 1. Introduction; 2. Characterization of the researched organiza-
tion; 3. Organizational ties; 4. Final considerations.
PALAVRAS- CHAVE: vnculos organizacionais; comprometimento; compor-
tamento organizacional; administrao de pessoas; cooperao.
KEY WORDS: organizational ties; commitment; organizational behavior;
people management; cooperation.
Este artigo um estudo de caso nico, realizado junto a uma organizao
pblica municipal de Curitiba, e tem como objetivo investigar e compreender
os vnculos organizacionais. O estudo dos vnculos feito por meio dos seus
elementos constitutivos: a identificao, o sentimento de pertena, a cooper-
ao, a participao, a criao de inimigos, a idealizao, o reconhecimento e
valorizao dos indivduos, a solidariedade, a integrao, o crescimento e desen-
volvimento pessoal e profissional e a autonomia. Foram utilizados, como ins-
trumentos de coleta, questionrio fechado e anlise documental. O resultado
dessa pesquisa a caracterizao dos elementos que so importantes na for-
* Artigo recebido em jun. 2004 e aceito em dez. 2005.
** Professor e coordenador do conselho editorial da Revista Contempornea de Cincias Sociais
Aplicadas das Faculdades Planalto (Faplan). Mestre em adminstrao de empresas pela UFPR e
graduado em psicologia pela Unisinos. Endereo: Rua Olinto Pimentel, 82 CEP 95300-000,
Lagoa Vermelha, Brasil. E-mail: gustavo@faplan.edu.br.
*** Professor titular doutor da UFPR. Doutor em administrao pela USP, mestre em administra-
o pela UFRGS e graduado em cincias econmicas pela FAE. Endereo: Rua Lothrio Meiss-
ner, 3400, sala 02N.22 Jardim Botnico CEP 80210-170, Curitiba, PR, Brasil. E-mail:
jhfaria@ufpr.br.
84 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
mao e manuteno dos vnculos e, conseqentemente, para o comprometi-
mento dos empregados com os objetivos, polticas, problemas, desempenho e
resultados da organizao.
Organizational ties
This article presents a unique case study of the organizational ties in a public
municipal organization in the city of Curitiba, Brazil. The ties are studied
through their constitutive elements: identification, sense of belonging, coop-
eration, participation, creation of enemies, idealization, recognition and
appreciation of individuals, solidarity, integration, professional and personal
development and growth, and autonomy. Documental analysis and closed
questionnaires were used for data collection. The research resulted in the
characterization of the elements that are important in making and keeping
ties, and consequently committing employees to the organizations objectives,
policies, problems, performance and results.
1. Introduo
Toda organizao procura trabalhar de acordo com um conjunto de objeti-
vos. Porm, nem sempre os objetivos conscientemente formulados so
realizados da maneira planejada. A presena de fatores que no compem o
planejamento e que dificultam a consecuo de objetivos bastante comum.
A conscincia dos indivduos de que devem executar uma tarefa pode ser obli-
terada por fenmenos ou situaes que emergem das relaes interpessoais e
da interao entre indivduos e organizao.
A idia de que a organizao, composta por indivduos e grupos, possui
um plano consciente e explcito, que indica a sua finalidade e representado
pelo planejamento, objetivos, estrutura organizacional etc., e um plano no-
consciente e no-planejado, que pode ser caracterizado pelos vnculos, confli-
tos, temores, relaes interpessoais, idealizaes, desejos do poder, sentimentos
de inveja, de vaidade, de identificao etc., compartilhada por diversos auto-
res (Bion, 1970; Bleger, 1989; Enriquez, 2001; Pichon-Rivire, 1998).
O fato de um indivduo estabelecer vnculos com a organizao no ga-
rante que os objetivos sero realizados sem percalos, mas o compromete
com o desempenho e com os resultados alcanados, uma vez que ele se sente
efetivamente identificado, pertencente e participante da organizao.
Portanto, o objetivo desta pesquisa investigar as caractersticas dos
vnculos que se estabelecem entre indivduos e organizao por meio dos ele-
mentos que os constituem. De forma geral, vincular-se significa estabelecer
uma relao, um elo com algo ou algum. De forma mais especfica, o vn-
V ncul os Organi z aci onai s 85
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
culo organizacional uma relao que o indivduo estabelece a partir do seu
trabalho, denotando o seu grau de ligao com a organizao, o grau de en-
volvimento com os seus projetos e objetivos, assim como o comprometimen-
to com seus problemas, polticas, desempenho e resultados.
2. Caracterizao da organizao pesquisada
De acordo com Faria (1985), a organizao uma associao estruturada, comple-
xa e contraditria composta por indivduos, grupos sociais, classes, fraes ou seg-
mentos de classes sociais, que agem no sentido de realizar objetivos especficos.
Como uma associao estruturada, as organizaes propiciam aos indivduos se re-
lacionarem, conviverem, interagirem e se reconhecerem como seres sociais.
possvel afirmar que cada organizao possui uma configurao singu-
lar que a caracteriza e influencia o comportamento dos indivduos (Chanlat,
1996). Essa configurao traduz as exigncias do ambiente, os objetivos e es-
tratgias organizacionais, a cultura local, as caractersticas de cada indivduo e
dos grupos que eles formam, as interaes interpessoais e as relaes entre em-
pregados e organizao, incluindo os vnculos.
A organizao Alfa (nome fictcio) uma autarquia da Prefeitura Muni-
cipal de Curitiba (PMC), que produz, pesquisa e compartilha conhecimento
sobre gesto com os rgos governamentais.
A Alfa oferece consultoria em gesto para todos os rgos municipais,
promove cursos, seminrios e outros eventos de capacitao e responsvel
pela elaborao de publicaes anuais gerenciais do municpio de Curitiba.
A organizao conta, aproximadamente, com 100 servidores e possui
duas unidades principais: a diretoria administrativa financeira e a superinten-
dncia tcnica. A primeira responsvel pelo funcionamento e pelas rotinas da
Alfa, na qual esto, entre outros, os setores de recursos humanos, de contabili-
dade, de licitaes e de apoio administrativo. A segunda formada pelos cha-
mados tcnicos, que, por sua vez, se dividem em dois grupos: um trabalhando
internamente, nas reas de planejamento, capacitao de pessoas e desenvolvi-
mento institucional, e outro atuando externamente, prestando consultoria em
gesto aos rgos municipais.
3. Vnculos organizacionais
Uma organizao pode ser vista como uma reunio de pessoas que cumprem
determinada funo para a realizao de objetivos, que devem ser consoan-
tes com a misso ou finalidade organizacional, que designa a razo de existir
da organizao: a sua identidade (Kanaane, 1999; Tavares, 2000; Certo e
86 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
Peter, 1993; Wright, Kroll e Parnell, 2000). Estritamente, os objetivos no po-
dem ser considerados um projeto comum, no entanto, no desempenho dirio
das atividades, acabam se tornando uma tarefa de todos e, dessa forma, um
projeto comum.
O indivduo v seu desejo e sua existncia reconhecidos pelas relaes que
mantm com o outro no jogo de identificaes (Chanlat, 1996). na relao com
o semelhante que o indivduo se constitui, se reconhece, satisfaz ou no seus de-
sejos. Na medida em que a organizao constituda por pessoas, torna-se ine-
rente ao seu funcionamento a interao afetiva entre seus membros (Zimerman,
1997a). Portanto, a relao com o outro abarca as interaes afetivas que ocor-
rem na organizao e supe o estabelecimento de algum tipo de vnculo entre os
participantes, pois, se os indivduos convivem e interagem na organizao, vli-
do supor que eles tambm se vinculam entre si e com a organizao.
relevante mencionar que os pequenos grupos tendem a reproduzir as
caractersticas socioeconmico-polticas, a dinmica psicolgica, os conflitos e
as emoes dos grandes grupos (Pags, 1976; Zimerman, 1997a). Analoga-
mente a essa idia, considera-se neste artigo que os indivduos tendem a repro-
duzir, por meio de suas atitudes, de seu comportamento e, principalmente, de
suas opinies, as caractersticas das organizaes das quais so membros.
Elementos constitutivos dos vnculos organizacionais
O vnculo uma estrutura na qual esto includos um indivduo, um objeto e
uma relao particular entre eles do indivduo ante o objeto e vice-versa ,
ambos cumprindo determinada funo (Pichon-Rivire, 2000). Portanto, o
vnculo uma relao particular com o objeto que resulta numa pauta de con-
duta, que se traduz na forma observvel do vnculo, sendo possvel identi-
ficar nela (na conduta) a sua expresso (vnculo). Logo, a forma como um
indivduo se comportar na organizao (objeto) est diretamente relaciona-
da com o estabelecimento de vnculos entre ambos.
Identificao com a organizao
Conforme Freitas (2000), as pessoas se renem em grupo para realizar um
projeto comum, e, nesse processo, atuam dois mecanismos psicolgicos: a
identificao e a idealizao do grupo e do projeto. Portanto, as pessoas, tra-
balhando reunidas pelos objetivos da organizao, tendem a lanar mo do
mecanismo de identificao. A idealizao tambm um elemento constituti-
vo dos vnculos organizacionais.
V ncul os Organi z aci onai s 87
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
Os elementos constitutivos dos vnculos organizacionais
e seus componentes
5 Admirao da organizao
Viabilizao dos projetos pessoais
Representar a organizao
Gratificao com o trabalho
5
5
5
5 Motivao para o trabalho
5 Orgulho de pertencer
5
5
5
5
Sentir-se um membro
Sentir-se responsvel pela organizao
Tempo de organizao
Reao a crticas
5 Cooperao entre colegas
5
5
5
5
Cooperao quanto ao tempo
Cooperao quanto aos resultados
Cooperao conflitos interpessoais
Cooperao estrutura
versus
versus
5 Participao em questes sobre trabalho
5
5
5
Participao em questes sobre a organizao
Canais de participao
Abertura participao
5 Imagem da organizao
5
5
5
5
Conceito de organizao
Ambiente de trabalho
Colegas de trabalho
Relaes com superiores
5 Disposio para dividir problemas com colegas
5
5
Iniciativa para ajudar o colega
Considerao pelos problemas alheios
5 Integrao e dificuldades
5
5
5
5
Planejamento das atividades
Trabalho em equipe
Integrao em momentos de confraternizao
Conhecimento da organizao
5 Incentivo qualificao
5
5
Plano de carreira
Preparao para o trabalho
5 Autonomia para definir como trabalhar
5
5
5
Autonomia para definir prazos
Controle sobre o trabalho
Remunerao
Autonomia
Crescimento e
desenvolvimento pessoal
e profissional
Integrao entre os
membros
Solidariedade
Reconhecimento e
valorizao dos
indivduos
Idealizao da
organizao
Criao de inimigos
Participao nas
decises
Cooperao nas
atividades
Sentimento de pertena
Identificao com a
organizao
Elementos
constitutivos dos
vnculos
organizacionais
5 Reconhecimento e valorizao do prprio trabalho
5
5
5
Polticas de reconhecimento e valorizao
Respeito pelo indivduo
Remunerao
5 Inimigos externos
5 Inimigos internos
88 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
Pichon-Rivire (1998) define trs momentos que caracterizam qual-
quer grupo humano e, por conseguinte, qualquer organizao. O primeiro in-
clui os fenmenos de afiliao e identificao, os quais se transformam em
pertena, quando h uma maior integrao do indivduo ao grupo. O segun-
do momento a cooperao, que se traduz na contribuio do indivduo para
a tarefa grupal. A pertinncia se constitui no terceiro aspecto e consiste em
centrar-se no grupo e na tarefa. A identificao, o sentimento de pertena, a
integrao e a cooperao so componentes dos vnculos organizacionais e
esto intimamente relacionados entre si.
Neste artigo, a identificao com a organizao visualizada por meio
dos seguintes aspectos: admirao, viabilizao dos projetos pessoais, sentir-
se um representante e sentir-se gratificado e motivado no local de trabalho.
Admirao da organizao. Este aspecto avalia em que grau os servidores
admiram a Alfa como local de trabalho. A totalidade dos entrevistados admira a
organizao pelo menos algumas vezes e 95,9% consideram-na exemplar pelo
menos em alguns pontos. Tem-se um alto grau de concordncia nas percep-
es, o que um forte indicativo de identificao, pois o sentimento de admira-
o possibilita e incentiva o processo identificatrio.
Viabilizao dos projetos pessoais. Este item demonstra em que medida
a organizao permite que seus funcionrios realizem os seus projetos pes-
soais. Verifica-se que apenas 8,2% dos indivduos consideram que a Alfa no
viabiliza a realizao dos mesmos. Isso indica que, pelo menos em algum
grau, a organizao consegue conciliar o desempenho de funes, visando os
objetivos organizacionais, com os interesses individuais.
Representar a organizao. Sentir-se um representante expressa um for-
te sentimento de ligao. A maioria dos entrevistados (61,2%) se sente repre-
sentante da Alfa em quaisquer circunstncias, permitindo inferir um alto grau
de identificao dos servidores com a organizao.
Gratificao com o trabalho. Expressa em que medida o trabalho pro-
porciona gratificao aos indivduos. Uma pessoa, cujo trabalho lhe propor-
ciona gratificao, tende a criar uma relao positiva com a organizao,
identificando-se com ela. Observa-se que 91,8% dos servidores da Alfa ava-
liam que o trabalho lhes proporciona gratificao em algum grau par-
cial, satisfatrio ou pleno.
Motivao para o trabalho. Visa identificar a motivao dos indivduos
para o trabalho, distinguindo a motivao gerada pela organizao da intrn-
seca prpria pessoa. Constata-se que a motivao intrnseca para o trabalho
significativamente mais forte do que as condies oferecidas pela Alfa para
motivar os indivduos. Apenas 22,4% das pessoas afirmam que a organizao
sempre proporciona condies para motiv-las. No entanto, 53,1% dos entre-
V ncul os Organi z aci onai s 89
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
vistados reconhecem que se sentem sempre motivados, independente das
condies oferecidas pela organizao. Esses nmeros demonstram que os in-
divduos apresentam um ndice significativo de motivao prpria, que pode
ser gerado por fatores pessoais, como o gosto pelo trabalho ou a identifica-
o com a organizao, ou por fatores do ambiente, que no esto diretamen-
te ligados com a motivao, como os relacionamentos interpessoais.
Sentimento de pertena
por meio do sentimento de pertena que os indivduos sentem-se membros
efetivos da organizao; ele que permite estabelecer a identidade da organi-
zao e de cada um como seu integrante.
Identificao e pertena esto muito prximos. Conforme Pichon-Rivi-
re (1998), a identificao se transforma em pertena quando h uma maior
integrao do indivduo ao grupo. Logo, o sentimento de pertena traduz a
integrao e identificao com a organizao e com as pessoas.
O sentimento de pertena compreendido por meio dos seguintes as-
pectos: orgulho de pertencer, sentir-se membro, sentir-se responsvel, tempo
de organizao e reao a crticas.
Orgulho de pertencer. Este item tem como objetivo avaliar se o indivduo
sente orgulho de pertencer organizao, desejando ser reconhecido como um
dos seus membros. Observa-se que 79,6% dos entrevistados sentem orgulho de
pertencer Alfa o tempo todo ou a maior parte do tempo.
Sentir-se um membro. Expressa em que medida os indivduos se sen-
tem membros da organizao na qual trabalham, ou seja, se se sentem reco-
nhecidos pelos prprios colegas e pelas pessoas externas como indivduos
que pertencem quela organizao. Constata-se que 77,6% dos entrevista-
dos se sentem membros da Alfa o tempo todo ou freqentemente.
Sentir-se responsvel pela organizao. Demonstra com que assiduidade
os indivduos responsabilizam-se pela organizao, pelo seu funcionamento e
resultados. Observa-se que 100% dos servidores da Alfa se sentem respons-
veis pelo seu desempenho, problemas, objetivos e polticas, o que indica um
forte sentimento de pertena.
Tempo de organizao. Este aspecto busca relacionar o tempo de traba-
lho com a formao e o fortalecimento da ligao do indivduo com a organi-
zao. A maioria dos entrevistados (40,8%) acredita que o tempo de trabalho
na Alfa fortalece a ligao com ela, pois a organizao tende a se tornar uma
segunda casa e os colegas, uma segunda famlia.
Reao a crticas. um indicador do sentimento de pertena na medida
em que avalia de que forma o indivduo reage quando a organizao, qual
90 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
ele pertence, sofre crticas. Observa-se que 91,8% dos entrevistados se colo-
cam na posio de defender a organizao, sendo que 65,3% s defendem se
avaliarem que a crtica injusta. Isso demonstra, ao mesmo tempo, uma liga-
o com a Alfa e uma conscincia de que existem aspectos que so passveis
de crticas.
Cooperao nas atividades
A cooperao uma forma especfica do processo de produo capitalista
(Faria, 1987) e se traduz na contribuio para a tarefa grupal (Pichon-Rivi-
re, 1998), ou seja, o que cada um faz para que o trabalho de todos, dentro
da organizao, tenha uma funo e um objetivo, gerando algum resultado.
O elemento cooperao torna mais gil, mais eficiente e mais simples a
realizao das atividades. Indica se h um sentimento de grupo na organiza-
o e se os indivduos se unem a fim de cumprir os seus objetivos.
A cooperao pode ser visualizada por meio dos aspectos a seguir.
Cooperao entre colegas. Expressa com que assiduidade as pessoas aju-
dam umas s outras, contribuindo direta ou indiretamente para a realizao
de uma tarefa. Constata-se que mais de 75% dos entrevistados recebem al-
gum tipo de auxlio sempre ou freqentemente, seja para realizar uma ativi-
dade, para sanar uma dvida ou resolver uma dificuldade.
Cooperao quanto ao tempo. Tem como objetivo avaliar o nvel de coo-
perao entre os indivduos a partir do cumprimento das tarefas nos prazos
predefinidos. Observa-se que 93,8% das vezes as tarefas so realizadas den-
tro dos prazos sempre ou freqentemente. Isso sugere que existe na Alfa um
grau significativo de cooperao entre os servidores no sentido de realizar os
trabalhos de acordo com os prazos.
Cooperao quanto aos resultados. Visa verificar o grau de cooperao
entre as pessoas a partir da qualidade dos resultados do trabalho. A maioria
dos entrevistados (89,8%) avalia como bons ou excelentes os produtos do tra-
balho. Mais uma vez, h indicao de cooperao entre os indivduos.
Cooperao versus conflitos interpessoais. Demonstra at que ponto os
conflitos interpessoais atrapalham a realizao adequada das tarefas. Impli-
citamente, busca-se compreender se os interesses ou diferenas pessoais se so-
brepem ou no cooperao. Constata-se que 85,7% dos servidores observam
conflitos interpessoais apenas em algumas situaes, e 35,6% afirmam que tais
conflitos prejudicam a realizao das tarefas sempre ou freqentemente.
Cooperao versus estrutura (diviso setorial). O item em questo visa re-
lacionar a forma como a organizao dividida internamente, em setores ou
V ncul os Organi z aci onai s 91
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
departamentos, com o grau de cooperao entre os indivduos. Observa-se que
67,4% dos entrevistados acreditam que somente s vezes ou nunca a estrutura
atual da Alfa prejudica a integrao e cooperao. Isso indica que a estrutura
da organizao no percebida como um empecilho para a cooperao.
Participao nas decises
A participao dos trabalhadores na gesto surge no contexto organizacional
como uma forma de garantir o desempenho e a produtividade das empresas,
influenciados negativamente devido monotonia, ao tdio, execuo de tare-
fas repetitivas, rotatividade da mo-de-obra, aos altos ndices de absentesmo
etc. (Faria, 1985). A participao indica o grau de controle que o conjunto dos
empregados possui sobre os elementos objetivos da gesto do trabalho (econ-
micos ou tcnicos e poltico-ideolgicos) e, conseqentemente, a capacidade de
definir e realizar seus interesses especficos (Faria, 1987). O controle pelos tra-
balhadores dos elementos da gesto tende a implicar uma participao formal
nas decises.
A participao importante na formao e manuteno dos vnculos,
pois proporciona aos indivduos a possibilidade de contribuir para a defini-
o de assuntos referentes organizao e ao prprio trabalho. Isso pode ser
compreendido pelos aspectos a seguir.
Participao em questes sobre o trabalho. Demonstra com que assidui-
dade as pessoas so chamadas a expressar suas opinies sobre questes do
prprio trabalho, identificando aspectos negativos e positivos, propondo mu-
danas etc. Observa-se que aproximadamente 70% dos servidores da Alfa so
convidados a opinar sobre o prprio trabalho, sempre ou freqentemente, e
apenas 4,1% nunca so convidados.
Participao em questes sobre a organizao. Expressa com que cons-
tncia as pessoas so chamadas a opinar sobre a organizao, seus objetivos,
polticas, problemas e desempenho. Observa-se que 67,3% dos entrevistados
so convidados a opinar sobre a organizao somente s vezes ou nunca, o
que sugere uma limitada participao quando o assunto objetivos, polticas,
problemas e desempenho da Alfa.
Canais de participao. preciso identificar o canal de participao
mais utilizado na organizao quando as pessoas tm crticas, sugestes ou
dvidas. Verifica-se que 85,1% dos indivduos se dirigem ao chefe imediato
ou chefe de setor a fim de expressar crticas, sugestes ou dvidas. Como
muitas vezes o papel do chefe imediato se resume ao setor pelo qual ele res-
ponsvel, esses nmeros podem indicar que a participao dos servidores
92 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
fragmentada e, sendo assim, tem pouco poder de influncia sobre questes da
organizao.
Abertura participao. Demonstra como so tratadas as crticas, suges-
tes ou dvidas levantadas pelos funcionrios, o que fornece um indicativo do
grau de abertura participao que existe na organizao. Por exemplo, se as
opinies dos empregados no so sequer ouvidas, pode-se concluir que o nvel
de abertura participao mnimo ou nulo. Esse no o caso da Alfa, em que
as crticas, sugestes ou dvidas so ouvidas e algumas vezes discutidas em
70,2% das vezes, e so sempre ouvidas e discutidas em 19,1% das vezes. Pare-
ce haver na Alfa um espao para que as pessoas possam se expressar, posicio-
nando-se sobre assuntos diversos.
Criao de inimigos
A construo ou delimitao de inimigos, externos ou internos, um proces-
so freqente nas organizaes, no raro, necessrio. A existncia de inimigos
fortalece os vnculos interpessoais, reforando os sentimentos de identifica-
o e de pertena e a conscincia de que h um projeto comum a ser realiza-
do. Numa organizao empresarial, o inimigo externo pode ser designado
como o concorrente, o mercado, a economia etc., e o inimigo interno pode ser
uma pessoa, um grupo ou um setor, que passa a carregar o fardo pelos fracas-
sos da organizao.
A existncia de uma organizao, assim como a sua permanncia, est
relacionada construo de inimigos. Esse ambiente de luta contra algo amea-
ador consolida os laos de reciprocidade entre os membros da organizao
(Enriquez, 1996).
Quando o inimigo procurado no interior da prpria organizao, um
membro ou um setor o bode expiatrio se faz depositrio dos aspectos
negativos dessa organizao (Pichon-Rivire, 1998). Portanto, nas situaes
em que os indivduos no conseguem resolver seus problemas, tendero a en-
contrar um culpado, que pode no ser responsvel pela situao atual ou se
revelar mais frgil que os outros e, por isso, algum que pode ser sacrificado
arbitrariamente pelos outros (Enriquez, 2001).
Quando a organizao fracassa, isto , quando no consegue atingir os
objetivos esperados, normal que se busquem as causas desse fracasso, que
podem ser identificadas da seguinte forma: os inimigos exteriores, que fecha-
ram as portas para a vitria, e os inimigos internos, que sabotaram os esfor-
os comuns (Enriquez, 2001).
A criao de inimigos analisada pelos itens a seguir.
V ncul os Organi z aci onai s 93
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
Inimigos externos. Este item demonstra se existem organizaes, gru-
pos ou pessoas que costumam ser considerados como inimigos, no sentido de
serem maus exemplos, constiturem uma ameaa imagem da organizao
ou serem prejudiciais realizao dos seus objetivos. Para 49% dos entrevis-
tados, apenas s vezes outras organizaes so usadas como maus ou bons
exemplos. Seguindo uma linha coerente, mais de 95% dos servidores defen-
dem que somente s vezes ou nunca outros rgos da Prefeitura Municipal de
Curitiba ou externos so considerados uma ameaa imagem da Alfa. Ainda
na mesma linha, apenas 4,1% das pessoas observam que outros rgos da
PMC ou externos prejudicam freqentemente a realizao dos objetivos da
organizao. Tais nmeros sugerem que a criao de inimigos externos no
desempenha um papel significativo na Alfa.
Inimigos internos. Este aspecto expressa em que medida se identifica
um bode expiatrio no interior da organizao para ser responsabilizado pe-
los fracassos ou erros ocorridos. O bode expiatrio pode ser uma pessoa, um
grupo, um setor, um aspecto, um problema etc.
Verifica-se que na Alfa no freqente que um indivduo ou um setor
seja responsabilizado quando ocorrem erros. Por outro lado, os servidores
identificaram, em ordem de importncia, os aspectos mais negativos para a
Alfa e para a realizao adequada das atividades. A corrupo considerada
o aspecto mais negativo, seguido da burocracia, questes polticas, falta de
qualificao dos servidores, falta de controle sobre o trabalho e falta de ver-
bas. Cada um desses elementos atrapalha de alguma forma a realizao das
atividades e pode ser visto como inimigo, uma vez que torna mais difcil o
cumprimento dos objetivos. Por outro lado, tambm podem ser considerados
como elementos que possibilitam uma maior integrao e cooperao entre
as pessoas, alm de reforar os sentimentos de identificao e de pertena,
fortalecendo os vnculos organizacionais.
Idealizao da organizao
A idealizao um fenmeno que possibilita aos indivduos considerarem a orga-
nizao e o seu projeto como excepcionais. Objetivamente, idealizar a organiza-
o pode significar v-la como o melhor lugar para trabalhar, que oferece o
melhor ambiente, as melhores oportunidades, que no apresenta problemas etc.
Considerando que a organizao constituda por indivduos e que es-
tes formam grupos, pode-se dizer que a idealizao um dos aspectos mais
importantes no seu funcionamento, pois d consistncia, fora e caractersti-
cas de excepcionalidade aos projetos e aos membros da organizao (Enri-
quez, 2001).
94 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
A idealizao um fenmeno que normalmente ocorre quando as
pessoas se renem em grupo a fim de realizar uma tarefa (Freitas, 2000).
Numa organizao, os indivduos se renem a fim de cumprir funes que
contribuem para um funcionamento adequado, de acordo com um conjun-
to de objetivos. Logo, trata-se de um ambiente propcio ao surgimento de
tal fenmeno. Alm disso, o indivduo pode fantasiar uma unio com a or-
ganizao que lhe proporcione a iluso de totalidade ou plenitude, ou seja,
o sentimento de uma relao sem falhas, na qual todos os seus desejos so
satisfeitos (Freitas, 2000; Pags, 1976).
A idealizao geralmente est acompanhada de outros elementos dos
vnculos organizacionais, como a identificao, o sentimento de pertena, a
criao de inimigos e a integrao entre os membros. Ela pode ser visualiza-
da por meio dos aspectos a seguir.
Imagem da organizao. Busca verificar qual a imagem que o indivduo
tem da organizao, assim como a imagem que ele acredita que as pessoas de
fora tm da mesma. A partir dessas representaes, possvel inferir se o in-
divduo idealiza a organizao e o quanto tal processo afeta seu julgamento
das reais condies dessa organizao.
Os servidores, de forma geral, vem a Alfa como eficiente, organizada,
competente e que oferece produtos e/ou servios de qualidade. Alm disso,
vista pela maioria como pouco burocrtica. A maior crtica em relao
transparncia, com 44,9% dos entrevistados afirmando que a organizao
transparente somente s vezes ou nunca.
Na viso dos funcionrios da Alfa, as pessoas de fora tm uma percep-
o similar do funcionamento da organizao quanto aos aspectos citados.
Parece existir entre os servidores uma conscincia de que a organizao apre-
senta virtudes e defeitos, no sendo tratada como um ente excepcional e no
sujeito a falhas.
Conceito da organizao. Demonstra o conceito que o indivduo tem da
organizao como local de trabalho e os aspectos que ele identifica como ra-
zes para trabalhar ali. Observa-se que 81,6% dos entrevistados consideram a
Alfa um bom lugar para trabalhar, mas reconhecem que h alguns aspectos
que precisam ser melhorados.
Respondendo pergunta Por que voc trabalha na Alfa?, os aspectos
considerados mais importantes pelos servidores so: satisfao e gratificao
com o prprio trabalho (38,3%), e bom ambiente de trabalho, boas relaes
interpessoais e realizao de atividades do prprio interesse (48,9%). vli-
do notar que apenas 10,6% dos entrevistados apontaram as condies mate-
riais proporcionadas pela organizao (salrio, aposentadoria etc.) como uma
importante razo para trabalhar no local.
Uma percentagem considervel de servidores (23,4%) considera a
Alfa um local de trabalho como qualquer outro, cumprindo suas funes de
acordo com o que lhes solicitado. Essas pessoas aparentemente demons-
V ncul os Organi z aci onai s 95
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
tram um vnculo tnue com a organizao, fazendo o seu trabalho da mes-
ma forma que fariam em qualquer outro local e sem se preocupar com os
problemas, polticas ou desempenho da organizao.
Por outro lado, 19,1% dos indivduos responderam que trabalham na
Alfa porque esto muito ligados mesma, interessando-se pelas suas polticas,
objetivos, desempenho e problemas. o outro extremo da situao anterior, ou
seja, essas pessoas demonstram um vnculo intenso com a organizao, basea-
do numa relao de responsabilidade e comprometimento.
Ambiente de trabalho. Evidenciar a forma como os indivduos percebem o
ambiente onde trabalham a finalidade deste item. Constata-se que 85,7% dos
servidores consideram o ambiente de trabalho como bom ou timo. Isso indica
um alto grau de satisfao com o ambiente proporcionado pela Alfa aos seus
funcionrios.
Colegas de trabalho. Neste componente da idealizao busca-se verifi-
car o conceito que as pessoas fazem dos seus colegas em relao coopera-
o e solidariedade.
Metade dos entrevistados (50%) considera seus colegas de trabalho
bastante cooperativos e solidrios e 43,8% os avaliam como razoavelmente
cooperativos e solidrios. So nmeros que sugerem um grau relativamente
alto de cooperao e solidariedade, alm de um nvel relevante de integrao
interpessoal.
Relao com superiores. O chefe ou superior hierrquico tende a consti-
tuir um modelo de liderana, servindo como espelho de comportamento para
seus subordinados. Tal modelo pode ser fortemente idealizado, facilitando a
realizao das tarefas e fortalecendo os vnculos dos indivduos com as che-
fias e com a organizao. No entanto, se no houver respeito, verdade, coe-
rncia etc., por parte dos superiores, provvel que os subordinados sigam
esse exemplo, apresentando a mesma conduta (Zimerman, 1997c).
Este item busca identificar a qualidade da relao entre subordinados e
superiores. Constata-se que 54,2% dos funcionrios da Alfa consideram tima
sua relao com seus superiores. Esse dado parece indicar um grau significati-
vo de idealizao nesse aspecto. Por outro lado, 37,5% das pessoas consideram
tal relao simplesmente como adequada realizao do trabalho, o que suge-
re uma viso mais realista da relao superior-subordinado.
Reconhecimento e valorizao dos indivduos
Refere-se necessidade do indivduo de ser reconhecido e valorizado pelos
outros. Tal busca por reconhecimento e valorizao, por sua vez, demonstra o
quanto as pessoas precisam estabelecer e manter vnculos interpessoais.
96 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
Zimerman (1997b) cita a existncia do vnculo do reconhecimento, que
denota a necessidade que cada indivduo tem de ser reconhecido pelos ou-
tros como pertencente ao mesmo grupo social (pertinncia).
A maior dificuldade em relao a este elemento que cada pessoa, subje-
tivamente, tem sua noo de reconhecimento e valorizao. Alguns indivduos
podem sentir-se valorizados ou reconhecidos por receberem altos salrios, ou-
tros por ocuparem uma posio importante e outros se sentem satisfeitos ao se-
rem homenageados, receberem agradecimentos ou serem tratados com
respeito. Portanto, a noo de reconhecimento e valorizao influenciada pe-
los valores e pela percepo individual desses elementos. Uma empresa pode
estabelecer uma srie de polticas de reconhecimento e valorizao e, no entan-
to, seus funcionrios podem estar insatisfeitos, pois no as percebem da mes-
ma forma que a organizao.
Este item pode ser compreendido por meio dos aspectos a seguir.
Reconhecimento e valorizao do prprio trabalho. Tem como objetivo
identificar com que freqncia o indivduo percebe que o seu trabalho reco-
nhecido e/ou valorizado pela organizao. Verifica-se que a maioria dos en-
trevistados (59,2%) acredita que a organizao reconhece e/ou valoriza o seu
trabalho sempre ou freqentemente.
Polticas de reconhecimento e valorizao. Demonstra se a organizao
adota polticas de reconhecimento e valorizao dos funcionrios e se elas be-
neficiam a todos. Alm disso, busca-se levantar exemplos dessas polticas.
Um nmero relevante de servidores (30,6%) acredita que a Alfa no
tem polticas de reconhecimento e valorizao. Apenas 10,2% dos indivduos
responderam que a Alfa adota essas polticas e que atingem todos os servido-
res. Com base nesses dados, pode-se inferir que ou tais polticas no existem
ou so formuladas para beneficiar apenas alguns funcionrios.
Os indivduos identificam que agradecimentos, elogios pblicos e cele-
brao se traduzem como as formas de reconhecimento e valorizao mais
praticadas pela Alfa.
Quanto ao reconhecimento pela realizao de atividades importantes,
observa-se que 65,3% dos servidores recebem algum tipo de agradecimento
por parte da Alfa quando da consecuo de certas tarefas, e apenas 8,2% afir-
mam que nunca recebem tal agradecimento. De forma diferente, 56,3% das
pessoas referem que nunca recebem prmio ou incentivo pela realizao de
certas atividades, e 25% o recebem apenas s vezes. Portanto, a Alfa presta
algum tipo de agradecimento pela realizao de algumas atividades, mas no
oferece prmios ou incentivos por isso.
Respeito pelo indivduo. Expressa com que assiduidade os indivduos se sen-
tem respeitados pessoal e profissionalmente pela organizao. Observa-se que
V ncul os Organi z aci onai s 97
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
83,7% dos servidores se sentem respeitados como pessoas sempre ou freqente-
mente. Similarmente, 73,5% das pessoas responderam que se sentem respei-
tados como profissionais sempre ou freqentemente. Esses nmeros parecem
demonstrar satisfao dos servidores em relao ao quesito respeito, o que pode
contribuir para uma atitude positiva em relao organizao, favorecendo a
formao de vnculos organizacionais ou fortalecendo os j existentes.
Remunerao. Embora a remunerao possa ser rechaada como forma
de reconhecimento e/ou valorizao, entende-se que o elemento dinheiro, pela
importncia que tem na sociedade capitalista, deve ser considerado como um
meio, entre outros, de reconhecer e valorizar as pessoas no local de trabalho.
A Alfa, assim como a maioria das organizaes pblicas, parece pagar
salrios defasados, principalmente se comparados com a remunerao ofere-
cida nas organizaes privadas. Observa-se que a maioria das pessoas ou
acredita que o seu salrio poderia ser melhor (37%) ou que menor do que
deveria ser (34,8%). Essas informaes indicam que a remunerao consi-
derada baixa.
Por outro lado, quando perguntados se deixariam a Alfa por um salrio
melhor, apenas 10,2% responderam que o fariam sem hesitar; outros 12,2%
referiram que a deixariam se o salrio fosse muito compensador; e a grande
maioria (69,4%) afirmou que s mudariam de emprego caso houvesse outras
vantagens alm do salrio, como, por exemplo, melhores condies de traba-
lho, ocupao de um cargo superior, maiores oportunidades de crescimento e
desenvolvimento profissional etc.
Solidariedade
A solidariedade se caracteriza como elemento dos vnculos organizacionais,
pois fortalece os laos de reciprocidade entre as pessoas, tornando-as mais
unidas e dependentes umas das outras. Relaes de solidariedade estimulam
os sentimentos de identificao e de pertena, incentivam a cooperao para
a consecuo das atividades e aumentam a integrao entre os membros.
Conforme Pags (1976), a formao de vnculos entre os membros de
toda organizao social est assentada em sentimentos de uma solidariedade
que respeita a autonomia individual, aliados a temores que ameaam a pr-
pria possibilidade da solidariedade, como o medo de que o outro seja um trai-
dor ou um grande inimigo.
A solidariedade pode ser identificada por meio dos seguintes aspectos:
disposio para dividir problemas com os colegas, iniciativa para ajudar o co-
lega e considerao pelos problemas alheios.
98 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
Disposio para dividir problemas com os colegas. Busca revelar o quan-
to as pessoas se sentem vontade com seus colegas de trabalho, a ponto de
dividir com eles seus problemas. Refere-se, portanto, receptividade percebi-
da pelo indivduo para se expor no ambiente de trabalho.
Verifica-se que 42,9% das pessoas sentem que podem dividir seus pro-
blemas com seus colegas apenas s vezes, enquanto 36,7% sentem que po-
dem fazer isso freqentemente.
Iniciativa para ajudar o colega. Indica em que grau as pessoas se dispem
a ajudar umas s outras em caso de dificuldades, originadas no trabalho ou em
casa. Observa-se que um ndice significativo de servidores (95,9%) encontra co-
legas dispostos a prestar algum tipo de ajuda pelo menos s vezes, o que consti-
tui um forte indicativo de solidariedade entre os membros da Alfa.
Considerao pelos problemas alheios. Demonstra o quanto as pessoas esti-
mam os problemas alheios e o quanto se preocupam com os outros. A maioria
dos servidores (93,8%) afirma que seus colegas tm considerao pelos seus
problemas pelo menos s vezes. Tal considerao se d independentemente da
situao, dos interesses e das diferenas pessoais. Similarmente, 95,9% das pes-
soas percebem que os outros se preocupam com elas pelo menos s vezes. Esses
nmeros sugerem que h, de maneira geral, um sentimento de solidariedade en-
tre os membros da Alfa.
Integrao entre os membros
A integrao entre os membros da organizao favorece a formao de rela-
es interpessoais, facilita a realizao das tarefas, contribui para a identifica-
o, o sentimento de pertena, a cooperao e a solidariedade, e tende a tornar
o ambiente de trabalho um lugar agradvel para o exerccio de atividades pro-
fissionais. Ela se caracteriza por meio dos aspectos a seguir.
Integrao e dificuldades. Tem como objetivo demonstrar relaes entre
o grau de integrao existente entre as pessoas e as dificuldades rotineiras do
trabalho.
O volume de trabalho no interpretado pela maioria dos indivduos
como prejudicial realizao adequada das tarefas. De acordo com 79,5%
dos servidores, o volume de trabalho prejudica a consecuo das atividades
somente s vezes ou nunca. Isso permite inferir que existe algum grau de in-
tegrao entre os membros da organizao, possibilitando que o trabalho seja
feito de forma adequada, mesmo quando h excesso de tarefas.
Por outro lado, 53,1% dos servidores acreditam que somente s vezes
as dificuldades enfrentadas pela Alfa servem como estmulo para que as pes-
V ncul os Organi z aci onai s 99
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
soas trabalhem mais unidas. Ou seja, parece que os empecilhos inerentes
rotina da organizao no constituem incentivo unio entre as pessoas.
Planejamento das atividades. O ato de planejar, no contexto de uma or-
ganizao, pressupe um trabalho coletivo seja na elaborao, na aceita-
o ou na execuo do plano que, por sua vez, pode ser relacionado com o
grau de integrao entre os membros.
As atividades da Alfa so planejadas constantemente, sendo que 77,1%
dos servidores reconhecem que h planejamento sempre ou freqentemente.
Alm disso, o ato de planejar tarefas antes de execut-las realizado pela
maioria, sendo que 29,2% das pessoas planejam todas as tarefas e 60,4% o
fazem para algumas.
Trabalho em equipe. Demonstra se os indivduos que trabalham na or-
ganizao atuam como uma equipe. Verifica-se que comum os servidores da
Alfa trabalharem dessa forma, pois 49% afirmam que isso freqentemente
ocorre. Por outro lado, 34,7% referem que um trabalho feito em equipe
quando a tarefa demanda esse tipo de atuao, e outros 14,3% asseveram
que atuar como uma equipe ocorre sempre e espontaneamente.
Esses nmeros parecem corroborar as informaes anteriores, de que
os funcionrios da Alfa so integrados tanto em relao s tarefas quanto em
relao ao contato interpessoal.
Integrao em momentos de confraternizao. Busca revelar se as pes-
soas so integradas tambm nos momentos de confraternizao. A maioria
dos servidores da Alfa (64,6%) normalmente comparece a festas ou reunies
de confraternizao, o que denota integrao tambm fora do trabalho.
Conhecimento da organizao. Demonstra se as pessoas tm conheci-
mento da organizao como um todo ou se esto familiarizadas apenas com o
setor no qual trabalham.
Os servidores (59,2%) sabem o que se passa, em termos de problemas,
dificuldades e realizaes, apenas em alguns setores da Alfa, e um ndice signi-
ficativo de pessoas (24,5%) afirma no saber o que ocorre nas outras unidades.
De maneira semelhante, 56,3% dos indivduos afirmam conhecer parci-
almente o trabalho, as obrigaes e responsabilidades dos outros setores da
Alfa. Por outro lado, 27,1% das pessoas referem que conhecem totalmente es-
ses aspectos.
A questo presente no primeiro aspecto considerado est relacionada
com a prtica, com o dia-a-dia da organizao, enquanto a abordada no se-
gundo se refere ao que formal. De acordo com os dados, os servidores da
Alfa esto mais familiarizados com os elementos formais dos outros setores,
do que com os acontecimentos dirios que neles se verificam.
100 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
Crescimento e desenvolvimento profissional/pessoal
Uma organizao que oferece oportunidades para qualificar e aperfeioar seu
quadro de pessoal, que valoriza o conhecimento e que incentiva as pessoas a par-
ticiparem de atividades que lhes propiciem crescimento e desenvolvimento, est
oferecendo condies para que seus funcionrios criem vnculos organizacionais.
Alm disso, tais condies podem reforar ou favorecer a formao da identifica-
o, da idealizao, e dos sentimentos de pertena e de reconhecimento e valori-
zao. Isso pode ser compreendido por meio dos aspectos a seguir.
Incentivo qualificao. Busca-se saber em que medida a organizao
incentiva que seus funcionrios se qualifiquem e se aperfeioem. So conside-
radas atividades elaboradas e realizadas pela prpria organizao e ativida-
des externas que contam com algum incentivo concreto.
A participao em cursos de qualificao oferecidos pela prpria Alfa
ocorre dependendo do evento para 49% dos servidores, o que poderia refletir
um certo descaso com esse tipo de atividade. Por outro lado, 40,8% das pes-
soas participam desses cursos espontaneamente, sempre ou freqentemente.
Dessa forma, pode-se dizer que alguns indivduos valorizam mais essas ativi-
dades do que outros, tomando parte delas por interesse prprio e indepen-
dente do evento.
Verifica-se que 42,9% dos servidores acreditam que somente s vezes a
Alfa incentiva a participao dos funcionrios em cursos de graduao e ps-
graduao, oferecendo auxlio financeiro, facilitando a liberao e tornando
os horrios mais flexveis. Outros 32,7% defendem que a organizao faz isso
sempre ou freqentemente. Pode-se constatar que oferecido algum incenti-
vo aos servidores, embora no seja percebido por todos.
Plano de carreira. Este item tem como objetivo verificar se a organiza-
o oferece as condies necessrias para que os indivduos possam seguir
um plano de carreira, proporcionando crescimento e desenvolvimento profis-
sional. Observa-se que 68,8% das pessoas consideram que a Alfa no possui
um plano de carreira. Por outro lado, 18,8% afirmam que a organizao tem
plano de carreira, mas que beneficia apenas alguns servidores.
Portanto, pode-se considerar que a Alfa no possui um plano de carrei-
ra formalmente estabelecido, amplo e irrestrito.
Preparao para o trabalho. Visa revelar at que ponto a organizao
prepara adequadamente seus funcionrios para o desempenho das funes
que lhes cabem. A preparao para o trabalho, no momento em que propor-
ciona aprendizagem aos indivduos, funciona como um incentivo ao cresci-
mento e ao desenvolvimento do profissional, e conseqentemente, formao
ou fortalecimento dos vnculos organizacionais.
V ncul os Organi z aci onai s 101
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
Verifica-se que 59,2% dos servidores acreditam que a Alfa realiza essa tare-
fa sempre ou freqentemente e 34,7% referem que isso ocorre somente s vezes.
Autonomia
Com esse elemento, busca-se saber o grau de autonomia que os indivduos pos-
suem para realizar o seu trabalho e para definir seus prprios prazos. A autono-
mia, medida que proporciona condies para que as pessoas se organizem
para o trabalho da forma definida por elas, cria um campo propcio para que o
empregado possa estabelecer vnculos com a organizao, preocupando-se com
o seu desempenho, suas polticas, seus resultados e seus problemas.
A autonomia contribui para a identificao e o sentimento de pertena,
assim como para o crescimento e o desenvolvimento profissional e pessoal.
Ela pode ser entendida por meio dos aspectos a seguir.
Autonomia para definir como trabalhar. Demonstra com que assiduida-
de as pessoas tm autonomia para definir a forma de realizar o seu trabalho.
A maior parte dos servidores da Alfa (77,1%) afirma ter essa autonomia sem-
pre ou freqentemente. Tais nmeros indicam que a organizao propicia
condies para que os prprios funcionrios possam determinar como vo
realizar as tarefas que lhes cabem.
Autonomia para definir prazos. Busca identificar em que medida as pes-
soas tm autonomia para estabelecer seus prprios prazos. Observa-se que 44,9%
dos servidores da Alfa afirmam ter tal autonomia freqentemente e 34,7% refe-
rem t-la somente s vezes. De forma geral, pode-se dizer que os indivduos tm
liberdade para fixar prazos, dependendo do trabalho que realizam.
Essa autonomia favorece a formao ou o reforo dos vnculos organi-
zacionais, pois transfere para o indivduo a responsabilidade pelo cumpri-
mento dos prazos, a partir do momento em que ele que os define.
Controle sobre o trabalho. Saber se a organizao possui formas de con-
trole sobre todos os trabalhos ou apenas sobre alguns permite inferir se ela
tem um funcionamento rgido, controlado ou desordenado. Pode-se verificar
que a Alfa apresenta um funcionamento controlado ou organizado, visto que
36,7% dos servidores referem que a organizao possui mecanismos de con-
trole para a maioria dos trabalhos, e 42,9% afirmam que tais mecanismos tm
efeito apenas sobre alguns trabalhos.
4. Consideraes finais
O vnculo uma estrutura na qual esto includos um indivduo, um objeto (a
organizao) e uma relao particular entre eles, que pode ser entendida a par-
102 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
tir dos elementos constitutivos dos vnculos. Assim sendo, o objetivo principal
desta pesquisa foi investigar as caractersticas dos vnculos organizacionais por
meio dos elementos que os constituem, que exercem importante papel na sua
formao e manuteno.
Neste estudo de caso da organizao Alfa, foram analisados os 11 ele-
mentos dos vnculos, podendo-se destacar os seguintes aspectos: verificam-se
sentimentos intensos de identificao e de pertena na organizao e um alto
grau de cooperao entre as pessoas. A Alfa possibilita uma participao aber-
ta das pessoas nas decises relativas ao prprio trabalho e uma participao
limitada nas questes relativas aos objetivos, desempenho, polticas e proble-
mas da organizao. O elemento criao de inimigos, por sua vez, no desem-
penha um papel significativo, embora sejam apontados aspectos que so
prejudiciais ao trabalho, que podem ser designados como inimigos. A ideali-
zao no se apresenta de forma intensa, sendo que os indivduos ressaltam
os aspectos positivos, mas no omitem os problemas apresentados pela orga-
nizao. A maioria dos servidores demonstra sentir-se reconhecida e valoriza-
da; alm disso, a organizao oferece algumas condies para o crescimento
e desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionrios. Quanto soli-
dariedade e integrao, verifica-se que esto intensamente presentes entre
os membros da Alfa. Por fim, verifica-se que a organizao proporciona auto-
nomia para os indivduos definirem a melhor maneira de realizar suas ativi-
dades, assim como para estabelecerem os prazos mais adequados.
A investigao das relaes do indivduo com os objetivos organizacio-
nais, visualizadas sob a tica dos vnculos, propicia um entendimento sobre
as razes que levam as pessoas a contriburem para a realizao dos projetos
da organizao. Corroborando tal afirmativa, observou-se que a maioria dos
servidores tem vnculos estabelecidos com a Alfa, como pde ser visualizado
ao longo da anlise dos seus elementos constitutivos. Por isso, os indivduos
demonstraram interesse em participar da elaborao dos objetivos da Alfa, in-
dicando preocupao com os seus rumos e um sentimento de responsabilida-
de quanto ao seu desempenho, polticas, problemas e resultados.
Pode-se argir que os indivduos no se vinculam organizao, eles
obedecem, seguem regras e um comando, enfim, se inserem na estrutura e exe-
cutam um trabalho, mas, sem assumir um compromisso. No entanto, h algo,
alm da obedincia, que move, motiva e influencia a conduta das pessoas na
organizao. Os vnculos organizacionais denotam a ligao do indivduo com
a organizao e o envolvimento com os seus projetos e objetivos, assim como o
comprometimento com os seus problemas, polticas, desempenho e resultados.
Logo, os vnculos possibilitam que os indivduos estabeleam e mantenham re-
laes mais slidas e mais significativas com as organizaes, baseadas no com-
prometimento e respeito mtuos.
V ncul os Organi z aci onai s 103
RAP Ri o de J anei ro 41( 1): 83-104, J an. / Fev. 2007
Referncias bibliogrficas
BION, W. R. Experincias com grupos: os fundamentos da psicoterapia de grupo. Rio de Ja-
neiro: Imago, 1970.
BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. 4. ed. So Paulo: Martins Fontes,
1989.
CERTO, S. C.; PETER, J. P. Administrao estratgica: planejamento e implantao da es-
tratgia. So Paulo: Makron, 1993.
CHANLAT, J. Por uma antropologia da condio humana nas organizaes. In:
(Coord.). O indivduo na organizao: dimenses esquecidas. 3. ed. So Paulo: Atlas, 1996.
v. 1.
ENRIQUEZ, E. Da horda ao Estado: psicanlise do vnculo social. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1996.
. O vnculo grupal. In: LVY, A. et al. Psicossociologia: anlise social e interveno.
Belo Horizonte: Autntica, 2001.
FARIA, J. H. de. Relaes de poder e formas de gesto. 2. ed. Curitiba: Criar, 1985.
. Comisses de fbrica: poder e trabalho nas unidades produtivas. Curitiba: Criar,
1987.
FREITAS, M. E. de. A questo do imaginrio e a fronteira entre a cultura organizacional e a
psicanlise. In: MOTTA, F. C. P.; FREITAS, M. E. de (Orgs.). Vida psquica e organizao.
So Paulo: FGV, 2000.
KANAANE, R. Comportamento humano nas organizaes: o homem rumo ao sculo XXI.
2. ed. So Paulo: Atlas, 1999.
PAGS, M. A vida afetiva dos grupos. Petrpolis: Vozes, 1976.
PICHON-RIVIRE, E. O processo grupal. So Paulo: Martins Fontes, 1998.
. Teoria do vnculo. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
TAVARES, M. C. Gesto estratgica. So Paulo: Atlas, 2000.
WRIGHT, P.; KROLL, M. J.; PARNELL, J. Administrao estratgica: conceitos. So Paulo:
Atlas, 2000.
ZIMERMAN, D. Fundamentos tericos. In: ; OSRIO, L. C. Como trabalhamos com
grupos. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997a.
104 Gus t avo Garcez Kramer e J os Henri que de Fari a
RAP Ri o de J anei ro 41(1) : 83- 104, J an. / Fev. 2007
. Fundamentos tcnicos. In: ; OSRIO, L. C. Como trabalhamos com grupos.
Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997b.
. Atributos desejveis para um coordenador de grupo. In: ______; OSRIO, L. C.
Como trabalhamos com grupos. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997c.
Você também pode gostar
- Seminário - Terapia GênicaDocumento28 páginasSeminário - Terapia GênicamarcianaysilvaAinda não há avaliações
- Volume 320170419213216111714Documento115 páginasVolume 320170419213216111714Remulo SousaAinda não há avaliações
- MODELO Atividade 1 - Fichamento MCDocumento3 páginasMODELO Atividade 1 - Fichamento MCSofia confessor Maia MarquesAinda não há avaliações
- 0-TCC Começo 0.1Documento19 páginas0-TCC Começo 0.1Taís PereiraAinda não há avaliações
- Análise SWOT e Ciclo PDCA: Profa. CleoniceDocumento20 páginasAnálise SWOT e Ciclo PDCA: Profa. CleoniceFábio JacksonAinda não há avaliações
- Ana Lucia Menezes Vieira TESE INTEGRALDocumento265 páginasAna Lucia Menezes Vieira TESE INTEGRALCelis Raimunda batista AlvesAinda não há avaliações
- 2019 Relação Entre Tontura e Dificuldades de Aprendizagem em Escolares Uma Revisão IntegrativaDocumento7 páginas2019 Relação Entre Tontura e Dificuldades de Aprendizagem em Escolares Uma Revisão IntegrativaGloria CantoAinda não há avaliações
- Covid19Test 2221Documento2 páginasCovid19Test 2221Catarina MoraisAinda não há avaliações
- Diversity Matters PTDocumento36 páginasDiversity Matters PTLuciana Lessa SoaresAinda não há avaliações
- (Microsoft Word - Disserta - 347 - 343o Corrigida Pelo Tuto - Final Com AutorizacaoDocumento118 páginas(Microsoft Word - Disserta - 347 - 343o Corrigida Pelo Tuto - Final Com AutorizacaoSara Boa SorteAinda não há avaliações
- Ava POS OCUDocumento10 páginasAva POS OCUEva da SilvaAinda não há avaliações
- Visão Sistêmica Nos Negócios (Alunos)Documento123 páginasVisão Sistêmica Nos Negócios (Alunos)Amarildo da Cruz FernandesAinda não há avaliações
- Apostila Desenho EstoriaDocumento5 páginasApostila Desenho EstoriaKimbelly100% (2)
- Estatística Básica - 2022Documento9 páginasEstatística Básica - 2022Danusa GarciaAinda não há avaliações
- Curriculo TrianguloDocumento2 páginasCurriculo TrianguloGeyse Santos CandutaAinda não há avaliações
- Escola - Relações Familiares, Satisfação Escolar e Desempenho Escolar Dos JovensDocumento23 páginasEscola - Relações Familiares, Satisfação Escolar e Desempenho Escolar Dos JovensPâmela JesusAinda não há avaliações
- 2394 - Índice de Desenvolvimento Social - IDSDocumento14 páginas2394 - Índice de Desenvolvimento Social - IDSCaio de FigueiredoAinda não há avaliações
- Abdução de Plínio Bragatto - O Mistério Ainda Não ReveladoDocumento59 páginasAbdução de Plínio Bragatto - O Mistério Ainda Não ReveladoJúlio ResendeAinda não há avaliações
- Monografias ProntasDocumento3 páginasMonografias ProntasFordEmborg92Ainda não há avaliações
- Engajamento de Marca Nas Redes Sociais - DecatlhonDocumento51 páginasEngajamento de Marca Nas Redes Sociais - DecatlhonCy VasconcelosAinda não há avaliações
- Tec Pesquisa Avançada FinalDocumento20 páginasTec Pesquisa Avançada FinallelespAinda não há avaliações
- Artigo O Profissional Educação Física Nas Residências em SaúdeDocumento14 páginasArtigo O Profissional Educação Física Nas Residências em SaúdeJoão NetoAinda não há avaliações
- Keep ThinkingDocumento20 páginasKeep Thinkingjoao.trindadeAinda não há avaliações
- Uso Da Tabela NormalDocumento40 páginasUso Da Tabela NormalTarso StroiekAinda não há avaliações
- Gestão de Riscos de Qualidade Q9Documento23 páginasGestão de Riscos de Qualidade Q9LeisianeOliveiraAinda não há avaliações
- ColReg ArqueologiaPelourinhov3 MDocumento298 páginasColReg ArqueologiaPelourinhov3 MAna Paula Ribeiro de AraujoAinda não há avaliações
- Atividade 1 - Gamb - Gerenciamento de Resíduos - 542023Documento8 páginasAtividade 1 - Gamb - Gerenciamento de Resíduos - 542023foyoh47265Ainda não há avaliações
- Topico 4 e 5Documento20 páginasTopico 4 e 5placidoAinda não há avaliações
- Avaliação Do Programa Computador Por AlunoDocumento40 páginasAvaliação Do Programa Computador Por AlunoMatheus ViniciusAinda não há avaliações
- O Uso de Jogos No Processo de Ensino-Aprendizagem Na Geografia Escolar-With-Cover-Page-V2Documento20 páginasO Uso de Jogos No Processo de Ensino-Aprendizagem Na Geografia Escolar-With-Cover-Page-V2Luara NogueiraAinda não há avaliações