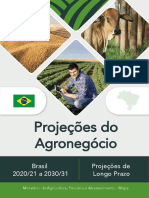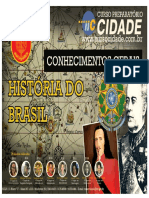Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PNLT PDF
PNLT PDF
Enviado por
João Bosco Costa Dias0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações10 páginasTítulo original
pnlt.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf ou txt
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações10 páginasPNLT PDF
PNLT PDF
Enviado por
João Bosco Costa DiasDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 10
PLANO NACIONAL DE LOGSTICA E TRANSPORTE (PNLT):
AFINAL, DO QUE SE TRATA?
1
Aps um longo perodo de estagnao econmica, o planejamento do
governo para com os sistemas de movimento no territrio nacional foi marcado por
medidas paliativas e emergenciais; entretanto, no ano de 2006 o governo federal lanou
o PNLT Plano Nacional de Logstica e Transportes. Trata-se de uma parceria entre
o Ministrio da Defesa, atravs do CENTRAN Centro de Excelncia em Engenharia
de Transportes e do Ministrio dos Transportes; este, enquanto plano de carter
indicativo, almeja ser a retomada do planejamento de mdio e de longo prazo para o
setor.
O mesmo ainda serviu de base para a elaborao do Plano Plurianual
(PPA) 2008-2011, que dever orientar o futuro do PPA at meados de 2023. Alm de
ter sido essencial para a elaborao do principal programa do Governo Lus Incio Lula
da Silva, o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), lanado pelo Governo
Federal em 22 de janeiro de 2007, integrado ao PNLT no que tange s medidas
relativas s infraestruturas de transportes para seu horizonte 2008-2011.
Este diagnstico realizado pelo PNLT, atrelado a medidas destacadas pelo
PAC, apresentou desdobramentos positivos no pas, pois se trata de um novo conceito
de investimento em infraestrutura, que dever movimentar R$ 62 bilhes de
investimento em infraestruturas de transportes, com adoo de medidas econmicas, tais
como: o estmulo ao crdito e ao financiamento, do qual se destaca a criao do Fundo
de Investimento em Infraestrutura, com recursos provenientes do Fundo de Garantia
do Tempo de Servio (FI-FGTS) e que ter R$ 5 bilhes para serem investidos em
energia, rodovia, ferrovia, porto e saneamento, podendo chegar a R$ 17 bilhes nos
prximos anos; a melhoria do ambiente de investimento que possibilitar agilidade em
relao aos trmites ambientais, assim como garantir a competitividade das transaes;
a desonerao e a administrao tributria, que apontam para a recuperao acelerada
dos crditos do PIS (Programa de Integrao Social) e do COFINS (Contribuio para o
Financiamento da Seguridade Social) em edificaes, reduo de IPI (Imposto sobre
Produto Industrializado) sobre perfis de ao e insumo bsico da construo civil; alm
1
Este texto faz parte do artigo O transporte rodovirio no Brasil: algumas tipologias da
viscosidade publicado, na ntegra, na Revista Electrnica de Geografa y Ciencias Sociales
Scripta Nova. Disponvel em: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-21.htm.
de medidas referentes a questes fiscais de longo prazo e de medidas que garantam a
consistncia fiscal.
Ao trmino do perodo proposto, espera-se uma alterao na matriz de
transporte brasileira, isto , busca-se a reverso da nfase dada durante anos ao modal
rodovirio. Para tanto, deve-se ampliar a participao do modal ferrovirio de 25% para
32%; do modal aquavirio de 13% para 29% e; do modal aquavirio de 13% para 29%,
dutovirio de 3,6% para 5% e o areo de 0,4 para 1%, reduzindo a participao do
modal rodovirio de 58% para 33%, elevando a fluidez neste ltimo devido maior
competitividade que os demais modais devem adquirir atravs da ampliao e a
adequao que a elevao dos investimentos ocasionar.
Destarte, mesmo havendo esta reverso da nfase dada durante anos ao
transporte rodovirio, este dever receber a maior soma dos investimentos. E ainda
continuar sendo o principal modal de transporte nacional, porm com a ampliao dos
demais modais que passaro a ter uma maior participao no transporte de carga geral.
Deve haver uma reduo dos custos de circulao, haja vista que o transporte
hidrovirio e o transporte ferrovirio podem ser 62% e 37% respectivamente mais
baratos que o transporte rodovirio e, por conseguinte, haveria uma reduo de carga
em circulao pelas rodovias.
Tabela 01:Investimento em infraestrutura de transporte recomendado pelo PNLT para o perodo
de 2007 a 2023.
Perodo Modal Extenso Investimento Participao do modal no total de
investimentos por modal (valores em milhes)
2008-2011 Rodovirio 19.743 42.296,00
72.700,00
Ferrovirio 4.099 16.969,00
Hidrovirio 3.363 2.672,00
Porturio 56 7.301,00
Aeroporturio 13 3.462,00
2012-2015 Rodovirio 3.769 13.109,00
28.573,00
Ferrovirio 2.183 3.048,00
Hidrovirio 3.244 3.962,00
Porturio 58 5.450,00
Aeroporturio 13 3.004,00
Aps 2015 Rodovirio 19.691 18.789,00
71.141,00
Ferrovirio 13.974 30.539,00
Hidrovirio 7.882 6.173,00
Porturio 55 12.411,00
Aeroporturio 14 3.229,00
Total
modal
Rodovirio 43.203 74.194,00 43,0%
Ferrovirio 20.256 50.556,00 29,4%
Hidrovirio 14.489 12.807,00 7,4%
Porturio 169 25.162,00 14,6%
Aeroporturio 40 9.695,00 5,6%
Total Brasil 172.414, 00 100,0%
Fonte: PNLT, 2007.
Para tanto, a metodologia utilizada no PNLT foi pautada basicamente em
uma modelagem macroeconmica, que possibilitar realizar projees quanto
demanda por transporte in loco, para o perodo de 2007 a 2023. Atravs da elaborao
de um perfil de oferta e de demanda de 80 produtos por 558 microrregies do pas,
estabeleceram-se portflios de investimento para cada perodo, que resultaram em uma
nova proposta de organizao territorial dos sistemas de movimento do pas, utilizando-
se de microrregies homogneas, denominadas de Vetores Logsticos
2
. Estes, ao
todo, somam sete diferentes vetores: Amaznico, Centro-Norte, Nordeste Setentrional,
Nordeste Meridional, Leste, Centro-Sudeste e Sul. Alm do mais, tambm foram
incorporados, conforme a classificao do grupo de Integrao da Infraestrutura da
Amrica do Sul IIRSA, mais cinco vetores logsticos internacionais: Arco Norte,
Amazonas, Pacfico Norte, Bolvia e Prata/Chile.
Figura 01: Vetores Logsticos conforme PNLT
2
Para esta classificao foram considerados fatores como: impedncias ambientais, similaridades
socioeconmicas, perspectivas de integrao e de inter-relacionamento (a antiga noo de corredores de
transporte) assim como funes de transporte, identificadas a partir da anlise de custos em relao aos
principais portos concentradores de carga do pas
Deste modo, a atuao do governo atravs desses vetores logsticos
delineados ser orientada em conformidade com as principais frentes explicitadas a
seguir:
AEP Aumento da Eficincia Produtiva em reas Consolidadas, que
tem como foco o abastecimento e o escoamento em reas mais desenvolvidas (aumento
de capacidade rodoviria, dragagem e administrao de conflitos entre ferrovias e o
espao urbano);
IDF Induo ao Desenvolvimento de reas de Expanso de Fronteira
Agrcola e Mineral, que atuar apoiando principalmente a expanso da fronteira
agrcola na Regio Centro-Oeste e em reas de explorao mineral (recuperao,
reconstruo de rodovias e implantao de novos eixos ferrovirios);
RDR Reduo de Desigualdades Regionais em reas Deprimidas,
que almeja, atravs da implantao de infraestruturas (que atuem enquanto
externalidades positivas), favorecer o desenvolvimento de regies deprimidas como a
recuperao da malha viria e a adequao de portos;
IRS Integrao Regional Sul-Americana, que busca melhorar a
fluidez das infraestruturas rodovirias atravs da construo de pontes em reas de
fronteira.
Neste nterim, o fim do problema dos gargalos do qual o sistema rodovirio
padece dever ocorrer com investimentos em ferrovias e em hidrovias, principalmente
direcionadas a atenderem s IDF, reas de economia primrias. Trata-se de uma medida
estratgica, pois mais de 50% das cargas transportadas pelas rodovias so do tipo cargas
gerais, isto , cargas provenientes de reas de economia primria que poderiam ser
escoadas atravs da consolidao de outros modais. Em consequncia deste feito, os
gargalos que as rodovias enfrentam devem ser apaziguados devido reduo de
toneladas de carga geral que circulam pelas mesmas, elevando por sua vez a fluidez nas
reas economicamente dinmicas (AEP).
J devido desonerao do Estado atravs das concesses, o mesmo poder
atuar realizando a manuteno de vias que no so passveis de explorao econmica.
Estes melhoramentos podem atuar enquanto externalidades positivas, pois se trata de
injeo de investimentos em capital fixo que representam o incremento de vantagens
comparativas a regies menos dinmicas. Desta maneira seria possvel contribuir para
reduzir as desigualdades regionais (RDR) atravs de investimentos em infraestrutura,
embora seja perspicaz alertar que o transporte se trata de uma das condies gerais de
produo mais relevante. Caso o planejamento deste no ocorra atrelado a uma poltica
global que busque alternativas para dinamizar o setor produtivo da regio em questo,
os efeitos sero pouco representativos.
J a to sonhada integrao com o MERCOSUL (Mercado Comum do Sul)
dever ocorrer levando-se em considerao a regionalizao proposta pelo grupo criado
durante a Cpula Sul-Americana em Braslia, no ano de 2000. O IIRSA (Grupo de
Integrao da Infraestrutura Regional Sul-Americana) tem enquanto objetivo a
resoluo de problemas infraestruturais (transporte, energia e telecomunicaes),
jurdicos, socioculturais e ambientais, que ter no modal rodovirio a sua principal
estratgia de integrao, pois devido proximidade dos pases membros do bloco e a
diversidade de cargas que circulam entre os pases membros, o transporte rodovirio
ainda parece ser a forma mais ideal para promover a fluidez no mbito do bloco. Sendo
assim, a atuao do governo brasileiro se concentra na construo de pontes em reas de
fronteiras para efetivar a ligao do sistema rodovirio nacional com os pases vizinhos.
Ao levar em considerao as diversas variveis explicitadas, pode-se auferir
que o planejamento dos transportes do pas destinar um enfoque diferente do que o que
ocorreu na dcada de 1980 e de 1990, momento em que o planejamento do sistema
virio se restringiu manuteno e expanso - embora em pequena escala - dos
sistemas de engenharia localizados em reas economicamente mais dinmicas, como a
fachada Atlntica, que representa uma das maiores ocupaes, e mercado consumidor
modificado. Visto que a partir da dcada de 1990, devido entrada do capital
coorporativo no campo e emergncia da monocultura, essas reas de economia
primria e de produtos agroindustriais de recente ocupao passam a angariar maior
insero no comrcio exterior e encontram dificuldades para realizarem o escoamento
das mercadorias do interior do continente em direo aos portos.
Figura 02: Tipologias de produtos que lidera a produo regional
Justifica-se, assim, uma nova poltica atual referente ao setor de transportes
que busca atender, primordialmente, a reas de recente desenvolvimento produtivo,
possibilitando uma maior integrao dessas reas de economia primria em direo ao
mercado externo. Por conseguinte, a regio da Facha Atlntica experimentar uma
reduo dos seus gargalos por causa da retirada de parcelas consideradas de carga geral
em circulao pelas rodovias, devido emergncia de uma maior competitividade do
modal hidrovirio e do modal ferrovirio do pas. Logo, espera-se que esta reduo dos
custos com a circulao, alm de agregar maior competitividade das cargas gerais no
mercado externo, possa conferir uma reduo do preo dos mesmos no mercado interno,
sendo capaz de impulsionar essas novas reas produtivas a um novo patamar de
desenvolvimento. Todavia, isso no tudo.
Consideraes Finais
Ao entrar a dcada de 1980 o pas passou por um longo perodo de
estagnao econmica intensa, em que prevaleceram quadros de inflao elevados e a
atuao do Estado foi direcionada resoluo de medidas de estabilizao econmica,
com reduo de investimentos e adoo de medidas paliativas, renegando o
planejamento de mdio e de longo prazo. Com o setor de transportes no foi diferente,
de modo que aps duas dcadas de medidas pontuais e de investimentos muito aqum
do necessrio, o pas sofreu um apago logstico. somente ao entrar no sculo XXI
que se inicia a retomada do planejamento do setor de transportes, atravs do ento
PNLT, lanado em 2006. Este, embora pouco divulgado pela mdia e ofuscado pelo
PAC (lanado em 2007), a base dos projetos de transporte apresentados no PAC e
dever orientar os investimentos no setor at 2023.
O mesmo surge em um momento em que o Estado reconhece a dificuldade
para ser o nico investidor e, como indicava Igncio Rangel (2005), busca alternativas
para atrair investimentos da iniciativa privada enquanto estratgia de desonerao do
Estado, atravs das concesses e das PPPs. Para tanto, ocorreu uma Reforma do
Estado, que estabelece um novo quadro institucional, em que o mesmo se prepara para
gerenciar a atividades delegadas iniciativa privada, gerando debates pelo pas sobre os
riscos que esta reformulao da estrutura do Estado poderia representar para a
possibilidade do desenvolvimento do pas.
Por outro lado, admite-se a prerrogativa de que a modificao da matriz de
desenvolvimento do pas vem apresentando uma inverso nas ltimas dcadas. Esta se
tornou mais evidente durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, em que a abertura
econmica demasiada gerou uma onda de falncias e impulsionou uma reestruturao
produtiva dos setores industriais remanescentes. Por outro lado, o setor primrio ganhou
peso na economia devido evoluo da monocultura no pas e expanso das fronteiras
agrcolas (Silveira, 2009). De modo que se tornou estratgica, como foi demonstrado
durante este manuscrito, a reverso da nfase dada ao modal rodovirio durante dcadas
no pas, nfase esta que no foi inconsequente como muitos autores tendem a afirmar,
mas sim a forma mais adequada para se integrar o pas, em meados da dcada de 1950.
Vale reafirmar que por se tratar de um modal em que possvel se realizar
investimentos gradativos e ao mesmo tempo se realizar a sua utilizao, no se onera
demais o Estado; diferentemente do caso das ferrovias, que dependem de uma grande
soma de capital para realizarem o incio de suas operaes.
Soma-se a isto o fato de ser um pas de dimenses continentais, devido ao
interesse de se integrar o territrio nacional, fisicamente e economicamente, atravs de
polticas de desenvolvimento de grandes projetos de desenvolvimento, como os Plos
de Desenvolvimento e os Complexos Industriais. Tem-se, assim, o modal rodovirio
enquanto sistema de engenharia ideal para realizar tal coeso espacial, pois possui um
traado menos rgido a estrada imprime-se no solo; semeia germes de vida: casas,
lugarejos, aldeias, cidades (LA BLACHE, 1954, p. 293), influindo na consolidao da
rede urbana brasileira e na atualidade enquanto estimulador da localizao das
atividades produtivas, comerciais e de servios, embasado na pretenso de se adotar
paradigmas de desenvolvimento integrado para este recorte espacial (SOUZA, 2009).
Porm, nas dcadas seguintes, a falta de investimentos nas ferrovias, nas
hidrovias e na navegao de cabotagem foi observada, principalmente devido ao
aumento de carga geral - esta que uma atividade localizada em reas de expanso de
fronteira agrcola e que apresenta uma baixa concentrao de infraestrutura adequada
para ser escoada. Sendo assim, necessrio perpassar do interior do pas em direo ao
litoral, elevando ainda mais os fluxos de mercadorias nas reas de economias
consolidadas da fachada Atlntica e gerando espaos de viscosidades (gargalos).
Assim, a soluo foi investir em reas que at ento no apresentavam
elevada participao na dinmica econmica brasileira, de modo a possibilitar reduo
dos custos e maior insero econmica desses produtos no mercado externo,
acarretando consecutivas modificaes nessas regies pautadas na economia primria,
atravs do direcionamento de capital fixo para essas reas, pois deve-se considerar que
(...) o desenvolvimento regional no somente resultado de fatores de produo, tais
como capital e trabalho, mas tambm da infra-estrutura. Melhorar a infra-estrutura
conduz a uma maior produtividade dos fatores de produo (RIETVELD apud
ARAUJO, 2006, p.17).
Logo, buscou-se aqui contribuir para discusses acerca da Geografia da
Circulao, Transporte e Logstica, realizando-se uma reflexo e demonstrando-se as
modificaes que o Estado perpassou para receber maior injeo de investimentos da
iniciativa privada e seus desdobramentos. Alm disso, procurou-se demonstrar algumas
caractersticas dos gargalos que afligem o Sistema de Viao Federal e as novas reas,
que at o momento foram renegadas e que devero canalizar uma relativa parcela de
investimentos em um futuro prximo conforme prognsticos apresentados no PNLT
para os prximos anos. No entanto, sabemos que caso a reorganizao dos sistemas de
movimento no pas no ocorra atrelada a um plano de desenvolvimento global, pode
apresentar um efeito multiplicador no mbito da nao, porm, seus efeitos no mbito
regional podem ser limitados a reas tradicionalmente dinmicas.
Referncias Bibliogrficas
ARAJO, M. da P. Infraestrutura de transporte e desenvolvimento regional: uma
abordagem de equilbrio geral inter-regional. Tese (Doutorado em Economia Aplicada)
Universidade de So Paulo, Piracicaba, 2006.
BERCOVICI, G. Constituio econmica e desenvolvimento: uma releitura a partir da
constituio de 1988. So Paulo: Malheiros, 2005.
BIONDI, A. O Brasil Privatizado II: o assalto das privatizaes continua. So Paulo:
Ed. Fundao Perseu Abramo, 2000.
BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Disponvel em:
<http://www.dnit.gov.br/menu/rodovias/rodoviasfederais>. Acesso em: 15 jul. 2008.
BRASIL. Plano Nacional de Transportes e Logstica. Centro Nacional de Excelncia
em Engenharia de Transportes (CENTRAN). Ministrio dos Transportes e Ministrio da
Defesa. Disponvel em: <http://www.centran.eb.br/plano_logistica.htm>. Acesso em: 20
mar. 2008.
CORRA, R. L. Interaes espaciais. In: CASTRO, I. E. de; GOMES, P. C. da C.;
CORRA, R. L. (Org.) Exploraes geogrficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997,
p. 279-318.
GARCIA, F. A. Regulao Jurdica das rodovias concedidas. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004.
LA BLACHE, P. V. de. Princpios de Geografia Humana. Lisboa: Edies Cosmos,
1954.
LOPES, S. S.; CARDOSO, M. P.; PIACCININI, M. S. O transporte rodovirio de carga
e o papel do BNDES. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.14, n.29, p. 35-60, jun.
2008.
MARX, Karl. O capital: Crtica da economia poltica. Livro II, Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 2005, p. 136-160.
SILVEIRA, M. R. Estradas de ferro no Brasil: das primeiras construes s parcerias
pblico-privadas. Rio de Janeiro: Intercincia, 2007.
SILVEIRA, M. R. Logstica, sistemas de movimento, fluxos econmicos e interaes
espaciais no territrio paulista: uma abordagem para a geografia dos transportes e
circulao. Revista Scripta Nova, Barcelona, v. XIII, n. 283, 2009. Disponvel em:
<http://www.ub.es/geocrit/sn-283.html>. Acesso em: 02 de fev. 2010.
SOUZA, V. H. P de. Dos grandes projetos de desenvolvimento aos projetos pontuais no
Brasil e a influncia do modal rodovirio. Revista Geografia e Pesquisa, Ourinhos,
2009.
SOUZA, V. H. P de. O transporte rodovirio no Brasil: uma discusso acerca das
barreiras infraestruturais e normativas. In: Silveira, M. R. (Org.). Circulao,
Transportes e Logstica: diferentes perspectivas. No prelo.
RANGEL, I. Obras Reunidas de Igncio Rangel. Contraponto: Rio de Janeiro, v. 1 e 2,
2005.
Agncia Nacional de Transportes Terrestres. Revista ANTT. Braslia, ano 1 ,n 1,
novembro de 2009.
ULLMAN, E. Geography as spatial interaction. In: HURST, M. E. (Org.).
Transportation Geography. Londres: Macgraw Hill, 1972, p. 29-39.
WANKE, P. A qualidade da infra-estrutura logstica na percepo dos grandes
exportadores brasileiros. Disponvel em: <www.centrodelogistica.com.br/.../Dez
06_Peter_qualidade_infra-estrutura_logistica.pdf >. Acesso em: 30 ago. 2008.
Ficha bibliogrfica:
SOUZA, Vitor Helio Pereira de. O transporte rodovirio no Brasil: algumas tipologias da
viscosidade. La planificacin territorial y el urbanismo desde el dilogo y la participacin.
Scripta Nova. Revista Electrnica de Geografa y Ciencias Sociales. [En lnea]. Barcelona:
Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2010, vol. XIV, n 331
(21). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-21.htm>. [ISSN: 1138-9788].
Você também pode gostar
- Projeções Do Agronegócio 2020-2021 A 2030-2031Documento102 páginasProjeções Do Agronegócio 2020-2021 A 2030-2031GLEICIELE SOARES DE LIMAAinda não há avaliações
- Antologia (Drama Abolicionista)Documento193 páginasAntologia (Drama Abolicionista)Maria Clara GonçalvesAinda não há avaliações
- VIDIGAL, Carlos Eduardo. A Integração Sul-Americana Como Um Projeto Brasileiro de Uruguaiana Às MalvinasDocumento16 páginasVIDIGAL, Carlos Eduardo. A Integração Sul-Americana Como Um Projeto Brasileiro de Uruguaiana Às MalvinasTiago DeFerreiraAinda não há avaliações
- Pré-Fabricado de Concreto CassolDocumento22 páginasPré-Fabricado de Concreto CassolsurdiiAinda não há avaliações
- Origem Do Feijão - Entenda Sua Importância!Documento6 páginasOrigem Do Feijão - Entenda Sua Importância!Alexandrechanox mxAinda não há avaliações
- Centro de OrigemDocumento8 páginasCentro de OrigemLindomar SiqueiraAinda não há avaliações
- Texto VANDANA SHIVADocumento8 páginasTexto VANDANA SHIVAAna Cláudia MarochiAinda não há avaliações
- Estrela Ontem e Hoje e DicionrioDocumento1.213 páginasEstrela Ontem e Hoje e DicionrioJéferson Andreu100% (3)
- SUGESTÃO DE PROVA - Geografia 5-4Documento7 páginasSUGESTÃO DE PROVA - Geografia 5-4KethelynGonçalvesAinda não há avaliações
- Ep - Editor, Gerente Da Revista, 1926-6914-1-CE PDFDocumento10 páginasEp - Editor, Gerente Da Revista, 1926-6914-1-CE PDFLizi AcordiAinda não há avaliações
- SD Geografia 7º EF Anos Finais 1º Bim 2024Documento26 páginasSD Geografia 7º EF Anos Finais 1º Bim 2024joalitondehollandaAinda não há avaliações
- Diversidade Natural Na América: Hidrografia: 8 ANO Aula 8 - 4 BimestreDocumento26 páginasDiversidade Natural Na América: Hidrografia: 8 ANO Aula 8 - 4 BimestrejoaollopespereiraAinda não há avaliações
- EFEITO DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE MILHO Resumo ExpandidoDocumento5 páginasEFEITO DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE MILHO Resumo ExpandidoCarlos Gabriel Grein FurtadoAinda não há avaliações
- Geografia Do Brasil Jurandyr L. Sanches RossDocumento6 páginasGeografia Do Brasil Jurandyr L. Sanches RossAlex Silva Dias AmericoAinda não há avaliações
- Biografia Humberto EspindolaDocumento3 páginasBiografia Humberto EspindolaDay Trufas GeladinhosAinda não há avaliações
- Simulado Uesb 8º AnoDocumento3 páginasSimulado Uesb 8º AnoProdax Lix OdaxAinda não há avaliações
- Terra Roxa e Outras Terras - LITERATURA MSSDocumento8 páginasTerra Roxa e Outras Terras - LITERATURA MSSAmanda CunhaAinda não há avaliações
- Imigração Na Bahia - 1816 A 1900Documento145 páginasImigração Na Bahia - 1816 A 1900Marcello Bhering MenezesAinda não há avaliações
- Avaliação 7 Ano ProvaDocumento3 páginasAvaliação 7 Ano ProvaNivaldo TenórioAinda não há avaliações
- Cartaz CerradoDocumento12 páginasCartaz CerradoMarcelo LiraAinda não há avaliações
- Processos Oceânicos - Fisiografia Dos Fundos Marinhos PDFDocumento15 páginasProcessos Oceânicos - Fisiografia Dos Fundos Marinhos PDFAlexander Magno BorgesAinda não há avaliações
- Apostila 3 - 7 Ano GeografiaDocumento8 páginasApostila 3 - 7 Ano Geografialilian.puglieseAinda não há avaliações
- Economia C SoluçõesDocumento48 páginasEconomia C SoluçõesecpAinda não há avaliações
- Dados Gerais Sobre Religiões No Brasil A Partir Dos Censos e Pesquisa Data Folha 2016Documento3 páginasDados Gerais Sobre Religiões No Brasil A Partir Dos Censos e Pesquisa Data Folha 2016Paulo Agostinho BaptistaAinda não há avaliações
- Boaventura Almeida MubaiDocumento124 páginasBoaventura Almeida MubaiBaptista Jaime MilioneAinda não há avaliações
- Avaliacao de Geografia 7 AnoDocumento8 páginasAvaliacao de Geografia 7 AnoMarisa Carla Ribeiro100% (1)
- 2.-Apos Hist Esfcex 2015Documento28 páginas2.-Apos Hist Esfcex 2015sdadaAinda não há avaliações
- (BRASIL) Proposta de Reestruturação Do Programa de Desenvolvimento Da Faixa de FronteiraDocumento418 páginas(BRASIL) Proposta de Reestruturação Do Programa de Desenvolvimento Da Faixa de FronteiraMayara CostaAinda não há avaliações
- Padrão de Resposta Da Prova Discursiva - 3 Fase História Do Brasil Questão 1Documento38 páginasPadrão de Resposta Da Prova Discursiva - 3 Fase História Do Brasil Questão 1Ana Paula Leite RibeiroAinda não há avaliações
- O Lavrado Da Serra Da Lua em Roraima e Perspectivas para Estudos Da Herpetofauna Na RegiãoDocumento14 páginasO Lavrado Da Serra Da Lua em Roraima e Perspectivas para Estudos Da Herpetofauna Na Regiãopublischer100% (2)