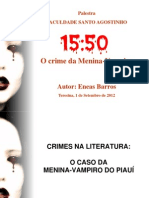Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Dinamica Da Vilencia Domestica PDF
A Dinamica Da Vilencia Domestica PDF
Enviado por
Lene Rocha0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações11 páginasTítulo original
a dinamica da vilencia domestica.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações11 páginasA Dinamica Da Vilencia Domestica PDF
A Dinamica Da Vilencia Domestica PDF
Enviado por
Lene RochaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
Resumo
Este artigo analisa a dinmica da violncia domstica
a partir do discurso da mulher agredida e do parceiro
autor da agresso. Foi elaborado a partir de uma pesqui-
sa descritivo-exploratria com abordagem qualitativa,
entre outubro de 2006 e janeiro de 2007, com trinta
casais cujas mulheres haviam registrado na Delega-
cia da Mulher de Florianpolis (Santa Catarina) duas
ou mais queixas por agresso contra o parceiro. Em
comparao com as mulheres, os homens tenderam
a negar a ocorrncia e a diminuir a frequncia das
agresses. Os motivos das agresses mais apontados
como interferentes na dinmica do casal foram o ci-
me, o homem ser contrariado, a ingesto de lcool e a
suspeita de traio. O estudo revela as caractersticas
das agresses percebidas pelos membros do casal e a
forma de eles entenderem os fatores que repercutem
na dinmica de violncia domstica, no atribuindo
somente mulher o papel de porta-voz.
Palavras-chave: Violncia domstica; Violncia contra
a mulher; Maus-tratos conjugais.
Leila Platt Deeke
Mestranda do Programa de Ps-graduao em Sade Pblica
e membro do Grupo de Pesquisa em Polticas de Sade / Sade
Mental. Centro de Cincias da Sade, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianpolis.
Endereo: Rua Santo Amaro, 279, Balnerio, CEP 88075-510, Flo-
rianpolis, SC, Brasil.
E-mail: leiladeeke@gmail.com
Antonio Fernando Boing
Mestre em Sade Pblica. Doutorando do Programa de Ps-
graduao em Cincias Odontolgicas da Universidade de So
Paulo (USP).
Endereo: Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento
de Sade Pblica, Campus Universitrio, Trindade, CEP 88040-970,
Florianpolis, SC, Brasil.
E-mail: boing@ccs.ufsc.br
Walter Ferreira de Oliveira
Professor do Programa de Ps-graduao. Centro de Cincias da
Sade, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis. Lder
do Grupo de Pesquisa em Polticas de Sade / Sade Mental.
Endereo: Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de
Cincias da Sade, Departamento de Sade Pblica, Campus
Universitrio, Trindade, Caixa-Postal: 476, CEP 88040-900, Flo-
rianpolis, SC, Brasil.
E-mail: walter@ccs.ufsc.br
Elza Berger Salema Coelho
Professora do Programa de Ps-graduao em Sade Pblica. Cen-
tro de Cincias da Sade. Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianpolis. Orientadora de mestrado da primeira autora.
Endereo: Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de
Cincias da Sade, Departamento de Sade Pblica, Trindade,
CEP 88040-970, Florianpolis, SC, Brasil.
E-mail: elzacoelho@gmail.com
1 Artigo apresentado como requisito para obteno do ttulo de
mestre, ao Programa de Ps-Graduao, Centro de Cincias da
Sade, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis,
em agosto de 2007.
A Dinmica da Violncia Domstica: uma
anlise a partir dos discursos da mulher
agredida e de seu parceiro
1
Dynamics of Domestic Violence: an analysis from the
perspective of the attacked woman and her partners
discourses
248 Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009
Abstract
This article analyzes the dynamics of domestic violen-
ce from the perspective of both the attacked womans
and her partners speeches, the husband being the
perpetrator. It was designed as a descriptive-explo-
ratory research study with a qualitative approach,
interviewing thirty couples in which the women had
registered two or more complaints for aggression
against the partner in the Womans Police Station in
Florianpolis (Santa Catarina), between October 2006
and January 2007. Contrary to many other studies,
the majority of interviewees was active in the labor
market. Men, compared with women, were more prone
to deny the occurrence or to diminish the frequency
of aggression episodes. According to the categories
established by data analysis, the main reasons for ag-
gressive behavior interfering in the couples dynamics
were jealousy, the man being contradicted, alcohol
ingestion and love cheating. The study discloses the
characteristics of the aggressive behavior perceived
by both members of the couple and the way the couple
understands the factors that inuence the dynamics of
domestic violence, not attributing only to the woman
the spokesperson role.
Keywords: Domestic Violence; Violence Against Wo-
men; Spouse Abuse.
Introduo
A violncia nas relaes entre parceiros expressa di-
nmicas de afeto e poder e denunciam a presena de
relaes de subordinao e dominao. Essa dinmica
relacional pode ser propiciada na medida em que a divi-
so interna de papis admite uma distribuio desigual
de privilgios, direitos e deveres dentro do ambiente do-
mstico, setor em que se denem assimetrias de poder
calcadas em diferenas de gnero. A herana cultural
do regime patriarcal, tpico das sociedades ocidentais
de inuncia judaico-crist, media o convvio dentro
do espao privado dos casais, congurando o relacio-
namento cotidiano como gerador de uma complexa
trama de emoes, em que a sexualidade, a reproduo
e a socializao constituem esferas potencialmente
criadoras de relaes ao mesmo tempo prazerosas e
conitivas (Azevedo e Guerra, 2000).
As agresses perpetradas pelo parceiro ntimo so
mundialmente reconhecidas como uma das formas
mais comuns de violncia contra a mulher (Watts e
Zimmerman, 2002), que apresenta maior risco de ser
agredida fsica e sexualmente por quem convive inti-
mamente com ela do que por qualquer outra pessoa
(Garcia-Moreno e col., 2006). Do ponto de vista legisla-
tivo, no Brasil a Lei n
o
11.340, sancionada em agosto de
2006, estabeleceu como violncia domstica e familiar
contra a mulher qualquer ao ou omisso baseada no
gnero, que lhe cause morte, leso, sofrimento fsico,
sexual, psicolgico e dano moral ou patrimonial no m-
bito da unidade domstica, da famlia ou em qualquer
relao ntima de afeto na qual o agressor conviva ou
tenha convivido com a ofendida, independentemente
de coabitao.
Ao revisar 48 pesquisas realizadas com populaes
de todo o mundo, Heise e colaboradores (1999) identi-
caram que de 10% a 50% das mulheres relatam terem
sido maltratadas ou espancadas por seus parceiros
em algum momento de suas vidas. A violncia fsica
em relacionamentos ntimos quase sempre acompa-
nhada de violncia psicolgica; e de um tero metade
dos casos envolve violncia sexual (Koss e col., 1994;
Ellsberg e col., 2000). No Brasil, estudo realizado com
749 homens de faixa etria entre 15 e 60 anos na ci-
dade do Rio de Janeiro revelou que a violncia fsica e
psicolgica foi usada, respectivamente, por 25% e 40%
dos homens contra a parceira pelo menos uma vez na
vida (Acosta e Barker, 2003).
Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009 249
As publicaes sobre violncia domstica tendo
como sujeito de pesquisa o casal envolvido no evento
no possuem, na Amrica Latina, a mesma amplitude
identificada nas investigaes focadas na mulher
agredida. Castro e Riquer (2003)
enfatizaram que a
resistncia dos homens em verbalizar sobre a violncia
culmina na centralizao das investigaes em torno
das mulheres agredidas, consideradas mais acessveis
para falar sobre o tema e tambm porque, fazendo
parte do grupo agredido, sentem-se mais inclinadas a
defender a vigncia de seus direitos. Assim, no tem
sido dada a oportunidade aos homens de verbalizao
sobre as manifestaes da agresso no contexto do lar.
Esses fatos propiciaram este estudo, que contempla
o carter relacional que contextualiza a violncia no
ambiente domstico.
Assim, este artigo objetiva, ao apresentar uma
anlise da dinmica da violncia domstica a partir do
discurso da mulher agredida e de seu parceiro autor da
agresso, contribuir para o avano do conhecimento,
trazendo aportes ainda no extensamente explora-
dos para a compreenso da dinmica dos casais em
conito.
Material e Mtodos
Realizou-se uma pesquisa descritivo-exploratria com
abordagem qualitativa, entrevistando-se 30 casais
de homens e mulheres que registraram episdio de
violncia domstica entre outubro de 2006 e janeiro
de 2007. O critrio de incluso dos casais no estudo
foi a noticao, por parte da mulher, Delegacia de
Proteo Mulher, Criana e ao Adolescente de Flo-
rianpolis (Santa Catarina), de ao menos dois boletins
de ocorrncia contra seus parceiros por agresso.
As entrevistas foram realizadas individualmente
e em espao reservado na delegacia quando da ida de
ambos para a consulta com o psiclogo. As conversas
foram gravadas, garantindo-se a privacidade e o sigilo
das informaes. Foram obtidos dados demogrcos
sobre os sujeitos da pesquisa, formas de manifestao
da violncia, concepes de violncia por parte dos en-
trevistados e motivo de o casal permanecer na relao
tendo em vista o contexto de violncia.
Para a sistematizao dos dados colhidos nas en-
trevistas, utilizou-se a anlise de contedo, conforme
a metodologia proposta por Bardin (1979). Nessa an-
lise, deniram-se as seguintes categorias descritivas
dos motivos do comportamento violento no ambiente
domstico: cime, ser contrariado, ingesto de lcool
e traio. Essas categorias constituram o corpus de
anlise. O perl sociodemogrco dos entrevistados
e os dados quantitativos sobre a violncia praticada
foram registrados no programa EpiData 3.0 e para a
obteno das frequncias e mdias de determinadas
variveis utilizou-se o programa Stata 9.
No intuito de garantir o anonimato dos sujeitos
da pesquisa foram utilizados nomes ctcios para o
casal, como: Paula/Paulo e Maria/Mrio. A pesquisa
foi aprovada pelo Comit de tica em Pesquisa da
Universidade Federal de Santa Catarina, sob o parecer
n 246/06, atendendo Resoluo 196/96 do Conselho
Nacional de Sade.
Resultados e Discusso
Os sujeitos envolvidos
O tempo mdio da relao conjugal entre os parceiros
entrevistados foi de 11 anos, com mnimo de um ano e
mximo de 32 anos. A idade mdia das mulheres que
apresentaram queixas foi de 36 anos e dos homens de-
nunciados de 40 anos. Quanto escolaridade, 33,3% das
mulheres possuam ensino fundamental incompleto
e 10,0% completo; tambm 10,0% iniciaram o ensino
mdio, porm no o terminaram, e 26,7% conseguiram
concluir essa etapa de ensino. Um total de 20% das
mulheres tinha como grau mximo de escolaridade o
ensino superior. Dentre os homens, 40% apresentavam
ensino fundamental incompleto e 10,0% completo.
Por m, 13,3%, 26,7% e 10,0% apresentavam, respec-
tivamente, ensino mdio incompleto, ensino mdio
completo e ensino superior. Apesar de se tratar de uma
amostra de convenincia, o que impede a generalizao
dos achados, esses valores sobre escolaridade diferem
de outros estudos que apontam a baixa escolaridade
como majoritria da mulher agredida pelo parceiro
(Meneghel e col., 2000; Mota e col., 2007). A escolarida-
de dos homens tambm diferiu do estudo de Menezes
(2003), que evidenciou a menor escolaridade (ensino
primrio) como caracterstica de homens envolvidos
em situao de violncia domstica.
Identificaram-se 79,9% das mulheres inseridas
no mercado de trabalho e, dessas, somente 16,7% na
informalidade. Chama-nos a ateno a alta proporo
250 Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009
de mulheres formalmente empregadas, quando se
compara, por exemplo, com os achados de Adeodato e
colaboradores (2005). Esses autores, numa pesquisa
realizada entre setembro de 2001 e janeiro de 2002,
com 100 mulheres que sofreram agresso de seus
parceiros e que prestaram queixa na Delegacia da
Mulher do Cear, vericaram que 48% das mulheres
trabalhavam fora de casa.
Historicamente, os homens estiveram em maioria
no mercado de trabalho (Banco Mundial, 2003), di-
menso conrmada no presente estudo ao apontar que
86,6% deles estavam empregados, sendo 46,2% no setor
informal. Segundo o Banco Mundial (2003) e a Fundaci-
n Escuela de Gerencia Social (2006), o risco de abuso
fsico diminui com o aumento do nvel de renda do lar
e com os anos de educao da mulher. Martin (2001)
sugeriu que as mulheres que trabalham sofrem menos
violncia de seus companheiros, sendo imprescindvel
a elas aumentar sua autonomia econmica.
O relato de Luciana, a seguir, mostra como se inte-
gram aos aspectos formais, de nveis de renda, traba-
lho e educao, os aspectos emocionais, constituindo
signicados e sentidos no contexto de um ambiente
domstico perpassado pela violncia entre parceiros:
eu no suporto car sozinha. Parece, assim, que eu
esqueo o que aconteceu, acabo ligando pra ele...
Eu sou independente, tenho meu servio, tenho a
minha casa, eu no preciso dele pra nada! Eu no
sei porque eu t aturando isso... Eu no quero me
destruir.
Das trinta mulheres que zeram parte deste estudo,
70% j haviam registrado de dois a quatro boletins de
ocorrncia por agresso contra seus parceiros, enquan-
to 26,6% haviam feito de cinco a nove noticaes e
3,3% at 10 boletins. Esses dados demonstraram que
o processo da violncia acompanha alguns casais de
forma intensa e longa. Garbin e colaboradores (2006)
armaram que alm da dependncia nanceira, a im-
punidade, o medo, o constrangimento de ter a sua vida
averiguada e a dependncia emocional so motivos
que fazem com que as mulheres desistam da denncia
formal e ou de prosseguir com a ao penal.
A vergonha de expor que so agredidas sicamente
pelo parceiro um dos sentimentos mais constrangedo-
res que as mulheres relatam em relao situao de
violncia domstica. Quando denunciam seus parcei-
ros, esperam encontrar apoio institucional, o que nem
sempre acontece. Esse parece ser um dos fatores que
propiciam o retorno ao convvio com o autor da agres-
so, situao que as leva a retirar a queixa diante da
promessa do parceiro de no mais agredi-las ou como
consequncia as ameaas, conforme relata Mrcia: ele
diz que se eu no for retirar a queixa, ele... me mata e
me joga dentro do mar, a ningum vai me achar.
A realidade da violncia vivenciada entre os parcei-
ros neste estudo mostra a possibilidade de agresses
frequentes e vai, ao mesmo tempo, ao encontro da
armao de Krug e colaboradores (2002),
que apontam
no ser raro as mulheres sofrerem comumente vrios
tipos de agresso ao longo de suas vidas. No presente
estudo, vericou-se que o relato dos homens minimiza
as frequncias e desqualica vrias formas de agresso
apontadas no relato das mulheres. Era comum, para os
homens, justicar que atos de agresso fsica e verbal
so comuns entre casais, que a denncia era injusta e
que as parceiras tambm os agridem. De forma geral,
os homens no aceitavam estar na delegacia prestan-
do depoimento, conforme coloca Mrio: a agresso
de boca... e de tapa... Eu tento conversar com ela... Ela
comea a dizer nome... depois eu volto e t tudo dez! Eu
acho que briga de casal todo mundo tem.
Alguns homens demonstraram desprezo pelas
inmeras idas da parceira delegacia, associando a
queixa da mulher pretenso de benefcio nanceiro,
apontando a posse da casa como o objeto mais alme-
jado. Essa teoria da queixa por interesse est presente
no relato de Flvio:
Se chamar de feia ela vem [na delegacia], se chamar
de bonita ela vem... acho que ela tem interesse em
alguma [faz gestos com os dedos simbolizando que
a parceira tem interesses nanceiros], ts entenden-
do?... Ela tem uma ideia, porque qualquer coisinha
ela t aqui!... ela gosta de andar em delegacia... Eu
j disse que ela tinha que arrumar... um emprego
aqui, na delegacia... ou car s aqui.
As Contradies em Relao ao Perl da Violncia
Ao considerar os relatos dos homens e mulheres envol-
vidos em situaes de violncia domstica, foi possvel
constatar vrias contradies. Listamos abaixo algu-
mas das mais agrantes:
Enquanto 53,3% das mulheres alegaram sofrer
agresso fsica e verbal, somente 26,7% dos homens
armaram praticar os dois tipos de agresso.
Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009 251
36,7% das mulheres disseram sofrer agresso verbal,
enquanto 63,3% dos homens armaram praticar esse
tipo de agresso.
6,7% das mulheres alegaram que sofrem, ao mesmo
tempo, agresso verbal, fsica e psicolgica. Nenhum
homem admitiu praticar os trs tipos de agresso.
6,7% dos homens alegaram nunca ter praticado ne-
nhum tipo de agresso contra suas parceiras, apesar de
elas os terem denunciado delegacia por agresso.
Em relao frequncia da agresso verbal, 48,3%
das mulheres que relataram sofr-la indicaram que
ela ocorre diariamente, enquanto apenas 20,7% dos
homens relataram essa periodicidade (tabela 1).
Tabela 1 - Frequncia de agresso verbal, dentre os ca-
sais cujas mulheres relataram sofr-la (n = 29), referida
por homens e mulheres. Florianpolis, 2006-2007.
Frequncia da
agresso verbal
Mulheres Homens
n % n %
Diariamente 14 48,3 6 20,7
Semanalmente 9 31,0 6 20,7
Mensalmente 3 10,3 6 20,7
Raramente 2 6,9 8 27,6
Quinzenalmente 1 3,4 1 3,4
No houve agresso 2 6,9
Os homens, de maneira geral, tendem a relatar uma
periodicidade menor de comportamentos violentos
quando comparados s mulheres, e alguns no admi-
tem atos de agresso. O relato de Juliano ilustrativo:
no existe agresso nem fsica e nem verbal... Agora
eu vejo ela com um homem, ela tem vinte e seis anos,
com um homem de cinquenta e seis e ela diz pra mim
que ele melhor na cama do que eu. A eu chamei de
vagabunda. Schraiber (2002) aponta que comum que
o (a) agressor(a) acredite que o sucesso do relaciona-
mento de responsabilidade do(a) companheiro(a), ou
seja, que se a relao no d certo a culpa do outro.
A racionalizao, de acordo com Goleman (2003),
uma das estratgias mais comuns para negar os ver-
dadeiros motivos da agresso, cobrindo e bloqueando
o verdadeiro impulso que provocou o ato agressivo,
substituindo-o ou inventando outro fator.
Em relao frequncia da agresso fsica, 44,4%
das mulheres que alegaram sofrer esse tipo de agresso
e 33,3% dos homens que admitiram pratic-la aponta-
ram a sua periodicidade como semanal, enquanto 16,7%
das mulheres e 33,3% dos homens disseram que ela
mensal. Nenhuma mulher relatou no haver agresso
fsica, enquanto dois homens alegaram no existir
esse tipo de agresso, considerando as denncias
delegacia como infundadas. Alm disso, nenhum ho-
mem apontou a frequncia diria de agresso fsica,
alegada por trs mulheres. Possivelmente, o fato de a
entrevista ter sido realizado na delegacia, ainda que
em sala totalmente reservada e em garantia de anoni-
mato, pode ter inuenciado a resposta dos homens em
negar ou minimizar as agresses. Para Hamberger e
Holtzworth-Munroe (1999), um aspecto muito carac-
terstico dos agressores a tendncia de minimizar a
agresso e negar o comportamento agressivo. O relato
de Felcio demonstra a armao: j fazem dez anos
que eu me separei dela, e j faz cinco anos que eu no
tenho nenhum tipo de contato... nem fsico, nem nada...
agresso muito menos. Em seguida se contradiz:
Uma... agresso verbal por telefone. Mas... em nenhum
momento eu agredi ela verbalmente.
Quando procuramos saber onde as mulheres busca-
vam ajuda aps a agresso, 40% referiram familiares,
16,6% amigas(os) e/ou vizinhas(os), 10% polcia militar
e 33,3% armam no procurar ningum. Os dados esto
de acordo com os encontrados pela Fundao Perseu
Abramo (2001) que, a partir de uma amostra obtida
em 2001 de 2.502 entrevistas pessoais e domiciliares
realizadas nas cinco macrorregies do pas, identicou
que o pedido de ajuda recai principalmente sobre outra
mulher da famlia da vtima me ou irm ou em
alguma amiga prxima.
Destacou-se na tabela 2 que 56,7% das mulheres
faziam uso de medicamentos em funo da situao
de violncia. Esse comportamento pode estar relacio-
nado a momentos de depresso e/ou ansiedade. O grau
de ingesto parece ser independente de superviso
mdica, como ilustrado no depoimento de Patrcia:
Eu t fazendo tratamento psiquitrico, por causa da
depresso e do pnico, tudo por causa dele... porque eu
comecei a ter crises nervosas... se eu tenho que tomar
cinco gotas, eu tomo trinta. O uso de medicamentos
por mulheres em situao de violncia domstica, para
Maldonado (1995), muitas vezes a nica soluo que
se apresenta como possvel, nas circunstncias, para
resolver problemas, conitos e insatisfaes crnicas.
252 Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009
Algumas mulheres envolvidas na dinmica de vio-
lncia, no presente estudo, para suportar a angstia
pessoal e o desconforto psicolgico utilizaram-se de
drogas psicotrpicas como forma de automedicao.
A expectativa era de que os efeitos dessas drogas as
ajudassem a suportar a depresso, a ansiedade, a
sensao de impotncia e outras emoes negativas,
desencadeadas pela vivncia da violncia domstica.
Tabela 2 - Uso de medicamentos e outras substncias
antes ou aps a agresso em razo da violncia. Flo-
rianpolis, 2006-2007.
Uso de medicamentos e
outras substncias antes ou
aps as agresses
Mulheres Homens
n % n %
Medicamentos 17 56,7 1 3,3
lcool 9 30,0
Medicamento e lcool 2 6,7 1 3,3
Maconha 1 3,3 3 10,0
No usam nada 10 33,3 16 53,3
A tabela 2 apontou, ainda, que 30% dos homens
ingeriam bebidas alcolicas antes ou depois dos epi-
sdios de agresso, e que 3,3% dos homens e 6,7% das
mulheres se utilizaram, nessas ocasies, do lcool
combinado a medicamentos. Esses dados so particu-
larmente importantes, considerando-se a carncia de
dados sobre o uso de lcool entre as mulheres vtimas
de violncia, j que a maioria dos estudos foca o uso
apenas entre os homens agressores (Noto, 2003). Assim
como Noto (2003), Minayo e Deslandes (1998)
reconhe-
cem o uso de lcool pelo homem como um signicativo
fator de risco para a violncia contra a mulher.
A Difcil Negociao: os motivos da violncia do-
mstica a partir dos discursos
A anlise dos discursos dos homens autores das agres-
ses e das mulheres agredidas forneceu quatro catego-
rias que subsidiaram, no presente estudo, a compreen-
so da dinmica da violncia entre os parceiros.
1. Cime foi o fator apontado por 50% das mulheres e
23% dos homens como o elemento desencadeador das
situaes de violncia.
2. Ser contrariado (o homem) foi o motivo que 30% das
mulheres e 43% dos homens deniram como o motivo
da agresso.
3. Ingesto de lcool pelo homem foi a explicao dada
por 13% das mulheres e 16% dos homens.
4. Traio foi apontada por 3% das mulheres e 10% dos
homens como motivo para violncia.
Cime
A maioria das mulheres pesquisadas referiu a presen-
a do cime, por parte dos parceiros, acarretando o
aumento da tenso entre o casal. Geralmente o homem
manifestava desconana de que a companheira pu-
desse estar saindo com outros homens, e insistiam
para que conrmassem suas suspeitas. Os homens ar-
maram terem cime da parceira em relao a amigas
e ex-namorados/maridos, sendo esse um dos maiores
estopins para as discusses e para os episdios de
violncia. Essa dinmica exemplicada por Manoel:
A eu co agredindo verbalmente... A ca alegando
que t na casa de uma amiga, que t na casa de outra
amiga... Ento, bom, fale a verdade! No deixe assim...
Ainda eu vou saber onde ela anda!.
O fator cime foi um dos maiores motivos para a
violncia fsica, como evidenciado no relato de Mrcia:
Ele costuma me chamar de mentirosa, a dizer que
eu traio ele e me bate... E a diz que, enquanto eu no
confessar, ele no vai me dar sossego. Ao ser inquiri-
do sobre a agresso parceira, Mrcio arma: , na
verdade eu no agrido e, em seguida eu agrido ela
verbalmente, porque ela me insulta com vrios pala-
vres, a eu saio um pouco do controle. A situao de
violncia vivenciada entre Mrcia e Mrcio corrobora
a armao de Deslandes (1994) de que o agressor
justica sua agresso buscando a culpa em outras
pessoas, considerando, de forma consciente ou no,
que os acontecimentos desencadeadores do incio da
violncia no so de sua responsabilidade.
Outro fato que emergiu no estudo refere-se ao grau
de envolvimento do cnjuge com os relacionamentos
anteriores, por exemplo, quando a mulher inicia uma
nova relao, mas traz consigo o seu lho com um ex-
parceiro. Nota-se, a, a diculdade do casal em lidar
com circunstncias em que a parceira precisa manter
dilogo com o pai de seu lho. Assim, as necessrias de-
mandas por adaptao s novas formas de coexistir, no
contexto de uma famlia que se estende para alm dos
laos consanguneos e das relaes desejveis, tornam-
se problemas que podem, se mal resolvidos, deagrar a
agressividade do homem em relao mulher.
Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009 253
Ser contrariado
O fato de ser contrariado quanto a sua vontade ou a
uma ordem dada, sistematicamente o fator mais
apontado pelos homens como desencadeador de com-
portamento violento. H a percepo, por parte do
homem, de que a violncia o meio mais ecaz para
coagir e subordinar a parceira sua vontade e de faz-la
obedecer as suas regras. O relato de Cristiano explicita
o autoritarismo imposto parceira:
Eu vi ela brincando com um colega dela l no colgio,
eu no deixei mais ela estudar... ela se prejudicava
porque fazia a coisa errada!... e eu mandava calar
a boca, a ela no calava, da ia at que s vezes a
gente ia [faz gesto de agresso]... eu mandava ela
car quieta, ela no cava.
O presente estudo evidenciou a coexistncia de
casais que se perpetuam num vnculo de dio, desprezo
mtuo, ataques e maus-tratos. Para Maldonado (1995),
as relaes entre casais com essas dinmicas se con-
guram como um verdadeiro beco sem sada, uma vez
que esses relacionamentos vo se conformando como
instrumentos de tortura e autotortura. O objetivo pode
ser o de se maltratar e punir, na esperana de aplacar
monstros interiores, colocando-se os membros do casal
como personagens do jogo prisioneiracarceireiro,
em que a mulher se queixa de ser controlada, de ter
que aguentar cenas de cime terrveis, de ter todos os
passos vigiados, mas, em contrapartida, sente-se prote-
gida e resguardada. Nesse caso, pode ser mais perigoso
trocar a segurana da estabilidade, mesmo que possivel-
mente patolgica, pelo imprevisto da liberdade.
Percebemos, ainda, casais em que ambos querem
subordinar um ao outro, vivenciando um duelo, de
quem pode aprisionar mais o outro na dinmica da
relao. O homem perde o controle de suas emoes
quando se submete norma social, legitimamente
exercida pela mulher, que o obriga a no sair de casa.
Ou ainda quando a mulher lhe dita regras de compor-
tamento alegando desconanas de que tenha outras
mulheres. Essas situaes foram objeto de reexo por
parte de Ferrari (2002), para quem o anseio de domnio,
de controle e de poder sobre o outro atua como fator
que alimenta a violncia entre casais. Em uma das
conversas, o entrevistado assumiu categoricamente
que os atos de agresso verbal e fsica do homem contra
a mulher so inerentes ao sexo masculino.
Desse modo, vimos que a violncia entre os casais
se expressa cotidianamente como consequncia de
uma luta de poderes. Nessa luta, o homem considera-se
ofendido na sua autoridade quando contrariado, o que
muitas vezes serve como justicativa para o compor-
tamento violento.
Ingesto de lcool
O papel do lcool na violncia domstica, para Caetano
e colaboradores (2001), pode ter vrias interpretaes,
no necessariamente excludentes. Uma delas seria o
efeito desinibidor que o seu consumo provoca e que po-
deria contribuir para a ecloso desse tipo de violncia.
Outra explicao seria que algumas pessoas poderiam
ingerir bebidas alcolicas para ter uma desculpa social-
mente aceita para o comportamento violento. E, numa
terceira perspectiva, talvez o uso excessivo de lcool e a
prtica de agresso sejam apenas fatores denunciantes
de outro quadro, como personalidade impulsiva.
Alguns dos homens pesquisados neste estudo se
consideraram denitivamente alcoolistas, atribuindo
ao vcio o comportamento agressivo desencadeado.
Alegaram que, por ocasio de uma discusso com a par-
ceira, o fato de estarem alcoolizados poderia facilitar
a agresso. Alguns, como Paulo, disseram precisar de
assistncia para se tratar dos nervos: Agredi ver-
balmente! Geralmente eu bebo, porque da ela ataca...
porque eu tenho essa dependncia... o alcoolismo
uma doena.
A violncia entre casais muitas vezes desencade-
ada pelo homem ao no aceitar que a parceira interra
em seus hbitos e comportamentos em relao ao uso
do lcool. Nesses casos, o parceiro pode atribuir
mulher a culpa pela ocorrncia das agresses. Keppe
(1998) ressaltou a existncia de sujeitos que negam
o ato de beber como prejudicial a si e relao, no
localizando o lcool como agente de qualquer ao que
possa resultar em conito.
Em alguns casos, porm, permanecer numa relao
com um parceiro adicto ao lcool pode trazer respon-
sabilizaes mulher. Essa responsabilidade pode
ser to importante que ela ca dividida, queixando-se
muito, mas vendo-se responsvel por manter a situao
da qual se queixa, como no relato de Renata: Com a
evoluo da doena... eu fui assim desencadeando por
ele, uma certa responsabilidade de proteo... com
essa sequncia de anos, sempre convivendo com um
alcolatra, a gente um co-dependente.
254 Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009
Compreendemos, a partir dos relatos, o difcil
desao do desvencilhamento da mulher da relao de
violncia domstica associada ao uso de lcool e/ou
outras drogas pelo companheiro. A agressividade pode
no ser constante, manifestando-se de forma intermi-
tente, e o comportamento adicto estimula o sentimento
de responsabilizao sobre o parceiro, visto como do-
ente. Ao mesmo tempo, as parceiras podem considerar
que os elementos agressividade e adico no so os
nicos constituintes da personalidade dos parceiros,
j que ele pode ser, entre outros, uma pessoa mara-
vilhosa, um estpido, um bbado, pai dos meus
lhos, homem que traz comida pra dentro de casa
ou, simplesmente, o amante. A situao propicia que
a mulher alterne perodos de esperana no resgate do
amor antigo, seguro, com outros de desesperana, em
que predomina a sensao de fracasso pelo convvio
com a relao de violncia estabelecida.
Traio
Os relatos em que a traio da parceira foi o motivo ale-
gado para o homem agredi-la foram os mais marcados
por sentimentos de sofrimento, culpa e vergonha. Esses
sentimentos se manifestaram, principalmente, por
parte dos homens, ao contar e relembrar detalhes das
cenas de traio agradas. Por ocasio da descoberta
da indelidade, conforme observou Almeida (2007),
muitos pensamentos vm tona, acompanhados por
sentimentos de raiva, vergonha, medo e cime. O de-
sencadeamento da agresso no incomum, conforme
o relato a seguir: Eu agredi ela, dei um soco nela, ele
correu, eu toquei fogo no carro dele; eu sa correndo
atrs dos dois, depois de uns sete dias ela voltou pra
casa... S que eu j no considerei mais ela como minha
mulher (Crio). Jablonski (1998) relatou que, na maio-
ria dos casos, acredita-se que as relaes extramaritais
derivam de necessidade de variao sexual e da busca
de novas satisfaes emocionais, o que pode ser reexo
de maus casamentos. Aquele autor aponta, ainda, a
retaliao como possvel motivao para trair.
Rogrio, um dos entrevistados para este estudo,
declarou-se indignado, no aceitando que seu lho
compartilhasse o mesmo ambiente da casa com o par-
ceiro da ex-mulher:
Ela mora numa kitnet que no tem divisria, o meu
lho dorme na cozinha... foi feito uma divisria com
um guarda-roupa pra ele dormir, ele ca exposto
pra cama dela, vendo outros homens que no foi
um s; foi aonde que eu me exaltei, e fui agressivo
verbalmente.
Em tais circunstncias o homem tanto pode estar
manifestando a perda do controle no domnio do lar,
do lho e da parceira, como o sentimento de ameaa
de perder o amor do lho para o outro. Em ambas as
situaes pode se sentir humilhado e fracassado, senti-
mentos que reconhecidamente, conforme os trabalhos
clssicos da psicologia aceitos ainda hoje, motivam
comportamentos agressivos (Dollard e col., 1939).
A traio foi pouco mencionada pelos sujeitos
da pesquisa como motivo da agresso. Essa hiptese
se faz presente uma vez que, de acordo com Blow e
Hartnett (2005), a indelidade um assunto delicado
e comum que se evite exp-lo abertamente devido aos
sentimentos de vergonha, s percepes negativas da
sociedade sobre o assunto e aos danos que so causados
aos indivduos no que se refere a seus relacionamentos
amorosos, familiares e prossionais.
Constatou-se, a partir da anlise das entrevistas,
que o cime e a traio se entrecruzam e so abordados
ora diretamente ora reticentemente durante os relatos
dos sujeitos da pesquisa. Cime e traio so temas de
grande importncia para os estudos sobre violncia
domstica e conjugal, conforme tem sido demonstrado
em diferentes pesquisas (Pillai e Kraya, 2000; Couto
e col., 2006).
Consideraes Finais
A anlise da dinmica da violncia domstica a
partir dos discursos dos casais envolvidos revelou
incongruncia nesses discursos. Foram discrepantes,
por exemplo, a tendncia dos homens de admitirem
menor periodicidade de violncia diante dos relatos
das mulheres, assim como a tendncia dos homens de
negarem o comportamento agressivo, defendendo se-
rem infundadas as denncias de seus atos autoridade
policial. Os discursos dos homens, entretanto, podem
ter sido inuenciados por terem sido as entrevistas re-
alizadas em ambiente de segurana pblica, o que pode
ter suscitado medo de admitir esses comportamentos
e sua periodicidade.
O uso de medicamentos pelas mulheres, encontrado
neste estudo em maior nmero do que entre os homens,
tem sido justicado como a expresso possvel para
Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009 255
suportar a ansiedade, a sensao de impotncia e ou-
tras emoes negativas desencadeadas pela vivncia
da situao de violncia domstica. O uso do lcool
pelo parceiro do sexo masculino parece desempenhar
papel importante no contexto de violncia, uma vez
que o comportamento de beber surge, no s como
fator desencadeador da violncia, mas tambm como
o motivo direto da desavena entre os casais.
As categorias cime, ser contrariado, ingesto
de lcool e traio, mesmo tendo sido abordadas no
presente estudo em sees especcas, surgiram si-
multaneamente nas falas dos sujeitos. Cada categoria
representa ora os motivos desencadeadores das agres-
ses ora coadjuvantes na retroalimentao positiva do
circuito violento.
de grande importncia incluir nos estudos como
sujeitos de pesquisa no s a mulher agredida, mas
tambm seu parceiro. Dessa forma, revela-se no s
as caractersticas da agresso como percebidas por
ambos, mas tambm os fatores que repercutem na
produo da violncia domstica a partir de ambas as
percepes, no atribuindo somente mulher o papel
de porta-voz do circuito de violncia que se estabelece
na relao do casal. um fato marcante que a presena
de homem e mulher na Delegacia ocorre j em funo
da aplicao da Lei n 11.340, a Lei Maria da Penha,
que proporciona um avano na lida com o fenmeno
da violncia contra a mulher.
Finalmente, alm dos aspectos mais relevantes
ressaltados a partir da interpretao dos dados de
pesquisa, destaca-se a importncia da anlise de En-
gels (1982), que aponta para fatores macrossociais no
estabelecimento das relaes no contexto da famlia.
Esse autor chama ateno para a evoluo dos sistemas
mais primitivos, em que o status da mulher era, em
alguns sentidos, relativamente mais alto do que nos
dias de hoje, para o sistema patriarcal, que baseia a
civilizao ocidental moderna. A hegemonia do siste-
ma patriarcal concomitante ao desenvolvimento da
propriedade privada, explorao industrial da fora
de trabalho e aos antagonismos de classe. Esses fatores
e antagonismos acabam por se reetir diretamente
nas relaes entre as pessoas e, por contingncia,
nas relaes entre homens e mulheres organizados
socialmente como casais, reforando assimetrias de
poder sustentadas, entre outras, pela dependncia
econmica da mulher.
O fato de elementos socioeconmicos no pa-
recerem explicar totalmente as motivaes para a
persistncia das relaes no contexto de violncia,
conforme os achados deste estudo, apenas aumenta a
necessidade de entendimento das dinmicas de casal
como processos complexos e que requerem pesquisas
adicionais.
Referncias
ACOSTA, F.; BARKER, G. Homens, violncia de gnero
e sade sexual e reprodutiva: um estudo sobre
homens no Rio de Janeiro/Brasil. Rio de Janeiro:
Instituto NOOS, 2003.
ADEODATO, V. G. et al. Quality of life and depression
in women abused by their partners. Revista de Sade
Pblica, So Paulo, v. 39, n. 1, p. 108-113, 2005.
ALMEIDA, T. Cime romntico e indelidade
amorosa entre paulistanos: incidncias e relaes.
2007. Dissertao - Universidade de So Paulo, So
Paulo, 2007.
AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Infncia e
violncia domstica: fronteiras do conhecimento.
So Paulo: Cortez, 2000.
BANCO MUNDIAL. Desaos e oportunidades para a
igualdade entre gneros na Amrica Latina e Caribe.
Washington, DC, 2003.
BARDIN, L. A anlise de contedo. Lisboa: Ed. 70,
1979.
BLOW, A. J.; HARTNETT, K. Indelity in committed
relationships: I - a methodological review. Journal of
Marital and Family Therapy, Fort Lauderdale, v. 31, n.
2, p. 183-216, 2005.
CAETANO, R.; SCHAFFER, J.; CUNRADI, C. Alcohol-
related intimate partner violence among white, black
and hispanic couples in the in the United States.
Alcohol Research andHealth, Port Royal Road, v. 25,
n. 1, p. 58-65, 2001.
CASTRO, R.; RIQUER, R. F. Research on violence
against women in Latin America: from blind
empiricism to theory without data. Cadernos de
Sade Pblica, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 135-146,
2003.
256 Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009
COUTO, M. T. et al. Concepes de gnero entre
homens e mulheres de baixa renda e escolaridade
acerca da violncia contra a mulher. Cincia e Sade
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, p. 1323-1332, 2006.
Suplemento.
DESLANDES, S. F. Prevenir a violncia: um desao
para prossionais da sade. Rio de Janeiro: Centro
Latino Americano de Estudos de Violncia e Sade
Jorge Carelli, 1994.
DOLLARD, J. et al. Frustration and aggression. New
Haven: Yale University, 1939.
ELLSBERG, M. et al. Candies in hell: womens
experience of violence in Nicaragua. Social Science
and Medicine, London, v. 51, n. 11, p. 1595-1610, 2000.
ENGELS, F. A origem da famlia, da propriedade
privada e do estado. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1982.
FERRARI, D. C. A. Atendimento psicolgico a casos
de violncia intrafamiliar. In: FERRARI, D. C. A.;
VECINA, T. C. C. O m do silncio na violncia
familiar: teoria e prtica. So Paulo: Agora, 2002. p.
160-173.
FUNDAO PERSEU ABRAMO. A mulher brasileira
no espao pblico e privado. So Paulo: NEOP, 2001.
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL.
Violncia contra la mujer por la pareja. Caracas,
2006.
GARBIN, C. A. S. et al. Violncia domstica: anlise
das leses em mulheres. Cadernos de Sade Pblica,
Rio de Janeiro, v. 22, n. 12, p. 2567-2573, 2006.
GARCIA-MORENO, C. et al. Prevalence of intimate
partner violence: ndings from the WHO multi-
country study on womens health and domestic
violence. Lancet, London, v. 368, n. 9543, p. 1260-
1269, 2006.
GOLEMAN, D. Mentiras essenciais, verdades
simples: a psicologia da auto-iluso. Rio de Janeiro:
Rocco, 2003.
HAMBERGER, L. K.; HOLTZWORTH-MUNROE, A.
Partner violence. In: DATTILIO, F. M.; FREEMAN, A.
Cognitive behavioral strategies in crisis intervention.
New York: Guilford, 1999. p. 302-324.
HEISE, L.; ELLSBURY, M.; GOTTEMOELLER, M.
Ending violence against women. Population Reports,
Baltimore, v. 27, n. 4, p. 1-43, 1999.
JABLONSKY, B. At que a vida nos separe: a crise do
casamento contemporneo. Rio de Janeiro: AGIR,
1998.
KEPPE, N. R. A libertao. So Paulo: Prton, 1998.
KOSS, M. P. et al. No safe heaven: male violence
against women at home, at work, and in
the community. Washington, DC: American
Psychological Association, 1994.
KRUG, E. G. et al. Relatrio mundial sobre a violncia
e sade. Geneva: Organizao Mundial de Sade,
2002.
MALDONADO, M. T. Casamento: trmino e
reconstruo. So Paulo: Saraiva, 1995.
MARTIN, F. M. La violncia en la pareja. Revista
Panamericana de Salud Pblica, Washington, DC, v.
5, n. 5, p. 245-258, 2001.
MENEGHEL, S. N. et al. Women caring for women: a
study on the Viva Maria shelter, Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brazil. Cadernos de Sade Pblica,
Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 747-757, 2000.
MENEZES, T. C. et al. Domestic physical violence
and pregnancy: results of a survey in the postpartum
period. Revista Brasileira de Ginecologia e
Obstetrcia, Rio de Janeiro, v. 25, n. 5, p. 309-316,
2003.
MINAYO, M. C. de S.; DESLANDES, S. F. The
complexity of relations between drugs, alcohol, and
violence. Cadernos de Sade Pblica, Rio de Janeiro,
v. 14, n. 1, p. 35-42, 1998.
MOTA, J. C.; VASCONCELOS, A. G. G.; ASSIS, S. G.
Anlise de correspondncia como estratgia para
descrio do perl da mulher vtima do parceiro
atendida em servio especializado. Cincia e Sade
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 799-809, 2007.
NOTO, E. lcool est ligado a 52% dos casos de
violncia domstica. Jornal da Paulista Comunicao
da Unifesp, So Paulo, 2003. Disponvel em: <http://
www.unifesp.br/comunicacao/ jpta/ed179/pesquisa1.
htm>. Acesso em: 8 out. 2007.
Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009 257
PILLAI, K.; KRAYA, N. Psychostimulants, adult
attention decit hyperactivity disorder and morbid
jealousy. The Australian and New Zealand Journal of
Psychiatry, Sydney, v. 34, n. 1, p. 160-163, 2000.
SCHRAIBER, L. B. Violncia contra a mulher: estudo
em uma unidade de ateno primria sade. So
Paulo: Departamento de Medicina da USP, 2002.
WATTS, C.; ZIMMERMAN, C. Violence against
women: global scope and magnitude. Lancet, London,
v. 359, n. 9313, p. 1232-1237, 2002.
Recebido em: 11/03/2008
Aprovado em: 28/01/2009
258 Sade Soc. So Paulo, v.18, n.2, p.248-258, 2009
Você também pode gostar
- Processo Abordagem A VeiculoDocumento29 páginasProcesso Abordagem A VeiculoMarcos Daniel Schmidt Garofalo33% (3)
- Apresentacao 15h50 FSADocumento38 páginasApresentacao 15h50 FSAHanna Brenda75% (4)
- Érica e Os Girassóis - Ed Moderna - Caderno Do ProfessorDocumento6 páginasÉrica e Os Girassóis - Ed Moderna - Caderno Do ProfessorRaquel OliveiraAinda não há avaliações
- Livro - Administração Aplicada À EnfermagemDocumento180 páginasLivro - Administração Aplicada À Enfermagemalbanisa2492% (12)
- Artigo CRIMES CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOSDocumento99 páginasArtigo CRIMES CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOSFlávia PinheiroAinda não há avaliações
- Delegado de Polícia Rodrigo Nalon Comenta As 5 Questões Do Concurso Das PC Fumarc Senhor Criminologia Aula Cursos Lelio Braga CalhauDocumento6 páginasDelegado de Polícia Rodrigo Nalon Comenta As 5 Questões Do Concurso Das PC Fumarc Senhor Criminologia Aula Cursos Lelio Braga CalhauLélio Braga CalhauAinda não há avaliações
- 00 - Sistema de Segurança Pública e Gestão Integrada e Comunitária - Módulo 00 - EmentaDocumento19 páginas00 - Sistema de Segurança Pública e Gestão Integrada e Comunitária - Módulo 00 - EmentaJanildo Da Silva Arantes Arantes100% (1)
- Icsh PDFDocumento14 páginasIcsh PDFzulfikar2Ainda não há avaliações
- GrajauDocumento35 páginasGrajauandra70Ainda não há avaliações
- Susane Rodrigues de OliveiraDocumento232 páginasSusane Rodrigues de OliveiraBruno Rafael Matps Pires100% (1)
- O Guerrilheiro Luther Blisset: Criação de Táticas Antimidiáticas Contra o BiopoderDocumento118 páginasO Guerrilheiro Luther Blisset: Criação de Táticas Antimidiáticas Contra o BiopoderbaixaculturaAinda não há avaliações
- 1 Lista Exercícios SociologiaDocumento5 páginas1 Lista Exercícios SociologiaRicardo Moreli100% (1)
- FERNANDES, Silvia Regina Alves - Ser Padre Pra Ser Santo Ser Freira Pra Servir - A Construção Social Da Vocação ReligiosaDocumento351 páginasFERNANDES, Silvia Regina Alves - Ser Padre Pra Ser Santo Ser Freira Pra Servir - A Construção Social Da Vocação Religiosaja_santanaAinda não há avaliações
- Teses Sobre ContoDocumento36 páginasTeses Sobre ContoTeresinhaBrandão100% (2)
- AV1 AspectosDocumento4 páginasAV1 AspectosJeff E Jeise Medeiros100% (3)
- Sobre Justiça: Lições de Platão, Rawls e IshiguroDocumento13 páginasSobre Justiça: Lições de Platão, Rawls e IshiguroDaniele PiresAinda não há avaliações
- "As Regras Do Método Sociológico", E. Durkheim - Fichamento (Introdução e Capítulo 1)Documento3 páginas"As Regras Do Método Sociológico", E. Durkheim - Fichamento (Introdução e Capítulo 1)Luis Gustavo Paiva100% (1)
- Dissertação - A Relação Museu-Escola PDFDocumento245 páginasDissertação - A Relação Museu-Escola PDFROSENILSON RODRIGUESAinda não há avaliações
- Documento de AraxáDocumento2 páginasDocumento de AraxáJessicaRibeiroAinda não há avaliações
- Contributos para A Implementação Da Enfermagem Forense em PortugalDocumento141 páginasContributos para A Implementação Da Enfermagem Forense em PortugalRitaAinda não há avaliações
- 17 Nascimento Pedro Francisco Guedes Do TermoDocumento107 páginas17 Nascimento Pedro Francisco Guedes Do TermoEdilma Do N. J. MonteiroAinda não há avaliações
- Lapassade. Grupos, Organizações e InstituiçõesDocumento38 páginasLapassade. Grupos, Organizações e InstituiçõesBrenda100% (1)
- Artículo Redalyc 35847204 PDFDocumento32 páginasArtículo Redalyc 35847204 PDFThaysa AndréiaAinda não há avaliações
- Carta ArgumentativaDocumento4 páginasCarta ArgumentativaJos GuilhermeAinda não há avaliações
- Escola Secundaria de PembaDocumento5 páginasEscola Secundaria de PembaDomingos Tolentino Saide DtsAinda não há avaliações
- Bibliografia GoffmanDocumento3 páginasBibliografia GoffmannegreirosociologoAinda não há avaliações
- Olmceas, Maias, Incas e AztecasDocumento9 páginasOlmceas, Maias, Incas e AztecasJogatina GjogatinaAinda não há avaliações
- Empreendedorismo Unid1Documento79 páginasEmpreendedorismo Unid1Henrique Freitas PereiraAinda não há avaliações
- OndjakiDocumento4 páginasOndjakileoAinda não há avaliações
- Apostila de Formação de ProfessoresDocumento29 páginasApostila de Formação de ProfessoresJunior LimaAinda não há avaliações