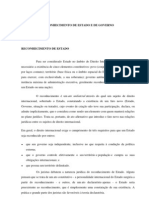Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FGVSP2004 - 1fase - 1dia Matemática PDF
FGVSP2004 - 1fase - 1dia Matemática PDF
Enviado por
hebisonTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FGVSP2004 - 1fase - 1dia Matemática PDF
FGVSP2004 - 1fase - 1dia Matemática PDF
Enviado por
hebisonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O OB BJ J E ET TI IV VO O
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
b
O s nm eros inteiros x e y satisfazem a equao
2
x +3
+2
x +1
=5
y +3
+3 . 5
y
. Ento x y :
a) 8 b)5 c) 9 d)6 e) 7
Resoluo
2
x + 3
+ 2
x + 1
= 5
y + 3
+ 3 . 5
y
2
x
. (2
3
+ 2
1
) = 5
y
.(5
3
+ 3)
2
x
. 10 = 5
y
.128 2
x
.5
1
= 5
y
.2
6
x = 6 e y = 1 x y = 5
c
A regio triangular lim itada pelas retas y x = 1,
y +x =5 e x =5 tem a form a de um tringulo retn-
gulo. A distncia do ponto m dio da hipotenusa do
tringulo origem O(0,0) igual a:
a) 17 b) 4 c) 34 d) 5 e) 3
Resoluo
1. Se o ponto A for a interseco das retas de equao
y x = 1 e y + x = 5 ento:
A (2;3)
2. Se o ponto B for interseco das retas de equao
y x = 1 e x = 5 ento B (5;6)
3. Se o ponto C for a interseco das retas de equao
y + x = 5 e x = 5 ento C (5;0)
4. Se M for o ponto m dio de
B C ento M (5;3)
5. A distncia de M (5;3), ponto m dio da hipotenusa,
origem O (0;0) (5 0)
2
+ (3 0)
2
= 34
e
Para que o sistem a de equaes lineares
3
x = 2
y = 3
y x = 1
y = 3
y x = 1
y + x = 5
2
1
M
M
A
A
T
T
E
E
M
M
T
T
I
I
C
C
A
A
O OB BJ J E ET TI IV VO O
, nas variveis x e y, adm ita soluo
nica, com x =1, necessrio que o produto dos pos-
sveis valores de aseja:
a) 49 b) 21 c) 21 d)441 e) 49
Resoluo
a) Para que o sistem a, nas variveis x e y, adm ita so-
luo nica necessrio e suficiente que
0 a
2
18 a 18
b) Se na nica soluo tem os x = 1 ento
6 + a . = 1
18 + 4 . a a
2
= 3 a
2
4a 21 = 0
a = a = 7 ou a = 3
a = 7 (pois a > 0) a = 7 ou a = 7
c) D e (a) e (b) concluim os que a = 7 ou a = 7 e por-
tanto o produto dos possveis valores de a 49
a
O total de crianas com idade para freqentar o Ensino
Fundam ental (1 a 8 srie) corresponde a 30% da
populao de um a pequena cidade do interior. Sabe-se
que 20% dessas crianas esto fora da escola e que
25% dos jovens dessa faixa etria, que esto m atri-
culados em escolas de Ensino Fundam ental, so aten-
didos pela rede privada de ensino. Q ue porcentagem
da populao total dessa cidade atendida pela rede
pblica de Ensino Fundam ental?
a) 18% b) 30% c) 22,5% d) 10% e) 75%
Resoluo
D os 30% da populao que tem idade para freqentar
o Ensino Fundam ental, 80% est m atriculada e desses,
75% est m atriculada em escolas da rede pblica. A
porcentagem da populao atendida pela rede pblica
de Ensino Fundam ental 30% . 80% . 75% = 18% .
d
A reta x +3y 3 =0divide o plano determ inado pelo
sistem a cartesiano de eixos em dois sem iplanos opos-
tos. C ada um dos pontos ( 2, 2) e (5, b) est situado
em um desses dois sem iplanos. U m possvel valor de
b:
a) b) c) d) e)
Resoluo
1
2
3
4
3
4
1
4
1
4
5
4
4 10
2
4 a
3
4 a
y =
3
6 + a . y = 1
a + 3y = 4
6 + ay = 1
a
6
3
a
ax +3y =4
6x +ay = 1
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
C om o (2, 2) e (5, b) esto em sem i-planos opostos
em relao reta de equao x + 3y 3 = 0 e
(2) + 3 . 2 3 > 0 devem os ter 5 + 3 . b 3 < 0
b <
D as alternativas apresentadas, som ente
m enor que .
e
O polinm io P(x) =x
2
+x +a divisvel por x +b e
x +c, em que a, b e c so nm eros reais, distintos e
no nulos. Ento b +c igual a:
a) 1 b)2 c) 2 d)0 e) 1
Resoluo
Se P(x) divisvel por x + b e por x + c, ento
P(b) = P(c) = 0. A ssim sendo,
(b)
2
b + a = 0 e (c)
2
c + a = 0
b
2
c
2
b + c = 0
(b c) . (b + c 1) = 0
b + c 1 = 0, pois b c.
Portanto, b + c = 1.
a
0 1
C om relao m atriz A =
[ ]
, a opo correta
:
1 1
a) A
24
= I
2
, sendo I
2
a m atriz identidade de ordem 2.
b) A
22
= I
2
, sendo I
2
a m atriz identidade de ordem 2.
c) A
21
= A
d) A
21
= A
2
e) A
22
= A
2
Resoluo
A
1
=
0
1
1
1
7
b
2
b + a = 0
c
2
c + a = 0
6
2
3
3
4
2
3
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
A
2
= . =
A
3
= . = = I
2
C om o A
3
= I
2
, conclum os que
A
4
= A
3
. A = I
2
. A = A
A
5
= A
4
. A = A . A = A
2
A
6
= A
5
. A = A
2
. A = A
3
= I
2
A ssim , A
n
= I
2
se n m ltiplo de 3.
Ento, A
3
= A
6
= A
9
= = A
21
= A
24
= I
2
a
Podem os afirm ar que a equao
x
6
5x
5
+10x
3
3x
2
5x +2 =0adm ite:
a) duas razes duplas e duas razes sim ples.
b) duas razes duplas e um a raiz tripla.
c) um a raiz sim ples, um a raiz dupla e um a raiz tripla.
d) um a raiz tripla e trs razes sim ples.
e) duas razes triplas.
Resoluo
A s possveis razes inteiras do polinm io
P(x) = x
6
5x
5
+ 10x
3
3x
2
5x + 2 so os elem entos
do conjunto D (2) = {1; 1; 2; 2}.
U tilizando o dispositivo prtico de B riot-R uffini verifica-
m os que 1 e 1 so razes duplas, resultando:
C onclum os, ento, que
P(x) = (x 1)
2
.(x + 1)
2
. (x
2
5x + 2) e P(x) = 0
(x 1)
2
= 0 ou (x + 1)
2
= 0 ou x
2
5x + 2 = 0
x = 1 (raiz dupla) ou x = 1 (raiz dupla) ou
x = (raiz sim ples) ou
x = (raiz sim ples)
c
consenso, no m ercado de veculos usados, que o
preo de revenda de um autom vel im portado decres-
ce exponencialm ente com o tem po, de acordo com a
funo V =K . x
t
. Se 18 m il dlares o preo atual de
m ercado de um determ inado m odelo de um a m arca
fam osa de autom vel im portado, que foi com ercializa-
do h 3 anos por 30 m il dlares, depois de quanto
tem po, a partir da data atual, seu valor de revenda ser
reduzido a 6 m il dlares?
9
5 17
2
5 + 17
2
1
1
1
1
2
0
5
2
0
3
3
2
0
10
6
1
2
0
0
4
7
3
2
5
4
3
4
5
1
1
1
1
1
8
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
dado que log
15
3 = 0,4
a) 5 anos b) 7 anos c) 6 anos
d) 8 anos e) 3 anos
Resoluo
Iniciando a contagem do tem po no instante em que o
veculo valia 30 m il dlares e V(t) o valor do veculo em
m ilhares de dlares, tem os:
V(0) = k . x
0
= 30 (I)
V(3) = k . x
3
= 18 (II)
V(p) = k . x
p
= 6 (III)
onde p o instante em que o veculo vale 6 m il dla-
res.
D e (I) e (II) tem -se:
x
3
= 3 log
15
x = log
15
3 log
15
5 (IV)
D e (I) e (III) tem -se:
x
p
= p log
15
x = log
15
5 (V)
C om o log
15
5 = log
15
= 1 log
15
3 = 1 0,4 =
0,6
D e (IV) e (V) resulta:
= p = 9
O valor de revenda ser reduzido a 6 m il dlares, 9 anos
aps o instante t = 0 e, portanto, 6 anos da data atual.
e
U m a caixa contm duas m oedas honestas e um a com
duas caras. U m a m oeda selecionada ao acaso e lan-
ada duas vezes. Se ocorrem duas caras, a probabili-
dade de a m oeda ter duas caras
a) b) c) d) e)
Resoluo
1) Lanada duas vezes um a dessas m oedas, a proba-
bilidade de se obter duas caras
. . + . . + . 1 . 1 =
2) A probabilidade de se obter a m oeda defeituosa, e
dela obter-se duas caras . 1 . 1 = .
3) Se ocorrer duas caras, a probabilidade de a m oeda
1
3
1
3
1
2
1
3
1
2
1
2
1
3
1
2
1
2
1
3
2
3
1
4
1
6
1
3
1
2
10
0,2
0,6
3
3 . log
15
x = 0,4 0,6 = 0,2
p . log
15
x = 0,6
15
5
3
5
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
ter duas caras = .
d
A som a das razes da equao + =0:
a) a . b b) a . b c) a + b
d) 0 e) a b
Resoluo
Supondo (x +b) . (x b) 0, tem os:
1) + = 0
= 0
x
2
bx + ax ab + x
2
ax + bx ab = 0
x
2
ab = 0 1 . x
2
+ 0 . x ab = 0
2) A som a das razes da equao x
2
+ 0 . x ab = 0,
resolvida em C e supondo (x + b)(x b) 0,
= 0
b
M ultiplicando os valores inteiros de x que satisfazem
sim ultaneam ente as desigualdades x 2 3 e
3x 2 >5, obtem os
a) 12 b) 60 c) 12 d) 60 e) 0
Resoluo
a)
|
x 2
|
3 3 x 2 3 1 x 5
b)
|
3x 2
|
> 5 3x 2 < 5 ou 3x 2 > 5
3x < 3 ou 3x > 7 x < 1 ou x >
c)
< x 5
d) {x
|
< x 5} = {3, 4,
5}
e) O produto dos valores inteiros de x que satisfazem
sim ultaneam ente as desigualdades 3 . 4 . 5 = 60
c
O valor da expresso y = para x =1,4:
x
2
0,27
0,1 +x
13
7
3
7
3
1 x 5
e
7
x < 1 ou x >
3
3
12
0
1
(x + a) . (x b) + (x a) . (x + b)
(x + b) . (x b)
x a
x b
x + a
x + b
x a
x b
x +a
x +b
11
2
3
1
2
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
a) 2,6 b) 13 c) 1,3 d) 0,3 e) 1,3
Resoluo
O valor da expresso y = = ,
para x = 1,4 = , :
y = = = =
= . = = 1,3
e
A s coordenadas do ponto da circunferncia
(x 8)
2
+(y 6)
2
=25 que fica m ais afastado da ori-
gem O (0, 0) so:
a) (8, 6) b) (4, 3) c) (0, 25)
d) (13, 12) e) (12, 9)
Resoluo
A circunferncia (x 8)
2
+ (y 6)
2
= 25 tem centro
C (8; 6) e raio r = 5.
A partir da figura, conclui-se que:
1) A O C : O A = 8, O B = A C = 6 e O C = 10
2) O A C C Q P = =
C Q = 4 e Q P = 3.
O ponto da circunferncia, que fica m ais afastado da
origem , o ponto P, cujas coordenadas so:
5
10
Q P
6
C Q
8
14
13
10
10
13
169
100
169
100
13
10
196 27
100 100
13
10
14 27
(
)
2
10 100
14 1
+
10 10
14
10
27
x
2
100
1
x +
10
x
2
0,27
0,1 + x
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
.
d
N a figura, os pontos A e Besto no m esm o plano que
contm as retas paralelas r e s.
A ssinale o valor de .
a) 30 b) 50 c) 40 d) 70 e) 60
Resoluo
A partir da figura, se as retas ue t, que passam
pelos pontos A e B so paralelas as retas re s,
tem os:
= 10 + 60 = 70
15
P(12;9)
x
P
= O A + C Q = 8 + 4 = 12
y
P
= O B + Q P = 6 + 3 = 9
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
Leia atentam ente o texto e responda s questes.
1. C ita-se com freqncia o lado em pirista
anglo-saxo em face da propenso latina abs-
trao, ao pensam ento conceitual e aos princ-
pios. H enri Poincarr j tinha observado que se
ensinava a m ecnica (dita racionalem fsica)
de form a diferente, de acordo com o lado da
M ancha de onde se olhava.
2. N a Frana, ns a ensinvam os com o a m ate-
m tica, partindo dos teorem as, dos princpios,
da base terica de onde se derivava e, a seguir,
dedutivam ente, as conseqncias prticas,
assim com o os diversos exem plos. N a
Inglaterra, ao contrrio, partia-se dos fatos expe-
rim entais, de onde se inferia, a seguir, por indu-
o, os princpios tericos.
3. B ertrand R ussel, por sua vez, observava com
hum or que, na literatura sobre a psicologia ani-
m al experim ental, os anim ais estudados pelos
am ericanos agitam -se com frenesi e entusias-
m o e, finalm ente, atingem , por acaso, o resulta-
do visado. O s anim ais observados pelos ale-
m es param para pensar e, finalm ente, desco-
brem a soluo por um processo voluntrio e
consciente (...). U m a anedota de origem desco-
nhecida ilustra, igualm ente, esta oposio.
Pergunta-se a um ingls se ele gosta de espina-
fre. Ele coa a cabea, pensativo, e depois res-
ponde: Provavelm ente, pois eu com o com
bastante freqncia.A m esm a pergunta for-
m ulada a um italiano, de acordo com a histria,
provoca a resposta im ediata: Espinafre? Eu
adoro!. D epois, este entusiasta, sendo per-
guntado quando ele com eu espinafre pela lti-
m a vez, coa ento a cabea, reunindo suas
lem branas para adm itir: O h! D eve fazer bem
uns dez anos!.
4. C ada um pode, facilm ente, achar num erosas
ilustraes das diferenas entre as form as de
pensam ento ou de raciocnio dos ingleses e dos
latinos. D escobrir as razes m enos evidente. A
com parao das prticas jurdicas oferece um
exem plo interessante destas diferenas.
5. O direito consuetudinrio, tal com o est con-
solidado e perpetuado na com m on law inglesa,
est fundado na tradio. Em cada litgio, para
arbitrar, o jri popular procura na m em ria cole-
tiva da com unidade um casoprecedente no
qual se possa buscar inspirao para julgar eqi-
tativam ente, por analogia, de acordo com o cos-
tum e, o caso em questo. , pois, a partir de um
ou de diversos casos sim ilares que se infere a
conduta a sustentar, sem pre levando em conta
as particularidades do caso especfico em julga-
m ento.
P
P
O
O
R
R
T
T
U
U
G
G
U
U
S
S
O OB BJ J E ET TI IV VO O
6. A o contrrio, o direito rom ano um direito
escrito e abstrato. U m jurista fam iliarizado com
este direito e investido da autoridade do Estado
cham ado a julgar as dem andas que lhe so fei-
tas e a decidir entre as partes presentes. Ele
procura num texto a frm ula jurdica que se apli-
ca a esta situao particular e apresenta sua
deciso apoiando-se sobre a jurisprudncia.
A M A D O , G ., FA U C H EU X, c., e LA U R EN T, A .
M udana O rganizacional e R ealidades C ulturais:
contrastes franco: am ericanos. Em C H A N LAT,
Jean-Franois (coord.), O Indivduo na O rga-
nizao-D im enses Esquecidas, vol. II. So Paulo:
A tlas, 1994, p. 154-155.
c
O bserve o seguinte fragm ento, extrado do prim eiro
pargrafo do texto: "H enri Poincarr j tinha observado
que se ensinava m ecnica (dita "racional" em fsica) de
form a diferente, de acordo com o lado da M ancha de
onde se olhava". C om base nesse fragm ento, pode-se
inferir que:
a) A M ancha perm ite um a srie de diferentes interpre-
taes, da que o ensino da m ecnica pode ser dife-
rente em diferentes locais.
b) H enri Poincarr foi o prim eiro a observar, no ensino
da m ecnica, a diferena entre os anglo-saxes e os
latinos.
c) O trecho "...de acordo com o lado da M ancha..." refe-
re-se, m ais especificam ente, Inglaterra e Frana.
d) o lado da M ancha que determ ina o m odo com o se
ensina a m ecnica.
e) Entre a Frana e a Inglaterra, a diferena de ensino
resum e-se a um a diferena de m todo.
Resoluo
O s dois lados do C anal da M ancha so habitualm ente
em pregados com o sindoques (partes pelo todo) para
designar Frana e Inglaterra.
a
D e acordo com o sentido atribudo pelo texto a em pi-
rista (prim eiro pargrafo), pode-se entender que o
em pirism o:
a) Parte da experincia para chegar ao conhecim ento.
b) Tem um a concepo atom ista e m aterialista da
natureza.
c) Envolve o com portam ento explosivo dos latinos.
d) Est dem onstrado na praticidade dos franceses.
e) Tem com o exem plo a soberba dos anglo-saxes.
Resoluo
Em prico quer dizer referente experincia, sendo o
em pirism o a doutrina segundo a qual o conhecim en-
to procede da experincia.
c
O texto trata essencialm ente:
a) D as diferenas entre os m odos francs e ingls de
ensinar m ecnica.
18
17
16
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
b) D as diferenas entre os m odos alem o e italiano de
perceber o espinafre.
c) D as diferenas entre os m odos latino e anglo-saxo
de pensar.
d) D as diferenas entre os m odos ingls, francs e ita-
liano de fazer experincias.
e) D as diferenas entre os m odos alem o e italiano de
ensinar m ecnica.
Resoluo
D esde o incio do texto, fica explcita a oposio entre
o lado em pirista anglo-saxoe a propenso latina
abstrao.
e
Segundo o texto, direito consuetudinrio:
a) Tem o m esm o significado que litgios.
b) R essalta essencialm ente as diferenas entre as
diversas com unidades.
c) incoerente com o m odo ingls de ver o m undo.
d) A plica-se m ais adequadam ente nos EU A que na
Inglaterra.
e) base para julgar as contendas jurdicas na Ingla-
terra.
Resoluo
O penltim o pargrafo do texto transcrito descreve a
form a pela qual o direito consuetudinrio funciona
com o fundam ento do sistem a jurdico ingls.
d
N o texto ocorre a concordncia entre o verbo e seu
sujeito passivo, EXC ETO em :
a) Pergunta-se a um ingls se ele gosta de espinafre
(terceiro pargrafo). ...
b) C ita-se com freqncia o lado... (prim eiro pargrafo).
c) ...que se ensinava a m ecnica... (prim eiro pargrafo).
d) ...de onde se inferia, a seguir, por induo, os princ-
pios tericos (segundo pargrafo).
e) ...no qual se possa buscar inspirao...(quinto par-
grafo).
Resoluo
A orao de onde se inferia, a seguir, por induo, os
princpios tericosest na voz passiva sinttica. O
sujeito do verbo inferir os princpios tericos,
portanto o verbo deve ficar no plural: de onde se infe-
riam , a seguir, por induo, os princpios tericos.
b
A ssinale a alternativa em que, pelo sentido, o vocbu-
lo sublinhado esteja m al utilizado:
a) A classificao era sem pre dicotm ica: hom ens e
m ulheres, adultos e crianas, vertebrados e inverte-
brados.
b) U m a parcela da populao o seguim ento das pes-
soas idosas ser explorada nos prxim os anos.
c) A inflao continuava, m as seu increm ento era cada
vez m enor.
d) N a orla m artim a, as residncias de vero seguiam
cada vez m ais caras.
21
20
19
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
e) O term o refere-se relao entre um estado subja-
cente de um a pessoa e seu com portam ento m ani-
festo.
Resoluo
Seguim ento substantivo derivado do verbo seguir e
seu sentido ao de seguir, continuao. Em
seu lugar deveria estar segm ento, cujo sentido sec-
o, parte.
c
A ssinale a alternativa em que a pontuao da frase seja
a m ais adequada.
a) Longe, alm da funo adverbial de lugar tem a de
adjetivo com significao de distante, afastado:
ento geralm ente usado no plural.
b) Longe alm da funo adverbial de lugar, tem a de
adjetivo com significao de distante afastado,
ento geralm ente usado no plural.
c) Longe, alm da funo adverbial de lugar, tem a de
adjetivo, com significao de distante, afastado;
ento geralm ente usado no plural.
d) Longe, alm da funo adverbial de lugar tem a de
adjetivo, com significao de distante, afastado:
ento geralm ente usado no plural.
e) Longe alm da funo adverbial de lugar tem , a de
adjetivo, com significao de distante, afastado;
ento geralm ente usado no plural.
Resoluo
O s adjuntos adverbiais alm da funo adverbial de
lugare com significao de distante, afastado
esto deslocados e, portanto, devem ser isolados por
vrgula.O em prego do ponto-e-vrgula justifica-se por-
que separa a segunda orao da prim eira, j entrecorta-
da por vrgulas.
b
A ssinale a alternativa em que a palavra deveria ter
recebido acento grfico:
a) Paiandu. b) Taxi. c) G ratuito.
d) R ubrica. e) Entorno.
Resoluo
A palavra txi deve ser acentuada por tratar-se de paro-
xtona term inada em i.
d
D as alternativas abaixo, assinale aquela em que ao
m enos um plural N O est correto:
a) M o, m os; dem o, dem os.
b) C apito, capites; ladro, ladres.
c) Pisto, pistes; encontro, encontres.
d) Porto, portes; cidado, cidades.
e) C apelo, capeles; escrivo, escrives.
Resoluo
O plural de cidado cidados.
a
A ssinale a alternativa que contenha, corretam ente, os
25
24
23
22
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
verbos das oraes abaixo no futuro do subjuntivo.
a) Se o m enino se entretiver com o co que passear na
rua
Se no couber na bolsa o frasco que voc m e
em prestar
b) Se o m enino se entreter com o co que passear na
rua
Se no caber na bolsa o frasco que voc m e
em prestar
c) Se o m enino se entretiver com o co que passear na
rua
Se no caber na bolsa o frasco que voc m e em pres-
tar...
d) Se o m enino se entreter com o co que passear na
rua
Se no couber na bolsa o frasco que voc m e
em prestar...
e) Se o m enino se entretesse com o co que passea-
va na rua
Se no cabesse na bolsa o frasco que voc m e
em prestasse...
Resoluo
O futuro do subjuntivo form a-se a partir do pretrito
perfeito do m odo indicativo. A ssim , entreter, no futuro
do subjuntivo, entretiver.Esse verbo derivado de
ter, cujo perfeito tive e cujo futuro do subjuntivo
tiver, o que justifica a form a entretiver. O verbo caber,
no futuro do subjuntivo, couber.
e
C aetano Veloso acaba de gravar um a cano, do film e
Lisbela e o Prisioneiro.Trata-se de Voc no m e ensi-
nou a te esquecer. A propsito do ttulo da cano,
pode-se dizer que:
a) A regra da uniform idade do tratam ento respeitada,
e o estilo da frase revela a linguagem regional do
autor.
b) O desrespeito norm a sem pre revela falta de
conhecim ento do idiom a; nesse caso no diferen-
te.
c) O correto seria dizer Voc no m e ensinou a lhe
esquecer.
d) N o deveria ocorrer a preposio nessa frase, j que
o verbo ensinar transitivo direto.
e) D esrespeita-se a regra da uniform idade de trata-
m ento. C om isso, o estilo da frase acaba por aproxi-
m ar-se do da fala.
Resoluo
N a frase dada, em prega-se o pronom e voc pronom e
de tratam ento que, com o tal, de 3 pessoa com bi-
nando-o com te, pronom e oblquo de 2 pessoa. Essa
m istura tpica da linguagem coloquial brasileira.
d
A ssinale a alternativa em que o particpio sublinhado
est corretam ente utilizado.
a) O diretor tinha suspenso a edio do jornal antes da
publicao da notcia.
27
26
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
b) Lourival tinha chego ao m ercado. M arli o esperava
prxim a da barraca de frutas.
c) O coroinha havia j disperso a m ultido que estava
em volta da M atriz.
d) A correspondncia no foi entregue no escritrio.
e) D iogo tinha expulso os ndios que cercavam o
povoado.
Resoluo
N a form ao dos tem pos com postos, quando o verbo
principal possui particpio abundante, deve-se respeitar
a seguinte regra: com os auxiliares ter e haver,em pre-
ga-se o particpio regular; com os verbos ser e estar,
em prega-se o particpio irregular.
b
N a lngua portuguesa, s vezes, verbos diferentes
assum em a m esm a form a verbal. Isso N O O C O R R E
em :
a) Fui, pretrito perfeito do indicativo de ir e de ser.
b) Viem os,pretrto perfeito do indicativo de vire pre-
sente do indicativo de ver.
c) Vim os, pretrito perfeito do indicativo de ver e pre-
sente do indicativo de vir.
d) For, futuro do subjuntivo de ire de ser.
e) Fora, pretrito m ais-que-perfeito do indicativo de ire
de ser.
Resoluo
O presente do indicativo de ver no viem os, m as
vem os.
a
O bserve: "O diretor perguntou: O nde esto os esta-
girios? M andaram -nos sair? Esto no andar de cim a?".
O pronom e sublinhado pertence:
a) terceira pessoa do plural.
b) segunda pessoa do singular.
c) terceira pessoa do singular.
d) prim eira pessoa do plural.
e) segunda pessoa do plural.
Resoluo
Em m andaram -nos, o pronom e os, de 3 pessoa,
vem antecedido de um n eufnico, resultante do con-
texto nasal criado pela desinncia verbal. O pronom e
nos refere-se ao term o estagirios. O contexto evita a
confuso com o pronom e de 1 pessoa nos.
b
A ssinale a alternativa em que a palavra sublinhada
N O tem valor de adjetivo.
a) A m alha azulestava m olhada.
b) O sol desbotou o verde da bandeira.
c) Tinha os cabelos branco-am arelados.
d) A s nuvens tornavam -se cinzentas.
e) O m endigo carregava um fardo am arelado.
Resoluo
Verde, na alternativa b, deixa de ser adjetivo, pois est
substantivado pelo artigo o, ou seja, um caso de deri-
30
29
28
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
vao im prpria ou converso.
Comentrio
C onform e a tradio recente do vestibular da FG V,
esta prova privilegiou questes de teor lingstico
(especialm ente gram atical), ficando em segundo plano
as questes de inteleco de texto, que foram poucas
e sim ples.
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
BETTER THIS TRIAL THAN NONE AT All
1. For m ore than four years the U nited N ations and
C am bodia have been trying to reach an agreem ent that
w ould put Khm er R ouge leaders on trial for genocide in
an independent and im partial court. This w eek the tw o
parties struck an outline deal on the arrangem ents for
a tribunal. The prosecution w ill be handled jointly by
C am bodia and the U N . C am bodian and foreign judges
w ill preside. Trials w ill be held in Phnom Penh,
C am bodias capital.
2. The U N legal team originally aim ed for a tribunal enti-
rely under its ow n authority, like those for R w anda and
the form er Yugoslavia. The crim es against the
C am bodian people w hen the Khm ers R ouges gover-
ned the country in 1975-79 w ere so terrible that they
w ere seen as of international im portance, not sim ply a
local m atter. B ut C hina threatened to use its veto in the
Security C ouncil against such a plan, probably fearing
that its reputation w ould be dam aged by evidence of
how closely it supported the Khm ers R ouges over
m any years.
3. The U N also found no favour w ith H un Sen, the
C am bodian prim e m inister. It had allow ed the Khm ers
R ouges to occupy C am bodias seat in the G eneral
A ssem bly even after they w ere deposed. The U N for
its part did not trust M r H un Sen to act im partially,
w ere the tribunal to be run by C am bodias govern-
m ent.
4. The U N w as once opposed to C am bodias plan for a
m ixed tribunal, saying it did not m eet international
legal standards, and a year ago it unexpectedly pulled
out of negotiations. B ut a num ber of states that took a
special interest in C am bodia, notably France, the for-
m er colonial pow er, and A ustralia and Japan, urged the
U N to continue talking. N ow the U N and the govern-
m ent have decided to try to m ake a m ixed tribunal
w ork. The draft agreem ent now goes to the G eneral
A ssem bly and the C am bodian parliam ent for approval.
5. Tw o Khm er R ouge suspects are in custody: Ta M ok,
a regional com m ander know n as The B utcher, and
Kang Kek leu, called O uch, w ho ran a prison w here
thousands died. Tw o other top m en, Khieu Sam phan,
the Khm ers R ougeschief diplom at, and N uon C hea,
the num ber tw o in the regim e, live in liberty in
C am bodia. They deny being involved in atrocities, but
are sure to be indicted. leng Sary, the first senior
Khm er R ouge to surrender to the governm ent, has
been given a royal pardon, although it is unlikely to pro-
tect him . A t any rate, only top leaders w ill be indicted:
the C am bodians and international jurists agree that
w ide-ranging trials w ould be destabilising.
6. A ll the suspects are getting old. Pol Pot, their leader,
died in 1998. If trials are to be held at all, they m ust be
soon.
I
I
N
N
G
G
L
L
S
S
O OB BJ J E ET TI IV VO O
The Econom istM arch 22nd 2003
BETTER THIS TRIAL THAN NONE AT All
b
A ccording to the inform ation in the article, for m ore
than four years the U N and C am bodia have been trying
to
a) decide w hether the leaders of the Khm ers R ouges
should or should not be put on trial for genocide.
b) w ork together to find a w ay to bring to justice the
Khm er R ouge leaders allegedly involved in genoci-
de.
c) establish once and for all if it is possible for Khm er
R ouge leaders to receive an independent and im par-
tial trial in C am bodia.
d) reach an agreem ent on how to punish Khm er R ouge
leaders recently convicted of genocide.
e) decide w hether Khm er R ouge atrocities in
C am bodia can be called genocide or not.
Resoluo
For m ore than four years the U nited N ations and
C am bodia have been trying to reach an agreem ent that
w ould put Khm er R ouge leaders on trial for genocide in
an independent and im partial court.
D e acordo com o texto, H m ais de 4 anos, a O N U e
o C am boja vm tentando chegar a um acordo que leva-
ria os lderes de Khm er R ouge a julgam ento por geno-
cdio em um tribunal independente e im parcial.
a
A ccording to the inform ation in the article, w hich of the
follow ing m ight best explain w hy C hina interfered w ith
U N efforts to have com plete control of the tribunal for
the judgm ent of the Khm ers R ouges?
a) C hina w as afraid that its long and supportive rela-
tionship w ith the Khm ers R ouges w ould be expo-
sed.
b) C hina feared that such a tribunal w ould neither
understand the culture nor address the needs of the
C am bodian people.
c) C hina believed that Khm er R ouge crim es w ere a
local m atter and should be handled by C am bodia
alone.
d) C hina w anted to set up its ow n investigation into
the genocide supposedly com m itted by the Khm ers
R ouges.
e) A s a C om m unist country C hina still considered itself
a close ally of the Khm ers R ouges.
Resoluo
B ut C hina threatened to use its veto in the Security
C ouncil against such a plan, probably fearing that its
reputation w ould be dam aged by evidence of how clo-
sely it supported the Khm ers R ouges over m any
years.
D e acordo com o texto, M as a C hina am eaou usar
seu veto no C onselho de Segurana contra tal plano,
32
31
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
provavelm ente tem endo que sua reputaao fosse pre-
judicada pela evidncia de seu forte apoio aos Khm ers
R ouges.
d
W hich of the follow ing best explains the U N s reason
for once opposing a partnership w ith C am bodia to put
Khm er R ouge leaders on trial?
a) The U N knew that the C am bodian governm ent
w ould, not act im partially in such a partnership.
b) C hina threatened to veto any U N participation in a
m ixed tribunalw ith C am bodia.
c) France, A ustralia, and Japan w ere strongly opposed
to U N participation in such a m ixed tribunal.
d) A tribunal adm inistered by both C am bodia and the
U N w ould not be in agreem ent w ith established
norm s of international law .
e) It is im possible to design a m ixed tribunalthat can
be independent and im partial and at the sam e tim e
m eet international standards of legal effectiveness.
Resoluo
The U N w as once opposed to C am bodias plan for a
m ixed tribunal, saying it did not m eet international
legal standards, ...
D e acordo com o texto, A O N U ops-se um a vez ao
plano do C am boja por um tribunal m isto, afirm ando
que isto no iria de encontro aos padres legais inter-
nacionais,...
e
W hich one of the follow ing statem ents is confirm ed by
inform ation in the article?
a) The U N does not need C am bodian approval to put
m em bers of the Khm ers R ouges on trial.
b) There is a clear danger that H un Sen w ill try to cover
up the crim es of Khm er R ouge leaders.
c) A t the m om ent, all Khm er R ouge leaders are at
liberty and are aw aiting trial.
d) Pol Pot, the leader of the Khm ers R ouges, has
already been tried and executed.
e) N ot every m em ber of the Khm ers R ouges w ill be
put on trial.
Resoluo
A t any rate, only top leaders w ill be indicted: ...
D e acordo com o texto, D e qualquer form a, som ente
os principais lderes sero indiciados: ...
c
In the last paragraph, the sentence A ll of the suspects
are getting oldm ost likely refers to w hich of the fol-
low ing?
a) Soon it w ill be im possible to find sufficient evidence
to convict the Khm er R ouge leaders accused of
genocide.
35
34
33
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
b) The person m ost responsible for genocide in
C am bodia is dead, and thus can no longer testify
against his colleagues.
c) The Khm er R ouge leaders accused of genocide m ay
die of old age before they can be brought to trial.
d) W itnesses to the C am bodian genocide are getting
old and do not rem em ber in detail everything that
happened.
e) O ver the years, the C am bodian governm ent has
refused to m odify its accusations against the Khm er
R ouge leaders accused of genocide.
Resoluo
If trials are to be held at all, they m ust be soon.
D e acordo com o texto, Se os julgam entos devem
acontecer de um a vez, eles devem acontecer logo.
LOST TIME
1. Prior to the First W orld W ar, w hen the area that is
now Iraq w as part of the O ttom an Em pire, excavations
by foreign archaeologists w ere carried out under per-
m its issued in Istanbul. M id-nineteenth-century exca-
vators w ere allow ed to export w hatever they w ished.
That is how the B ritish M useum and the Louvre acqui-
red the bulk of their renow ned M esopotam ian collec-
tions. Stung by the em pires loss of irreplaceable trea-
sures, and anxious to establish Istanbul as a center for
the study of ancient art, the O ttom an statesm an
H am di B ey founded the A rchaeological M useum of
Istanbul in 1881. Thereafter, foreign archaeologists
w ere obliged to share their discoveries w ith the
m useum .
2. A fter the First W orld W ar, Iraq becam e a separate
state, initially adm inistered by B ritain. W ith the ener-
getic guidance of a B ritish official, G ertrude B ell, w ho
advocated that antiquities be retained by the country of
origin, the Iraq M useum w as founded in 1923 in
B aghdad. A decade later, Iraq began to take charge of
its ow n patrim ony. A law enacted in 1936 decreed that
all the countrys antiquities m ore than 200 years old
w ere the property of the state; am endm ents in the
1970s elim inated the O ttom an tradition of dividing
finds w ith their excavators. The Iraq M useum , in the
heart of dow ntow n B aghdad, now began to accum ula-
te the m ost im portant collection of M esopotam ian
antiquities in the w orld.
3. A t the tim e of the 1991 G ulf W ar, archaeology w as
undergoing an extraordinary revival in Iraq. D ozens of
foreign and Iraqi team s w ere w orking at an unprece-
dented rate. W hen Iraq invaded Kuw ait in the sum m er
of 1990, virtually all archaeological activity ceased, and
the w ar and subsequent im position of U N sanctions
have left Iraqs patrim ony in peril. N ot only is alm ost no
m oney available for the preservation of antiquities, but
som e Iraqi citizens, squeezed betw een ruinous infla-
tion and shortages of basic necessities, have turned to
looting and selling artifacts from excavated and unex-
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
cavated sites and even from m useum s.
JO H N M A LC O LM R U SSELL
June 2003 N ATU R A L H ISTO RY
LOST TIME
a
W hich of the follow ing best explains a difference in
O ttom an archaeological regulations before and after
1881?
a) B efore 1881, the finder of archaeological item s
could take them out of the country; after 1881, the
A rchaeological M useum of Istanbul had to receive
part of w hat w as discovered.
b) B efore 1881, preference w as given to B ritish and
French archaeologists; after 1881, that preference
w as abolished.
c) B efore 1881, the O ttom an governm ent issued per-
m its for foreign archaeologists to excavate; after
1881, such perm its w ere issued by the
A rchaeological M useum of Istanbul.
d) B efore 1881, any archaeological treasure could leave
the country; after 1881, only artifacts of relatively low
historical value w ere perm itted to leave.
e) B efore 1881, foreign archaeologists w ere allow ed to
w ork independently; after 1881, their excavations
had to be supervised by O ttom an officials.
Resoluo
... the O ttom an statesm an H am di B ey founded the
A rchaeological M useum of Istanbul in 1881.
Thereafter, foreign archaeologists w ere obliged to
share their discoveries w ith the m useum .
D e acordo com o texto, ... o estadista O tom ano
H am di B ey fundou o M useu A rqueolgico de Istam bul
em 1881. D epois disso, arquelogos estrangeiros
foram obrigados a com partilhar suas descobertas com
o m useu.
e
W hich of the follow ing is m ost likely one reason w hy
the Iraq M useum , as m entioned in paragraph 2,
began to accum ulate the m ost im portant collection of
M esopotam ian antiquities in the w orld?
a) The B ritish ended their control of the Iraqi govern-
m ent.
b) The Iraq M useum finally decided to adopt G ertrude
B ells policies regarding the retention of antiquities
in their country of origin.
c) A n Iraqi law enacted in 1936 decreed that over 200
kinds of antiquities w ere now the property of the
state.
d) Interest in Iraqi archaeology boom ed before the First
W orld W ar.
e) Iraq finally abolished the O ttom an policy of allow ing
archaeologists to keep a part of w hat they found.
Resoluo
37
36
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
... am endm ents in the 1970s elim inated the O ttom an
tradition of dividing finds w ith their excavators. The
Iraq M useum , in the heart of dow ntow n B aghdad, now
began to accum ulate the m ost im portant collection of
M esopotam ian antiquities in the w orld.
D e acordo com o texto, ... as em endas dos anos 70
elim inaram a tradio O tom ana de dividir suas desco-
bertas com os escavadores. O M useu do Iraque, no
corao do centro de B agd, a partir de ento com eou
a acum ular a coleo m ais im portante do m undo de
antigidades da M esopotm ia.
d
A ccording to the inform ation in the article, if in recent
years som e of Iraqs archaeological treasures have
disappeared from sites and m useum s, one reason is
probably the
a) basic dishonesty and barbarity of the Iraqi people.
b) brutality and anti-cultural attitude of the Iraqi govern-
m ent.
c) failure of A m erican m ilitary officials to provide ade-
quate protection for Iraqs archaeological patrim ony
during the recent w ar.
d) hard life of the Iraqi people.
e) deliberate destruction of som e of Iraqs archaeologi-
cal patrim ony during the 1991 G ulf W ar.
Resoluo
N ot only is alm ost no m oney available for the preser-
vation of antiquities, but som e Iraqi citizens, squeezed
betw een ruinous inflation and shortages of basic
necessities, have turned to looting and selling artifacts
from excavated and unexcavated sites and even from
m useum s.
D e acordo com o texto, N o som ente, quase no
existe dinheiro disponvel para a preservao de anti-
gidades, m as alguns iraquianos, esprem idosentre
a inflao que os arruina e a escassez de produtos bsi-
cos com earam a saquear e a vender artefatos de
stios arqueolgicos escavados ou no e at m esm o
de m useus.
b
This article could m ost likely be considered
a) a passionate appeal to save Iraqs archaeological
patrim ony.
b) an im partial account of progress in Iraqi archaeology
follow ed by w ar and destruction.
c) a strong defense of Iraqi cultural nationalism .
d) an extensive exam ination of both the im portance of
archaeology and of the destructive effects of w ar.
e) one m ans personal history of the failed attem pt to
preserve Iraqs cultural patrim ony.
Resoluo
D e acordo com o texto, U m relato im parcial sobre o
progresso da arqueologia iraquiana seguido pela guer-
ra e destruio.
39
38
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
c
The title of the article, Lost Tim e, m ost likely refers to
the
a) disappearance of O ttom an archaeological traditions
in m odern-day Iraq.
b) im possibility of carrying out G ertrude B ells objecti-
ves.
c) deterioration and even disappearance of m any of the
archaeological treasures of Iraq.
d) joint A m erican-Iraqi effort to save Iraqs archaeologi-
cal patrim ony after the 1991 G ulf w ar.
e) effort to build a w orld-class archaeological m useum
in B aghdad.
Resoluo
O ttulo Tem po Perdido, m uito provavelm ente, refe-
re-se deteriorao e at m esm o ao desaparecim ento
de m uitos dos tesouros arqueolgicos do Iraque.
THE HOUSE THAT FREDDY BUILT
1. A lfred H . H eineken died in January, 2002, at age 78,
but the influence of Freddyat the com pany rem ains
pervasive. H eineken C EO A nthony R uys can feel it
every tim e he opens the door to his office it w eighs
a ton. Thats because Freddy, after being kidnaped in
1983, ordered that the executive suite be bullet proo-
fed. Luckily, the D utch beer baron survived the three-
w eek ordeal w ith his hum or intact. They tortured
m e,Freddy told Sir Frank Low e, chairm an of form er
H eineken ad agency Low e & Partners W orldw ide.
They m ade m e drink C arlsberg!
2. A lthough he w as born into w ealth, Freddy proved
early on that he w as one tough rich kid. H eineken w as
built by his grandfather, G erard A driaan H eineken, w ho
in 1864 bought out a four-century-old A m sterdam bre-
w ery. B ut by 1942, debt, divorce, and bad m anage-
m ent had deprived the H eineken fam ily of m ajority
control. B y secretly buying up shares, 30-year-old
Freddy regained control in 1954. I w anted to prevent
strangers from doing strange things under m y nam e,
he said at the tim e.
3. W hen it com es to the golden brew , Freddy w as a
visionary. H e realized that beer can travel and expan-
ded into countries such as France and Italy, turning
H eineken into Europes biggest brew er. H e saw
m uch earlier than others that Europe w as going to be
a continent,says H eineken biographer B arbara Sm it.
In partnership w ith distributor Leo van M unching Sr.,
H eineken becam e the leading im ported beer in the
U .S. Then, in 1968, Freddy engineered the takeover of
D utch rival A m stel. W hile H eineken rem ains the flags-
hip brand, m iddle-m arket A m stel and its sister A m stel
Light have carved im portant niches in places like
G reece and the U .S.
4. A bon vivant w ho piloted his ow n plane and hosted
the D utch royal fam ily aboard his yacht, Som ething
40
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
C ool, Freddy had an adm ans pizzazz. It w as he w ho
decided to dress H eineken in green rather than the
custom ary brow n and tip the es slightly, to give the
label a m ore friendly look. Yet the N etherlandsrichest
m an w as also fam ously tightfisted. N ico N usm eier,
w ho heads H einekens operations in Poland, recalls
how the boss cracked jokes and high-fived w orkers
during a visit to a new bottling line years ago. A t the
sam e tim e, he knew bloody w ell w hether w e had over-
invested or not,says N usm eier.
B y Jack Ew ing in A m sterdam
B usinessW eek / Septem ber 8, 2003
THE HOUSE THAT FREDDY BUILT
c
You can infer from the inform ation in the article that the
door to A nthony R uyss office
a) w as placed there as a tribute to A lfred H . H eineken.
b) is m uch larger than norm al.
c) cannot be pierced by bullets.
d) provides com plete security against any type of
assault.
e) is too heavy for one m an alone to m ove.
Resoluo
Thats because Freddy, after being kidnaped in 1983,
ordered that the executive suite be bullet proofed.
D e acordo com o texto, porque Freddy, depois de ser
seqestrado em 1983, ordenou que a sala do execu-
tivo fosse prova de balas.
e
W hich of the follow ing probably best explains w hy, as
m entioned in paragraph 1, A lfred H . H eineken said,
They m ade m e drink C arlsberg!
a) N orm ally, C arlsberg is not his favorite beer.
b) H e w as telling Sir Frank Low e w hat happened
during a three-w eek vacation he took.
c) H e w as explaining w hat kind of circum stances
w ould be necessary for him to drink C arlsberg.
d) H e w as inventing an excuse.
e) H e w as m aking a joke.
Resoluo
Luckily, the D utch beer baron survived the three-
w eek ordeal w ith his hum or intact.
D e acordo com o texto, felizm ente o baro da cerveja
holandesa sobreviveu provao de trs sem anas
com seu hum or intacto.
b
W hich of the follow ing does the article m ention as an
exam ple of A lfred H . H einekens strong business skills?
a) In 1942 A lfred H . H eineken took control of the fam ily
43
42
41
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
beer com pany.
b) Though his fam ily had lost control of the com pany in
1942, A lfred H . H eineken regained control in 1954.
c) Though he had to face debt, divorce, and bad m ana-
gem ent, after 1942 A lfred H . H eineken never again
lost control of the fam ily beer com pany.
d) In 1954 A lfred H . H eineken m ade it a policy to let
only certain people use the H eineken fam ily nam e.
e) A lfred H . H eineken took control of the fam ily com -
pany from his grandfather in 1954.
Resoluo
B ut by 1942, debt, divorce, and bad m anagem ent had
deprived the H eineken fam ily of m ajority control. B y
secretly buying up shares, 30-year-old Freddy regained
control in 1954.
D e acordo com o texto, M as por volta de 1942, dvi-
das, divrcio e m adm inistrao retiraram a fam lia do
controle m ajoritrio. C om prando aes secretam ente,
Freddy, de 30 anos, recuperou o controle em 1954.
e
In paragraph 3, w hen B arbara Sm it says H e saw
m uch earlier than others that Europe w as going to be
a continent,she m ost likely m eans that A lfred H .
H eineken
a) understood that it w ould be unnecessary and even
w asteful to buy rival beer com panies in other
European countries.
b) knew before others that Europe w ould soon be con-
sidered a continent and not just a loose collection of
countries.
c) becam e the biggest beer-m aker in Europe by expor-
ting his beer to France and Italy.
d) w as the first person to realize that W estern and
Eastern Europe w ould one day be united.
e) understood before m ost people did that it w as
im portant to establish his com pany and its products
strongly in countries throughout Europe.
Resoluo
Freddy w as a visionary. H e realized that beer can tra-
vel and expanded into countries such as France and
Italy, turning H eineken into Europes biggest brew er.
D e acordo com o texto, Freddy era um visionrio, pois
percebeu que a cerveja podia viajar e expandiu para
pases, tais com o Frana e Itlia, transform ando a
H eineken na m aior cervejaria da Europa.
a
A ccording to the inform ation in the article, w hich one
of the follow ing probably best describes A lfred H .
H eineken?
a) H e w as an excellent and far-sighted businessm an
w ho w orked hard and enjoyed life.
b) H e w as a ruthless businessm an w ho w ould stop at
nothing to succeed.
c) Though a good businessm an, he w as too old fashio-
45
44
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
ned and traditional to take full advantage of all of his
business opportunities.
d) Though he w as an excellent businessm an, his
European background lim ited his ability to unders-
tand and take advantage of the U .S. m arket.
e) A s a businessm an he w as an expert at m arketing
and finance but had only a lim ited know ledge of pro-
duction.
Resoluo
A bon vivant ... the boss cracked jokes and high-fived
w orkers ... he knew bloody w ell w hether w e had over-
invested or not, ...
D e acordo com o texto, Freddy era um bon vivant ...
contava piadas e cum prim entava inform alm ente seus
funcionrios ... e sabia m uito bem se eles investiam
dem ais ou no, ...
Comentrio de Ingls
A prova da G V m anteve tradicionalm ente o bom nvel
na escolha dos trs textos propostos.
Exigiu leitura fluente do aluno e excelente capacidade
interpretativa na escolha das alternativas de cada teste.
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
d
A partir de ento, passou-se a eleger cnsules em n-
m ero de dois, ao invs de um nico rei, com o pro-
psito de que, se um deles tivesse a inteno de agir
m al, o outro, investido de igual autoridade, o coibisse.
Flvio Eutrpio, Sum rio da histria rom ana, in H istoriadores
latinos, N O VA K, G ., M e outros (orgs.), trad., So Paulo, M artins
Fontes, 1999, p. 259.
O trecho acim a refere-se ao perodo da histria de
R om a conhecido com o:
a) D iarquia, instituda logo aps a poca im perial.
b) D em ocracia, organizada aps a revolta dos plebeus
e dos escravos.
c) C onsulado, criado para dim inuir o poder dos tiranos.
d) R epblica, estabelecida pela aristocracia patrcia.
e) Pax R om ana, im posta pelos senadores com o form a
de lim itar o poder dos patrcios.
Resoluo
A R epblica R om ana, que sucedeu M onarquia ou
R ealeza em 509 a.C ., foi estabelecida pelo patriciado
(aristocracia). Preocupados em im pedir a concentrao
de poderes em um a s pessoa, os patrcios estabe-
leceram com o m agistratura m xim a o C onsulado, atri-
budo a dois cnsules eleitos anualm ente e no- reele-
gveis. A igualdade de atribuies entre os dois ocu-
pantes do C onsulado, conform e esclarece o texto,
destinava-se a criar um equilbrio de poder entre
am bos.
c
O sacerdote, tendo-se posto em contato com C lvis,
levou-o pouco a pouco e secretam ente a acreditar no
verdadeiro D eus, criador do C u e da Terra, e a renun-
ciar aos dolos, que no lhe podiam ser de qualquer
ajuda, nem a ele nem a ningum [...] O rei, tendo pois
confessado um D eus todo-poderoso na Trindade, foi
batizado em nom e do Pai, do Filho e do Esprito Santo
e ungido do santo C rism a com o sinal-da-cruz. M ais de
trs m il hom ens do seu exrcito foram igualm ente
batizados [...].
So G regrio de Tours. A converso de C lvis. H istoriae
Eclesiasticae Francorum . A pud PED R ER O -S N C H ES, M .G .,
H istria da Idade M dia. Textos e testem unhas. So Paulo, Ed.
U nesp, 2000, p. 44-45.
A respeito dos episdios descritos no texto, correto
afirm ar:
a) A converso de C lvis ao arianism o perm itiu aos
francos um a aproxim ao com os lom bardos e a
expanso do seu reino em direo ao N orte da Itlia.
b) A converso de C lvis, segundo o rito da Igreja
O rtodoxa de C onstantinopla, significou um reforo
poltico-m ilitar para o Im prio R om ano do O riente.
c) C om a converso de C lvis, de acordo com a orien-
47
46
H
H
I
I
S
S
T
T
R
R
I
I
A
A
O OB BJ J E ET TI IV VO O
tao da Igreja de R om a, o reino franco tornou-se o
prim eiro Estado germ nico sob influncia papal.
d) A converso de C lvis ao cristianism o levou o reino
franco a um prolongado conflito religioso, um a vez
que a m aioria dos seus integrantes m anteve-se fiel
ao paganism o.
e) A converso de C lvis ao cristianism o perm itiu
dinastia franca m erovngia a anexao da Itlia a
seus dom nios e a subm isso do poder pontifcio
autoridade m onrquica.
Resoluo
C lvis, na qualidade de unificador das tribos francas e
fundador da D inastia dos M erovngios, criou o Estado
Franco m ais um dentro dos reinos brbaros germ -
nicos que tentavam se fixar nos territrios do antigo
Im prio R om ano do O cidente. A converso de C lvis
ao cristianism o rom ano proporcionou-lhe o apoio da
Igreja para derrotar borgndios e visigodos, incorporan-
do toda a G lia (Frana) aos dom nios francos.
a
A cham ada G uerra dos Trinta A nos (1618-1648) foi con-
siderada com o a ltim a grande guerra de religio da
poca M oderna. A seu respeito correto afirm ar:
a) O conflito levou ao enfraquecim ento do im prio
H absburgo e ao estabelecim ento de um a nova situa-
o internacional com o fortalecim ento do reino fran-
cs.
b) O conflito iniciou-se com a proclam ao da in-
dependncia das Provncias U nidas, que se se-
paravam , assim , dos dom nios do im prio H abs-
burgo.
c) O conflito m arcou a vitria definitiva dos huguenotes
sobre os catlicos na Frana, apoiados pelo m onar-
ca H enrique de B ourbon, desde o final do sculo
XVI.
d) O conflito estim ulou a reao dos Estados Ibricos
que, em aliana com o papado, desencadearam a
cham ada C ontra-R eform a C atlica.
e) O conflito caracterizou-se pelas intervenes ingle-
sas no continente europeu, atravs de tropas form a-
das por grupos populares enviadas por O liver
C rom w ell.
Resoluo
A G uerra dos Trinta A nos (1618-48) com eou com o um
conflito entre os H absburgos austracos (catlicos) e
setores protestantes do Sacro Im prio R om ano-G er-
m nico. Paralelam ente a essa, outra guerra poltico-re-
ligiosa vinha sendo travada entre os H absburgos es-
panhis (catlicos) e os holandeses, que desejavam
em ancipar-se da Espanha. A s duas guerras se fundi-
ram quando o cardeal de R ichelieu, prim eiro-m inistro
francs, passou a apoiar os holandeses contra a Es-
panha e a Sucia (protestantes) contra os H absburgos
austracos. Transform ada a partir de ento em um con-
flito em inentem ente poltico, a G uerra dos Trinta A nos
concluiu-se pelos Tratados de Vestflia, que consa-
graram a hegem onia europia da Frana dos
48
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
B ourbons, em substituio ao tradicional predom nio
da D inastia de H absburgo.
e
N um m anuscrito do sculo XIII pode-se ler: "O s usur-
rios so ladres, pois vendem o tem po, que no Ihes
pertence, e vender o bem alheio, contra a vontade do
possuidor, um roubo."
A pud LE G O FF, J., A bolsa e a vida. A usura na Idade M dia.
Trad., So Paulo, B rasiliense, 1989, p.39.
A respeito da usura correto afirm ar:
a) A usura foi tolerada pelos telogos m edievais que
viviam nas cidades e criticada pelos telogos que se
dedicavam vida contem plativa nos m osteiros
rurais.
b) A usura era considerada um pecado pelos telogos
cristos porque o usurrio podia se apropriar, com o
um ladro, de qualquer bem de seu devedor.
c) A prtica da usura passou a ser considerada virtuosa
pelos telogos catlicos, convencidos de que as cr-
ticas desferidas por Lutero eram pertinentes.
d) A usura era considerada um roubo do tem po que
pertencia a D eus e foi praticada exclusivam ente por
judeus durante a Idade M dia.
e) A usura foi condenada pelos telogos m edievais
num contexto em que se desenvolvia um a eco-
nom ia m onetria gerada no interior do feudalism o.
Resoluo
A crise do sistem a feudal, gerada por fatores end-
genos a partir do sculo XI (crescim ento dem ogrfico
e incapacidade dos feudos em se auto-sustentar),
acentuou-se com as C ruzadas e a conseqente reaber-
tura do M editerrneo O cidental ao com rcio europeu.
A partir de ento, com eou o R enascim ento C om ercial
e U rbano, concom itante com a m onetarizao da eco-
nom ia. N a contram o desse processo, os telogos
m edievais, apegados a um a viso feudal do processo
econm ico, iriam condenar a prtica da usura com o
pecam inosa.
d
"(...) Q ue tnham os feito forte e opulenta Inglaterra?
(...) N o era Portugal um aliado antigo e fiel, correndo
com terna solicitude a depor-lhe no estm ago inson-
dvel pedaos de seus dom nios no U ltram ar, a assu-
m ir a defesa dos seus m ltiplos interesses econm ico-
polticos, e a lanar-se-Ihe nos braos m agnnim os nas
horas de turbao e de am argura?(...) Pois no lhe bas-
tavam B om baim , Tnger, C euta, e tantas outras para-
gens longnquas de que m al sabam os os nom es?(...)
O Zaire no tinha j ido na corrente da distribuio leo-
nina de B erlim , em 1885?
Ento no era nossa, legitim am ente nossa, a bacia do
Zam beze?(...)"
(TELES. B aslio, D o U ltim atum ao 31 de Janeiro. Esboo de
H istria Poltica. 28 ed., Lisboa, Portuglia Editora, 1968, p.7-8)
50
49
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
O texto acim a refere-se a tenses que se esta-
beleceram :
a) D evido recusa do governo portugus em cum prir
os ditam es do Tratado de M ethuen.
b) D evido ao revanchism o portugus aps a perda de
suas feitorias localizadas na ndia.
c) D evido ao revanchism o ingls provocado pela alian-
a histrica entre Portugal e Frana.
d) Entre Inglaterra e Portugal devido disputa de ter-
ritrios situados no interior da frica.
e) Entre Inglaterra e Portugal, provocadas pela con-
denao britnica ao trfico negreiro.
Resoluo
O texto trata de um assunto pouco m encionado na
m aioria dos livros didticos brasileiros: um choque de
interesses coloniais entre Portugal (desejoso de unir
os territrios de A ngola e M oam bique, no sentido
oeste-leste) e Inglaterra (que queria form ar um a Linha
C aboC airo, unindo a frica do Sul ao Egito). A ques-
to foi encerrada quando os portugueses, que haviam
ocupado a B acia do R io Zam beze, abandonaram a
regio diante de um ultim ato ingls.
a
Entre 1955 e 1973, um grupo de lderes internacionais
tentou criar as bases daquilo que ficou conhecido
com o "m ovim ento dos no-alinhados". A esse respeito
correto afirm ar:
a) O m ovim ento procurava estabelecer um a poltica
diplom tica independente dos EU A e da U nio So-
vitica, as duas superpotncias da poca.
b) Tratava-se de um m ovim ento de pases do Terceiro
M undo, que reunia apenas lderes que no estives-
sem com prom etidos com os interesses da U nio
Sovitica.
c) Tratava-se de um m ovim ento que tentava elaborar
um a alternativa poltica social-dem ocracia europia
e ao com unism o da C hina e dos pases do Leste
europeu.
c) O s princpios do m ovim ento, definidos na C onfe-
rncia de B andung, em 1955, indicavam o alinha-
m ento dos pases do Terceiro M undo com as cha-
m adas potncias desenvolvidas.
e) A C onferncia de B elgrado, em 1961, condenou a
instaurao do regim e com unista em C uba, liderado
por Fidel C astro. X
Resoluo
Em 1955, na C onferncia de B andung (Indonsia), os
governantes dos pases recm -descolonizados reuni-
ram -se para definir um a posio com um diante da
bipolarizao produzida pela G uerra Fria. D ecidiu-se
que seria criado um Terceiro M undo, no-alinhado
com os EU A capitalistas ou a U R SS socialista. C om a
adeso de outros lderes ao projeto (Tito, da Iugoslvia;
N ehru, da ndia; N asser, do Egito), o m ovim ento dos
no-alinhadospassou tam bm a ser conhecido
com o neutralista. Essa tendncia desm oralizou-se
m ais tarde, quando os no-alinhados, em sua m aio-
51
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
ria, alinharam -se com a U R SS (Fidel C astro chegou a
ser presidente do M ovim ento dos Pases N o-A linha-
dos).
c
A trs do jovem , a guerra, em frente a ele a runa
social, sua esquerda ele est sendo em purrado pelos
com unistas, direita, pelos nacionalistas e por toda a
sua volta no existe um s trao de honestidade, de
racionalidade, e todos os seus bons instintos esto
sendo distorcidos pelo dio."
A pud G AY, P., A cultura de W eim ar, trad., R io, Paz e Terra, 1978,
p. 160.
A anlise acim a foi feita pelo novelista alem o Jakob
W asserm ann e diz respeito situao social durante a
R epblica de W eim ar, quando a A lem anha:
a) Presenciou a derrocada do nazism o e o esta-
belecim ento da dem ocracia tutelada pelas principais
potncias ocidentais e pela U nio Sovitica.
b) Vivenciou um a experincia dem ocrtica m arcada
pelos sucessivos governos de centro-esquerda,
encabeados pelo Partido D em ocrata A lem o.
c) Passou por um a experincia dem ocrtica abalada
por graves crises econm icas e pelas investidas de
partidos e grupos extrem istas de esquerda e de
direita.
d) A ssistiu consolidao no poder do grupo espar-
taquista liderado por R osa de Luxem burgo, que
questionava duram ente as concesses ideolgicas
feitas pelos social-dem ocratas.
e) Enfrentou a guerra contra a Trplice A liana, m anten-
do o regim e dem ocrtico a partir de um a coalizo de
centro-esquerda liderada pelos social-dem ocratas.
Resoluo
A ps ser derrotada na Prim eira G uerra M undial e sub-
m etida s im posies franco-britnicas do Tratado de
Versalhes, a A lem anha, entre o incio dos anos 20 e o
com eo dos anos 30, viveu politicam ente um a expe-
rincia dem ocrtica conhecida com o R epblica de
W eim ar. N esse perodo, o governo sofreu oposio
tanto de grupos nacionalistas de extrem a-direita (nazis-
tas) com o dos com unistas, alm de ter sido abalado
por graves crises econm icas.
O bs.: A R epblica de W eim ar(1919-33) deve o no-
m e ao fato de que sua C onstituio foi prom ulgada na
cidade de W eim ar e no em B erlim , capital da A le-
m anha.
b
D urante o perodo da G uerra Fria, o cenrio interna-
cional foi m arcado:
a) Pela expanso de regim es com unistas no interior da
A m rica Latina e pela Europa O cidental.
b) Pela bipolarizao do poder m undial envolvendo as
duas superpotncias, U nio Sovitica e Estados
U nidos da A m rica.
c) Pela m ilitarizao da A lem anha, a despeito das de-
53
52
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
cises das conferncias de Yalta e Potsdam .
d) Pela polarizao do m undo em dois blocos com -
postos por U R SS, Inglaterra, EU A e Frana, contra
A lem anha, Itlia e Japo.
e) Pelo equilbrio de foras entre os pases desen-
volvidos e os pases do cham ado Terceiro M undo.
Resoluo
A G uerra Fria foi o contexto histrico do perodo entre
o trm ino da Segunda G uerra M undial (1945) e o fim
da U nio Sovitica (1991). C aracterizou-se pela
bipolarizao poltico-ideolgica e pela corrida arm a-
m entista entre o bloco capitalista e o bloco socialista,
liderados respectivam ente pelos Estados U nidos e
pela U nio Sovitica. A crescente-se a esse cenrio a
form ao de duas alianas m ilitares antagnicas: a
O TA N (O rganizao do Tratado do A tlntico N orte) e o
Pacto de Varsvia.
d
A respeito da R evolta dos A lfaiates de 1798, podem os
afirm ar:
a) Trata-se de um a revoluo burguesa que tinha por
objetivo elim inar o sistem a colonial e estim ular a
entrada de im igrantes no B rasil.
b) O s rebeldes foram influenciados pelas idias do
com unism o francs, que pregava a igualdade social
e a distribuio de terras entre os m ais pobres.
c) Influenciados pelas doutrinas sociais da Igreja fran-
cesa, os lderes da revolta pretendiam garantir o
ingresso no clero de hom ens de todas as raas.
d) O discurso rebelde era m arcado pelo anticlerica-
lism o e defendia um a reform a na ordem vigente, de
m odo a elim inar as diferenas sociais.
e) O m ovim ento foi liderado pela elite baiana, descon-
tente com a falta de incentivos do governo m etro-
politano com relao s necessidades da produo
aucareira.
Resoluo
A R evolta dos A lfaiates foi um m ovim ento em ancipa-
cionista ocorrido na B ahia em 1798 (C onjurao B aia-
na), sob influncia da fase popular da R evoluo Fran-
cesa. A revolta contou com a participao de cam adas
populares e questionou as diferenas sociais, desta-
cando-se pelo carter antiescravagista.
c
A conquista colonial inglesa resultou no estabe-
lecim ento de trs reas com caractersticas diversas
na A m rica do N orte.
C om relao s cham adas "colnias do sul" correto
afirm ar:
a) B aseava-se, sobretudo, na econom ia fam iliar e de-
senvolveu um a am pla rede de relaes com erciais
com as colnias do N orte e com o C aribe.
b) B aseava-se num a form a de servido tem porria que
subm etia os colonos pobres a um conjunto de obri-
gaes em relao aos grandes proprietrios de ter-
ras.
c) B aseava-se num a econom ia escravista voltada prin-
55
54
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
cipalm ente para o m ercado externo de produtos,
com o o tabaco e o algodo.
d) C onsolidou-se com o o prim eiro grande plo indus-
trial da A m rica com a transferncia de diversos
produtores de tecidos vindos da regio de M an-
chester.
e) C aracterizou-se pelo em prego de m o-de-obra as-
salariada e pela presena da grande propriedade
agrcola m onocultora.
Resoluo
A s C olnias do Suldos atuais Estados U nidos da
A m rica foram caracterizadas com o colnias de
explorao, apresentando um a econom ia extrover-
tida, produzindo gneros agrcolas tropicais, com o o ta-
baco e o algodo, e utilizando m o-de-obra escrava.
O bs.: O enunciado m enciona corretam ente Trs
reasda colonizao inglesa na A m rica do N orte
(N orte, C entro e Sul); m as falha ao atribuir-lhes carac-
tersticas diversas, pois tanto as colnias do C entro
(N ova Jersey, N ova York e Pensilvnia) com o as do
N orte (a N ova Inglaterra) eram colnias de povoa-
m ento.
b
"(...) assistim os no final do sculo XVII, aps a desco-
berta das m inas, no a um a nova configurao da vila
nem ruptura brusca com o padro anterior, ao con-
trrio, consolidao de todo um processo de expan-
so econm ica, de m ercantilizao e de concentrao
de poder nas m os de um a elite local. A articulao
com o ncleo m ineratrio dinam izar este quadro m as
no ser, de form a algum a, responsvel
por sua existncia."
B LA J, Ilana,A tram a das tenses.So Paulo, H um anitas, 2002,
p.125.
O texto acim a refere-se:
a) vila de So Lus e ao seu papel de ncleo articu-
lador entre a econom ia exportadora e o m ercado
interno colonial.
b) vila de So Paulo, cuja integrao a um a econom ia
de m ercado teria ocorrido antes da descoberta dos
m etais preciosos.
c) vila de O uro Preto, im portante centro agrcola e
pecuarista encravado no interior da A m rica Portu-
guesa.
d) vila de C uiab, principal entreposto de tropeiros e
com erciantes que percorriam as precrias rotas do
C entro-Sul.
e) vila de M ariana, im portante centro distribuidor de
indgenas apresados pelos bandeirantes.
Resoluo
O texto aponta para um a nova abordagem historio-
grfica sobre a Vila de So Paulo, que em 2004 com -
pletar 450 anos de fundao. C om efeito, a econom ia
paulista tom ou rum o diferente da nordestina, apoian-
do-se na diversificao das atividades bandeirsticas
(destacando-se o ciclo da caa ao ndio) e na produ-
o de trigo e outros produtos alim entcios, com o a fa-
56
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
rinha de m andioca. Portanto, a m inerao am pliou um a
econom ia de m ercado que lhe era anterior.
b
O estabelecim ento da fam lia real portuguesa no
B rasil, a partir de 1808:
a) Significou apenas o deslocam ento do im enso apa-
relho burocrtico portugus sem nenhum des-
dobram ento no processo de em ancipao poltica
brasileira.
b) Interrom peu os vnculos entre os grupos esta-
belecidos em torno da C oroa Portuguesa e aqueles
dedicados s diversas atividades econm icas colo-
niais.
c) D eu inicio cam panha abolicionista, devido atua-
o dos letrados portugueses junto aos integrantes
da aristocracia escravista colonial.
d) C riou vnculos estreitos entre os grupos dom inantes
da A m rica espanhola e da A m rica portuguesa, uni-
dos contra as agresses e usurpaes patrocinadas
por N apoleo B onaparte.
e) D eu incio cham ada "interiorizao da m etrpole" e
perm itiu um a aproxim ao entre os m em bros da
burocracia im perial e grupos dom inantes coloniais.
Resoluo
C om a vinda da Fam lia R eal Portuguesa para o B rasil,
os vnculos estreitos entre os grupos coloniais e m e-
tropolitanos foram rom pidos, pois o exclusivom e-
tropolitano desapareceu quando da A bertura dos Por-
tos, em 1808. A partir da, ocorreria a Inverso
B rasileirae, no lim ite, a Independncia do B rasil.
O bs.: A questo foi form ulada de m aneira am bgua, o
que poder ter levado alguns candidatos a escolher a
alternativa e.
b
Em 21 de dezem bro de 1941, G etlio Vargas recebeu
O svaldo A ranha, seu m inistro das R elaes Exteriores,
para um a reunio. Leia alguns trechos do dirio do pre-
sidente:
" noite, recebi o O svaldo. D isse-m e que o governo
am ericano no nos daria auxlio, porque no confiava
em elem entos do m eu governo, que eu deveria subs-
tituir. R espondi que no tinha m otivos para desconfiar
dos m eus auxiliares, que as facilidades que estvam os
dando aos am ericanos no autorizavam essas descon-
fianas, e que eu no substituiria esses auxiliares por
im posies estranhas."
VA R G A S, G etlio, D irio. So Paulo/R io de Janeiro, Sicilia-
no/Fundao G etlio Vargas, 1995, vol. II, p. 443.
A respeito desse perodo, podem os afirm ar:
a) A s desconfianas norte-am ericanas eram com ple-
tam ente infundadas porque no havia nenhum sim -
patizante do nazi-fascism o entre os integrantes do
governo brasileiro.
b) C om sua poltica pragm tica, Vargas negociou vanta-
gens econm icas com o governo am ericano e m an-
58
57
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
teve em seu governo sim patizantes dos regim es
nazi-fascistas.
c) A pesar das sem elhanas entre o Estado N ovo e os
regim es fascistas, Vargas no perm itiu nenhum tipo
de relacionam ento diplom tico entre o B rasil e os
pases do Eixo.
d) N o alto escalo do governo Vargas havia um a srie
de sim patizantes do regim e com unista da U nio
Sovitica e de seu lder Joseph Stalin.
e) A s presses do governo norte-am ericano levaram
Vargas a dem itir seu m inistro da G uerra, o general
Eurico G aspar O utra, adm irador dos regim es nazi-
fascistas.
Resoluo
Q uando a Segunda G uerra M undial (1939-45) com e-
ou, o governo Vargas estava dividido entre sim pa-
tizantes do Eixo (tais com o Felinto M ller, chefe da
polcia) e defensores dos A liados (com o o citado O s-
valdo A ranha). O prprio Vargas, em bora sim patizante
do Eixo, preferiu adotar um a poltica de neutralidade
pragm tica, negociando com os Estados U nidos ajuda
financeira e tecnolgica para a im plantao da Side-
rrgica de Volta R edonda.
d
"Vai-se o m arechal ingente, / vai-se o grande alagoano.
/ E eu leitor, digo som ente: Floriano foi um prudente; /
seja o Prudente um Floriano."
Essa um a quadrinha do escritor A rtur de A zevedo. A
respeito dos personagens e do perodo aos quais se
refere podem os dizer que:
a) O escritor, com o um crtico dos governos m ilitares,
posicionara-se contra a decretao do estado de
stio e o fecham ento do C ongresso por parte de
Floriano Peixoto.
b) O escritor, com o um defensor dos ideais socialistas
no B rasil, fora contrrio ao estado de stio decretado
por D eodoro da Fonseca e prorrogado por Floriano
Peixoto.
c) O escritor, com o um defensor do "m arechal de fer-
ro", m ostrava-se satisfeito com a prudncia do pre-
sidente que, com pulso firm e, havia debelado a
R evolta de C anudos.
d) O escritor, com o um adm irador de Floriano Peixoto,
saudava a prudncia do ex-presidente, que teve de
lidar com a R evoluo Federalista e com a R evolta
da A rm ada.
e) O escritor, com o um dem ocrata, reconhecia o des-
pojam ento de Floriano, que aceitou a realizao im e-
diata de eleies logo aps a renncia de D eodoro
da Fonseca.
Resoluo
A lternativa escolhida por excluso e com o m era inter-
pretao de texto, tendo em vista a adm irao fantica
que Floriano despertou em inm eros contem por-
neos. O exam inador, porm , falhou ao endossar o
ponto de vista de A rtur de A zevedo, pois este consi-
dera com o prudenteo clebre M arechal de Ferro,
59
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
responsvel indireto pelas chacinas ocorridas no Para-
n e em Santa C atarina, na esteira da represso
R evoluo Federalista.
e
Em 1968, o B rasil foi surpreendido pelas greves ope-
rrias de O sasco e C ontagem . A esse respeito cor-
reto afirm ar:
a) Lideradas pelo torneiro-m ecnico Lus Incio da Sil-
va, constituram a prim eira grande contestao pol-
tica ao regim e m ilitar.
b) A s m ovim entaes operrias provocaram um a flexi-
bilizao do regim e, que acabaram por conduzir ao
processo de abertura poltica.
c) A s greves acabaram por provocar a destituio do
m inistro do Trabalho Jarbas Passarinho e levaram ao
reconhecim ento das lideranas sindicais por parte
do governo.
d) A s greves provocaram um a reao em cadeia contra
o regim e m ilitar, que culm inou na organizao da
greve geral de 1968.
e) A s greves adicionaram um ingrediente a m ais nesse
ano de grande agitao poltica, que culm inaria no
endurecim ento do regim e com a im plem entao do
A I-5.
Resoluo
A ano de 1968 foi m arcado no H em isfrio O cidental
pelo grande m ovim ento de contestao do establis-
hm ent, realizado pela juventude. N o B rasil, aprovei-
tando a inexistncia de atos institucionais em vigor
naquele m om ento, os m ovim entos sindical e estudan-
til contra o governo do m arechalC osta e Silva ganha-
ram fora: greves de O sasco e C ontagem , Passeata
dos C em M il no R io de Janeiro, form ao da Frente
A m plapor C arlos Lacerda e outras m anifestaes,
culm inando com o discurso do deputado M rcio
M oreira A lves contra as Foras A rm adas. A recusa da
C m ara em perm itir que o deputado fosse processado
levou os m ilitares linha-duraa pressionar C osta e
Silva; este, em 13 de dezem bro de 1968, endureceu o
regim e ao pr em vigor o A I-5.
60
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
d
O bserve a charge abaixo, referente reunio da O rga-
nizao M undial do C om rcio (O M C ) em C ancn
(setem bro de 2003), para assinalar a alternativa que
expressa seu contedo corretam ente:
Fonte: http://cagle.slate.m sn.com /politicalcartoons/
w orldtour /w orldtour4.asp
a) A diviso em pases do prim eiro, segundo e terceiro
m undo foi retom ada, com a U nio Europia repre-
sentando os interesses do antigo bloco com unista e
o B rasil e a frica do Sul liderando o bloco subde-
senvolvido.
b) A politizao das relaes econm icas interna-
cionais provocou novas divises na O M C : as res-
tries da U nio Europia, invaso do Iraque pelos
Estados U nidos e o apoio do B rasil e da ndia, re-
presentando o Terceiro M undo.
c) A idia de um m undo dividido em blocos regionais
nos H em isfrios N orte e Sul foi reassum ida, refor-
ando os obstculos para a plena liberalizao do
com rcio m undial e incentivando os pases a for-
m arem organizaes econm icas regionais.
d) A lm da ciso entre Estados U nidos e U nio Euro-
pia, pela reduo dos subsdios agrcolas, tornou-
se m ais ntida a divergncia de interesses, separan-
do os pases do N orte e do Sul nos term os da libe-
rao do com rcio internacional.
e) A pesar dos esforos da O M C , o com rcio m undial
tende a se concentrar nos dois m aiores blocos eco-
nm icos atuais N A FTA e U nio Europia alijando
dos beneficios da globalizao os pases m enos
desenvolvidos da frica e A m rica Latina.
Resoluo
A reunio de C ancn, no M xico, m ostrou a divergn-
cia de interesses entre os pases que adotam polticas
protecionistas, com o os EU A e os da U E, e a tentativa
de liberalizao com ercial no setor agrcola defendida
pelos pases do G 20 ou G 22 liderados pelo B rasil e
61
G
G
E
E
O
O
G
G
R
R
A
A
F
F
I
I
A
A
O OB BJ J E ET TI IV VO O
ndia.
b
A ascenso da C hina com o superpotncia com ercial,
aps sua filiao O rganizao M undial do C om rcio
(O M C ), j est provocando ondas na A m rica Latina.
Fonte: A dap. Financial Tim es, 26/09/2003.
A esse respeito est correta a seguinte afirm ao:
a) O acesso ao m ercado m undial tem perm itido aos
fabricantes chineses difundirem seus produtos, ape-
sar de perderem para seus concorrentes latinos em
setores com o brinquedos, txteis e com m odities.
b) A o m esm o tem po que os fabricantes chineses der-
rubam seus concorrentes latinos em setores com o
calados, brinquedos e txteis, aum enta significati-
vam ente a dem anda chinesa por m inrio de ferro,
cobre e soja da A m rica Latina, elevando os seus
preos.
c) A dem anda aparentem ente insacivel de Pequim
por trigo, soja e m inrio de ferro im portados dos
pases ricos do norte, tem provocado a elevao
contnua dos preos desses produtos, prejudicando
a pauta de im portao latino-am ericana.
d) A insero da C hina no com rcio latino-am ericano
est contribuindo para as ondas de crescim ento
econm ico positivo verificadas em pases que diver-
sificaram sua base de exportao, a exem plo do M -
xico.
e) A s ondas m encionadas no texto referem -se aos re-
cuos das exportaes de pases com o a A rgentina e
B rasil que esto perdendo, para os chineses, algu-
m as das em presas m ais eficientes do m undo em
m inerao e agribusiness.
Resoluo
A C hina destaca-se no m ercado m undial, am pliando
seu com rcio com a A m rica Latina, com o o caso do
B rasil, que exporta soja, m inrio de ferro, carne e ou-
tros produtos para esse pas.
a
C onsiderando-se as conseqncias do processo recen-
te de globalizao m undial, vale dizer que:
a) O crescim ento econm ico vivenciado no m undo ao
longo do sculo XX no aboliu as diferenas entre os
pases pobres e ricos, principalm ente no que se re-
fere s condies sociais.
b) U m dos aspectos m arcantes das relaes econ-
m icas entre os pases do globo foi o aum ento dos
fluxos de pessoas entre pases e regies, em detri-
m ento da circulao de m ercadorias.
c) A capacidade de cobrir grandes distncias em pou-
cas horas fez do transporte areo o principal m eio
de circulao de produtos leves e de m dia tonela-
gem nos pases ricos do N orte.
d) A propagao da Sndrom e R espiratria A guda
G rave (Sars, na sigla em ingls) serviu para im ple-
m entar um a rede de sade pblica m ais eficiente e
eficaz nos pases subdesenvolvidos.
63
62
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
e) Se os m ercados de aes do m undo ocidental tm
sido influenciveis por epidem ias ou boatos de ata-
ques areos, tal tendncia no se m anifesta no de-
sem penho das bolsas de valores do O riente, com o
C ingapura, Taiw an e H ong Kong.
Resoluo
O advento da globalizao possibilitou um a intensa cir-
culao de capitais, m ercadorias e tcnicas, entretanto
acentuou as desigualdades econm icas e regionais. O
m ercado global , com o nunca, m ais sensvel aos ata-
ques especulativos e m uito m ais vulnervel s crises
regionais, de ordem poltica e/ou econm ica.
e
C onsidere o grfico apresentado abaixo.
Bahia: Estrutura da Indstria de Transform ao (% ) 2001
Fonte: w w w .sei.ba.gov.br/publicacoes/bahia dados
C onsiderando as inform aes do grfico e os conhe-
cim entos sobre a evoluo da indstria nordestina nas
ltim as dcadas, pode-se identificar com o um aspecto
persistente:
a) A dependncia de m atrias-prim as im portadas, lim i-
tando o desenvolvim ento industrial dos setores que
no necessitam de grande investim ento em m qui-
nas e equipam entos. com o o qum ico e m etalrgico.
b) A s polticas de desenvolvim ento regional, privile-
giando os setores industriais qum ico e m etalrgico,
nos quais h o uso intensivo de m o-de-obra, com o
form a de dim inuir as taxas de desem prego.
c) A form ao de "clusters", com binando os plos tec-
nolgicos form adores de m o-de-obra especializada,
o Estado produtor de infra-estrutura e as indstrias
m odernas, voltadas para o m ercado internacional.
d) A existncia de um setor tercirio forte, sustentado
pelas atividades ligadas ao turism o, que concorre
com os em pregos industriais, oferecendo m elhores
salrios que aqueles das indstrias tradicionais, co-
m o a alim entcia.
e) A s lim itaes do m ercado regional, dificultando o de-
senvolvim ento e a diversificao da estrutura indus-
trial, apesar das polticas de industrializao, via in-
centivos fiscais ou instalao de em presas estatais.
Resoluo
N o processo histrico de desenvolvim ento da econo-
m ia do N ordeste, persistiu sem pre um fato: a extrem a
lim itao do m ercado regional. Esse lim ite levou o
Estado, na dcada de 1950, a criar rgos e m ecanis-
64
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
m os que tentassem quebrar a falta de opes e diver-
sificassem os investim entos. O exem plo m ais claro foi
a Sudene, que investiu na industrializao. C ontudo,
m esm o essa iniciativa esbarrava na pobreza do m er-
cado regional, e a opo pelo m ercado externo lim i-
tante pelas dificuldades da infra-estrutura de expor-
tao. A ssim , o grfico com a estrutura da indstria de
transform ao apresentando os dados para a B ahia, o
Estado m ais rico do N ordeste, acaba servindo de
exem plo para os dem ais Estados, evidenciando o pa-
noram a lim itado na regio.
d
Em presa de A lim entos que integra um a corporao
m undial fundada em 1818, na H olanda, opera no B rasil
desde 1905, atuando em 14 estados localizados no
Sul, C entro-O este, Sudeste (exceto R J) e parte do
N ordeste. Possui fbricas, m oinhos, silos e term inais
porturios, em pregando diretam ente cerca de 7000
colaboradores. Em 2001 seu faturam ento anual foi de
R $ 6,2 bilhes.
C om base em seus conhecim entos sobre as trans-
form aes no espao agrrio brasileiro nas ltim as
dcadas, pode-se inferir que a em presa m encionada
no texto est associada (s)
a) grande variedade clim tica do pas, caracterstica
que tem aberto novos m ercados regionais em fun-
o da m aior disperso da produo agrcola, favo-
recendo a instalao de grandes conglom erados
m ultinacionais do setor alim entcio.
b) polticas governam entais para o desenvolvim ento
do setor agropecurio no pas, adotadas no Plano de
M etas da dcada de 50, o que favoreceu a entrada
de em presas m ultinacionais que hom ogeneizaram
as condies de produo em grande parte do terri-
trio brasileiro.
c) desconcentrao da indstria, representando um a
verdadeira "industrializao do cam po", devido a ins-
talao de unidades industriais nas reas de pro-
duo agrcola, que fornecem im plem entos e geram
em pregos para a m o-de-obra local.
d) expanso da cultura da soja, form ando um grande C om -
plexo A groindustrial envolvendo produtores e grandes
em presas m ultinacionais que atuam desde o forneci-
m ento de sem entes e im plem entos agrcolas at a
colheita, o processam ento e a exportao do produto.
e) internacionalizao do setor agropecurio, a partir da
abertura econm ica prom ovida pelos governos neo-
liberais na dcada de 1990, perm itiu a entrada de
vrias em presas m ultinacionais interessadas na
explorao direta da produo agrcola, form ando os
C om plexos A groindustriais.
Resoluo
N a ltim as dcadas, houve um a grande capitalizao
do setor agropecurio brasileiro e, por extenso, um a
m aior subordinao dos produtores ao grande capital
externo, form ando um grande com plexo agroindustrial.
O cam po subordinou-se ainda m ais aos interesses
65
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
urbanos e industriais, que procurou englobar todo o
processo produtivo, visando ao m ercado externo.
a
Pesquisas recentes afirm am que construo do
R odoanel dever transferir para o interior paulista boa
parte da poluio da m etrpole. A anlise dessa
problem tica coloca em evidncia inm eros conflitos
presentes na gesto do espao urbano de So Paulo,
especialm ente:
a) A necessidade de fluidez no trfego urbano de So
Paulo que traz, por conseqncia, a deteriorao da
qualidade do ar devido ao aum ento da em isso de
gases pelos autom veis.
b) A s lim itaes im postas ao crescim ento da cidade de
So Paulo, cuja expanso barrada por um a legis-
lao am biental m ais rgida das cidades do interior,
que preservam sua qualidade de vida.
c) O processo conhecido com o "interiorizao do de-
senvolvim ento", iniciado aps a m elhoria do trfego
pesado e do transporte de cargas perigosas pelo
R odoanel.
d) A crescente conurbao entre So Paulo e o interior
do Estado, caracterizada pelo aum ento dos fluxos
virios e m ovim entos pendulares entre a capital e os
m unicpios m ais distantes.
e) O aum ento no custo dos transportes de m ercado-
rias e pessoas, com o resultado do deslocam ento do
trfego da cidade de So Paulo para o interior, acom -
panhando a m elhoria viria.
Resoluo
D entre os inm eros conflitos de interesses na gesto
do espao urbano entre os m unicpios que com pem a
G rande So Paulo, a questo am biental tem grande des-
taque, pois envolve problem as vinculados aos desm a-
tam entos, conservao dos m ananciais e recursos hdri-
cos, destinao do lixo e esgotos, alm do problem a da
poluio atm osfrica evidenciado no texto, tendo em
vista que a construo do R odoanel tem com o principal
objetivo dar m aior fluidez ao trfego urbano da cidade
de So Paulo, m as traz com o conseqncia o aum ento
da poluio produzida por veculos autom otivos nos
m unicpios abrangidos pelo traado desse anel virio.
d
O s pases ricos, em funo de sua renda m ais elevada
e conseqente nvel de consum o, so responsveis por
m ais de m etade do aum ento da utilizao de recursos
naturais. A populao dos pases m ais pobres do m undo
paga, proporcionalm ente, o preo m ais elevado pela po-
luio e degradao das terras, das florestas, dos rios e
dos oceanos, que constituem o seu sustento. U m a
criana que nascer hoje em N ova lorque, Paris ou Lon-
dres vai consum ir, gastar e poluir m ais durante a sua vi-
da do que 50 crianas em um pas em desen-
volvim ento.
(A dapt.) R elatrio do D esenvolvim ento H um ano /
PN U D , 1998.
B aseando-se nos princpios explicativos das teorias
67
66
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
dem ogrficas, o texto acim a:
a) C oncorda com a teoria R eform ista, que atribui ao
excesso populacional a causa da m isria no m undo,
constituindo um a am eaa aos recursos naturais ne-
cessarios sobrevivncia hum ana.
b) C om prova a teoria N eom althusiana, que defende a
necessidade de controlar a natalidade nos pases
pobres, para que eles possam atingir os nveis de
desenvolvim ento e consum o dos pases ricos.
c) N ega a teoria M althusiana, que defende a elevao
do padro de vida e de consum o nos pases pobres,
entendendo a fecundidade com o um a varivel inde-
pendente a ser controlada.
d) N ega a teoria N eom althusiana, que identifica um a
populao num erosa com o principal causa do de-
sem prego, pobreza e esgotam ento dos recursos
naturais.
e) C om prova a teoria M althusiana, que associa cresci-
m ento populacional e esgotam ento dos recursos
naturais, defendendo a necessidade de reform as so-
cioeconm icas para preserv-los.
Resoluo
A teoria reform ista apresenta com o causa prim ordial da
pobreza e subdesenvolvim ento a desigualdade de aces-
so aos recursos resultantes da produo de riquezas,
com o o enfoque dado ao texto. C ontrape-se, portanto,
teoria neom althusiana, que identifica o crescim ento
exagerado da populao com o a causa principal do en-
trave ao crescim ento econm ico nos pases pobres.
a
Fenm eno de origem com plexa e ainda obscura. Sus-
peita-se de um com ponente antropognico, quanti-
ficado pelo aum ento da concentrao na atm osfera de
gases, com o o C O
2
, da queim a de com bustveis fs-
seis, alm da em isso espontnea de m etano no pro-
cesso digestivo de vrios m am feros.
Fonte:Folha de S. Paulo,M ais, 21/09/2003, p. 5.
O texto refere-se ao problem a:
a) do aquecim ento global.
b) do buraco na cam ada de oznio.
c) das chuvas cidas.
d) das correntes m artim as.
e) das ilhas de calor.
Resoluo
O aum ento na concentrao de C O
2
na atm osfera im -
plica m aior reteno do calor, provocando um a altera-
o na dinm ica clim tica global pelo aum ento da tem -
peratura, denom inado efeito estufa.
e
O s m apas constituem im portante instrum ento de aux-
lio gesto am biental. M apas na escala 1:250.000 e
1:25.000.000 seriam m ais adequados para a represen-
tao dos seguintes problem as am bientais:
a) destruio das florestas tropicais e ocorrncia das
ilhas de calor.
69
68
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
b) previso do fenm eno EI N io e rea de abrangn-
cia das chuvas cidas.
c) ocorrncia de chuva cida e enchentes em reas
urbanas.
d) destruio da cam ada de oznio e abrangncia do
fenm eno EI N io.
e) ocorrncia das ilhas de calor e elevao da tem pera-
tura global (efeito estufa).
Resoluo
N a questo da escala de um m apa, preciso lem brar
que o conceito funciona de form a inversam ente propor-
cional: quanto m aior o divisor, m enor a escala. A ssim ,
um m apa na escala 1:250.000 m aior que na escala
1:25.000.000. M apas na escala 1:250.000 seriam bons
para m ostrar a ocorrncia de fenm enos locais, com o
ilhas de calor, reas de abrangncia de chuvas cidas
etc., enquanto m apas na escala 1:25.000.000 m ostra-
riam m elhor fenm enos globais, com o destruio de flo-
restas tropicais, previso do fenm eno El N io, des-
truio da cam ada de oznio e elevao da tem peratura
global (efeito estufa), entre outros.
fundam ental que o exam inador especifique a quais es-
calas se referem os m apas, respectivam ente.
d
O bserve o croqui e as afirm aes apresentadas a se-
guir.
B rasil: M odernizao da A gricultura (1995-96)
Fonte: adaptado de A tlas G eogrfico Escolar, IB G E.
R io de Janeiro: 2002, p.140.
I N a R egio N orte, as reas que apresentam bai-
xo grau de m odernizao podem ser explicadas
pelas restries im postas pela legislao de pro-
teo am biental do pas.
II A deficincia hdrica um dos fatores lim itantes
m odernizao agrcola no interior do N ordeste.
III O grau de m odernizao agrcola na R egio C en-
tro-O este pode ser explicado, entre outros fato-
res, pela expanso das lavouras de soja.
IV O predom nio de pequenas propriedades fam i-
liares associadas agroindstria explica o grau
70
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
de m odernizao verificado no centro-sul do
B rasil.
Interpretam corretam ente as inform aes do croqui
SO M EN TE:
a) I e II. b) I e III. c) Ill e lV.
d) II e III. e) II e lV.
Resoluo
Sobre o processo de m odernizao da agricultura bra-
sileira, verdadeiro afirm ar que um dos fatores que o
lim itaram , no interior do N ordeste, foi a deficincia hr-
drica, e a m odernizao no C entro-O este deveu-se
expanso das lavouras de soja.
N o entanto, no correto explicar o baixo grau de
m odernizao na R egio N orte segundo as restries
im postas pelo quadro natural, m as sim pelo povoa-
m ento rarefeito, precria infra-estrutura e baixos in-
vestim entos.
A inda, no centro-sul, que engloba as regies Sul, Su-
deste e a m aior parte do C entro-O este, no h o pre-
dom nio de pequenas propriedades fam iliares, m as
sim propriedades com erciais de m dio e grande porte
quanto superfcie m odernas e integradas a m erca-
dos extra-regionais.
d
Sobre a m obilidade espacial e social no B rasil est cor-
reta a seguinte afirm ao:
a) A tualm ente o Estado de So Paulo j no o prin-
cipal destino das correntes m igratrias no pas, fi-
cando atrs de estados com grande dinam ism o eco-
nm ico, com o o Paran e M ato G rosso.
b) A m ecanizao subsidiada pelo governo, para o cul-
tivo da soja, constitui um a im portante explicao
para os fluxos m igratrios que partem do Sudeste,
C entro-O este e N orte para a R egio Sul, principal-
m ente para o Estado do Paran.
c) A regio Sul apresenta a m aior participao de m i-
grantes de outras regies na com posio de sua
populao, em razo da abertura recente de sua
fronteira agrcola e da retom ada dos projetos gover-
nam entais de colonizao.
d) C resceram os m ovim entos m igratrios intra-regio-
nais, em funo de novos plos de atrao em cida-
des m dias do interior do pas, relacionados des-
concentrao da indstria e ao crescim ento do setor
agropecurio.
e) A corrente m igratria do N ordeste para o Sudeste
deixou de ser a m ais im portante no fim da dcada
de 90, com a diversificao intra-regional e as m igra-
es de retorno.
Resoluo
D urante o perodo colonial at o desenvolvim ento in-
dustrial na dcada de 1930 em diante, as m igraes in-
ternas constituam -se em ciclos longos e extra-regio-
nais, com o o ciclo do ouro ou do caf.
C om o desenvolvim ento socioeconm ico recente,
houve um increm ento na infra-estrutura de transpor-
tes, favorecendo os deslocam entos populacionais em
71
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
nm ero e em distncias percorridas.
A tualm ente, as m igraes ocorrem em ciclos curtos e
intra-regionais, pois a econom ia perm ite um a descen-
tralizao da produo e a expanso urbana favorece
um m aior nm ero de plos atrativos em cidades m -
dias pelo interior do pas.
a
Q uarenta anos depois, bilhes de reais foram inves-
tidos criando um im pulso econm ico m uito aqum dos
gastos, e resultados sociais insignificantes na luta con-
tra a pobreza. O N ordeste continuou pobre, apesar dos
investim entos e m esm o dos bons resultados eco-
nm icos.
Fonte: C ristovam B uarque, Projeto A prendiz,
15/10/2001.
O autor do texto refere-se:
a) aos resultados das polticas de desenvolvim ento re-
gional gerenciadas pela Sudene desde a sua criao
na dcada de 60.
b) "indstria da seca" nordestina, cujo objetivo prin-
cipal de aum ento na oferta de gua na regio no se
concretizou at os dias atuais.
c) aos projetos educacionais desenvolvidos h vrios
anos na regio por O rganizaes N o-G overnam en-
tais, com apoio de instituies internacionais.
d) s conseqncias do program a Prolcool na regio,
que beneficiou com verbas pblicas apenas os gran-
des usineiros.
e) aos projetos de reform a agrria no serto nordesti-
no, que fracassaram no objetivo de estancar a sada
da populao do m eio rural.
Resoluo
O texto refere-se poltica de desenvolvim ento regio-
nal estabelecida com a criao da Sudene, em 1959 e
no na dcada de 1960 com o se apresenta na alterna-
tiva a.
b
A trgica herana do garim po se reflete nos nm eros
levantados pelo projeto da C VR D . A taxa de analfa-
betism o entre os m oradores adultos da vila de 25%
num a populao cuja m aioria tem entre 40 e 70 anos.
A lm disso, 48% dos hom ens vivem sozinhos. O ouro
da A m aznia, em vez de servir para pagar a dvida ex-
terna brasileira, acabou gerando um dbito interno
m uito m aior.
Fonte: adaptado de Problem as B rasileiros, setem -
bro/outubro de 2003.
A s conseqncias m encionadas no texto resultaram ,
principalm ente,
a) da m ecanizao da explorao do ouro e do ferro em
C arajs e na vila de Parauapebas, a partir da dcada
de 1980, com a entrada de grandes em presas m ine-
radoras que deixaram m ilhares de garim peiros aut-
nom os, cham ados "faiscadores", sem trabalho.
b) das frentes de ocupao na A m aznia baseadas na
superexplorao dos recursos naturais, com o o
73
72
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
garim po de ouro em Serra Pelada, levando m ilhares
de garim peiros para o sul do Par no inicio da dca-
da de 1980.
c) do abandono, pelo governo federal, dos projetos de
colonizao da A m aznia em funo da crise da dvi-
da na dcada de 1980, inviabilizando os projetos de
ocupao baseados no garim po de ouro, nos arre-
dores de C arajs.
d) das restries am bientais para a ocupao da A m a-
znia, a partir da dcada de 1990, que obrigaram o
fecham ento da m aioria dos garim pos de ouro nos
m oldes de Serra Pelada, isto , com garim peiros
autnom os.
e) do pouco conhecim ento sobre a riqueza m ineral na
A m aznia, que se esgotou rapidam ente em Serra
Pelada e Parauapebas, expulsando m ilhares de ho-
m ens e m ulheres que buscaram um eldorado na
regio, na dcada de 1970.
Resoluo
Q uando o Estado brasileiro decidiu incorporar efetiva-
m ente a A m aznia na dcada de 1960, foram criados
projetos de levantam ento m ineralgico, com o o R a-
dam , que processa o sensoriam ento rem oto da regio,
perm itindo aprofundar o conhecim ento das riquezas do
local. A descoberta de concentrao de recursos nas
proxim idades de C arajs (prxim o a Serra Pelada) dis-
parou um a corrida desordenada regio, onde o pro-
cesso de explorao acelerado resultou no rpido
esgotam ento das reservas superficiais de ouro, res-
tando apenas as reservas subterrneas. C om a justifi-
cativa de que a explorao subaqutica (j que as
m inas se cobriram com gua da chuva) seria perigosa,
o Estado fechou a explorao por batia, resultando
em conflito e posterior expulso de m ilhares de traba-
lhadores.
e
O bserve o planisfrio e a seqncia de tipos clim ticos
apresentados abaixo.
Tipos Climticos
1. Tem perado
2. M editerrneo
3. Sem i-rido
4. D esrtico
74
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
5. Sem i-rido
6. Tropical
7. Equatorial
N o planisfrio, essa seqncia de tipos clim ticos po-
de ser encontrada no eixo:
a) A -B b) I-J c) C -D
d) G -H e) E-F
Resoluo
A o longo do segm ento EF
, sucedem -se os seguintes
tipos clim ticos: temperado, na Europa O cidental;
mediterrneo, na Europa M eridional e litoral norte da
frica; semi-rido e rido/desrtico, no norte afri-
cano, associados form ao do Saara; tropical, no
centro-norte da frica; e equatorial, na frica C entral.
c
Em geral, o sistem a agrcola das populaes m ais bem
adaptadas ________I ________ im plantado em peque-
nos m dulos e com rotao de terras. A tcnica,
conhecida com o ___________ II__________, perm ite a
reciclagem dos m ateriais orgnicos e a reconstruo
da vegetao original.
Fonte: A dapt. D e R O SS, J. L. S. (org.), 1998, p. 145.
A ssinale a alternativa que com pleta corretam ente as
lacunas do texto.
Resoluo
Em pases subdesenvolvidos ou com reas de produ-
o agrcola prim itiva, com um o em prego da agricul-
tura itinerante, sistem a tam bm conhecido, no B rasil,
pelo nom e de roa, onde so abertas pequenas
reas para cultivo de subsistncia. So locais cobertos
por florestas tropicais onde se pratica a rotao de ter-
ras, isto , um lote com solo esgotado fechado e
abre-se outro lote, aplicando-se tam bm a tcnica da
coivara, pequenas queim adas controladas para a aber-
tura da clareira da m ata onde se dar o plantio. Essa
tcnica perm ite a reciclagem da m atria orgnica e
reconstruo da vegetao original, pois os pequenos
lotes abertos em m eio a grandes reas florestadas,
um a vez fechadas, so facilm ente recuperados.
II
calagem
reflorestam ento
coivara
silagem
jardinagem
I
s savanas
floresta boreal
s florestas tropicais
aos cam pos
ao deserto
a)
b)
c)
d)
e)
75
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
O OB BJ J E ET TI IV VO O
Geografia
A prova de G eografia do vestibular da FG V-2004
apresentou questes que exigiam um a boa fundam en-
tao terica. A bordando tem as atuais, valorizou a
m aturidade dos candidatos e a capacidade de interpre-
tar textos bem elaborados, grficos e representaes
cartogrficas, privilegiando, portanto, o aluno que ad-
quiriu um am plo conhecim ento da m atria.
O exam inador, a rigor, no foi preciso em alguns
enunciados ou proposies de respostas. N a questo
69, faltou para a identificao das escalas adequadas a
palavra respectivam ente. N a questo 70, um a pro-
posio correta exigiria no item IV m aior clareza quan-
to natureza de pequenas propriedades que predom i-
naram : se eram quanto rea ou quanto ao tipo de pro-
priedade. N a alternativa a da questo 72, m enciona-se
que a Sudene foi criada na dcada de 1960, quando na
verdade sua criao ocorreu no ano de 1959.
F FV V G G - - ( (1 1 F Fa as se e) )N N o o v ve em m b b r ro o / / 2 20 00 03 3
Você também pode gostar
- Habilitados para Correcao Da Redacao - Subsequente 2013 1 - Edital 02-2013 - Lista I - QQ Renda - QQ EtniaDocumento15 páginasHabilitados para Correcao Da Redacao - Subsequente 2013 1 - Edital 02-2013 - Lista I - QQ Renda - QQ EtniaMengao HexaAinda não há avaliações
- Defesas TCC Engenharia CivilDocumento4 páginasDefesas TCC Engenharia CivilMengao HexaAinda não há avaliações
- Aulas-09 e 10 - Cálculo de ÁreasDocumento6 páginasAulas-09 e 10 - Cálculo de ÁreasMengao HexaAinda não há avaliações
- SENAISC Aparelho DivisorDocumento138 páginasSENAISC Aparelho DivisorWesley FerreiraAinda não há avaliações
- SENAISC Aparelho DivisorDocumento138 páginasSENAISC Aparelho DivisorWesley FerreiraAinda não há avaliações
- Geekie One - 2 Srie EM - História - Cap. 06 - Primeira República - de 1889 A 1914Documento36 páginasGeekie One - 2 Srie EM - História - Cap. 06 - Primeira República - de 1889 A 1914Thyago AglesAinda não há avaliações
- AFO - Wilson Araújo (Apostila)Documento89 páginasAFO - Wilson Araújo (Apostila)Rosely Lula MoreiraAinda não há avaliações
- Resenha 1 - HALL, Stuart. Da Diáspora - Identidades e Mediações CulturaisDocumento4 páginasResenha 1 - HALL, Stuart. Da Diáspora - Identidades e Mediações Culturaisnadiamacedo614100% (3)
- Camara de Petrolina-Assistente Legislativo PDFDocumento378 páginasCamara de Petrolina-Assistente Legislativo PDFGessica AparecidaAinda não há avaliações
- Dissertação Catarina WhittleDocumento185 páginasDissertação Catarina WhittleLucas MoraisAinda não há avaliações
- Atividade Avali Ativa de HistóriaDocumento7 páginasAtividade Avali Ativa de Históriakerle LimaAinda não há avaliações
- Direcao Defensiva Curso CFCDocumento62 páginasDirecao Defensiva Curso CFCanon-12669399% (179)
- Declaração Islâmica Universal Dos Direitos HumanosDocumento12 páginasDeclaração Islâmica Universal Dos Direitos HumanosvicodenisAinda não há avaliações
- Reconhecimento de Estado e GovernoDocumento3 páginasReconhecimento de Estado e GovernoEdson Oliveira100% (1)
- Sociologia GeralDocumento5 páginasSociologia GeralDiih RochaAinda não há avaliações
- Curso de Hipnose - Luiz Henrique PDFDocumento71 páginasCurso de Hipnose - Luiz Henrique PDFedgar2303Ainda não há avaliações
- Imigração PDFDocumento11 páginasImigração PDFLu de LimaAinda não há avaliações
- SEQUÊNCIA DIDÁTICA 10 - África Lutas Pela Descolonização - Uma CronologiaDocumento4 páginasSEQUÊNCIA DIDÁTICA 10 - África Lutas Pela Descolonização - Uma CronologiaETEVALDO OLIVEIRA LIMAAinda não há avaliações
- Cultura e Identidades Surdas PDFDocumento23 páginasCultura e Identidades Surdas PDFRamon SalAinda não há avaliações
- Guia Local Correios - São Gabriel RSDocumento8 páginasGuia Local Correios - São Gabriel RSJair DemuttiAinda não há avaliações
- A Impressionante Ficha Corrida de João DoriaDocumento9 páginasA Impressionante Ficha Corrida de João Doriaeevargas50Ainda não há avaliações
- Bimestral 3 SérieDocumento3 páginasBimestral 3 SérieDouglas WeegeAinda não há avaliações
- Dilma Na Luta Armada PDFDocumento14 páginasDilma Na Luta Armada PDFJamie HopkinsAinda não há avaliações
- Texto História (As Muralhas..) PDFDocumento12 páginasTexto História (As Muralhas..) PDFPaula SaldanhaAinda não há avaliações
- DARNTON, Robert. O Processo Do Lluminismo Os Dentes Falsos de George Washington PDFDocumento24 páginasDARNTON, Robert. O Processo Do Lluminismo Os Dentes Falsos de George Washington PDFRoarrrrAinda não há avaliações
- M A Obra de Fronteiras e A Construcao Do Estado e Da NacaoDocumento31 páginasM A Obra de Fronteiras e A Construcao Do Estado e Da NacaoJosé Fernandes da SilvaAinda não há avaliações
- Sudao - ResumoDocumento2 páginasSudao - ResumoGustavo LacerdaAinda não há avaliações
- 1 Reis de Portugal DinastiasDocumento4 páginas1 Reis de Portugal DinastiasAnabela RodriguesAinda não há avaliações
- Lei 3253 - Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação Do SoloDocumento85 páginasLei 3253 - Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação Do SoloLudimilla Costa0% (1)
- MENDONÇA, Sonia Regina de - Economia e Política Na Historiografia Brasileira - DecryptedDocumento23 páginasMENDONÇA, Sonia Regina de - Economia e Política Na Historiografia Brasileira - DecryptedBarraca Docamping100% (1)
- 12 Aula - BricsDocumento18 páginas12 Aula - BricsAbraão BrazAinda não há avaliações
- A Obra de Fernão Ornelas-MestradoAgostinho Lopes PDFDocumento218 páginasA Obra de Fernão Ornelas-MestradoAgostinho Lopes PDFslave4DAinda não há avaliações
- Da Polícia Médica À Cidade HigiênicaDocumento19 páginasDa Polícia Médica À Cidade HigiênicaThaís AcácioAinda não há avaliações
- VNF - Boletim Cultural 2Documento337 páginasVNF - Boletim Cultural 2n100% (1)
- O Modelo Chileno - Fabiana Fredrigo.Documento7 páginasO Modelo Chileno - Fabiana Fredrigo.ivivacquaAinda não há avaliações