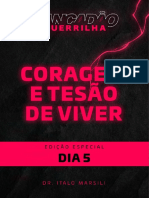Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
COSTA, Ana Alice Alcântara - O Movimento Feminista No Brasil - Artigo PDF
COSTA, Ana Alice Alcântara - O Movimento Feminista No Brasil - Artigo PDF
Enviado por
Carolina Grant0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações27 páginasTítulo original
COSTA, Ana Alice Alcântara - O movimento Feminista no Brasil - Artigo.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações27 páginasCOSTA, Ana Alice Alcântara - O Movimento Feminista No Brasil - Artigo PDF
COSTA, Ana Alice Alcântara - O Movimento Feminista No Brasil - Artigo PDF
Enviado por
Carolina GrantDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 27
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem.
, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 9
O MOVIMENTO FEMINISTA
NO BRASIL: DINMICAS
DE UMA INTERVENO POLTICA
1
Ana Alice Alcantara Costa
Resumo: Neste trabalho busco dar conta das
mudanas, das novas demandas, dos novos
enfrentamentos, das contradies vivenciadas
nos ltimos 30 anos pelo feminismo brasileiro
enquanto movimento social. Parto do princ-
pio de que o movimento feminista brasileiro
no acontece isolado, de forma homognea,
alheio ao contexto mundial e, por isso, esta-
beleo aqui laos e relaes com os feminis-
mos latino-americanos e com as novas din-
micas, hoje, presentes em contextos mais am-
plos, supranacionais. Refletir sobre as lutas,
as novas dinmicas e desafios desse movimen-
to no Brasil o objetivo central deste traba-
lho.
Palavras-chave: feminismo; mulheres; autono-
mia.
comum ouvir entre amigos (geralmente em uma mesa de bar), ou nos meios
de comunicao brasileiros, que o movimento feminista acabou. Acredito que essa
tambm uma afirmao comum em muitos outros pases, em especial da Amrica
Latina. Eu sempre respondo: o feminismo enquanto movimento social nunca esteve
to vivo, to mobilizado, to atuante como nesse incio de sculo, de milnio. Talvez
tenha mudado de cara, j no queima suti, raramente faz passeata e panfletagem,
o que no significa dizer que tenha perdido sua radicalidade, abandonado suas lu-
tas, se acomodado com as conquistas obtidas ou mesmo se institucionalizado.
O feminismo brasileiro, e tambm o mundial, de fato mudou, e no mudou
somente em relao quele movimento sufragista, emancipacionista do sculo XIX,
mudou tambm em relao aos anos 1960, 1970, at mesmo aos 1980 e 1990. Na
verdade, vem mudando cotidianamente, a cada enfrentamento, a cada conquista, a
cada nova demanda, em uma dinmica impossvel de ser acompanhada por quem
no vivencia suas entranhas. No movimento feminista a dialtica viaja na velocidade
da luz.
10 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
Neste trabalho, busco dar conta dessas mudanas, das novas demandas, dos
novos enfrentamentos, das contradies vivenciadas nos ltimos 30 anos pelo femi-
nismo brasileiro enquanto movimento social. Para construir esse caminho, retorno
para antes dos anos 1970, vou para o incio do sculo XIX em busca da origem, das
experincias, das lies, do nosso passado e da contribuio das nossas antecessoras,
para demarcar nossos avanos em relao ao novo feminismo, objeto deste traba-
lho. Porm, o movimento feminista brasileiro no acontece isolado, alheio ao con-
texto mundial e, por isso, aqui, estabeleo laos e relaes com o feminismo latino-
americano e com as novas dinmicas hoje presentes em contextos mais amplos,
supranacionais. Refletir sobre as lutas, as novas dinmicas e desafios do movimento
feminista no Brasil o objetivo central a que, aqui, me proponho.
No entanto, enquanto feminista militante e inserida nesse contexto, este traba-
lho um exerccio de reavaliao e de auto-reflexo dessa prtica e por isso que
essa proposta tem como peculiaridade o fato de que sua autora tambm sujeito
dessa ao, participou ativamente de muitos relatos aqui apresentados, e portanto,
parte do prprio objeto de reflexo, no qual impossvel separar a vida cotidiana
da mulher militante, com seus desejos, frustraes e expectativas sobre os rumos do
movimento, da acadmica e seu objeto de anlise.
O feminismo, enquanto movimento social, um movimento essencialmente
moderno, surge no contexto das idias iluministas
2
e das idias transformadoras da
Revoluo Francesa e da Americana e se espalha, em um primeiro momento, em
torno da demanda por direitos sociais e polticos. Nesse seu alvorecer, mobilizou
mulheres de muitos pases da Europa, dos Estados Unidos e, posteriormente, de
alguns pases da Amrica Latina, tendo seu auge na luta sufragista.
Aps um pequeno perodo de relativa desmobilizao, o feminismo ressurge
no contexto dos movimentos contestatrios dos anos 1960, a exemplo do movimen-
to estudantil na Frana, das lutas pacifistas contra a guerra do Vietn nos Estados
Unidos e do movimento hippie internacional que causou uma verdadeira revoluo
nos costumes. Ressurge em torno da afirmao de que o pessoal poltico, pensa-
do no apenas como uma bandeira de luta mobilizadora, mas como um
questionamento profundo dos parmetros conceituais do poltico. Vai, portanto,
romper com os limites do conceito de poltico, ,, ,, at ento identificado pela teoria
poltica com o mbito da esfera pblica e das relaes sociais que a acontecem. Isto
, no campo da poltica que entendida aqui como o uso limitado do poder social.
Ao afirmar que o pessoal poltico, o feminismo traz para o espao da dis-
cusso poltica as questes at ento vistas e tratadas como especficas do privado,
quebrando a dicotomia pblico-privado, base de todo o pensamento liberal sobre as
especificidades da poltica e do poder poltico. Para o pensamento liberal, o conceito
de pblico diz respeito ao Estado e s suas instituies, economia e a tudo mais
identificado com o poltico. J o privado se relaciona com a vida domstica, familiar
e sexual, identificado com o pessoal, alheio poltica.
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 11
Ao utilizar essa bandeira de luta, o movimento feminista chama a ateno das
mulheres sobre o carter poltico da sua opresso, vivenciada de forma isolada e
individualizada no mundo do privado, identificada como meramente pessoal. Essa
bandeira, para Carole Pateman,
[...] chamou a ateno das mulheres sobre a maneira como somos levadas a contemplar a
vida social em termos pessoais, como se tratasse de uma questo de capacidade ou de sorte
individual [...] As feministas fizeram finca-p em mostrar como as circunstncias pessoais
esto estruturadas por fatores pblicos, por leis sobre a violao e o aborto, pelo status de
esposa, por polticas relativas ao cuidado das crianas, pela definio de subsdios prprios
do estado de bem-estar e pela diviso sexual do trabalho no lar e fora dele. Portanto, os
problemas pessoais s podem ser resolvidos atravs dos meios e das aes polticas
(PATEMAN, 1996, p. 47).
O movimento significou uma redefinio do poder poltico e da forma de en-
tender a poltica ao colocar novos espaos no privado e no domstico. Sua fora
est em recolocar a forma de entender a poltica e o poder, de questionar o conte-
do formal que se atribuiu ao poder a as formas em que exercido. Esse o seu
carter subversivo (LEON, 1994, p. 14). Ao trazer essas novas questes para o mbi-
to pblico, o feminismo traz tambm a necessidade de criar novas condutas, novas
prticas, conceitos e novas dinmicas. Um exemplo tem sido toda a crtica ao mode-
lo de cidadania universal e, conseqentemente, a contribuio do feminismo na
elaborao do moderno conceito.
3
O movimento feminista, apesar de inserir-se no movimento mais amplo de
mulheres,
4
distingue-se por defender os interesses de gnero das mulheres, por ques-
tionar os sistemas culturais e polticos construdos a partir dos papis de gnero
historicamente atribudos s mulheres, pela definio da sua autonomia em relao
a outros movimentos, organizaes e ao Estado, e pelo princpio organizativo da
horizontalidade, isto , da no-existncia de esferas de decises hierarquizadas
(LVAREZ, 1990, p. 23).
O feminismo bem-comportado
No Brasil,
5
bem como em vrios pases latino-americanos, a exemplo do Chile,
Argentina, Mxico, Peru e Costa Rica, as primeiras manifestaes aparecem j na
primeira metade do sculo XIX, em especial atravs da imprensa feminina, principal
veculo de divulgao das idias feministas naquele momento.
6
Em fins do sculo XIX, as mulheres brasileiras incorporadas produo social
representavam uma parte significativa da fora de trabalho empregada, ocupavam
de forma cada vez mais crescente o trabalho na indstria, chegando a constituir a
maioria da mo-de-obra empregada na indstria txtil.
7
Influenciadas pelas idias
12 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
anarquistas e socialistas trazidas pelos trabalhadores imigrantes espanhis e italia-
nos, j se podiam encontrar algumas mulheres incorporadas s lutas sindicais na
defesa de melhores salrios e condies de higiene e sade no trabalho, alm do
combate s discriminaes e abusos a que estavam submetidas por sua condio de
gnero. Na primeira dcada do sculo XX, existiam organizaes feministas socialis-
tas, anarquistas e liberais em vrios pases da Amrica Latina. Na maioria desses
pases, os processos de organizao das mulheres ocorreram simultaneamente ao
processo de organizao das classes populares, fortemente influenciadas pelo pen-
samento socialista e anarquista de carter internacional (VALDS, 2000; MOLYNEUX,
2003).
Geralmente essas organizaes se autodenominavam feministas, discutiam e
propagavam os direitos da mulher. Quase todos os congressos de mulheres da po-
ca se declaravam feministas, e esse era um tipo de iniciativa freqente no movimen-
to, muitos deles de carter internacional como foi, em 1906, o Congresso Interna-
cional do Livre Pensamento organizado pelo Centro Feminista de Buenos Aires, e o
Primeiro Congresso Internacional Feminista, realizado tambm na Argentina, em 1910.
Em 1916, outro Congresso Feminista realizado, desta vez, em Yucatn, no Mxico.
O eixo articulador desses congressos a demanda pela igualdade jurdica e o direito
ao voto.
No Brasil, merece destaque a criao do Partido Republicano Feminista, pela
baiana Leolinda Daltro, com o objetivo de mobilizar as mulheres na luta pelo sufr-
gio, e a Associao Feminista, de cunho anarquista, com forte influncia nas greves
operrias de 1918 em So Paulo. As duas organizaes foram muito ativas e chega-
ram a mobilizar um nmero significativo de mulheres.
A partir dos anos 1920, a luta sufragista se amplia, em muitos pases latino-
americanos, sob a conduo das mulheres de classe alta e mdia, que atravs de
uma ao direta junto aos aparelhos legislativos, logo conquistam o direito ao voto.
Assim foi no Equador, em 1929, o primeiro pas da regio a estabelecer o voto
feminino; no Brasil,
8
Uruguai e Cuba, no incio dos anos 1930; e na Argentina e
Chile, logo aps o final da Segunda Guerra Mundial. As mulheres do Mxico, Peru e
Colmbia s vo conquistar o voto na dcada de 1950. A partir da conquista do
direito de voto, o movimento feminista entra em um processo de desarticulao na
grande maioria dos pases latino-americanos, acompanhando a tendncia ocorrida
nos Estados Unidos e Europa (JAQUETTE, 1994).
Isso no significou que as mulheres estiveram excludas dos movimentos polti-
cos mais amplos. Em toda Amrica Latina, as mulheres se organizaram em clubes de
mes, associaes de combate ao aumento do custo de vida, nas associaes de
bairros, nas lutas por demandas sociais (escolas, hospitais, saneamento bsico, cre-
ches, transporte etc), pelo direito terra e segurana. No Brasil, as organizaes
femininas, sob a orientao do Partido Comunista Brasileiro, como a Unio Feminina
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 13
criada para atender a poltica de frente popular estabelecida pela Terceira Interna-
cional em 1935, e o Comit de Mulheres pela Anistia em 1945, tiveram amplo poder
de articulao e mobilizao feminina (COSTA PINHEIRO, 1981).
Esse primeiro momento do movimento feminista, em linhas gerais, pode ser
caracterizado como de cunho conservador no que se refere ao questionamento da
diviso sexual dos papis de gnero, inclusive reforavam esses papeis, esteretipos
e tradies na medida em que utilizavam as idias e representaes das virtudes
domsticas e maternas como justificativa para suas demandas. Segundo Molyneux,
As mulheres aceitaram o princpio da diferena sexual, mas o rechaaram como fundamento
para a discriminao injustificada. As lderes dos movimentos de mulheres criticaram seu
tratamento diante da lei e impugnaram os termos de sua excluso social e poltica, mas o
fizeram de forma que reconheciam a importncia do seu papel na famlia, um argumento
que foi utilizado tanto pelas feministas quanto pelos estados, ainda que com fins distintos
(MOLYNEUX , 2003, p. 79).
Com o golpe militar de 1964 no Brasil, e posteriormente nos anos 1970 em
vrios outros pases latino-americanos, os movimentos de mulheres, juntamente com
os demais movimentos populares, foram silenciados e massacrados. No obstante,
no se pode esquecer que os movimentos de mulheres burguesas e de classe mdia,
organizados por setores conservadores, tiveram papel importante no apoio aos gol-
pes militares nesse perodo e aos regimes militares instalados. No Brasil, merece re-
gistro o movimento articulador das Marchas com Deus, pela ptria e pela famlia,
que mobilizou grande nmero de mulheres em 1964 e 1968 (SIMES, 1985). Como
em outros lugares, as mulheres foram utilizadas como massa de manobra, uma
ttica da qual se apropriam tanto a esquerda como a direita.
O feminismo da resistncia
A segunda onda do feminismo na Amrica Latina nasceu nos anos 1970, em
meio ao autoritarismo e represso dos regimes militares dominantes e das falsas
democracias claramente autoritrias. Surge como conseqncia da resistncia das
mulheres ditadura militar,
9
por conseguinte, intrinsecamente ligada aos movimen-
tos de oposio que lhe deram uma especificidade determinante (LEON, 1994;
JAQUETTE, 1994; MOLYNEUX, 2003). Surge sob o impacto do movimento feminista
internacional e como conseqncia do processo de modernizao que implicou uma
maior incorporao das mulheres no mercado de trabalho e a ampliao do sistema
educacional.
Segundo Sarti, no Brasil, este processo de modernizao incorpora tambm a
efervescncia cultural de 1968: os novos comportamentos afetivos e sexuais, o aces-
14 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
so ao recurso das terapias psicolgicas e da psicanlise, a derrota da luta armada
10
e
o sentido da elaborao poltica e pessoal desta derrota para as mulheres, as novas
experincias cotidianas que entraram em conflito com o padro tradicional e as hie-
rarquias de gnero, e [...] as marcas de gnero na experincia da tortura, dada a
forma especfica de violncia a que foram submetidas as mulheres militantes pela
represso, no apenas sexualmente, mas, sobretudo, pela utilizao da relao me
e filhos como vulnerabilidade feminina (SARTI, 1998, p. 02).
lvares destaca nesse processo de transio o intenso labor que as feministas
(muitas haviam participado ativamente em organizaes do movimento estudantil,
da nova esquerda, das Associaes Eclesisticas de Base articuladas pela Igreja Cat-
lica) enfrentaram ao serem obrigadas constantemente a lidar com a discriminao, a
repensar sua relao com os partidos polticos dominados pelos homens, com a
igreja progressista, com um Estado patriarcal, capitalista e racista.
11
Junta-se a isso o
predomnio que havia em toda a esquerda latino-americana da viso de que as femi-
nistas [...] eram pequenos grupos de pequeno-burguesas desorientadas,
desconectadas da realidade do continente, que haviam adotado uma moda e faziam
o jogo do imperialismo norte-americano (STERNBACH; ARANGUREN; CHUCHRYK,
1994, p. 70). Essa experincia teve como conseqncia as mltiplas tenses que
caracterizaram, s vezes, tortuosas relaes do feminismo brasileiro com a esquerda,
com os setores progressistas da Igreja Catlica em vrios momentos da luta poltica.
Essa tenso no foi uma especificidade do feminismo brasileiro, conforme afir-
ma Nancy Sternbach e outras autoras (1994), a conscincia feminista latino-ameri-
cana foi alimentada pelas mltiplas contradies experimentadas pelas mulheres
atuantes nos movimentos guerrilheiros ou nas organizaes polticas, por aquelas
que foram obrigadas a exilar-se, que participaram do movimento estudantil, das
organizaes acadmicas politizadas e dos partidos polticos progressistas.
Apesar das feministas latino-americanas romperem com as organizaes de
esquerda, em termos organizativos, mantiveram seus vnculos ideolgicos e seu com-
promisso com uma mudana radical das relaes sociais de produo, enquanto
continuavam lutando contra o sexismo dentro da esquerda (STERNBACH;
ARANGUREN; CHUCHRYK, 1994, p. 74). Esta prtica as distinguia do feminismo
europeu e norte-americano, dando-lhes como caracterstica especial o interesse em
promover um projeto mais amplo de reforma social dentro do qual se realizavam os
direitos da mulher e formas organizativas que possibilitavam o envolvimento de se-
tores populares (MOLYNEUX, 2003, p. 269).
Em 1975, como parte das comemoraes do Ano Internacional da Mulher,
promovido pela Organizao das Naes Unidas, foram realizadas vrias atividades
pblicas em So Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, reunindo mulheres interessa-
das em discutir a condio feminina em nossa sociedade, luz das propostas do
novo movimento feminista que neste momento se desenvolvia na Europa e nos
Estados Unidos. O patrocnio da ONU e um clima de relativa distenso poltica do
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 15
regime permitiam s mulheres organizarem-se publicamente pela primeira vez des-
de as mobilizaes dos anos 1967-1968. (COSTA; SARDENBERG,1994a, p. 103).
A partir deste evento, surgem novos grupos de mulheres em todo o pas. Mui-
tos so somente grupos de estudos e de reflexo, organizados de acordo com o
modelo dos grupos de conscientizao surgidos no exterior. Outros so de refle-
xo e ao, nos quais o princpio da autonomia foi um dos pontos de controvrsia
no enfrentamento, inevitvel, com os grupos polticos e, em particular, com as orga-
nizaes de esquerda (FIGUEIREDO,1988). Ainda em 1975 criado o jornal Brasil
Mulher, em Londrina, no estado do Paran, ligado ao Movimento Feminino pela
Anistia
12
e publicado por ex-presas polticas. J no comeo de 1976, um grupo de
mulheres universitrias e antigas militantes do movimento estudantil comea a pu-
blicar o jornal Ns Mulheres, desde seu primeiro nmero auto-identificado como
feminista. Ainda neste ano, o Brasil Mulher tambm se colocava abertamente como
um jornal feminista. A partir de 1978, estes dois jornais se converteram nos princi-
pais porta-vozes do movimento feminista brasileiro.
13
Nos anos seguintes, o movimento social de resistncia ao regime militar seguiu
ampliando-se, novos movimentos de liberao se uniram s feministas para procla-
mar seus direitos especficos dentro da luta geral, como por exemplo, os dos negros
e homossexuais. Muitos grupos populares de mulheres vinculadas s associaes de
moradores e aos clubes de mes comearam a enfocar temas ligados a especificidades
de gnero, tais como creches e trabalho domstico. O movimento feminista se pro-
liferou atravs de novos grupos em todas as grandes cidades brasileiras e assume
novas bandeiras como os direitos reprodutivos, o combate violncia contra a mu-
lher, e a sexualidade. O feminismo chegou at a televiso revolucionando os progra-
mas femininos, nos quais agora, junto s tradicionais informaes sobre culinria,
moda, educao de filhos etc. apareciam temas at ento impensveis como sexua-
lidade, orgasmo feminino, anticoncepo e violncia domstica.
Em linhas gerais, poderamos caracterizar o movimento feminista brasileiro dos
anos 1970 como fazendo parte de um amplo e heterogneo movimento que articu-
lava as lutas contra as formas de opresso das mulheres na sociedade com as lutas
pela redemocratizao. Nos movimentos se diluam os discursos estratgicos, o Esta-
do era o inimigo comum (LOBO, 1987). A identidade feminista naquele momento
implicava
[...] ter uma poltica centrada em um conjunto de assuntos de interesse especfico das mu-
lheres, aderir a determinadas normas de organizao (como por exemplo, participao dire-
ta, informalidade nos procedimentos, ou ausncia de funes especializadas) e atuar nos
espaos pblicos especficos como as organizaes feministas autnomas ou do movimento
de mulheres mais amplo (LVAREZ, 2001, p. 25).
A questo da autonomia foi um eixo conflitante e definidor do feminismo nos
anos 1970. Uma autonomia em termos organizativos e ideolgicos perante os parti-
16 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
dos polticos e outras organizaes. Nesse momento de autoritarismo militar, a dis-
cusso sobre a autonomia em relao ao Estado, o inimigo comum, no era se-
quer colocada. A defesa da autonomia como um princpio organizativo do feminis-
mo no implicava uma prtica defensiva ou isolacionista que impedisse a articulao
com outros movimentos sociais que compartilhassem identidades, apenas a defini-
o de um espao autnomo para articulao, troca, reflexo, definio de estrat-
gias. O documento O Movimento de Mulheres no Brasil, publicado pela Associao
de Mulheres, uma organizao paulista, em 1979, define bem o entendimento des-
sa autonomia [...] acreditamos que esse movimento deve ser autnomo porque
temos a certeza de que nenhuma forma de opresso poder ser superada at que
aqueles diretamente interessados em super-la assumam essa luta (COSTA, PINHEI-
RO, 1981).
Os dilemas do Estado e da institucionalizao
Os anos 1980 trouxeram novos dilemas ao movimento feminista. Durante a
dcada anterior, o movimento se havia centrado no trabalho de organizao, na luta
contra a ordem social, poltica e econmica, conforme vimos anteriormente. O avan-
o do movimento fez do eleitorado feminino um alvo do interesse partidrio e de
seus candidatos, que comearam a incorporar as demandas das mulheres aos seus
programas e plataformas eleitorais, a criar Departamentos Femininos dentro das suas
estruturas partidrias. At o principal partido da direita, o PDS, criou seu Comit
Feminino.
At ento, a perspectiva de relao com o Estado no projeto de transformao
feminista no se havia apresentado. A eleio de partidos polticos de oposio para
alguns governos estaduais e municipais forou as feministas a repensarem sua posi-
o ante o Estado, na medida em que a possibilidade de avanar em termos de
poltica feminista era uma realidade. Nos dois primeiros anos (1980-1982), as velhas
divises polticas e partidrias voltaram cena. Como afirma Elizabete Souza Lobo,
[...] a reorganizao partidria comeou a descaracterizar as prticas autnomas dos movi-
mentos, os grupos se dividiram e se desmancharam. Na diviso muitas feministas se concen-
traram nos partidos, outras permaneceram somente no movimento. Os discursos feministas
invadiram os discursos partidrios, mas as prticas autnomas se reduziram (LOBO, 1987,
p. 50).
A vitria do PMDB para o governo de So Paulo garantiu a criao do primeiro
mecanismo de Estado no Brasil voltado para a implementao de polticas para mu-
lheres: o Conselho Estadual da Condio Feminina, criado em abril de 1983. Esse
seria um terceiro momento do feminismo na arqueologia elaborada por Lobo:
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 17
[...] depois de 1982, em alguns estados e cidades, se criaram os Conselhos dos Direitos da
Mulher, e mais adiante o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, os quais se configuraram
como novos interlocutores na relao com os movimentos. Duas posies polarizaram as
discusses: de um lado, as que se propunham ocupar os novos espaos governamentais, e
do outro, as que insistiam na exclusividade dos movimentos como espaos feministas (LOBO,
1987, p. 64).
A atuao do feminismo em nvel institucional, isto , na relao com o Estado,
nesse e em outros momentos, no foi um processo fcil de ser assimilado no interior
do movimento. A participao nos conselhos, e em especial, no Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher (CNDM), foi uma questo polmica que incitou os nimos no
VII Encontro Nacional Feminista,
14
realizado em 1985, em Belo Horizonte. A perspec-
tiva de atuar no mbito do Estado representava, para muitas mulheres, uma brecha
na luta pela autonomia do movimento feminista.
15
Porm, o movimento feminista no podia deixar de reconhecer a capacidade
do Estado moderno para influenciar a sociedade como um todo, no s de forma
coercitiva com medidas punitivas, mas atravs das leis, de polticas sociais e econ-
micas, de aes de bem-estar, de mecanismos reguladores da cultura e comunicao
pblicas, portanto como um aliado fundamental na transformao da condio fe-
minina (MOLYNEUX, 2003, p. 68). Tambm no poderia deixar de reconhecer os
limites da poltica feminista no sentido da mudana de mentalidades sem acesso a
mecanismos mais amplos de comunicao e tendo de enfrentar a resistncia cons-
tante de um aparelho patriarcal como o Estado. Caberia, ao feminismo, enquanto
movimento social organizado, articulado com outros setores da sociedade brasileira,
pressionar, fiscalizar e buscar influenciar esse aparelho, atravs dos seus diversos
organismos, para a definio de metas sociais adequadas aos interesses femininos e
o desenvolvimento de polticas sociais que garantissem a eqidade de gnero.
E exatamente essa perspectiva que nortear a atuao do movimento em
relao ao CNDM, criado a partir de uma articulao entre as feministas do Partido
do Movimento Democrtico Brasileiro (PMDB) e o presidente Tancredo Neves, no
processo de transio. Graas atuao direta de algumas feministas nas esferas de
deciso e planejamento, logo, o CNDM, de fato, se transformou em um organismo
estatal responsvel por elaborar e propor polticas especiais para as mulheres, e,
contrariando o temor de muitas feministas, se destacou na luta pelo fortalecimento
e respeito autonomia do movimento de mulheres, o que lhe garantiu o reconheci-
mento de toda a sociedade (COSTA; SARDENBERG, 1994a, p. 106).
No perodo da Assemblia Nacional Constituinte, conjuntamente com o movi-
mento feminista autnomo e outras organizaes do movimento de mulheres de
todo o pas, o CNDM conduziu a campanha nacional Constituinte pra valer tem que
ter palavra de mulher com o objetivo de articular as demandas das mulheres. Foram
18 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
realizados eventos em todo o pas e posteriormente as propostas regionais foram
sistematizadas em um encontro nacional com a participao de duas mil mulheres.
Estas demandas foram apresentadas sociedade civil e aos constituintes atravs da
Carta das Mulheres Assemblia Constituinte. A partir da, as mulheres invadiram
(literalmente) o Congresso Nacional: brancas, negras, ndias, mestias, intelectuais,
operrias, professoras, artistas, camponesas, empregadas domsticas, patroas...,
16
todas unidas na defesa da construo de uma legislao mais igualitria (COSTA,
1998, p. 117).
Atravs de uma ao direta de convencimento dos parlamentares, que ficou
identificada na imprensa como o lobby do batom, o movimento feminista conseguiu
aprovar em torno de 80% de suas demandas, se constituindo no setor organizado
da sociedade civil que mais vitrias conquistou. A novidade desse processo foi a
atuao conjunta da chamada bancada feminina. Atuando como um verdadeiro
bloco de gnero, as deputadas constituintes, independentemente de sua filiao
partidria e dos seus distintos matizes polticos, superando suas divergncias ideol-
gicas, apresentaram, em bloco, a maioria das propostas, de forma suprapartidria,
garantindo assim a aprovao das demandas do movimento.
Essa articulao do CNDM, movimento feminista e bancada feminina, atravs
do lobby do batom representou uma quebra nos tradicionais modelos de represen-
tao vigentes at ento no pas, na medida em que o prprio movimento defendeu
e articulou seus interesses no espao legislativo sem a intermediao dos partidos
polticos. Celi Pinto explicita muito bem esse quadro ao afirmar:
A presena constante das feministas no cenrio da Constituinte e a conseqente converso
da bancada feminina apontam para formas de participao distintas da exercida pelo voto,
formas estas que no podem ser ignoradas e que talvez constituam a forma mais acessvel de
participao poltica das feministas. Este tipo de ao poltica, prpria dos movimentos so-
ciais, no passa pela representao. Constitui-se em presso organizada, tem tido retornos
significativos em momentos de mobilizao e pode ser entendida como uma resposta
falncia do sistema partidrio como espao de participao (PINTO, 1994, p. 265).
17
Esse compromisso do CNDM com o movimento de mulheres foi tambm o
motivo de sua condenao. Atendendo a interesses conservadores e desvinculados
da democracia e da participao popular, o governo Sarney, ao finalizar seu manda-
to, resolveu destruir o nico rgo federal que tinha respaldo e respeito popular, em
especial em relao ao setor ao qual estava vinculado. Atravs de atos autoritrios, o
CNDM foi paulatinamente destrudo.
A euforia reformista dos primeiros anos de governo civil deu lugar a uma desiluso ampla no
final dos anos oitenta. As novas instituies das mulheres se converteram em fontes de
desencanto para as feministas brasileiras, mesmo para algumas das mes fundadoras dos
conselhos e delegacias (LVAREZ, 1994, p. 266).
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 19
Novos espaos, novas articulaes
A dcada de 1990 se inicia em uma situao de fragilidade dos organismos de
governo para mulheres, bloqueados pelo clima conservador dominante no Estado e
o descrdito no movimento autnomo. Os conselhos existentes trabalhavam em
condies precrias, isolados do movimento e desprestigiados no mbito governa-
mental. Algumas feministas, muitas delas funcionrias desses organismos nos anos
1980, criam organizaes no-governamentais (ALVAREZ, 1994, p. 272), as chama-
das ONGs feministas,
18
que passam a exercer de forma especializada e
profissionalizada a presso junto ao Estado, buscando influenciar nas polticas pbli-
cas. Essa hegemonia das ONGs passou a ser uma preocupao para vrios setores do
movimento, impondo novos desafios e dilemas militncia.
No incio dos anos 1990, se multiplicaram as vrias modalidades de organiza-
es e identidades feministas. As mulheres pobres articuladas nos bairros atravs das
associaes de moradores, as operrias atravs dos departamentos femininos de
seus sindicatos e centrais sindicais, as trabalhadoras rurais atravs de suas vrias
organizaes comearam a auto-identificar-se com o feminismo, o chamado femi-
nismo popular. As organizaes feministas de mulheres negras seguem crescendo e
ampliando a agenda poltica feminista e os parmetros da prpria luta feminista.
[...] a existncia de muitos feminismos era amplamente reconhecida, assim como a
diversidade de pontos de vista, enfoques, formas organizativas e prioridades estrat-
gicas feministas nos anos noventa (ALVAREZ, 1994, p. 278).
O crescimento do feminismo popular teve como conseqncia fundamental
para o movimento amplo de mulheres a diluio das barreiras e resistncias ideolgi-
cas para com o feminismo. Essa diversidade que assumiu o feminismo brasileiro
esteve muito presente nos preparativos do movimento para sua interveno na Quarta
Conferncia Mundial sobre a Mulher, realizada em setembro de 1995, em Beijing, na
China, ao incorporar amplos setores do movimento de mulheres.
Em janeiro de 1994, convocadas por algumas feministas que j haviam
participado de conferncias anteriores e com o apoio do UNIFEM, realizada, no Rio
de Janeiro, a primeira reunio preparatria para Beijing. Em torno de 100 militantes
representantes de fruns
19
estaduais e municipais de mulheres, articulaes locais e
grupos de mulheres de 18 estados, reunidas, deliberaram pela criao de uma
coordenao nacional A Articulao de Mulheres Brasileiras para Beijing 95
responsvel por supervisionar, divulgar, angariar recursos
20
e articular as aes do
movimento com vistas a tornar o processo de Beijing amplamente democrtico. A
deliberao principal do encontro, seguindo uma orientao articulada para toda a
Amrica Latina, era aproveitar esse momento para avaliar as mudanas na condio
feminina na dcada, chamar a ateno da sociedade civil sobre a importncia das
convenes internacionais sobre os direitos da mulher e estabelecer novas dinmicas
de mobilizao do movimento. Essa ttica poltica, articulada pela Coordenao de
20 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
ONGs da Amrica Latina e Caribe junto IV Conferncia foi denominada texto e
pretexto.
21
O processo preparatrio para Beijing trouxe novas energias ao movimento fe-
minista brasileiro, estimulou o surgimento de fruns em locais que no existiam ou
que estavam desativados, de novas articulaes locais, de novos grupos ou setores/
departamentos em entidades de classe etc. Foram realizados eventos em 25 dos 26
estados brasileiros,
[...] mais de 800 organizaes de mulheres estiveram envolvidas no processo. Cerca de 4.000
representantes de 25 fruns estaduais se reuniram no Rio de Janeiro e aprovaram a Declara-
o das Mulheres Brasileiras para a IV Conferncia Mundial sobre a Mulher, que foi formal-
mente entregue ao governo brasileiro (ARTICULAO..., 2000, p. 2).
No campo do Estado, essa articulao conseguiu avanos importantssimos.
revelia do CNDM, nesse momento em mos de setores conservadores, as feministas
conseguiram, atravs de importante atuao junto ao Ministrio de Relaes Exte-
riores, rgo responsvel pela elaborao do informe do governo brasileiro, estabe-
lecer pela primeira vez na histria do pas uma dinmica de participao e consulta
ampla na elaborao do documento oficial. Para tanto, o MRE criou um grupo de
trabalho com destacadas feministas acadmicas responsveis pela elaborao do
informe e integrou dezenas de militantes atravs dos seminrios temticos de discus-
so, em que muitas das recomendaes apresentadas pelo movimento foram incor-
poradas ao documento oficial. Essa articulao no s garantiu a apresentao por
parte do governo brasileiro de um documento representativo, mas tambm a apro-
vao da Plataforma de Beijing por esse governo, sem ressalvas, e em especial, a
partir da, houve uma melhor assimilao das demandas das mulheres por parte dos
organismos do governo federal.
Alm desse avano em termos de mobilizao e organizao, o processo de
Beijing representou para o movimento feminista brasileiro um aprofundamento maior
da articulao com o feminismo latino-americano em termos de atuao conjunta.
Apesar de ser a primeira vez que as mulheres latino-americanas participaram de uma
reunio (cumbre) mundial com uma rede regional organizada e integrada, a expe-
rincia do feminismo latino-americano, desde seu incio, da vivncia de uma din-
mica transnacional, atravs de redes formais e informais, e em especial atravs dos
Encontros Feministas Latino-Americanos e do Caribe,
22
realizados desde 1981, ini-
cialmente a cada dois anos e posteriormente a cada 3 anos. Nesses encontros se
expressam os avanos feministas, os conflitos, novos dilemas, novas perspectivas, as
trocas de experincia.
[...] os encontros oferecem s feministas fruns peridicos nos quais podem obter conheci-
mentos tericos e prticos e apoio solidrio das feministas de outras naes que esto lutan-
do para superar dificuldades organizativas e tericas semelhantes [...] os encontros tm ser-
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 21
vido de trampolim para o desenvolvimento de uma linguagem poltico-feminista latino-ame-
ricana e de cenrios de batalhas polticas sobre as estratgias mais eficazes para lograr a
igualdade de gnero em estados dependentes, capitalistas e patriarcais (STERNBACH;
ARANGUREN; CHUCHRYK, 1994, p.70-71).
Sonia lvarez (2001), com base no acompanhamento dos preparativos do mo-
vimento feminista brasileiro para Beijing, entre 1993 e 1995, identifica cinco tendn-
cias na poltica feminista latino-americana dos anos 1990:
o processo de Beijing possibilitou a ampliao dos espaos e lugares de
atuao das auto-identificadas feministas com a incorporao e visibilidade
de outras identidades feministas: o feminismo negro, o indgena, o lsbico, o
popular, o acadmico, o ecofeminismo, o das assessoras governamentais, o
das profissionais das ONGs, o das catlicas, o das sindicalistas, isto , mulhe-
res feministas que no limitam sua atividade s organizaes do feminismo
autnomo. Essa heterogeneidade de prticas ps em destaque a
reconfigurao da prpria identidade poltica feminista latino-americana cris-
talizada na dcada de 1970 e princpio dos anos 1980, demonstrando o
carter plural, multicultural e pluritico destes feminismos;
esse processo mostrou a absoro relativamente rpida de certos elementos
(os mais digerveis) do discurso e agendas feministas por parte das institui-
es culturais dominantes, das organizaes paralelas da sociedade civil, da
sociedade poltica e do Estado. Essa absoro, fruto de um incansvel esfor-
o, se materializou na criao, por parte de inmeros governos latino-ameri-
canos, de organismos, ministrios, secretarias governamentais responsveis
pela implementao de polticas para as mulheres,
23
e na incorporao de
preceitos que garantem a igualdade entre homens e mulheres nas novas Cons-
tituies democrticas dos antigos regimes autoritrios. Essa absoro tam-
bm ocorreu nos partidos polticos, nos sindicatos e centrais sindicais, bem
como na grande maioria dos movimentos sociais;
a progressiva profissionalizao e especializao de importantes setores dos
movimentos feministas, as chamadas ONGs feministas, conseqncia da de-
manda crescente de informao especializada sobre as mulheres necessria
para a implementao de polticas pblicas por parte dos recm-criados or-
ganismos governamentais e intergovernamentais direcionados para as mu-
lheres;
a crescente articulao ou entrelaamento entre os diversos espaos e luga-
res de poltica feminista atravs de uma grande quantidade de redes
especializadas, de articulaes formais e estruturadas, muitas vezes fomenta-
das por organismos bilaterais e multilaterais, que funcionam como principais
interlocutoras junto aos fruns internacionais;
22 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
a transnacionalizao dos discursos e das prticas do movimento feminista
propiciados pela capacidade de articulao de algumas ONGs e/ou de femi-
nistas profissionalizadas que aumentaram sua influncia nos mbitos polti-
cos em nvel mundial, regional e nacional, interferindo em pautas, em delibe-
raes e definio de aes polticas. (LVAREZ, 2001).
Segundo lvarez, essas tendncias marcantes no feminismo ps-Beijing no
foram facilmente assimiladas pelo conjunto do movimento, na medida em que de-
sencadearam novas tenses no interior de um movimento cada vez mais diverso e
complexo (2001). No campo latino-americano, especialmente no Mxico, na Bolvia
e no Chile, houve um acirramento do enfrentamento entre feministas autnomas e
as institucionalizadas,
24
acusadas de tentarem estabelecer uma hegemonia no movi-
mento e de utilizar estratgias estadocntricas dentro de uma lgica patriarcal e
neoliberal.
25
Este mal-estar acirrou-se quando da realizao do VII Encontro Feminis-
ta Latino-Americano e do Caribe, realizado em Cartagena, Chile, quando houve uma
polarizao de posies.
Porm, esse quadro ser atenuado quando da realizao do VIII Encontro, em
1999, na Repblica Dominicana, onde a esperada batalha entre autnomas e
institucionalizadas no aconteceu. Pelo contrrio, o que se viu foi uma tentativa de
resoluo de antigos conflitos com recuos de ambos os lados. Algumas das chama-
das institucionalizadas j vinham dando sinais de uma disposio em refletir criti-
camente sobre o ativismo dos ltimos anos, os perigos de uma estratgia baseada
apenas na defesa de polticas e nas negociaes com governos e organizaes inter-
nacionais, direcionadas para influir na construo de agendas polticas ou
institucionais, admitindo inclusive a pertinncia de algumas crticas realizadas pelas
autnomas. Por outro lado, estas ltimas comeavam a sentir seu esfacelamento em
conseqncia de posies radicalizadas e de enfrentamento no seio do movimento
(LVAREZ et al., 2003).
No Brasil, esse conflito no encontrou ressonncia, apesar de ser uma discus-
so presente em muitos encontros, no chegou a assumir ares de enfrentamento. As
prprias caractersticas do feminismo brasileiro enquanto movimento social mais vin-
culado s decises participativas e democrticas, o permanente controle e
questionamento sobre as instncias de poder ou formao de lideranas por parte
do movimento de base dificultam essa dicotomia. Por outro lado, sente-se uma cons-
tante preocupao por parte das ONGs feministas em estimular mecanismos de par-
ticipao e consulta mais amplos no sentido de buscar respaldo poltico que legitime
suas aes. Talvez, a prpria origem das ONGs feministas no Brasil determine suas
prticas diferenciadas, j que a grande maioria surgiu dos grupos autnomos locais
estruturados no que hacer feminista. Mesmo as ONGs mais recentes aglutinam anti-
gas militantes de reconhecida atuao no feminismo autnomo e preocupam-se em
manter os vnculos com o movimento no-institucional.
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 23
Os recentes desafios
Como vimos, a herana do processo de Beijing foi fundamental nos anos se-
guintes para a manuteno e ampliao do movimento, no Brasil e nos outros pases
latino-americanos, onde todas as atividades polticas e organizativas estiveram volta-
das para a conquista de polticas pblicas, a ampliao das aes afirmativas, o
aprimoramento da legislao de proteo mulher e a avaliao e monitoramento
da implantao dessas polticas e dos acordos firmados no campo internacional pe-
los governos locais, portanto com constante interlocuo e articulao com o Esta-
do. Nessa perspectiva, em 2000, a Articulao de Mulheres Brasileiras, tendo em
vista a proximidade de Beijing+5, atravs de um esforo conjunto com outras enti-
dades, realizou uma avaliao das aes governamentais implementadas no campo
das polticas pblicas para as mulheres, nos ltimos 5 anos, em relao aos compro-
missos assumidos pelo governo brasileiro durante a IV Conferncia. Como resultado,
o documento final aponta para a fragilidade dos mecanismos executivos criados
(com pouco ou nenhum recurso financeiro, com um pequeno quadro de pessoal e
quase sem nenhum poder dentro do Estado), os limites das polticas pblicas im-
plantadas, e a necessidade de manter a mobilizao e presso do movimento (ARTI-
CULAO... 2000, 2004).
Tambm nesse ano, na perspectiva da proximidade das eleies presidenciais,
alguns setores do feminismo brasileiro comeam a tomar conscincia da necessida-
de de uma atuao conjunta e articulada no sentido de garantir um compromisso
por parte dos candidatos com as demandas das mulheres. Essa proposta toma corpo
por ocasio do II Frum Social Mundial,
26
realizado em Porto Alegre, em fins de
janeiro de 2002, com a adeso de vrias organizaes e redes feministas.
27
Entre
maro e maio daquele ano, foram realizadas 26 Conferncias Estaduais, mais de
5.000 ativistas dos movimentos de mulheres de todo o pas participaram dos deba-
tes com o objetivo de construir uma [...] Plataforma Poltica Feminista dirigida
sociedade brasileira, visando ao fortalecimento da democracia e superao das
desigualdades econmicas, sociais, de gnero, raa e etnia (Carta de Princpios). Em
junho, foi realizada em Braslia a Conferncia Nacional de Mulheres Brasileiras, com
a participao de 2.000 mulheres delegadas das conferncias estaduais e represen-
tantes das redes nacionais. Nesse processo, os debates afirmaram, segundo a AMB,
[...] a relevncia estratgica do Estado e dos governos para a justia social, mas demonstra-
ram tambm a necessidade de transformao do prprio Estado, ainda patriarcal e racista e
hegemonizado pelas classes dominantes. Os debates na Conferncia de Mulheres Brasileiras
demonstraram ainda a importncia de alterar a orientao governamental vigente nas pol-
ticas pblicas, marcadas pela lgica de mercado na gesto pblica, destituio de direitos,
clientelismo, privatizao do Estado e reduo de investimentos na rea social com explora-
o do trabalho voluntrio ou mal remunerado das mulheres na execuo de polticas so-
ciais (ARTICULAO..., 2004, p. 2).
24 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
A Plataforma Poltica Feminista foi entregue formalmente a todos os candida-
tos presidncia da Repblica, aos governos dos estados, aos dirigentes partidrios,
deputados e senadores, alm de amplamente divulgada atravs da imprensa. A par-
tir da, a plataforma se transformou em um [...] instrumento dos movimentos de
mulheres para o dilogo, crtico e provocativo, para o confronto e para a negociao
com outras foras polticas e sociais no Brasil (ARTICULAO..., 2004) e passou a
ser tambm o parmetro norteador das lutas feministas.
Paralelamente (e articulado) a esse processo de construo da Plataforma Pol-
tica Feminista, algumas ONGs feministas, coordenadas pela AGENDE e CLADEM/
Brasil desenvolviam um processo de monitoramento da ratificao do Protocolo Fa-
cultativo
28
da Conveno sobre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao
Contra a Mulher, a CEDAW, pelo governo brasileiro, como parte da campanha mun-
dial Os direitos das mulheres no so facultativos. Apesar de o artigo 18 da CEDAW
determinar a obrigatoriedade dos pases membros apresentarem relatrios peridi-
cos a cada quatro anos, somente em novembro de 2002, o governo brasileiro apre-
sentou seu primeiro relatrio governamental contemplando as aes desenvolvidas
nos ltimos 20 anos no mbito do Legislativo, Executivo e Judicirio.
Atendendo a uma prtica do Comit sobre a Eliminao da Discriminao da
Mulher (Comit CEDAW), o movimento, atravs de uma ao coordenada pelas duas
ONGs, pontos focais da campanha no Brasil, envolvendo 13 redes nacionais
29
que
englobam e mais de 400 entidades, elabora o Relatrio Alternativo
30
com o objetivo
de
[...] Alm de subsidiar o Comit da CEDAW, o referido Documento, pretende tambm subsi-
diar o novo governo, buscando a construo do dilogo e a melhoria da qualidade dos
programas e aes governamentais na esfera federal para a erradicao da pobreza e da
discriminao e violncia contra as mulheres, bem como para a promoo da eqidade e
justia (AGENDE, 2003b, p. 2).
Graas contribuio do relatrio alternativo e da atuao direta de represen-
tantes das redes participantes durante a XXIX Sesso do Comit CEDAW, realizada
em julho de 2003, o referido Comit apresentou uma srie de recomendaes ao
governo brasileiro para o cumprimento da conveno, como por exemplo, aquelas
sobre: a defasagem entre as garantias constitucionais de igualdade entre homens e
mulheres; as intensas disparidades regionais, econmicas e sociais; a persistncia de
dispositivos discriminatrios em relao mulher no cdigo penal; as vises conser-
vadoras e estereotipadas a respeito das mulheres; a violncia contra as mulheres; a
explorao sexual e o trfico de mulheres; a sub-representao feminina nas instn-
cias de poder poltico; as altas taxas de analfabetismo feminino e de mortalidade
materna (AGENDE, 2003c). Esse processo de apresentao e defesa do Relatrio
Governamental na XXIX Sesso do Comit CEDAW correspondeu a dois momentos
distintos na poltica brasileira. O documento foi elaborado e apresentado a ONU
durante o ltimo ano do governo Fernando Henrique Cardoso, cabendo sua defesa
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 25
ao novo governo, recm-empossado de Luiz Incio Lula da Silva, coincidindo assim
com um momento de transio, o que no impediu que a representao governa-
mental a presente assumisse uma srie de compromissos no sentido de atender as
recomendaes.
No obstante esses compromissos assumidos pelo governo federal junto a ONU,
a relao com o movimento feminista, apesar da predisposio deste ltimo para a
negociao, no tem sido muito fcil. Logo ao assumir o governo, revelia de toda
a articulao e mobilizao do movimento de mulheres, Lula no indicou, como se
esperava, uma feminista para a Secretaria Nacional de Polticas para Mulheres, agora
com o status de Ministrio. Para o cargo indicou uma senadora petista. Com pouco
mais de um ano, a substituiu por uma professora universitria sem qualquer ligao
com o movimento. O PT no governo, apesar dos compromissos de campanha assu-
midos para com as mulheres, tem se mostrado extremamente conservador na
implementao de polticas; nem a lei de cotas, aprovada no partido desde os anos
1980, estabelecendo um mnimo de 30% de mulheres nos espaos de deciso foi
aplicada no mbito governamental. Hoje, conforme avalia a Articulao de Mulheres
Brasileiras
Na sociedade brasileira, de um lado, cresce a fora poltica dos setores fundamentalistas
religiosos e dos setores polticos neoliberais sem, entretanto, termos visto o dissenso da
tradicional fora poltica dos oligarcas. [...] Do outro lado, cresce entre os movimentos sociais
e de mulheres a insatisfao com os rumos que o governo federal vem tomando [...] (ARTI-
CULAO..., 2004b, p. 10).
Mas essa prtica governamental no tem conseguido desestimular o movi-
mento na sua luta por polticas adequadas para as mulheres e na deciso de seguir
criando novos espaos de interlocuo ou aproveitando os espaos j
institucionalizados. Foi esse entendimento que levou recentemente o movimento de
mulheres brasileiro, e como parte dele o movimento feminista, a responder positiva-
mente convocatria governamental, atravs da Secretaria Especial de Polticas para
Mulheres, para a realizao da I Conferncia Nacional de Polticas Pblicas para Mu-
lheres, em julho de 2004, com o objetivo de propor diretrizes para a fundamenta-
o do Plano Nacional de Polticas para Mulheres (CONFERNCIA NACIONAL...,
2004a).
No obstante estar consciente de que essa participao poder fortalec-lo
como sujeito na cena poltica nacional, o movimento est atento para os riscos de
ser instrumentalizado para efeito de uma participao meramente ilustrativa, com
poucos resultados concretos sobre as definies do futuro plano (ARTICULAO...,
2004a). Para evitar e impedir essa instrumentalizao, foi articulada toda uma estra-
tgia de participao e interveno, desde as conferncias locais e estaduais,
direcionada a garantir um maior nmero de delegadas vinculadas ao campo feminis-
ta e assim assegurar a incorporao das demandas contidas na Plataforma Poltica
Feminista no Plano Nacional de Polticas para Mulheres.
26 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
Calcula-se que aproximadamente 500 mil mulheres participaram em todo o
processo nos mbitos municipais, estaduais e federal. Participaram, na qualidade de
delegadas das 27 conferncias estaduais realizadas no pas, 14.050 mulheres, du-
rante os meses de maio e junho (SEPM, 2004.a), das quais 2.000 foram indicadas
como delegadas para a I Conferncia Nacional de Polticas Pblicas para Mulheres,
realizada em 14 e 15 de julho. Segundo estimativas, 47% das mulheres participantes
pertenciam a organizaes do movimento de mulheres negras (CASA DA CULTU-
RA..., 2004).
Como recomendao ao Plano Nacional foi aprovada a
[...] posio feminista que afirma a responsabilidade do Estado sobre o financiamento, for-
mulao e gesto das polticas pblicas, a articulao entre polticas econmicas e sociais,
ambas com carter distributivo; alm da manuteno dos vnculos oramentrios para sade
e educao, a relevncia de aes afirmativas e os princpios da igualdade e eqidade, laicidade
do Estado e da intersetorialidade das aes para implementao de polticas pblicas, o que
exige a participao de todas as reas de governo (ARTICULAO..., 2004c, p. 1).
Agora esperar e seguir lutando para que, de fato, as demandas a aprovadas
no s faam parte do Plano Nacional de Polticas para Mulheres, mas que se trans-
formem numa prtica do Estado brasileiro, afinal, esse foi o compromisso do presi-
dente da Repblica na sesso de abertura da Conferncia.
A ttulo de concluso
O movimento feminista brasileiro, enquanto novo movimento social,
extrapolou os limites do seu status e do prprio conceito. Foi mais alm da demanda
e da presso poltica na defesa de seus interesses especficos. Entrou no Estado,
interagiu com ele e ao mesmo tempo conseguiu permanecer como movimento au-
tnomo. Atravs dos espaos a conquistados (conselhos, secretarias, coordenadorias,
ministrios etc.) elaborou e executou polticas. No espao do movimento, reivindica,
prope, pressiona, monitora a atuao do Estado, no s com vistas a garantir o
atendimento de suas demandas, mas acompanhar a forma como esto sendo aten-
didas.
O resultado da I Conferncia Nacional de Polticas para Mulheres a demons-
trao da fora, da capacidade de mobilizao e articulao de novas alianas em
torno de propostas transformadoras, no s da condio feminina, mas de toda a
sociedade brasileira.
At chegar a foi um longo e, muitas vezes, tortuoso caminho de mudanas,
dilemas, enfrentamentos, ajustes, derrotas e tambm vitrias. O feminismo enfren-
tou o autoritarismo da ditadura militar construindo novos espaos pblicos demo-
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 27
crticos, ao mesmo tempo em que se rebelava contra o autoritarismo patriarcal pre-
sente na famlia, na escola, nos espaos de trabalho, e tambm no Estado. Descobriu
que no era impossvel manter a autonomia ideolgica e organizativa e interagir
com os partidos polticos, com os sindicatos, com outros movimentos sociais, com o
Estado e at mesmo com organismos supranacionais. Rompeu fronteiras, criando,
em especial, novos espaos de interlocuo e atuao, possibilitando o florescer de
novas prticas, novas iniciativas e identidades feministas.
Mas esse no o ponto final do movimento, a cada vitria surgem novas
demandas e novos enfrentamentos. O feminismo est longe de ser um consenso na
sociedade brasileira, a implantao de polticas especiais para mulheres enfrenta ain-
da hoje resistncias culturais e polticas. No documento Articulando a luta feminista
nas polticas pblicas, a AMB apresenta trs campos principais dessa resistncia
antifeminista no Brasil:
os setores que tm uma perspectiva funcional e antifeminista da abordagem
de gnero. Explicam as relaes de gnero como parte de uma ordem social
que se estrutura a partir dos papis diferenciados entre homens e mulheres,
definidos por funes imutveis e complementares na sociedade. Os papis
femininos devem ser valorizados, mas no necessariamente transformados;
31
um setor que questiona a existncia do feminismo hoje e que acredita ser
possvel mudar a sociedade e superar as injustias apenas a partir de compor-
tamentos individuais de homens e mulheres. Esta uma posio que vem
crescendo entre os movimentos sociais e distintas organizaes, articuladas
no que autodenominam erradamente de movimentos de gnero, preocu-
pados mais em promover a unidade entre homens e mulheres do que em
defender os direitos das mulheres e combater as desigualdades de gnero;
refere-se queles que no reconhecem a centralidade das desigualdades e
buscam explic-las apenas pela classe. So setores que consideram as desi-
gualdades de gnero, a luta feminista e anti-racista como prpria do espao
cultural e no tanto um problema da esfera pblica. (ARTICULAO..., 2004b).
Analisar, entender e, em especial, dar respostas a estas resistncias um desa-
fio que o movimento feminista brasileiro continuar ainda enfrentando.
Abstract: This work aims to account for
the changes, the new demands, the new
challenges and contradictions that Brazilian
feminism has faced in the last thirty years as a
social movement. It assumes that the Brazilian
feminist movement is not an isolated,
homogeneous phenomenon divorced from
the world context; it thus investigates links
and relationships with the Latin American
28 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
feminisms and with the new dynamics that
are today present in broader supranational
contexts. The central purpose of this work is
to make a reflection on the struggles, the new
dynamics and challenges of this movement in
Brazil.
Keywords: : : : : feminism; women; autonomy.
(Recebido e aprovado para publicao em setembro de 2005.)
Notas
1
Este texto foi escrito durante meu estgio ps-doutoral no Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
da Universidad Autonoma de Madrid, com bolsa de estudos proporcionada pela CAPES, em 2004. Regis-
tro tambm meus agradecimentos ao Instituto Universitario de Investigaciones Feministas da Universidad
Complutense de Madrid pelo apoio e disponibilidade.
2
[...] todo feminismo um movimento ilustrado quanto s suas razes e a suas pretenses reivindicativas.
De fato, as reivindicaes feministas so possveis a partir dos pressupostos do iluminismo ou dos
iluminismos, a saber, a universalidade da razo, da liberao dos preconceitos, o horizonte de emancipa-
o [...] (PETIT, 1993, p. 7).
3
At os anos 1980, os tericos da cincia poltica no consideravam a cidadania no marco das problem-
ticas das relaes de gnero. A luta contra as discriminaes das mulheres em matria de direitos polticos
tem sido uma das nfases do movimento feminista, desde seu surgimento quando ainda lutava pelo
acesso das mulheres educao e conquista dos direitos civis mais elementares. S recentemente a
teoria poltica, a partir da contribuio das feministas, tem se preocupado em superar o dilema igualdade/
diferena, dando nfase a uma cidadania democrtica que reconhea a diversidade e o pluralismo. Nesse
sentido, merece destaque a contribuio de Carole Pateman, Chantal Mouffe, Marion Iris Young, Anne
Philips, Mary G. Dietz, Clia Amors e Cristina Molina Petit, entre outras, na tentativa de construo de
modelos alternativos de cidadania, que contemplem as diferenas e pluralidades entre os sujeitos polti-
cos e garantam de fato o acesso das mulheres ao poder.
4
Podemos identificar trs padres de mobilizao poltica dentro dos que se identificam como movimen-
to de mulheres na Amrica Latina ps-regimes militares:
os grupos de direitos humanos de mulheres voltados para a luta por anistia poltica, pelo retorno
de exilados, banidos, pela proteo aos presos poltico e pela denncia sobre os desaparecidos.
Exemplo de destaque dessa prtica so o Movimento Feminino pela Anistia no Brasil e as Madres
de la Plaza de Mayo;
os grupos e organizaes feministas;
as organizaes de mulheres urbanas pobres articuladas, geralmente atravs do bairro, em asso-
ciaes e federaes, em torno de demandas como o aumento do custo de vida, a melhoria do
transporte, o saneamento bsico, as creches, a sade pblica etc. Esses grupos geralmente so
frutos da atuao da Igreja Catlica (Comunidades Eclesisticas de Base) ou de partidos polticos
vinculados a um pensamento de esquerda.
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 29
5
No Brasil, so algumas mulheres instrudas, que pertencem aos setores mdios e altos, que acolhem as
primeiras idias feministas trazidas pelas publicaes de Nsia Floresta Brasileira Augusta. Considerada a
primeira feminista brasileira, Nsia, depois de estudar na Europa e conviver com as feministas de l, regres-
sa ao Brasil e publica em 1832 a traduo da obra pioneira de Mary Wollestonecraft, A vindication of the
rights of women, marcando, assim, o despertar da conscincia crtica da condio feminina no Brasil.
Posteriormente, Nsia publica, de sua autoria, o livro Opsculo humanitrio, em 1835, e em 1842, o livro
Conselhos a minha filha, nos quais defendia a necessidade da educao para a mulher como a nica
forma de garantir sua emancipao, seguindo a mesma linha de Wollestonecraft. (COSTA; SARDENBERG,
1994a, p. 95).
6
A histria do feminismo latino-americano registra a revista El Correo de las Damas, editada em Cuba a
partir de 1811, como a primeira publicao feminista na regio. Posteriormente, surgem La Argentina, La
Aljaba e La Camlia, na Argentina, e El Seminrio de las Seoritas Mexicanas e a Sempreviva, no Mxico.
Na segunda metade do sculo XIX, so publicadas: O Jornal das Senhoras, o Belo Sexo, O Domingo, o
Jornal das Damas e o Sexo Feminino, no Brasil; La Mujer, no Chile; La Alborada e El Albun, no Peru; e El
Roco, na Colmbia. J em fins de tal sculo, havia o El Album, na Bolvia; El Albun de la Mujer, no Mxico;
o Direito das Damas, A Famlia, A Mensageira, no Brasil; El Eco de las Seoras de Santiago, no Chile; e La
Voz de las Mujeres, na Argentina (VALDS, 2000, p. 22-23; COSTA PINHEIRO, 1981, p. 55).
7
A industrializao trouxe junto a insero massiva das mulheres no trabalho fabril ao qual, se se consi-
dera o total da mo-de-obra empregada no setor txtil, o sexo feminino contribuiu com mais de 60%,
chegando em alguns setores, como juta, cifra de 74% do proletariado. Paralelamente ao desenvolvi-
mento do setor industrial txtil e junto com a expanso urbana se produziu tambm, nesse perodo, o
incremento do mercado de trabalho informal (SAMARA; MATOS, 1993, p. 325).
8
No Brasil, destaca-se a Federao Brasileira pelo Progresso Feminino, criada em 1922 sob a liderana de
Bertha Lutz, que ser a principal responsvel pela conduo da luta sufragista atravs de suas diversas
filiais espalhadas por todo o pas. O voto conquistado no Brasil em 1932, atravs do decreto n 21.176,
de 24 de fevereiro. Posteriormente, incorporado Constituio de 1934.
9
A participao feminina durante o processo de transio do regime autoritrio intensa. As mulheres
encabearam os protestos contra a violao dos direitos humanos por parte do regime; as mulheres
pobres e da classe operria buscaram solues criativas para as necessidades comunitrias como resposta
ao total descuido governamental em relao aos servios bsicos urbanos e sociais; as mulheres operrias
engrossaram as filas do novo movimento sindical brasileiro; as mulheres rurais lutaram pelos seus direitos
terra, aos quais eram continuamente usurpados pelas empresas agroexportadoras, as mulheres afro-
brasileiras se uniram ao Movimento Negro Unificado e ajudaram a forjar outras expresses organizadas
de um crescente movimento de conscincia negra, anti-racista; as lsbicas brasileiras se uniram aos ho-
mens homossexuais para iniciar uma luta contra a homofobia; as mulheres jovens e as estudantes univer-
sitrias formaram parte dos movimentos estudantis militantes; algumas tomaram as armas contra o regi-
me militar, outras trabalharam em partidos de oposio legalmente conhecidos (LVAREZ, 1994, p.
227).
10
A presena das mulheres na luta armadaimplicava no apenas se insurgir contra a ordem poltica
vigente, mas representou uma profunda transgresso com o que era designado poca para a mulher.
Sem uma proposta feminista deliberada, as militantes negavam o lugar tradicionalmente atribudo
mulher ao assumirem um comportamento sexual que punha em questo a virgindade e a instituio do
30 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
casamento, comportando-se como homens, pegando em armas e tendo xito neste comportamento, o
que, como apontou Garcia (1999, p. 338), transformou-se em um instrumento sui generis de emancipa-
o, na medida em que a igualdade com os homens reconhecida, pelo menos retoricamente (SARTI,
1998, p. 2).
11
Em entrevistas realizadas com antigas guerrilheiras e ativistas estudantis, lvarez registra a queixa
constante de que [...] rara vez lhes davam posies de autoridade dentro da esquerda militante. Igual aos
partidos polticos tradicionais, s militantes lhes encarregavam o trabalho de infra-estrutura da Nova
Esquerda Brasileira: as mulheres cuidavam dos aparelhos, trabalhavam como mensageiras, cozinhavam,
cuidavam dos doentes e feridos, e s vezes, lhes pediam para usarem seus encantos femininos para
obter informaes do inimigo. Muitas destas mulheres ressentiam estarem relegadas a posies de subor-
dinao dentro da estrutura interna de poder dos grupos militantes (LVAREZ, 1994, p. 232).
12
O Movimento Feminino pela Anistia foi criado em 1975, sob a liderana de Terezinha Zerbini, com o
objetivo de articular as lutas e mobilizaes em defesa dos presos polticos, pelo retorno dos banidos, por
uma anistia ampla, geral e irrestrita. O MFA foi a primeira estruturao pblica e oficial de questionamento
da ditadura militar.
13
Sobre o movimento feminista e suas formas de articulao, ver: Costa (1981), Figueiredo (1988), Alves
(1980), Alvarez (1994), Soares (1994): Soares et al. (1995). Para uma viso do feminismo no campo
acadmico ver Costa e Sardenberg (1994b).
14
Logo aps seu ressurgir nos anos 1970, o movimento feminista brasileiro, na perspectiva de construir
formas e espaos especficos de articulao, debate, reflexo, definir rumos e encaminhamentos das lutas
polticas, dos vrios grupos autnomos no pas, sem ferir os princpios da descentralizao e da organiza-
o no-hierrquica entre seus membros, buscou recuperar uma antiga prtica do movimento: a realiza-
o de encontros. Inicialmente sob a forma de seminrios restritos ou encontros paralelos dentro das
reunies anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia (SBPC). A partir de 1984, as feministas
comearam a organizar seus encontros de forma independente, sob a responsabilidade dos grupos femi-
nistas existentes no estado onde se realiza o evento.
15
Sobre a criao do CNDM e as resistncias no feminismo, ver Schumaher e Vargas (1993).
16
A partir de 1986 centenas de mulheres camponesas saram de seus grotes, lotaram nibus, apinha-
ram bolias e passaram a circular com a maior desenvoltura, pelos corredores do Congresso. Representa-
vam uma fora de trabalho at ento invisvel. Eram 2 milhes de Marias-ningum: classificadas como
donas de casa, no tinham registro profissional, permaneciam excludas do benefcio da Previdncia e
seus nomes no poderiam sequer constar dos ttulos de posse ou propriedade das terras. Pois as lobistas
das enxadas hoje se chamam trabalhadoras rurais. E tm seus direitos reconhecidos (REVISTA VEJA,
1994, p. 20).
17
Essa se tornou uma prtica corrente no movimento feminista na sua relao com o Congresso Nacional.
Todas as aes a conduzidas, em termos de aprimoramento legislativo, so apresentadas de forma
suprapartidria. A ao do CFEMEA, uma ONG criada em incios dos anos 1990, com o fim especfico de
encaminhar as demandas do movimento no mbito do Congresso, tem se pautado por essa prtica;
todas as propostas encaminhadas pelo movimento so apresentadas geralmente pela bancada feminina
ou eventualmente por mais de uma deputada ou deputado de partidos distintos.
18
As ONGs (feministas) se caracterizam por contar com pessoal profissional especializado e assalariado e,
em ocasies, com um grupo reduzido de voluntrios. Recebem fundos de organismos bilaterais e multila-
terais, assim como de fundaes privadas (quase sempre estrangeiras), e se dedicam ao planejamento
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 31
estratgico para elaborar informes ou projetos que influenciem nas polticas pblicas ou que assesso-
rem o movimento de mulheres, assim como oferecem diversos servios s mulheres de baixos recursos
(LVAREZ, 2001, p. 20 ).
19
Os Fruns de Mulheres so organizaes no-institucionalizadas, constitudas por entidades feministas
ou setores femininos de sindicatos ou movimentos mistos e de feministas independentes existentes nas
grandes cidades, responsveis por organizar, articular e implementar campanhas, eventos e outras mobi-
lizaes feministas. Os fruns mantm coordenaes temticas e colegiadas que no tm carter deliberativo
ou representativo das entidades, salvo com autorizao ou deliberao prvia. Hoje, os fruns consti-
tuem-se na manifestao mais organizada do feminismo autnomo e no-hierrquico.
20
A questo dos recursos foi um problema enfrentado desde este momento criador da Articulao de
Mulheres Brasileiras. Definida pela Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE)
da ONU como o principal organismo bilateral de financiamento da Coordenao de ONGs Regionais da
Amrica Latina para Beijing, a United States Agency for International Development (USAID) estabelece
como sua poltica que os recursos seriam repassados atravs de pontos focais, isto significava uma ONG
ou um consrcio por cada sub-regio. A resistncia do movimento foi muito intensa, no s no sentido de
que essa poltica implicaria uma hegemonia poltica e econmica de determinadas ONGs na regio, mas
em especial por se tratar da USAID, responsvel por ter apoiado a ditadura militar brasileira e outras
ditaduras da Amrica Latina, de favorecer e financiar as prticas controlistas e a esterilizao da popula-
o pobre no Brasil, em especial mulheres negras e indgenas.
21
Essa ttica significava que enquanto as feministas envolvidas no processo esperavam influenciar os
textos reais dos relatrios governamentais e documentos da ONU, muitas viam o processo de Beijing
como um pretexto, uma oportunidade excepcional para mobilizar, rearticular o movimento em suas
bases e ao mesmo tempo promover debates pblicos sobre a subordinao feminina, denunciar as condi-
es de vida das mulheres e garantir polticas especiais (LVAREZ; FRIEDMAN; BECHMAN, 2003).
22
Os Encontros Feministas Latino-Americanos e do Caribe foram realizados com as seguintes caractersticas:
I Encontro, em Bogot, na Colmbia, em 1981; com 230 mulheres. Foi um encontro de reconhecimento,
descobertas, trocas e afetividades;
II Encontro, em Lima, no Peru, em 1983; com 670 participantes. Teve como eixo a discusso sobre o
patriarcado e a reafirmao do status terico do feminismo;
III Encontro, em Bertioga, no Brasil, em 1985; com mais de 1.000 mulheres. Vivenciou-se a resistncia
contra formas estruturadas de organizao, assumindo a subjetividade das mulheres;
IV Encontro, em Tasco, no Mxico, em 1987; com 1.500 mulheres. Expressou a diversidade, o enfrentamento
com os novos feminismos e novas feministas;
V Encontro, em San Bernardo, na Argentina, em 1990; com aproximadamente 3.000 mulheres. Foi o
menos ideologizado, sem grandes teorias, interessado em responder e definir estratgias especficas ante
problemticas concretas;
VI Encontro, em El Salvador, em 1993. Foi o que pela primeira vez definiu cotas de participao por pases,
revelando tenses entre militantes autnomas e institucionalizadas. Criticou a influncia dos organismos
de cooperao internacional e instncias multilaterais sobre a priorizao de agendas;
VII Encontro, em Cartagena, no Chile, em 1996; com 700 participantes. Houve acirramento da tenso
anterior. A relao com o Estado, a debilidade das agendas feministas, o processo de Beijing e a hegemonia
das autnomas ali foram tratados.
32 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
VIII Encontro, em Juan Dolio, na Repblica Dominicana, em 1999; com 1.300 mulheres. Houve predom-
nio do feminismo light, ligado mais s vertentes culturalistas, e um clima de reconciliao e no-
enfrentamento.
IX Encontro, na Costa Rica, em 2003; com 835 participantes. Seu tema central foi a resistncia feminista
globalizao.
X Encontro ser realizado em So Paulo, no Brasil, em novembro de 2005.
Sobre os Encontros Latino-Americanos, ver lvarez (1994), (2003); lvarez, Friedman e Beckman (2003);
Vargas (1999); Sternbach; Aranguren; Chuchryk (1994).
23
No Brasil, alm da recentemente criada Secretaria Nacional de Polticas para Mulheres, com carter de
ministrio, Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos das Mulheres, Coordenadorias, Delegacias Espe-
ciais de Atendimento etc. vem sendo criados desde 1982.
24
Feminista institucionalizada a forma pejorativa que as auto-identificadas como feministas autno-
mas nomeiam aquelas engajadas nas agncias bilaterais e multilaterais, nos organismos estatais e as
profissionais de ONGs feministas.
25
No Brasil, ao contrrio da maioria dos pases latino-americanos onde houve uma demarcada concentra-
o de foras, recursos e informao, o processo de Beijing no favoreceu a hegemonia de uma ONG
especfica. A Articulao de Mulheres Brasileiras, constituda para esse fim, guardava os cuidados necess-
rios na sua estrutura poltico-deliberativa para impedir a excessiva centralizao. Junta-se a isso o amplo
controle estabelecido pelo movimento autnomo atravs dos fruns locais e das outras organizaes
participantes.
26
O Frum Social Mundial surge como um contraponto do Frum Econmico Mundial, realizado anual-
mente em Davos, na Sua. Os Fruns Sociais foram realizados anualmente em Porto Alegre/Rio Grande
do Sul, a partir de janeiro de 2001, sendo que o IV Frum Social Mundial foi realizado em Mumbai, na
ndia, em janeiro de 2004. Seu Conselho internacional rene hoje 112 organizaes de carter regional e
mundial, entre elas nove redes feministas.
27
O processo de realizao da Conferncia Nacional de Mulheres foi coordenadao pelas seguintes redes e
entidades nacionais: Articulao de Mulheres Brasileiras; Articulao de Organizaes de Mulheres Ne-
gras Brasileiras para a III Conferncia Mundial contra o Racismo, a Discriminao Racial, a Xenofobia e
Formas Conexas de Intolerncia; Articulao Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais; Comisso Na-
cional sobre a Mulher Trabalhadora da Central nica dos Trabalhadores; Frum Nacional de Mulheres
Negras; Rede de Mulheres no Rdio; Rede Nacional de Parteiras Tradicionais; Rede Nacional Feminista de
Sade, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; Secretaria Nacional de Mulheres do Partido Socialista
Brasileiro; Secretaria para Assuntos da Mulher da Confederao Nacional dos Trabalhadores em Estabele-
cimento de Ensino; e Unio Brasileira de Mulheres.
28
O Protocolo Facultativo adotado pela Organizao das Naes Unidas em 1999, e aberto adoo para
todos os pases que j fossem parte da Conveno, entrou em vigor internacionalmente em dezembro de
2000. O Brasil parte da Conveno desde 1984. Assinou o Protocolo em 13 de maro de 2001, e o
ratificou em 28 de junho de 2002 (AGENDE, 2003a).
29
Participam deste processo as seguintes Redes e Articulaes Nacionais de Mulheres Brasileiras: AMB
Articulao de Mulheres Brasileiras; Articulao de ONGs de Mulheres Negras Brasileiras; ANTMR Articu-
lao Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais; Comisso da Mulher da CGT Central Geral de Traba-
lhadores; CNMT/CUT Comisso Nacional Sobre a Mulher Trabalhadora da CUT; MAMA Movimento
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 33
Articulado de Mulheres da Amaznia; REDEFEM Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas;
REDOR Rede Feminista N/NE de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relaes de Gnero; Rede Nacional
de Parteiras Tradicionais; Rede Feminista de Sade Rede Nacional Feminista de Sade, Direitos Sexuais e
Direitos Reprodutivos; Rede de Mulheres no Rdio; Secretaria Nacional da Mulher da Fora Sindical; UBM
Unio Brasileira de Mulheres.
30
DOCUMENTO do Movimento de Mulheres para o Cumprimento da Conveno sobre a Eliminao de
Todas as Formas de Discriminao contra a Mulher CEDAW pelo Estado Brasileiro: Propostas e Reco-
mendaes. Braslia: AGENDE/CLADEM, 2002.
31
Sobre a manifestao desse campo de resistncia em projetos de desenvolvimento ver Sardenberg,
Costa e Passos (1999).
Referncias
AGENDE. Os direitos das mulheres no so facultativos. Boletim Eletrnico, Braslia,
n. 1, 28 mar. 2003a.
______. Os direitos das mulheres no so facultativos. Boletim Eletrnico, Braslia, n.
2, 14 maio 2003b.
______. Os direitos das mulheres no so facultativos. Boletim Eletrnico, Braslia, n.
8, 12 ago. 2003c.
LVAREZ, Sonia. Engendering democracy in Brasil: womens moviments in transitin
politics. Pinceton: Princeton University Press, 1990.
______. La (trans)formacin del (los) feminismo(s) y la poltica de gnero en la
democratizacin del Brasil. In: LEON, Magdalena (Org.). Mujeres y participacin
politica. Avances y desafios en Amrica Latina. Bogot: Tercer Mundo, 1994.
______. Los feminismos latino-americanos se globalizan: tendencias de los aos 90 y
retos para un nuevo milenio. In: ______; DAGNINO, Evelina; ESCOBAR, Arturo (Org).
La poltica de las culturas y las culturas de la poltica: revisando los movimientos
sociales latinoamericanos. Bogot: Taurus, 2001.
______ et al. Encontrando os feminismos latino-americanos e caribenhos. Revista
Estudos Feministas, Florianpolis, v. 11, n. 2, p. 541-575, jul./dez. 2003.
ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo. A luta da mulher pelo voto no Brasil.
Petrpolis: Vozes, 1980.
ARTICULAO de mulheres brasileiras (AMB). Boletim Articulando, Recife, n. 90, jul.
2004a.
ARTICULAO de mulheres brasileiras (AMB). Boletim Articulando, Recife, n. 94, set.
2004b.
ARTICULAO de mulheres brasileiras (AMB). Polticas Pblicas para as mulheres no
Brasil: Balano nacional cinco anos aps Beijing. Braslia: ABM, 2000.
ARTICULAO de mulheres brasileiras (AMB). In: Articulando a luta feminista nas
polticas pblicas. Recife: [s.n.], 2004c. (Texto para discusso)
34 Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 . 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005
CASA DE CULTURA DA MULHER. Boletim Eparrei online, Santos, jul. 2004. Boletim
especial para a I Conferncia de Polticas Pblicas para Mulheres.
CONFERNCIA NACIONAL DE MULHERES BRASILEIRAS, 1., 2002, Braslia. Carta de
princpios. Braslia: [s.n.], 2002a.
CONFERNCIA NACIONAL DE MULHERES BRASILEIRAS, 1., 2002, Braslia. Plataforma
poltica Feminista. Braslia: [s.n.], jun 2002b.
CONFERNCIA NACIONAL DE POLTICAS PARA AS MULHERES, 1., 2004, Braslia. Ba-
lano Braslia: [s.n.], 2004a.
CONFERNCIA NACIONAL DE POLTICAS PARA AS MULHERES, 1., 2004, Braslia. Bo-
letim informativo n. 1. Braslia: [s.n.], 2004b.
COSTA PINHEIRO, Ana Alice. Avances y definiciones del movimiento feminista em
Brasil. Dissertao (Mestrado em Sociologia)-Facultad de Cincias Polticas y Sociales,
Mxico, 1981.
COSTA, Ana Alice Alcntara. As donas no poder. Mulher e poltica na Bahia. Salva-
dor: Assemblia Legislativa da Bahia, 1998.
______. SARDENBERG, Cecilia M. B. Feminismos, feministas e movimentos sociais.
In: BRANDO, Maria Luiza; BINGEMER, Maria Clara (Org.). Mulher e relaes de
gnero. So Paulo: Loyola, 1994a.
______. SARDENBERG, Cecilia M. B. A institucionalizao dos estudos feministas dentro
das Universidades. Teoria e prxis feminista na acadmica: os ncleos de estudos
sobre a mulher nas universidades brasileiras. Revista Estudos Feministas, Rio de Janei-
ro, p. 387-400, 1994b. Volume especial.
DOCUMENTO do movimento de mulheres para o cumprimento da conveno sobre
a eliminao de todas as formas de discriminao contra a mulher, CEDAW, pelo
Estado brasileiro: propostas e recomendaes. Braslia: AGENDE/CLADEM, 2002.
FIGUEIREDO, Mariza. A evoluo do feminismo no Brasil. In: O Feminismo no Brasil:
reflexes tericas y perspectivas. Salvador: NEIM/UFBa, 1988.
JAQUETTE, Jane S. Los movimientos de mujeres y las transformaciones democrticas
en Amrica Latina. In: LEON, Magdalena (Org.). Mujeres y participacin politica. Avan-
ces y desafios en Amrica Latina. Bogot: Tercer Mundo, 1994.
LEON, Magdalena. Movimiento social de mujeres y paradojas de Amrica Latina. In:
LEON, Magdalena (Org.). Mujeres y participacin politica. Avances y desafios en
Amrica Latina. Bogot: Tercer Mundo, 1994.
LOBO, Elizabete Souza. Mulheres, feminismo e novas prticas sociais. Revista de
Cincias Sociais, Porto Alegre, v. 1, n. 2, 1987.
MOLYNEUX, Maxine. Movimientos de mujeres en Amrica Latina. Un estudio terico
comparado. Madrid: Catedra: Universidad de Valencia, 2003.
Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 Niteri, v. 5, n. 2, p. 9-35, 1. sem. 2005 35
PATEMAN, Carole. Crticas feministas a la dicotomia publico/privado. In: CASTELLES,
Carme (Org.). Perspectivas feministas en teoria poltica. .. .. Barcelona: Paids, 1996.
PETIT, Cristina Molina. Elementos para una dialectica feminista de la Ilustracin. In:
AMORS, Clia (Org.). Actas del Seminrio Permanente Feminismo e Ilustracin 1988-
1992. IIF/Universidad Complutense de MADRID, 1993.
PINTO, Celi Jardim. Participao (representao?). Poltica da mulher no Brasil: limites
e perspectivas. In: SAFFIOTi, Heleieth; MUOZ-VARGAS, Monica (Org.). Mulher bra-
sileira assim. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; Braslia: UNICEF, 1994.
REVISTA VEJA. So Paulo: [s.n.], ago./set. 1994. p. 20.
SAMARA, Eni de Mesquita; MATOS, Maria Izilda. Manos femeninas: trabajo y resis-
tncia de las mujeres brasileas (1890-1920). In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle.
Histria de las Mujeres. v. 10. Espanha: Taurus, 1993.
SARDENBERG, Cecilia M. B.; COSTA, Ana Alice Alcantara; PASSOS, Elizete. Rural
development in Brazil: are we practising feminism or gender? Gender And
Development, Oxford,UK, v. 7, n. 3, p. 28-38, 1999.
SARTI, Sintia. O incio do feminismo sob a ditadura no Brasil: o que ficou escondido.
In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA LASA, 21., 1998, Chicago. Anais... Chicago:
Illinois, set. 1998.
SCHUMAHER, M. A.; VARGAS, Bete. Lugar no governo: libi ou conquista. Estudos
Feministas, Rio de Janeiro, Ano 1, n. 2, jul./dez. 1993.
SIMES, Solange de Deus. Deus, ptria e famlia. As mulheres no Golpe de 1964. .. ..
Petrpolis: Vozes, 1985.
SOARES, Vera et al. Brasilian feminism and womens moviment. Two-way street. In:
BASU, Amrita. (Org.). Fite challenge of local feminisms. Womens moviments in glo-
bal perspective. , v. 1. Colorado: Boulder, 1995. p. 302-323.
SOARES. Vera. Movimento feminista. Paradigmas e desafios. Estudos Feministas, Rio
de Janeiro, Ano 2, jul./dez. 1994.
STERNBACH, Nancy Saporta, ARANGUREN, Marysa Navarro, CHUCHRYK, Patricia e
lvarez, Sonia E. Feminismo en Amrica Latina: de Bogot a San Bernardo. In. LEON,
Magdalena (Org.). Mujeres y participacin politica. Avances y desafios en Amrica
Latina. . . . . Bogot: Tercer Mundo, 1994.
VALDS, Teresa. De lo social a lo poltico. La accin de las mujeres latino-americanas. .. ..
Santiago: Lom Ed., 2000.
VARGAS, Virginia. Los feminismos Latinoamericanos construyendo espacios
transnacionales: Beijing y los Encuentros Feministas Latinocaribenhos Lima, 1999.
Mimeografado.
Você também pode gostar
- Livro Do Clã Tremere (Revisado) PDFDocumento106 páginasLivro Do Clã Tremere (Revisado) PDFAndré Monteiro100% (2)
- DECCA, Edgar De. O Nascimento Das FábricasDocumento38 páginasDECCA, Edgar De. O Nascimento Das Fábricasmcrbarreto100% (1)
- KOURY ImagensCienciasSociais-1998 PDFDocumento228 páginasKOURY ImagensCienciasSociais-1998 PDFmcrbarretoAinda não há avaliações
- DIGITUS v1n1 - Revista CompletaDocumento94 páginasDIGITUS v1n1 - Revista CompletamcrbarretoAinda não há avaliações
- DAMATTA - Trabalho de CampoDocumento15 páginasDAMATTA - Trabalho de CampomcrbarretoAinda não há avaliações
- Mágoas de Amizade - Mana 8Documento21 páginasMágoas de Amizade - Mana 8mcrbarretoAinda não há avaliações
- Leituras de Sociologia 3 - WeberDocumento19 páginasLeituras de Sociologia 3 - WebermcrbarretoAinda não há avaliações
- Recriando o Seu - Pastor ChrisDocumento50 páginasRecriando o Seu - Pastor ChrisArquivos Walfy100% (1)
- O Evangelho Da InclusãoDocumento2 páginasO Evangelho Da InclusãoKarynne LadysllauAinda não há avaliações
- Minha Até À Morte - Lisa GardnerDocumento460 páginasMinha Até À Morte - Lisa GardnerMarina BittencourtAinda não há avaliações
- Psicopatologias e Intervenções Psiquiatricas No Ciclo PerinatalDocumento100 páginasPsicopatologias e Intervenções Psiquiatricas No Ciclo PerinatalMelo Emily100% (1)
- O Erotismo e A Sensualidade Da Mulher Na PublicidadeDocumento114 páginasO Erotismo e A Sensualidade Da Mulher Na Publicidadeapi-26361226Ainda não há avaliações
- Blog Elas Preferem Canalhas PDFDocumento71 páginasBlog Elas Preferem Canalhas PDFRenato X JuniorAinda não há avaliações
- Fuses - Erotismo No Curta-Metragem de Carolee Schneemann PDFDocumento14 páginasFuses - Erotismo No Curta-Metragem de Carolee Schneemann PDFKxo RuboAinda não há avaliações
- O Misterio Das Glandulas EndocrinasDocumento35 páginasO Misterio Das Glandulas EndocrinastsdigitaleAinda não há avaliações
- E-Book, Como Vencer Na Vida Sem Prostituir-Se (Crisóstomo Paulo Chipa) PDFDocumento32 páginasE-Book, Como Vencer Na Vida Sem Prostituir-Se (Crisóstomo Paulo Chipa) PDFCrisóstomo TchipaAinda não há avaliações
- Admirável Mundo NovoDocumento10 páginasAdmirável Mundo NovoAna Cláudia Leite100% (1)
- Arte Mulheres 2 Plano de AulaDocumento5 páginasArte Mulheres 2 Plano de AulaVitoria souzaAinda não há avaliações
- Penna - Corpo Sofrido e Mal Amado PDFDocumento130 páginasPenna - Corpo Sofrido e Mal Amado PDFSabor100% (2)
- A Semente Da SerpenteDocumento6 páginasA Semente Da SerpenteElival VianaAinda não há avaliações
- Iemanjá e Pomba-Gira - Imagens Do Feminino Na Umbanda PDFDocumento313 páginasIemanjá e Pomba-Gira - Imagens Do Feminino Na Umbanda PDFHermes De Sousa VerasAinda não há avaliações
- Estudo Familia (Papel Do Homem Da Mulher e Do Jovem) OkDocumento8 páginasEstudo Familia (Papel Do Homem Da Mulher e Do Jovem) OkAlex SilvaAinda não há avaliações
- Irmãos Louzada - 3 Minha Mania de VoceDocumento457 páginasIrmãos Louzada - 3 Minha Mania de VoceJuciane Medeiros100% (1)
- Sujeito HomemDocumento107 páginasSujeito HomemBruno Justo PrandiniAinda não há avaliações
- Para Uma Teoria Do AmorDocumento172 páginasPara Uma Teoria Do AmorUlyssesAinda não há avaliações
- Pancadao Guerrilha Dia 1Documento103 páginasPancadao Guerrilha Dia 1Júlio CézarAinda não há avaliações
- Feminização Do MagistérioDocumento8 páginasFeminização Do MagistérioKássia Castoldi FicagnaAinda não há avaliações
- Estrategia Curso de Portugues em Exercicios CAD 6 ALUNODocumento76 páginasEstrategia Curso de Portugues em Exercicios CAD 6 ALUNOwederfsAinda não há avaliações
- O Primeiro Soar Da Trombeta - John KnoxDocumento152 páginasO Primeiro Soar Da Trombeta - John KnoxJocilaine Costa de CamargoAinda não há avaliações
- Moondala - Como Usar A Mandala Lunar para o Empoderamento Do Seu Feminino 2019 PDFDocumento9 páginasMoondala - Como Usar A Mandala Lunar para o Empoderamento Do Seu Feminino 2019 PDFBernar DeteAinda não há avaliações
- 43109Documento91 páginas43109VOLMIR100% (8)
- Rainhas e Nao PlebeiasDocumento5 páginasRainhas e Nao PlebeiasCintia Angra Colmenares100% (2)
- Módulo XVIII - Geografia e História Bíblica Do Velho Testamento - PARTE IDocumento273 páginasMódulo XVIII - Geografia e História Bíblica Do Velho Testamento - PARTE IMozart OliveiraAinda não há avaliações
- 1 - Ogbè MéjìDocumento211 páginas1 - Ogbè MéjìHenrique Martins100% (1)
- Contos Italianos (PDFDrive)Documento166 páginasContos Italianos (PDFDrive)Angela MeiliAinda não há avaliações
- A Chave Secreta - Alfa SocialDocumento33 páginasA Chave Secreta - Alfa SocialCiro LuizAinda não há avaliações