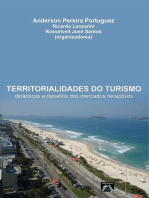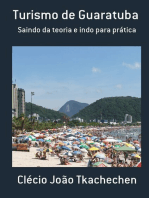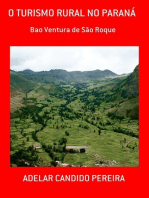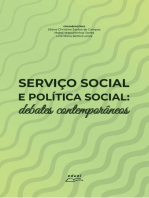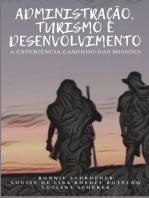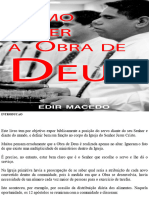Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dixlogos Do Turismo Uma Viagem de Inclusxo
Dixlogos Do Turismo Uma Viagem de Inclusxo
Enviado por
charlesabruzziDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dixlogos Do Turismo Uma Viagem de Inclusxo
Dixlogos Do Turismo Uma Viagem de Inclusxo
Enviado por
charlesabruzziDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
TURISMO SOCIAL
DILOGOS DO TURISMO
UMA VIAGEM DE INCLUSO
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Presidente da Repblica Federativa do Brasil
Luiz Incio Lula da Silva
Ministro do Turismo
Walfrido dos Mares Guia
Secretrio Nacional de Polticas de Turismo
Airton Pereira
Diretora do Departamento de Estruturao, Articulao e
Ordenamento Turstico
Tnia Brizolla
Coordenadora-Geral de Segmentao
Mara Flora Lottici Krahl
Instituto Brasileiro de Administrao Municipal IBAM
Superintendente Geral
Mara D. Biasi Ferrari Pinto
Superintendente de Desenvolvimento Econmico e Social
Alexandre Carlos de Albuquerque Santos
Ficha Catalogrfica
Dados internacionais de catalogao na publicao (CIP)
B823t
Brasil. Ministrio do Turismo.
Turismo social : dilogos do Turismo : uma viagem de incluso
/ Ministrio do Turismo, Instituto Brasileiro de Administrao
Municipal. Rio de Janeiro : IBAM, 2006.
360 p. : il.
Trabalhos apresentados no Seminrio Nacional Dilogos do
Turismo uma viagem de incluso (2005 : Braslia, DF).
1. Turismo - aspectos sociais - Brasil. 2. Incluso social. 3.
Seminrio Nacional Dilogos do Turismo. I. Ttulo. II. Ttulo:
Dilogos do Turismo : uma viagem de incluso.
CDU 380.8:301.01(81)
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
TURISMO SOCIAL
DILOGOS DO TURISMO
UMA VIAGEM DE INCLUSO
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
TURISMO SOCIAL
DILOGOS DO TURISMO UMA VIAGEM DE INCLUSO
Depositado na Reserva Legal da Biblioteca Nacional
Equipe Tcnica
do IBAM
Equipe Tcnica do
Ministrio do Turismo
Coordenador
Alexandre Carlos de
Albuquerque Santos
Coordenao
Mara Flora Lottici Krahl
Consultor
Josu Setta
Consultora
Ana Maria Forte
Assessores Tcnicos
Ktia Silva
Patrcia Azevedo
Pedro Nogueira Diogo
Rodrigo Marchesini
Apoio
Flvia da Silva Lopes
Coordenao
e Produo Editorial
Sandra Mager
Tcnicos
Luiz Antonio Pereira
Madalena Nobre
Maria Silvia Dal Farra
Tatiana Turra
Carolina Campos
Isabel de Castro
Patrcia Kato
Fernando Rocha
Apoio
Elcie Helena Rodrigues
Felipe Arns
Mariana Leite Xavier
Carolina Neves
Gabriel Vitor
Agradecimentos
Jos Eduardo Calegari Paulino/
Projeto Simpatia MS
Carlos Henrique Porto Falco /
SESC Nacional RJ
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Apresentao
Um dos maiores e mais notveis desafios da sociedade
brasileira contempornea tem sido o enfrentamento das
questes da desigualdade e da excluso social em um cenrio
democrtico, que pressupe a ampla participao do
conjunto de atores sociais.
A realidade tem mostrado, mesmo em um quadro de
democracia avanada e de ampla participao social, as
permanentes e recorrentes contradies que afetam a
sociedade brasileira: desemprego, expanso da pobreza,
excluso social, preconceitos e processos de discriminao
e segregao. No incio dos anos 60, o pas tinha 49,3% de
excludos; em 1980, 42,6%; e em 2000 chegou a 47,3%. O
crescimento foi de 11% entre 1998 e 2000. Esses nmeros
consideraram variveis relacionadas qualidade de vida da
populao, tais como violncia, desigualdade, nvel de
escolaridade e emprego formal.
O Governo Federal vem desenvolvendo programas
especficos de aes afirmativas legais e institucionais para
mudar esse cenrio. O Ministrio do Turismo aliou-se a essa
luta e convoca a sociedade para a cidadania. A idia de
incluso assumida pelo MTur enfoca tambm o acesso e a
distribuio dos benefcios da atividade turstica. Ao poder
pblico cabe a funo de fomentador para a ascenso
sociocultural e econmica dos indivduos, na qual age como
articulador para a participao intersetorial e institucional
no processo.
Nessa perspectiva, procura-se desenvolver o turismo
privilegiando cada um dos atores envolvidos na atividade:
o turista, o prestador de servios e o grupo social de interesse
turstico. Sob a tica do turista, o interesse social concentra5
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
se no cidado como viajante pertencente a determinadas
classes de consumidores com renda insuficiente para usufruir
da experincia turstica de qualidade, ou a grupos em
situao de excluso que, por motivos diversos, tm suas
possibilidades de lazer limitadas. Essa uma abordagem
clssica do Turismo Social, que trata das viagens de lazer
para segmentos populares e para grupos em situao de
vulnerabilidade. Sob a tica do prestador de servios
tursticos, o foco est nos micro e pequenos empreendedores
e nos trabalhadores de modo geral, que tm a possibilidade
de incluso social pelas oportunidades advindas da atividade
turstica. O fomento s iniciativas desses empreendedores e
a integrao com outras atividades econmicas do arranjo
produtivo do turismo so alguns dos temas relevantes nessa
abordagem. Sob a tica dos grupos e comunidades de
interesse turstico, a nfase est nas condies sociais e
culturais de quem integra o ativo turstico local. A
conservao e valorizao do patrimnio cultural e natural
e a promoo do capital social enquadram-se nesse enfoque.
Com essa viso, o Ministrio do Turismo pretende desenvolver
o turismo independentemente de classes sociais. Para aqueles
que, pelos mais variados motivos (renda, preconceito,
alienao etc.) no fazem parte dos movimentos tursticos
nacionais ou, quando viajam, consomem produtos e servios
inadequados. E para os que no tm oportunidade de
participar dos benefcios econmicos da atividade turstica,
com vistas a uma distribuio mais justa da renda e gerao
de riqueza.
Para que o Turismo contribua efetivamente para a superao
das diversas formas de vulnerabilidade e excluso social,
no basta a ao isolada do poder pblico, no so
suficientes polticas governamentais, nem mesmo a
mobilizao estanque de determinados setores da sociedade,
6
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
como vem ocorrendo. preciso mais: preciso a formao
e o fortalecimento de redes de confiana, solidariedade e
de ao cooperada dos agentes sociais.
Um grande passo nesse processo foi o encontro Dilogos do
Turismo Uma Viagem de Incluso, onde foram discutidas
propostas e alternativas de como promover a igualdade de
oportunidades, a eqidade, a solidariedade e o exerccio da
cidadania na perspectiva da incluso por meio da atividade
turstica, cujos resultados esto retratados neste documento.
Com esta publicao, o Ministrio do Turismo partilha sua
convico de que turismo e desenvolvimento social so
intrnsecos e conclama para o amadurecimento dessa relao
a construo do almejado turismo sustentvel.
Walfrido dos Mares Guia
Ministro do Turismo
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Sumrio
Introduo
11
Parte I
Conferncias
Turismo e Polticas Pblicas de Incluso
17
Maria das Graas Rua
Turismo, Valorizao da Brasilidade e Construo
do Capital Social
38
Tania Regina Zapata e Jess Cmara Zapata
Turismo, Solidariedade e Incluso
76
Cristovam Buarque
Parte II
Palestras Exploratrias/Propositivas e
Resultados das Oficinas
87
Igualdade Racial e Turismo
89
Lecy Brando
Turismo em Comunidades Quilombolas
uma contribuio historiogrfica
101
Hebe Mattos
Turismo e Orientao Sexual
139
Joo Silvrio Trevisan
Sociedades Indgenas e Turismo
178
Jos R. Bessa Freire
Gnero, Turismo, Desigualdades
205
Adriana Piscitelli
Comunidades Costeiras Frente Expanso do Turismo 246
Eduardo Schiavone Cardoso
9
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo em Comunidades Rurais: incluso social
por meio de atividades no-agrcolas
264
Sergio Schneider
Breves reflexes sobre as relaes entre turismo,
infncia e juventude no Brasil
294
Renato Roseno
Turismo e Gerao: Jovens e Idosos
306
Adriana Romeiro de Almeida Prado
Turismo e Acessibilidade
Vernica Camiso
10
320
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Introduo
Esta publicao resulta do Seminrio Nacional Dilogos do
Turismo uma viagem de incluso, fruto de profcua parceria
entre o Ministrio do Turismo e o Instituto Brasileiro de
Administrao Municipal IBAM, estimulados pelo
entendimento das inmeras oportunidades de integrao
social que podem ser abertas pelo turismo.
No exerccio de sua misso de desenvolver o turismo como
atividade econmica sustentvel, o MTur destaca a relevncia
desse setor na gerao de empregos e divisas, aliado ao
compromisso da incluso social. Nessa perspectiva, a busca
pela incluso no se orienta apenas pela carncia material de
determinados grupos ou pessoas, ou seja, no se limita idia
de pobreza e misria. Vai alm: volta-se a questes
relacionadas identidade, individualidade e prpria
condio humana. Por sua vez, o IBAM h 53 anos
trabalhando no assessoramento de polticas pblicas em
diversas reas, sobretudo na esfera municipal encontrou
nessa parceria condies e motivaes para dar
prosseguimento ao seu compromisso com o desenvolvimento
econmico e social das localidades brasileiras.
Durante trs dias de Seminrio de 8 a 10 de dezembro de
2005, em Braslia foram apresentadas pesquisas,
conferncias, palestras e debatidos temas por Grupos de
Trabalhos centrados na abordagem do turismo em relao
a comunidades e grupos historicamente marginalizados
no pas, sob vrios aspectos e possveis processos inclusivos.
A diversidade da temtica foi um dos grandes desafios do
evento. O olhar de especialistas e as reflexes de
representantes desses grupos sociais demonstram que as
fronteiras e as dificuldades que os separam ao mesmo tempo
os unem e so bastante tnues, o que demanda aes
transversais quando o assunto a incluso social e turismo.
11
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Sob esse enfoque, partiu-se da idia que o quadro de
desigualdade social no Brasil exige, alm da formulao de
polticas pblicas voltadas para a incluso, o
comprometimento da sociedade como um todo. Esse quadro,
somado ao potencial da atividade turstica para revert-lo,
motivou a concepo e desenho do Seminrio Nacional
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso. Debater o
turismo e toda sua complexidade faz parte desse esforo,
para que o turismo se constitua, de fato, direito de todos,
independentemente de condio social, econmica, poltica,
religiosa, cultural e sexual.
Esta publicao consiste de trs partes:
Parte I Ciclo de Conferncias, que impe as linhas gerais
para outras palestras e debates. So Conferncias que
abordam o tema de maneira ampla. Na primeira
conferncia, a Cientista Poltica da Universidade de Braslia
UNB, Maria da Graa Rua tece reflexes crticas sobre os
motivos pelos quais o turismo assume referncia de campo
privilegiado para a promoo do desenvolvimento social. A
autora discorre sobre as polticas pblicas, apontando os
desafios inerentes conquista de resultados concretos para
o processo de incluso social. A segunda conferncia
apresenta as reflexes da sociloga Tnia Zapata, que pensa
o turismo como locus de congregao de oportunidades
e potencialidades capazes de impulsionar transformaes
sociais que culminem em legtimos processos inclusivos.
Como estratgia, a conferencista prope que o
desenvolvimento turstico se ancore nos conceitos de
brasilidade e capital social. Fechando o Ciclo, o Senador
Cristvam Buarque disserta sobre educao e excluso,
focando os impactos perversos da pobreza e do desemprego
e o papel do turismo como via de incluso das camadas
sociais menos privilegiadas da sociedade brasileira.
12
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Parte II Bloco das Palestras Exploratrias e Propositivas,
que explana temas, provoca reflexes e induz ao e
proposio. Trazem tona a discusso da incluso social
especificamente sob o ponto de vista dos grupos sociais e
comunidades tradicionais: Gnero, Gerao, Acessibilidade
e Igualdade Racial, Quilombolas, Orientao Sexual,
Sociedades Indgenas, e Comunidades Costeiras e Rurais.
Tais debates permitem estabelecer correlaes entre o
desenvolvimento do turismo e a efetiva insero destes
distintos assuntos, de modo a orientar a atuao dos Grupos
de Trabalho voltados para a proposio de aes.
Parte III Encarte com os Resultados das Pesquisas:
Alternativas de Crdito para Pequenos Empreendimentos
Tursticos e Classes C, D & E um novo mercado para o
Turismo Brasileiro, apresentadas em verso digital, sob a
forma de encarte. Lana novos olhares para as alternativas
de incluso no turismo sob o ponto de vista econmico e
social. A primeira pesquisa , reala as condies da oferta
de crdito para microempreendedores no setor turstico e a
segunda apresenta as condies e o perfil dos turistas de
baixa renda, caracterizando seus diferentes tipos e hbitos
de viagem.
Esta publicao condensa, portanto, o esforo do Ministrio
do Turismo e do IBAM para construo da cidadania no
Pas. A proposta que a ao do turismo respeite as
diferenas, incorpore a igualdade de oportunidades e
estimule uma nova tica no processo de consumo, oferta,
produo e distribuio dos benefcios da atividade turstica.
Assim, os resultados do Seminrio permitem a reflexo da
amplitude e o potencial da atividades turstica para agregar
e impulsionar as diversas formas de manifestaes culturais
e sociais no territrio brasileiro, identifica entraves e aponta
caminhos e aes nessa perspectiva.
13
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
14
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Parte I
Conferncias
15
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
16
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo e Polticas Pblicas de
Incluso
Maria das Graas Rua*
Nos anos recentes a referncia ao turismo como campo
privilegiado para a promoo do desenvolvimento social,
devido ao seu potencial inclusivo e democratizante, tornouse quase um lugar-comum. Menos freqente, porm, tem
sido a reflexo sobre os motivos pelos quais o turismo assume
tal feio. Este o primeiro ngulo da temtica a ser explorada
neste artigo.
O turismo pode contribuir decisivamente para o
desenvolvimento sustentvel e para a incluso social porque
agrega um conjunto de dimenses favorveis solidariedade
e integrao social. Em primeiro lugar, pela sua prpria
natureza, o turismo opera pela ruptura do isolamento,
provocando o contato entre diferentes culturas e
ocasionando interaes de mltiplos e variados atores. Com
isso, propicia o conhecimento e a valorizao de
determinados ambientes e comunidades, estimulando o
respeito e o interesse pela sua preservao.
Em segundo lugar, o conhecimento oportunizado
caracteriza-se como essencialmente prazeroso, de maneira
que as interaes se do em um clima de reduzida tenso,
favorecendo o entendimento entre os atores.
Terceiro, o turismo exibe forte potencial de criao e
ampliao de oportunidades de trabalho e gerao de renda.
O amplo leque de atividades aberto pelo turismo permite
* Doutora em Cincia Poltica, Professora do Centro de Pesquisa e
Ps-graduao sobre as Amricas (CEPPAC) e do Centro de
Desenvolvimento Sustentvel (CDS) da Universidade de Braslia.
17
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
acolher trabalhadores com diferenciados padres e
patamares de desenvolvimento, o que contribui para a
reduo dos conflitos pelo ngulo da oferta. Essa tendncia
inclusiva fortalecida pelo fato de que a cadeia produtiva
do turismo intensiva em mo-de-obra.
Por tudo isso, e por envolver uma ampla multiplicidade de
segmentos, o turismo contribui para o reconhecimento e
valorizao da diversidade e para o estabelecimento e
fortalecimento de laos de solidariedade entre povos e
grupos sociais.
Todas essas potencialidades, porm, no se realizam
sozinhas. De fato, o turismo exige o funcionamento de uma
ampla rede de processos logsticos que abrangem desde
aqueles relativos s vias e meios de transporte,
estabelecimentos diversos, suprimentos variados de energia
e alimentao, acomodaes, mveis, utenslios e
equipamentos, at aqueles que dizem respeito oferta de
atividades consistentes com os segmentos em tela, como,
por exemplo: msticas, esportivas, recreativas, culturais,
artsticas etc.
O desenvolvimento do turismo implica a composio e
articulao de atividades de natureza multissetorial e
intersetorial. Sua realizao perpassa diferentes nveis de
governo exigindo cooperao intra e intergovernamental.
Essa complexidade requer medidas que excedem a ao
isolada tanto da sociedade como do Estado; necessria a
ao combinada dos mltiplos nichos da iniciativa privada
e das instncias do poder pblico.
Para alm dos significados especficos que os distinguem, os
termos articulao, cooperao, ao combinada e seus
congneres possuem em comum o fato de requererem
coordenao. Quanto maior a complexidade e a magnitude
dos fatores envolvidos, maior a necessidade de coordenao
18
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e, ao mesmo tempo, maiores as dificuldades para que esta
se realize.
E por este motivo que a expresso polticas pblicas tem
freqentado o mesmo discurso que enfatiza o potencial de
desenvolvimento e de incluso social do turismo. Este o
segundo ngulo da temtica explorada neste artigo.
Toda poltica pblica um produto da atividade poltica,
entendida esta como o conjunto de mecanismos e
procedimentos pelos quais o consenso se revela preferencial
coero na resoluo dos conflitos de poder e de interesses
envolvendo bens pblicos.
As polticas pblicas, por sua vez, consistem no
estabelecimento de diretrizes que orientam decises a partir
das quais se realizam aes, tanto pblicas como privadas,
em busca de determinados objetivos.
Uma vez que (a) as polticas pblicas implicam a alocao
de valores; (b) existem diferenciados tipos e graus de poder
na sociedade e no Estado; (c) os interesses so tambm
distintos e freqentemente conflituosos, os dois grandes
desafios de toda poltica pblica so, primeiramente, a
construo de decises que agreguem consenso; e, em
segundo lugar, assegurar que as decises tomadas sero
implementadas.
Ou seja, no basta que sejam tomadas decises, mas estas
precisam ter a natureza de acordos que expressam a
composio entre os interesses em jogo. E no basta nem
mesmo que haja decises acordadas, sendo ainda necessrio
que essas se tornem efetivas intervenes na realidade, a
partir da ao coordenada dos atores e agncias envolvidas.
No que tange diretamente ao objeto deste artigo, ao mesmo
tempo em que a complexidade do turismo amplia
19
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
exponencialmente esses dois desafios, a resoluo dos
mesmos condio fundamental para o sucesso das suas
atividades e para a realizao do seu potencial em termos
de desenvolvimento sustentvel e de incluso social. Isso
remete discusso dos dilemas que precisam ser enfrentados
para que haja polticas pblicas de turismo, voltadas para a
incluso social.
O Primeiro Desafio: lidar com os conflitos de
valores
Num mundo ideal, igualdade, liberdade, justia, segurana,
eficincia seriam apenas dimenses de uma mesma situao
de bem-estar ou satisfao, sem contradies. No mundo
das coisas reais, ao contrrio, freqentemente somos
obrigados a escolher entre valores igualmente relevantes.
Quando nos lembramos de que escolher renunciar a todas
as alternativas para ficar com somente uma, percebemos
que, na verdade, gostaramos de no ter que decidir e poder
ficar com todas as boas coisas mas isso impossvel.
Alm disso, nossas escolhas so feitas sob a angstia da
deciso, ou seja, muitas vezes no sabemos de fato qual das
alternativas preferimos, at que nos deparamos com as
conseqncias da situao consumada. E com pesar
descobrimos, tardiamente, que no era o que pretendamos.
Quando se trata das polticas pblicas essas dificuldades se
tornam ainda maiores, devido aos interesses e poderes
associados aos valores, alternativas e preferncias. O primeiro
passo para a construo dos acordos necessrios a uma
poltica pblica direcionada para a incluso social o
esclarecimento do significado desta expresso e dos
paradoxos entre os valores a ela associados.
A meno incluso social remete ao seu contrrio, a
excluso. Freqentemente confundida com a desigualdade,
20
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
a excluso deve ser corretamente entendida como a negao
parcial ou total da incorporao de grupos sociais
comunidade poltica e social. dessa maneira que, formal
ou informalmente, so negados a esses grupos os direitos de
cidadania, como a igualdade perante a lei e as instituies
pblicas e o seu acesso s oportunidades sociais de estudo,
de profissionalizao, de trabalho, de cultura, de lazer, de
expresso etc. impedido ou obstaculizado.
Vale chamar a ateno para a multidimensionalidade do
conceito, que no se restringe aos aspectos formais nem se
limita esfera econmica. O primeiro aspecto a chamar
ateno reside no fato de que a excluso pode manifestar-se
ou no como uma norma legal. Exemplos encontram-se no
antigo regime do apartheid na frica do Sul, ou na negao
do direito de voto aos analfabetos, como ocorria no Brasil
at poucos anos atrs, ou como o conjunto de direitos que
o Estado brasileiro ainda hoje nega aos homossexuais.
Mais freqentemente, porm, a excluso no se fundamenta
em base legal, manifestando-se informalmente. Ou seja,
mesmo que formalmente os direitos sejam universais, nem
todos conseguem exerc-los porque: (a) as instituies no
funcionam de maneira inclusiva; por exemplo, exigem
requisitos de acesso ou oferecem tratamento assimtrico a
certos indivduos ou grupos; (b) os prprios membros de
alguns grupos sociais no tm acesso s condies bsicas
de existncia essenciais para assegurar sua informao sobre
seus direitos, a percepo do seu significado e at mesmo o
interesse pelo seu exerccio. Ou seja, existem atributos no
selecionados e irracionalmente conferidos, que resultam em
desvantagem para os indivduos no exerccio dos seus
direitos: a situao socioeconmica de origem, a ausncia
das habilidades obtidas via escolarizao, determinadas
caractersticas tnicas, fsicas ou intelectuais etc.
21
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Nesse sentido, Santos explicita as profundas diferenas entre
desigualdade e excluso:
Se a desigualdade um fenmeno socioeconmico, a
excluso , sobretudo, um fenmeno cultural e social, um
fenmeno da civilizao. Trata-se de um processo histrico
atravs do qual uma cultura, por meio de um discurso de
verdade, cria a interdio e a rejeita... O sistema de
desigualdade se assenta, paradoxalmente, no carter
essencial da igualdade; o sistema de excluso se assenta no
carter essencial da diferena... O grau mximo da excluso
o extermnio; o grau extremo da desigualdade a
escravido.1
No limite, portanto, a excluso envolve a privao ou
negao da prpria condio humana, de tal forma que,
alm dos direitos de cidadania, o que se nega aos excludos
a possibilidade de ao, discurso, comunicao, que
condio para que os indivduos realizem o seu potencial
como sujeitos.
Portanto, ao pensar polticas pblicas voltadas para a
incluso social, necessrio refletir sobre as diferentes
dimenses e formas de manifestao da excluso, de maneira
a que as medidas propostas contemplem tanto a igualdade
como a eqidade e suas implicaes.
A primeira condio para isso definir e estabelecer um
consenso em torno de qual igualdade se pretende promover.
A partir dos enunciados anteriores, relativos excluso e
desigualdade, possvel estabelecer que a igualdade
signifique mais que o simples tratamento igual perante a
SANTOS, B. de S. A construo multicultural da igualdade e da
diferena. Trabalho apresentado no VII Congresso Brasileiro de
Sociologia, Rio de Janeiro, 1995.
22
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
lei ou igualdade formal. Na verdade, mesmo que a lei trate
os indivduos igualmente, outros fatores do mundo real
operam no sentido oposto. Quando se busca maior
efetividade, falar de igualdade e incluso implica falar de
acesso e desfrute: o igual acesso e igual desfrute do produto
social. Na esfera do turismo significaria tanto oportunidades
iguais de trabalho na cadeia produtiva, quanto de desfrute
das atividades tursticas.
Os dados de qualquer natureza e as anlises sob os mais
diversos ngulos no deixam a menor margem de dvida
acerca da situao existente no nosso pas: a despeito do
fato de sermos um pas rico, temos uma desigualdade to
brutal que, vergonhosamente, exibimos um dos maiores
ndices de pobreza e um dos menores ndices de
desenvolvimento humano do mundo. Pior ainda, apesar do
espao reservado igualdade no nosso marco jurdico,
estamos muito distantes da igualdade, qualquer que seja o
critrio adotado: social, econmico, racial, de gnero, etrio,
regional etc.
Existem mltiplas causas para tal situao. A soluo,
claramente, reside na adoo de polticas de eqidade. Tratase de um conjunto de medidas destinadas a fazer com que
aqueles que so prejudicados pela desigualdade ou pela
excluso encontrem condies para transpor o abismo social
e, assim, possam se integrar aos demais.
Apenas para dar um exemplo: no basta gerar oportunidades
de trabalho num empreendimento turstico e estabelecer
critrios abertos para o preenchimento dos postos de
trabalho. Sabe-se que muitos no podero sequer se
candidatar a tais postos porque no tm como preencher
requisitos mnimos de educao e de qualificao. Para
produzir igualdade tero que ser adotadas medidas que atuem
23
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
sobre a falta de requisitos que impede os sujeitos at mesmo
de aspirar aos postos de trabalho.
Tais medidas quaisquer que seja a sua natureza, inclusive
a discriminao positiva correspondem ao que se entende
como polticas de eqidade: um conjunto de meios
adotados para a superao das barreiras mediatas e imediatas
igualdade efetiva. Ocorre, porm que nem sempre o amplo
consenso em torno da igualdade sustenta tambm as polticas
de eqidade. Em outras palavras, embora seja grande o apoio
igualdade enquanto valor abstrato to ou mais extenso o
conjunto de pontos polmicos em torno das polticas
concretas de eqidade. Isso porque, paradoxalmente, a
eqidade pode significar tratamento desigual.
Muito da polmica em torno da eqidade tem a ver com os
seus aspectos operacionais: quem deve ser beneficiado com
as polticas? Quais os critrios de demarcao dos indivduos,
grupos ou comunidades beneficirias: socioeconmicos
(renda? ndices de desenvolvimento?) ou demogrficos (cor,
sexo, idade?) O que deve ser objeto de distribuio (bens
tangveis, como postos de trabalho, auxlio financeiro? Ou
intangveis, como educao, sade etc.? Quais os processos
de distribuio? (quotas? sorteios? classificaes em escalas
especficas?) Aspectos como esses, relativos ao desenho
operacional das polticas de eqidade, freqentemente
polarizam o debate porque, em grande parte, definem quem
ganha e quem perde com essas polticas.
Contudo, para alm das questes da engenharia das polticas
de eqidade, destacam-se dois eixos de dissenso
especialmente acirrado: eqidade versus eficincia e
eqidade versus liberdade.
Definindo eficincia como a obteno do maior rendimento
possvel de cada insumo aplicado, fcil reconhecer que a
24
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
sua busca to natural quanto o exerccio da racionalidade:
procurar os meios mais adequados ou os menores custos
para os benefcios pretendidos. Num mundo de recursos
escassos, buscar a eficincia , alm de racional, um
comportamento moralmente defensvel.
Por isso, do mesmo modo que a igualdade, todos queremos
eficincia. Todos apiam a idia genrica de que se deve
buscar o mximo de rendimento em tudo o que fazemos,
porm, quando necessrio ir alm de palavras de ordem
amplas e vagas e aplicar o princpio da eficincia s decises
polticas surgem problemas, porque se torna necessrio
estabelecer quem e o qu, de fato, ser considerado
importante. Assim, no somente h obstculos consecuo
da eficincia, como tambm freqentemente a sua busca se
choca com as polticas de eqidade destinadas a promover
a igualdade.
Do ponto de vista das dificuldades, sabe-se que a obteno
de resultados melhores ou maiores dificultada sempre que
for pequeno o nmero de fornecedores ou de consumidores
de um bem ou servio. A competio imperfeita, de fato,
impede o controle sobre uma ou sobre ambas as pontas da
relao custo-benefcio, inviabilizando a melhoria dos
resultados das polticas.
A eficincia prejudicada, tambm, por deficincias na
informao. Pelo lado da emisso: linguagem demasiado
tcnica, dados incorretos, dados incompletos, obstculos no
acesso informao, demora na transmisso da informao,
entre outras, caracterizam aquilo que se conhece como
informao imperfeita. Pelo lado da recepo, toda
informao interpretada e a sua aplicao passa,
inevitavelmente, pelos mltiplos filtros e lentes dos
receptores. Isso significa que, mesmo que a emisso da
informao fosse perfeita, nem assim seria possvel assegurar
25
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
que fosse comunicada de maneira eficaz, nem aplicada de
modo consistente com a busca da eficincia das polticas
pblicas. Quanto maior for a complexidade do campo de
poltica, como o caso do turismo, mais pesaro as
deficincias de informao sobre a busca da eficincia.
Alm disso, freqentemente faltam referenciais para a busca
da eficincia, j que a mesma complexidade que amplifica
o impacto potencial de um campo de poltica, tornando
possvel orientar a interveno em busca de maiores e mais
disseminados benefcios coletivos, tambm traz a
possibilidade de prejuzos coletivos ou externalidades
negativas, manifestados posteriormente. Como fazer escolhas
que maximizem a eqidade e/ou a eficincia quando no
h informao disponvel sobre os impactos de mdio e longo
termo?
Enfim, no debate sobre a disjuntiva eficincia/ eqidade, os
que defendem a eficincia sustentam que as medidas de
eqidade eliminam a motivao das pessoas para lutar pelos
seus objetivos; alm disso, a realizao de polticas de
eqidade requer interferncia do governo nas escolhas
individuais, inviabilizando a busca da eficincia, que requer
liberdade para a maximizao das relaes entre meios e
fins; finalmente, argumentam que a promoo da eqidade
requer a expanso da mquina pblica encarregada de
administrar benefcios e eleva os gastos pblicos, reduzindo
a eficincia.
Os que levantam a bandeira da eqidade, por sua vez,
sustentam que, ao contrrio: a falta de oportunidades e de
acesso ao produto social o principal fator de desmotivao
dos indivduos; alm disso, no existe evidncia de que o
comportamento maximizador s floresa nos ambientes de
baixa presena do poder pblico; finalmente, lembram que
a eficincia dos gastos pblicos deve ser avaliada no
26
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
somente pelo que se realiza, mas tambm pelo que se impede
e se evita; ou seja, existe um custo aparentemente elevado
de no se realizar a eqidade, o que reduz a eficincia.
Polmica equivalente tem como centro as relaes entre
liberdade e proteo. Todos queremos ser livres, verdade.
Mas existem limites liberdade? Onde se situam?
As sociedades ocidentais modernas admitem o princpio de
que os indivduos devem ser livres para fazer o que quiserem,
a menos que suas atividades prejudiquem outras pessoas.
Entretanto, esse postulado que se mostra to absolutamente
defensvel, de imediato impe questes, tais como: se o
prejuzo de indivduos e comunidades que define os limites
liberdade, que tipo de prejuzo ser bastante para justificar
a restrio da liberdade de um ou mais sujeitos (fsicos?
materiais? emocionais e psicolgicos? espirituais e morais?
ambientais? estticos?) Como as pessoas so diferentes e
desempenham papis diferentes, a liberdade de quem
poder ser restringida? Qual o limite dessa restrio? O campo
de atividades do turismo permite imaginar um amplssimo
leque de situaes nas quais o benefcio de um grande
nmero de indivduos pode levar ao prejuzo de um nmero
igualmente significativo. Como tomar decises nesses casos?
Um outro conjunto de questes emerge quando a disjuntiva
em tela diz respeito liberdade versus igualdade e eqidade.
Pode-se comear indagando acerca da condio da
liberdade. H graus de liberdade? Ou a liberdade uma
condio absoluta?
H os que sustentam que no h liberdade absoluta em
nenhuma circunstncia, o que h so mecanismos que
asseguram o exerccio do direito de escolher. legtimo
sustentar que a insegurana quanto satisfao das
necessidades inviabiliza o exerccio da liberdade? Se sim, a
27
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
liberdade significa ento o controle dos indivduos sobre a
sua prpria vida. Nesse caso, qual a liberdade dos
despossudos de tal controle? A proteo contra a
vulnerabilidade ou apenas a frustrao das necessidades, cria
dependncia nos indivduos, viola sua liberdade? A liberdade
violada quando polticas pblicas de eqidade impem
algum tipo de coero? Ou, pelo contrrio, a liberdade
humana pode ser beneficiada por alguns controles e por
medidas que compelem cooperao? At onde podem ir
esses controles e medidas sem violar direitos legtimos?
Essas e outras questes semelhantes nada tm de metafsico
ou abstrato. So, ao contrrio, as grandes temticas da
poltica: esto no fundo dos conflitos de interesse e de poder
cuja resoluo condio essencial para a viabilizao das
polticas pblicas. Na realidade, grande parte das chamadas
diretrizes sem as quais as decises relativas s polticas
pblicas mostram-se errticas e at mesmo contraditrias
consiste em estabelecer posies frente a esses eixos de
dissenso. No se trata de tarefa fcil, especialmente no
contexto das polticas pblicas brasileiras, caracterizado a
seguir.
2. O Segundo Desafio: lidar com as
regularidades das polticas pblicas no Brasil
Ainda que os temas valorativos estejam equacionados, em
qualquer sociedade haver obstculos concretos,
econmicos, relacionais e organizacionais, s polticas
pblicas. No Brasil, afiguram-se como verdadeiras
regularidades das polticas pblicas, como ser visto
adiante.
Um dos aspectos que primeiro chama a ateno nas polticas
pblicas brasileiras a fragmentao. De fato, um trao
28
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
recorrente que, embora as demandas da sociedade
impliquem a articulao e cooperao de diferentes agncias
setoriais, o que ocorre a existncia de linhas rgidas mas
nem sempre consensuais e respeitadas de demarcao das
reas de atuao de cada uma.
Como conseqncia e esta outra regularidade as
polticas muito freqentemente emperram devido
competio interburocrtica; ou so fragmentadas em reas
de controle de cada agncia, na busca de uma convivncia
pacfica; ou, finalmente, estabelecem-se superposies que
levam baixa racionalidade e ao desperdcio de recursos.
Uma outra caracterstica recorrente a descontinuidade
administrativa. Como, em regra, inexistem concepes
consolidadas de misso institucional, as agncias envolvidas
nas polticas pblicas so forte e diretamente afetadas pelas
preferncias, convices, compromissos polticos e
idiossincrasias pessoais diversas dos seus escales mais
elevados. Esses cargos, por sua vez, so em grande parte
preenchidos conforme critrios polticos, o que confere certa
impermanncia aos seus ocupantes. Com isso, cada mudana
dos titulares dos cargos, como regra, provoca alteraes nas
polticas em andamento. Essas podem ser alteraes de rumo,
de prioridade etc. e podem ocorrer at mesmo sem
visibilidade alguma no curto e mdio prazos: basta, por
exemplo, que o novo dirigente de uma agncia decida,
sozinho, que uma determinada poltica ou programa
prioritrio para o dirigente anterior dever ter menos
centralidade nas suas atenes.
Resulta que, com a mudana de dirigentes, freqentemente
os programas e polticas so redimensionados, reorientados,
suspensos, ou deixam de concentrar as atenes e energias
dos quadros daquelas agncias. Alm disso, nas raras
situaes em que se consegue superar a fragmentao e a
29
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
disputa interburocrtica e so estabelecidas formas
cooperativas de ao entre as agncias, nem sempre os novos
dirigentes mantm os vnculos de solidariedade dos seus
antecessores, porque tambm as relaes de cooperao
tendem a ser personalizadas.
Um outro aspecto recorrente nas polticas pblicas,
especialmente nas polticas sociais, o de que as decises e
aes tendem a ser pensadas a partir da oferta e muito
raramente so efetivamente consideradas as demandas. A par
disso, os instrumentos de avaliao (indicadores e
procedimentos) na maior parte das vezes so inadequados
ou precrios e os mecanismos de controle social so
absolutamente incipientes ou inexistentes. Todos esses traos
expressam, provavelmente, os padres de autoritarismo e
centralizao presentes em nossa formao histrica, bem
como as heranas do passado autoritrio recente. Causas
parte, o fato que disso resultam descompassos entre oferta e
demanda de polticas, acarretando desperdcios, lacunas no
exerccio da cidadania, frustrao social, perda de
credibilidade governamental, desconfiana e bices plena
utilizao do potencial de participao dos atores sociais etc.
Uma quinta regularidade a presena de uma clara clivagem
entre formulao/deciso e implementao, que expressa
uma perspectiva linear, vertical e planificadora da poltica
pblica. Essa clivagem observada primeiro pela presena
de uma cultura que enfatiza a formulao/deciso, tomando
a implementao como dada. Ou seja, a percepo da
complexidade das polticas pblicas se restringe ao ambiente/
fase da formulao/deciso, enquanto a implementao
vista como um conjunto de tarefas de baixa complexidade,
acerca das quais as decises foram previamente tomadas.
Por outro lado, essa clivagem se manifesta nas diferenas de
status e de capacitao dos quadros funcionais encarregados,
30
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
respectivamente, da formulao/deciso e da
implementao. Concretamente, esta caracterstica tem
como resultado a tendncia centralizao, a reduzida
autonomia das agncias implementadoras, a baixa
adaptabilidade dos modelos adotados para as polticas
pblicas e uma acentuada fragilidade dos nveis e agncias
implementadores. O produto final, freqentemente, o
desperdcio de recursos pela ineficcia das polticas pblicas.
Esses problemas so ainda mais aflitivos na rea das polticas
sociais, onde so acentuadas a ineficcia e a disperso
organizacional. De fato, comparadas com outras reas, a
maior parte das agncias e dos seus quadros ainda pouco
moderna, exibe reduzida eficcia/eficincia gerencial; as
diversas agncias so desarticuladas entre si e
freqentemente constituem nichos de interesses polticos
personalistas. Alm disso, como se trata de agncias (e
polticas) que consomem recursos, em vez de ger-los, a
clivagem mencionada se torna ainda mais acentuada com a
sua excluso da maioria das decises relevantes, ou seja, as
decises quanto a recursos, que so tomadas em outras esferas
governamentais.
Isso, por sua vez, tem a ver com uma outra recorrncia
observada: a hegemonia do economicismo e a
desarticulao entre poltica econmica e poltica social.
Como regra, as polticas econmicas assumem a primazia
em todo o planejamento governamental, cabendo s
polticas sociais um papel absolutamente secundrio,
subordinado e subsidirio.
So vrias as concepes que sustentam o primado da poltica
econmica. Uma delas supe que o mercado perfeito e
que, se for permitido o seu livre funcionamento, aos poucos
as distores sero resolvidas; logo, as polticas sociais devem
ficar restritas aos interstcios nos quais no cabe a ao do
31
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
mercado e onde, por isso mesmo, no sero capazes de
transtornar a sua dinmica. Uma outra perspectiva admite
que o mercado no seja perfeito, mas mantm o crescimento
econmico como prioridade mxima; assim, caberia s
polticas sociais a funo de corrigir os desvios sociais
advindos em conseqncia. Uma variante desta concepo,
em poca relativamente recente, encontrava-se na mxima
do regime militar de que primeiro preciso deixar o bolo
crescer, para depois dividir.
S muito recentemente que comeou a ser abandonada a
percepo de que as polticas sociais se destinam a corrigir
deficincias. Isso porque s h muito pouco tempo
desenvolveu-se a concepo de que poltica social mais
at que direito de cidadania investimento produtivo e de
que deve haver coordenao e equalizao entre os objetivos
da poltica econmica e os das polticas sociais, uma vez
que os novos modelos de produtividade enfatizam o capital
humano.
O exame de vrios programas do Governo Federal mostra
claramente diversos dos aspectos j mencionados. De fato,
observa-se nitidamente a ocorrncia de aes dispersas entre
as diferentes agncias e de programas desarticulados no interior
de cada uma delas. Alm disso, a maior parte das aes reflete
a concepo tpica do primado da economia: so propostas
de correo de desvios e seqelas. No chegam sequer a
expressar concepes de preveno de problemas, e, muito
menos ainda, de investimento consistente na formao de
capital humano, visando ao destino futuro do pas.
Diante disso tudo fica claro que no basta formular ou
implementar polticas pblicas. Existe uma poltica das
polticas pblicas. Os tomadores de deciso, nos diversos
nveis, bem como os agentes implementadores, em todas as
esferas, devem ter consensuadas, no mnimo, as posies
32
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
quanto a valores. Somente assim ser possvel compatibilizar
a busca da incluso com as polticas de desenvolvimento e
de crescimento econmico, com os imperativos da poltica
monetria e fiscal, de maneira a que as decises tenham
chances efetivas de se transformar em intervenes na
realidade no contexto das polticas pblicas no Brasil.
3. Algumas pistas sobre possibilidades de
polticas de incluso social no turismo
Ainda que a atividade turstica exista no Brasil h bastante
tempo, o turismo como eixo de atuao governamental
bastante recente, datando de pouco mais de dez anos os
investimentos pblicos mais significativos, especialmente na
forma de programas regionais de desenvolvimento do
turismo.
O mesmo no ocorre com as polticas sociais que,
independentemente da filosofia que as orienta, so bastante
antigas no nosso pas. Abrangem desde as polticas
compensatrias baseadas na transferncia de renda por vias
diversas programas alimentares, cestas bsicas, programas
de renda mnima universais e condicionais (bolsa famlia
etc.) at as polticas estruturais, cuja lgica consiste em
constituir, entre os grupos beneficiados, capacidade de
gerao de renda permanente.
Existem ainda algumas polticas sociais de natureza setorial
que, sem implicar transferncia de renda de maneira direta,
exibem indiscutvel impacto sobre a pobreza, a desigualdade
e a excluso social. Trata-se, primeiramente, da educao,
mecanismo privilegiado em qualquer estratgia de promoo
social permanente e requisito para todas as demais polticas,
33
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
inclusive as estruturais, dentre as quais cabe especial
destaque incluso digital.
Em seguida encontra-se o amplo conjunto de polticas de
sade, que vo desde a sade preventiva e curativa
propriamente ditas, at as polticas de habitao e
saneamento.
Evidentemente, tanto as polticas de educao quanto as de
sade guardam ntima relao com as polticas ambientais,
que, por sua vez, so fortemente afetadas pelas polticas
estruturais.
Dentre estas, distinguem-se as que se destinam a
proporcionar infra-estrutura (polticas de energia, transportes
e comunicaes) e as que se orientam diretamente para a
gerao de emprego e renda: crdito, apoio ao
desenvolvimento de vocaes locais, apoio aos pequenos
empreendimentos e formao de mercados.
Aparentemente, um dos grandes problemas que reduzem a
eficincia dessas polticas no a sua orientao preqidade, mas sim a sua fragmentao, desarticulao,
eventual superposio etc. Fica claro que o turismo
representa uma via privilegiada para a obteno de ganhos
de eficincia em polticas de eqidade pelo seu potencial
papel de eixo de articulao das diversas polticas sociais.
O turismo oferece tanto a possibilidade de fortalecimento
do capital fsico (infra-estrutura, investimentos financeiros
etc.), como estimula o desenvolvimento do capital humano
(via educao e capacitao profissional).
Alm disso, e talvez mais importante ainda: representa uma
oportunidade sem igual para solucionar um dos mais difceis
desafios ao xito das atividades econmicas: a formao de
mercados.
34
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Nada disso poder ser equacionado, porm, sem que as
diretrizes quanto a valores sejam previamente consensuadas.
Caso a eqidade seja o valor privilegiado, cabe adotar
algumas nfases na conduo das diversas polticas. Tais
pontos de nfase so os seguintes:
as reas de ocupao informal ou reas degradadas
surgidas ou ampliadas pela dinamizao da atividade
turstica devem ser objeto de criterioso planejamento
urbano e ambiental, com o desenvolvimento de
projetos de urbanizao e regularizao do uso do
solo e da habitao.
os investimentos pblicos em infra-estrutura devem
beneficiar no somente o total da populao
(inclusividade), mas focalizar as reas e populaes
degradadas pela tica da eqidade (aes afirmativas),
sob o risco de no obter ou perder parte da eficincia
desejada quanto atratividade dos complexos
tursticos e das reas tursticas localizadas.
tanto os projetos de urbanizao como os
empreendimentos tursticos de qualquer porte, devem
ser diretamente incentivados a utilizar mo-de-obra,
materiais e insumos diversos de extrao local.
como muito provvel que ocorra, a disponibilidade
local de insumos pode ser pouca ou nenhuma,
portanto, devem-se adotar estratgias para estimulla; do mesmo modo, caso a mo-de-obra local seja
despreparada, deve-se operar capacitando-a e
preparando-a. Essas aes so, claramente, de natureza
estratgica e de responsabilidade pblica.
a oferta de capacitao profissional para o
preenchimento de postos de trabalho nas atividades
do turismo ou subsidirias a ele deve ser focalizada
nos grupos populacionais de menor nvel de
35
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
escolaridade. Isso inclui a adoo de facilidades para
a incluso digital.
o foco das capacitaes nos grupos de menor
escolaridade no exclui a responsabilidade pela oferta,
no local, da educao formal de qualidade. Acresase a isso a adoo de polticas de formao educacional
especificamente voltadas para a atividade turstica nos
prprios destinos turstico. A concepo de plos de
formao e as metodologias e mecanismos de
educao a distncia, quando combinadas, oferecem
oportunidades privilegiadas para esse fim.
na oferta de empregos diretos e indiretos, deve ser
dada a preferncia populao local e nativa,
especialmente a de menor renda.
devem ser disseminadas boas prticas na constituio
de empreendimentos econmicos de natureza
comunitria (cooperativas, consrcios, associaes),
especialmente voltados para o fortalecimento de
vocaes e atividades preexistentes tanto na rea de
bens como de servios (suprimentos alimentares,
suvenires, manifestaes culturais e folclricas etc.),
com apoio sua implantao nos destinos.
devem ser eliminadas as barreiras ao crdito, que deve
ser oferecido de maneira a que os locais tenham acesso,
inclusive pela definio de linhas de crdito que
contemplem o leque de possibilidades locais.
devem ser desenhadas e implementadas medidas de
estmulo e fortalecimento tanto do protagonismo social
como da governana local, sem descuidar dos
mecanismos de controle social e accountability.
Essas so algumas das nfases com relao a polticas de
desenvolvimento do turismo orientadas para a incluso, com
36
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
foco local, quando se trata dos destinos. Estes, porm, s
tero possibilidade real de desenvolvimento quando forem
estimulados os mercados usurios.
Nesse sentido, cabe assumir a mesma orientao preqidade, j que a pobreza, a desigualdade e a excluso
social operam estreitando tambm as oportunidades de
desfrute das atividades tursticas. De fato, ainda muito mais
que o acesso educao, sade e habitao de boa
qualidade, os bens culturais, o lazer, a recreao encontramse completamente fora do alcance de imensa parcela da
populao brasileira. Mesmo aqueles que se situam um
pouco acima da linha de pobreza sobre os quais no operam
to fortemente os fatores econmicos da excluso, sofrem
com a represso de inmeras outras demandas cuja satisfao
mostra-se prioritria em relao ao turismo. Ademais, existem
clivagens relativas a gnero, idade, orientao sexual, porte
de necessidades especiais que tambm operam restringindo
os mercados do turismo.
Medidas para contra-arrestar esse estado de coisas so vrias.
Dependem, todavia, primeiro da valorizao polticoinstitucional do turismo por parte do ncleo estratgico do
governo enquanto campo de atividades privilegiado para
prover a incluso social; segundo, da capacidade de
concertao das agncias e instncias de polticas pblicas
tanto no plano horizontal dos campos de ao especficos,
quanto no plano vertical, das relaes entre os nveis de
governo.
Tanto quanto o estabelecimento de diretrizes que expressam
valores, o atendimento a essas condies situa-se num plano
superior ao da engenharia das polticas pblicas.
37
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo, Valorizao da Brasilidade
e Construo do Capital Social
Tania Regina Zapata*
Jess Cmara Zapata**
O Termo de Referncia preparado pelo IBAM para a produo
do presente artigo aponta, como objetivo geral do mesmo, o
pensar no turismo como locus privilegiado de congregao
de oportunidades e potencialidades capazes de impulsionar
transformaes sociais, que culminem em legtimos processos
inclusivos. E, como estratgia para alcanar este objetivo,
prope que o desenvolvimento turstico se ancore nos
conceitos de brasilidade e capital social.
Talvez seja um objetivo demasiado ambicioso para o contexto
e o reduzido espao do presente artigo, j que envolve, ao
menos, trs relevantes hipteses de trabalho: A primeira, que
o nosso pas tem dotaes de recursos naturais e culturais e
condies objetivas para desenvolver um setor turstico de
tal porte que venha a ser capaz de determinar o seu prprio
desenvolvimento socioeconmico. A segunda, que o setor
turstico poder congregar, de maneira privilegiada, as
potencialidades e oportunidades capazes de promover
processos de incluso social. E, a terceira, que a estratgia
apropriada para que o setor turstico venha a promover maior
incluso social, consiste em ancorar o seu desenvolvimento
nos conceitos de brasilidade e de capital social.
Na dificuldade de responder a todos esses desafios, o
presente artigo limita o seu escopo ao fornecimento de
*Sociloga, consultora do PNUD e do IADH, especialista em
Desenvolvimento Local.
*Economista e consultor internacional em turismo.
38
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
conceitos, informaes e reflexes que ajudem a alimentar
os debates que sero suscitados no evento e, assim, poder
contribuir aos dilogos do turismo por uma via de
incluso.
Conforme solicitado no Termo de Referncia, o artigo
estruturado em duas partes. Na primeira, so abordadas as
principais questes do escopo do trabalho, notadamente as
possibilidades e os limites das estratgias para elevar a
capacidade de incluso social do setor turstico brasileiro.
Na segunda parte, so sugeridas dez estratgias para
valorizar a brasilidade e construir o capital social da cadeia
do turismo.
Antes destas duas partes, porm, apresentado um marco
referencial em que, de maneira sucinta, so abordadas
algumas questes sobre a natureza e as caractersticas das
atividades vinculadas cadeia do turismo e sobre as suas
possibilidades de gerar incluso social.
A forma de apresentao do texto o mais itemizada possvel
tem o propsito de apoiar a sua discusso, permitindo
centrar o seu foco em questes especificas facilmente
identificveis no texto.
1. Marco referencial
Natureza e caractersticas das atividades do
turismo
Natureza das atividades
Sob a tica do turista, as finalidades da sua viagem
so, basicamente, de natureza recreativa descanso,
lazer, frias etc. e, em grau menor, de natureza
profissional.
39
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O turismo facilita o conhecimento de outros pases,
permite entrar em contato com outros povos e,
promove intercmbio entre culturas diferentes.
Mas, as suas atividades so de natureza econmica e
esto voltadas para a atrao, a prestao de servios
e a satisfao das necessidades dos turistas.
Importncia e dinamismo do setor
Desde 1987, o setor turstico se converteu no primeiro
setor econmico com uma participao de 12% no
PIB mundial e naquele com crescimento mais
espetacular: o seu fluxo turstico internacional
aumentou de 25 milhes, em 1950, para 694 milhes
em 2003. E a sua receita turstica, de U$ 2,1 bilhes,
em 1950, para 514,4, em 2003.
Estima-se que o turismo internacional representa
menos de 20% do turismo mundial, ou seja, o mercado
turstico domestico equivale a mais de quatro vezes o
porte do mercado turstico internacional.
Faz parte da base econmica
O turista, por definio, realiza os seus dispndios fora do
lugar em que reside. Nos espaos tursticos receptivos,
portanto, a receita turstica gerada por dispndios de pessoas
que no residem neles. Assim, as atividades vinculadas ao
turismo so atividades de exportao, in loco, de bens e de
servios produzidos localmente.
Transbordamento econmico
O turismo gera receitas tursticas diretas, atravs dos
dispndios dos turistas. Mas gera, tambm, receitas indiretas,
atravs das compras realizadas pelas empresas do setor
40
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
turstico aos seus fornecedores, e receitas induzidas, geradas
pelo efeito multiplicador das receitas diretas e indiretas sobre
o resto da economia. Portanto, o conjunto das atividades
vinculadas cadeia do turismo tem um elevado poder de
alavancagem sobre o desenvolvimento econmico.
Indutor de desenvolvimento local
O desenvolvimento turstico de um territrio tem como base
o potencial turstico dos seus ativos endgenos naturais e
culturais que constituem, por isso mesmo, a sua oferta
primria de recursos tursticos. Neste sentido, o turismo pode
ser utilizado como eixo estratgico do desenvolvimento local,
nos territrios vocacionados para este setor.
Baixo custo de oportunidade
O elemento bsico que fundamenta o produto turstico o
territrio, as suas condies climticas, a sua ambincia, a
sua ocupao, o seu patrimnio histrico. E a maioria dos
insumos tursticos do territrio utilizados na oferta e no
consumo do produto turstico no tem uso econmico
alternativo, o que confere ao seu uso pelo turismo, um baixo
custo de oportunidade.
Atividades intensive trabalho
A maioria das atividades da cadeia do turismo so intensive
trabalho, com baixa densidade de capital. , portanto, um
setor com elevado potencial para a gerao de novas
oportunidades de trabalho produtivo no territrio.
Capacidade de incluso social
As caractersticas do setor turstico j assinaladas base
endgena do seu desenvolvimento, baixo custo de
41
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
oportunidade e capacidade de gerao de oportunidades
de trabalho convertem o turismo num dos setores
econmicos com maior capacidade de gerar incluso social.
Possibilidades e limites do desenvolvimento
turstico como estratgia de promoo da
incluso social
Possibilidades
As possibilidades de contribuio do desenvolvimento
turstico gerao de incluso social esto vinculadas s
suas caractersticas, a maioria delas j citada anteriormente:
42
A dependncia do setor em relao aos recursos
endgenos do territrio. O turismo empodera o
territrio. Quem quiser usufru-lo, ter de visit-lo,
vivenci-lo e consumi-lo. E, por tanto, realizar
dispndios nele.
A sua capacidade de transformar o meio ambiente e a
cultura locais em ativos estratgicos de
desenvolvimento.
A sua maior dependncia dos atores locais vis-a-vis
de outros setores econmicos que os empodera e
lhes aumenta a sua capacidade de participar nos
processos decisrios locais.
A natureza intensive trabalho que caracteriza a maioria
das suas atividades.
As possibilidades de emprego de mo-de-obra local
como fator de agregao de valor turstico.
O elevado transbordamento da receita turstica sobre
o territrio em que o espao receptivo se localiza.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O estmulo ao empreendedorismo local induzido pela
demanda turstica no destino receptivo.
A participao de organizaes das comunidades
locais na conservao dos espaos localizados no
entorno dos atrativos e dos espaos de visitao
turstica.
Limites
As atividades de alguns elos nobres da cadeia do
turismo freqentemente se localizam fora do espao
receptivo do destino turstico, tais como, as atividades
de captao turstica, atravs de operadoras e agncias
de viagens emissivas e o transporte areo entre os
espaos emissivos e os destinos receptivos.
Baixa participao da massa salarial sobre o valor
agregado, em algumas das atividades estratgicas da
cadeia do turismo, notadamente nos meios de
hospedagem de grande porte.
O turismo de simples visitao a um atrativo turstico,
derivado de outro destino receptivo, quase no agrega
valor econmico nem promove, portanto, incluso
social ao territrio onde se localiza o atrativo.
As caractersticas da demanda turstica do mercado
domstico baixo nvel mdio de renda e hbito de
hospedagem em casas de amigos e parentes
restringem, significativamente, a sua capacidade de
transbordamento econmico sobre o territrio.
A baixa capacitao dos agentes econmicos locais
tende a reduzir a sua capacidade de resposta aos
estmulos gerados pela demanda turstica e, por vias
43
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
de conseqncia, a diminuir, tambm, o poder de
alavancagem do turismo sobre o desenvolvimento
econmico e social do territrio.
O baixo nvel de organizao das comunidades locais
capital social pode frustrar a sua participao nos
processos de preservao dos atrativos tursticos e de
outros espaos de visitao turstica.
A natureza empresarial das atividades vinculadas
cadeia do turismo e a rigidez que caracteriza as
variveis determinantes da sua viabilidade econmica
e turstica localizao, dotao e qualificao dos
seus insumos tursticos, e competitividade dos seus
produtos entre outras no favorecem, em principio,
a capacidade de incluso social do turismo.
Finalmente, o principal limite ao desenvolvimento
turstico como estratgia de promoo da incluso
social reside na sua dificuldade de alcanar um porte
compatvel com as dimenses socioeconmicas do
territrio. Para gerar incluso social significativa, o
turismo tem que gerar desenvolvimento produtivo
similar ou maior. E, para tanto, necessrio que o
territrio tenha uma dotao de recursos tursticos e
umas condies de desenvolv-los compatveis com
o porte do destino turstico que se pretende alcanar.
Duas referncias internacionais de
desenvolvimento turstico
A anlise sumria das experincias de desenvolvimento
turstico da Espanha e do Mxico podem contribuir a
apreender melhor a importncia que tem o porte de setor
turstico e as condies objetivas para a sua promoo, tanto
sobre a alavancagem do desenvolvimento econmico de
44
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
um pas como sobre a capacidade de gerar incluso social
para a sua populao.
A experincia espanhola
Resultados alcanados
Em 1950, a Espanha, em pleno regime franquista, era
um pas praticamente ausente do circuito turstico
internacional. Neste ano estar superando os 55
milhes de turistas, frente a uma populao estimada
em 42 milhes de pessoas.
Neste ano, o fluxo turstico estar gerando uma receita
cambial de mais de U$ 45 bilhes, a segunda maior
entre os pases receptivos, logo atrs dos Estados
Unidos.
Existe unanimidade dos analistas em apontar o
crescimento turstico como o eixo determinante do
extraordinrio desenvolvimento econmico da
Espanha, nas ltimas quatro dcadas.
No existem dvidas, tambm, sobre o impacto que
teve o crescimento do turismo sobre a incluso social,
na Espanha. Mas, este impacto foi mais indireto e
menos relevante, que sobre o desenvolvimento
econmico.
Fatores explicativos
O processo de desenvolvimento turstico da Espanha
foi iniciado num contexto excepcionalmente favorvel:
boom do turismo massivo de sol e praia, acessibilidade
da Espanha para os ricos mercados da Europa Central
e Nrdica e condies de competitividade na qualidade
e no preo dos seus produtos.
45
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
A natureza do fluxo turstico recebido famlias de
elevado padro de renda que iam passar as frias nas
suas praias e a sua contribuio gerao de uma
elevada receita turstica
Praticamente, todos os benefcios gerados pelo turismo
foram internalizados, gerando grande transbordamento
econmico e social sobre o territrio espanhol.
O processo de desenvolvimento turstico da Espanha
foi gerado num contexto sociopoltico amplamente
favorvel: marcantes transformaes polticas, sociais
e culturais, e aporte macio de capitais gerados,
primeiro, pelos emigrantes espanhis aos pases mais
ricos da Europa e, depois, pelos recursos oramentrios
da UEE (Unio Europia).
A experincia mexicana
Resultados alcanados
46
O Mxico , de longe, o principal pas receptivo da
Amrica Latina, com um fluxo turstico anual de quase
vinte milhes de turistas.
, tambm, o pas da Amrica Latina com maior
receita cambial gerada pelo turismo (prxima a U$
10 milhes).
O setor turstico contribuiu, de modo positivo, ao
desenvolvimento econmico do pas, principalmente
pela sua contribuio balana de pagamentos.
Teve um papel relevante no processo de
descentralizao da ocupao e desenvolvimento dos
territrios do litoral, mas ainda de um modo incipiente
e pontual, atravs dos centros tursticos integralmente
planejados.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Teve um papel menor na sua contribuio gerao
de incluso social.
Fatores explicativos
O processo de desenvolvimento turstico do Mxico
foi iniciado num contexto turstico propicio, mas
menos favorvel do que na Espanha. O seu principal
mercado, EEUU, tinha menor porte, maiores
dificuldades de acessibilidade e alternativas nacionais
de destinos de praia.
O porte alcanado pelo setor turstico do Mxico
em relao dimenso da sua economia foi
comparativamente menor do que na Espanha, razo
esta que explica o menor grau de contribuio do
turismo ao desenvolvimento socioeconmico do
Mxico.
A estratgia adotada para o desenvolvimento turstico
do pas criao de centros tursticos integralmente
planejados facilitaram a atrao do turismo
internacional mas dificultaram e delimitaram a difuso
dos benefcios econmicos e sociais pelo pas.
As atividades estratgicas da cadeia turstica ficaram
nas mos de empresas internacionais.
E, final e principalmente, no Mxico, a dimenso e a
profundidade da excluso social eram
incomparavelmente maiores e de maior dificuldade
de superao do que na Espanha.
2. O desenvolvimento turstico como
estratgia de incluso social no Brasil
Esta parte tem como foco o prprio escopo central do artigo
e nele so abordados, seguidamente, a contribuio que o
47
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
setor turstico tem dado incluso social, as possibilidades
e limites das estratgias propostas para elevar a capacidade
de incluso social do setor turstico e os processos de
promoo das referidas estratgias.
2.1 Contribuio do Setor Turstico do Brasil
Promoo da Incluso Social
A quase totalidade de informaes disponveis no Brasil sobre
o setor turstico dizem respeito aos seus fluxos tursticos. Esto
disponveis, tambm, mas em menor numero, informaes
econmicas relacionadas com o turismo. No entanto, so
raras, dispersas e pontuais as informaes relativas aos
impactos sociais do turismo, o que dificulta identificar o
grau de contribuio do setor turstico do Brasil promoo
de incluso social.
Contribuio Geral
Vis-a-vis de outros setores da economia brasileira,
existe consenso generalizado de que o setor turstico
tem caractersticas diferenciadas tais como a natureza
intensive trabalho da maioria das suas atividades e as
possibilidades de emprego de mo-de-obra local
que o tornam potencialmente capaz de contribuir
promoo da incluso social no pas.
Mas, ao mesmo tempo, no tem sido apontado como
um setor que, efetivamente, tenha dado uma
contribuio histrica promoo da incluso social
no pas.
Fatores Explicativos
Porte e Concentrao do Turismo Receptivo Internacional
48
O fluxo turstico receptivo externo alcanou o nmero
de 4.1 milhes de pessoas, em 2003, o que
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
representou uma participao marginal de apenas
0,6% sobre o mercado internacional.
Aquele fluxo gerou uma receita turstica de U$ 3,4
bilhes, alcanando uma participao de apenas 0,7%
sobre a receita total gerada no mercado turstico
internacional.
O turismo receptivo internacional se concentra nos
estados mais ricos do pas e, principalmente nas suas
capitais. Quatro estados, So Paulo, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Paran receberam 88% do fluxo
turstico internacional, em 2003.
As caractersticas do mercado domstico
Baixo nvel de renda dos turistas do mercado domstico:
Em 2001, 52% destes turistas tinham uma renda mdia
mensal igual ou inferior a quatro salrios mnimos.
Baixa capacidade de dispndios com turismo: em
2001, o dispndio mdio dirio por turista foi de
apenas R$ 23,50.
Hbitos de hospedagem: Em 2001, quase a metade
dos turistas do mercado domstico se hospedaram em
casa de amigos e parentes.
A participao do mercado turstico domstico na
formao do PIB do Brasil estimada entre 2 e 2,5%.
Forte concentrao espacial, mesmo que em menor
grau do que o turismo internacional. Os quatro estados
com maior participao no mercado receptivo So
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia
absorveram quase 55% do fluxo turstico total do
mercado interno, em 2001.
49
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Contribuio em regies e destinos especiais
Para a regio Nordeste, o turismo vem tendo uma
importncia comparativa maior:
No Nordeste, o PIB turstico gerado pelo mercado
domstico vem tendo uma participao estimada de
6,5% sobre o PIB regional (no Sudeste, esta
participao estimada em 1,8%).
O Nordeste, como lugar de frias, vem assumindo,
gradativamente, em relao ao resto do Brasil, o
mesmo papel que, no passado, desempenharam os
pases do Mediterrneo, em relao ao mercado dos
pases do Centro e Norte da Europa.
O setor turstico, portanto, vem assumindo um papel
de transferncia de renda e de emprego dos estados
mais ricos do Sul e Sudeste do Brasil, para os estados
mais pobres do Nordeste.
Para destinos tursticos consolidados j tradicionais ou mais
recentes, tanto de interior (serra gacha e destinos de serra
prximos a So Paulo e Rio de Janeiro) como de litoral (em
Santa Catarina, Rio de Janeiro e no litoral nordestino), o
turismo a base da sua economia e a principal fonte de
emprego direto e indireto e de renda para a sua
populao.
Contribuio especfica para grupos sociais excludos
As informaes secundrias disponveis no revelam
contribuies diretas significativas do turismo incluso
social de grupos marginalizados. No entanto, o
desenvolvimento do setor turstico, no passado recente, tem
50
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
beneficiado agentes e grupos sociais de menor poder
aquisitivo, tais como:
Moradores que residem no entorno de destinos
tursticos de praia tem aumentado as suas
oportunidades de trabalho em atividades auxiliares
compatveis com o seu grau de capacitao.
Produtores de artesanato, grupos culturais e colnias
de pescadores prximos a destinos tursticos tem visto
ampliada a demanda por seus produtos.
Pessoas que trabalham em atividades perifricas da
cadeia do turismo, como motoristas de txi, guias
informais, vendedores ambulantes e outros, tm-se
beneficiado com a demanda gerada pelo incremento
dos fluxos tursticos.
O crescimento mesmo que em nvel incipiente de
segmentos tursticos alternativos como turismo rural
e turismo de natureza, vem contribuindo
desconcentrao dos fluxos tursticos e conseqente
gerao de oportunidades novas de trabalho em reas
de interior carentes de oportunidades.
Ambivalncia de contribuio de atividades induzidas
pelo Poder Pblico
A promoo do turismo de eventos, to ao gosto de
estados e municpios e apesar dos seus impactos
aparentemente espetaculares gera resultados imediatos
ambivalentes os custos de promoo e o
desconsumo que gera em outros pontos comerciais
superam, com freqncia, o consumo induzido e
no ajudam a criar condies de sustentabilidade para
os destinos tursticos que se tenta promover.
51
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O turismo de visitao a cidades ou atrativos tursticos
promovido por intermdio de festejos e outros
incentivos tem um poder muito reduzido de
contribuio ao seu desenvolvimento, quando no
acompanhado da implantao de meios de
hospedagem. O turismo de simples visitao, sem
pernoite, gera apenas dispndios tursticos marginais.
Balano conclusivo
A baixa contribuio do setor turstico brasileiro
promoo da incluso social pode ser atribuda, em
parte, ausncia de polticas pblicas voltadas para o
setor turstico com o objetivo especifico de
incrementar a sua capacidade de incluso social.
Mas, nas condies brasileiras, deve ser atribuda, de
modo determinante, incapacidade dos agentes
envolvidos na cadeia do turismo privados e pblicos
de aproveitar o potencial da sua dotao e
diversidade de recursos para construir um setor
turstico, de parte tal, que o credencie a alavancar o
desenvolvimento econmico e social do pas.
2.2 Possibilidades e limites das estratgias
para elevar a capacidade de incluso social do
setor turstico
Consoante o balano conclusivo precedente, a elevao da
capacidade de incluso social do setor turstico deveria passar
por uma estratgia global formada por duas vertentes:
52
Uma vertente principal, focada na elevao do porte
do setor turstico brasileiro, com base no potencial
dos seus recursos tursticos tanto para o mercado
internacional como para o mercado domstico.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Uma vertente complementar focada no apoio e
incentivo s atividades dos segmentos tursticos que,
pela sua natureza, tem maior capacidade especfica
de incluso social.
No entanto, aqui sero abordados, apenas, as
potencialidades e os limites da brasilidade e do capital social,
como ncoras de um desenvolvimento turstico gerador de
incluso social, conforme aponta o Termo de Referncia do
presente trabalho. Na verdade, a estratgia de
desenvolvimento turstico ancorada na brasilidade e no
capital social permear as duas vertentes da estratgia global
acima assinalada. Servir, tanto para apoiar o
desenvolvimento turstico em si, quanto para aumentar a
sua capacidade de incluso social.
A brasilidade como ncora do desenvolvimento
turstico
O conceito de brasilidade
No existe consenso estabelecido sobre o conceito de
brasilidade, no contexto do mercado turstico. Para efeitos
do presente artigo, a brasilidade envolve, entre outros, os
seguintes componentes:
Na dimenso fsico-territorial:
A sua dimenso continental.
A diversidade climtica, geogrfica e
geoambiental presente no pas continente.
Os seus tradicionais e conhecidos atrativos
tursticos (Amaznia, Foz de Iguau e Pantanal),
marcados pela abundncia de gua doce,
elemento estratgico para a sobrevivncia do
planeta.
53
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O seu litoral de praias tropicais, ainda
surpreendentemente pouco conhecidas nos
espaos emissores do mercado internacional.
Na dimenso histrica e cultural:
A sua formao histrica, com a fuso de trs
raas e a contribuio posterior das migraes
da Europa e da sia.
A sobrevivncia de comunidades tradicionais
com preservao relativa da sua identidade
cultural.
As suas expresses culturais mais conhecidas e
reconhecidas: msica, dana, carnaval e futebol.
A terra da convivncia de civilizaes,
caracterstica da brasilidade de elevado valor
estratgico, num mundo marcado pelo choque
crescente entre civilizaes.
Na forma brasileira de ser
Simptico, acolhedor, comunicativo (como a
maioria dos povos latinos).
Sensvel, intimista, doce (como talvez nenhum
povo latino seja).
Intuitivo, criativo, surpreendente, d vida nova
a cada novo dia.
Tranqilo, irnico, autogozador, desdramatiza
o lado negativo do cotidiano.
A Brasilidade perante o mercado turstico internacional
Potencialidades
Entre os atributos da brasilidade, aqueles que tm ou podem
vir a ter maior capacidade de atrao turstica sobre o
mercado internacional so:
54
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O Brasil continente, terra das diversidades climticoambientais, raciais, culturais e visuais.
O Brasil terra das guas e do verde: o maior rio, o
maior litoral tropical, o pulmo do planeta.
O Brasil, terra de convivncia de civilizaes, bero
do novo mundo que possvel.
O jeito brasileiro de ser, um canto celebrao da
vida.
A sua voz, o seu som, a sua expresso corporal, o seu
futebol.
Impactos potenciais
A efetiva e eficiente explorao dessas potencialidades no
mercado internacional poder gerar, entre outros, os
seguintes impactos principais:
Sobre o desenvolvimento turstico do Brasil
Reposio do produto Brasil no mercado
internacional, com uma imagem nova, verdadeira e,
por isso mesmo, mais rica e atraente.
Conexo do Brasil com os segmentos tursticos mais
dinmicos do mercado internacional e com o
segmento convencional de praia onde o pas ainda
no est suficientemente posicionado.
Insero definitiva do Brasil no mercado turstico
internacional, como destino receptivo relevante e de
oferta diversificada e de qualidade.
Desenvolvimento do turismo receptivo internacional,
em novos patamares para alcanar 10, 20 milhes
de turistas, em mdio e longo prazos tornando-o
setor estratgico para o prprio desenvolvimento
econmico e social do Brasil.
55
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Sobre a capacidade de incluso social do turismo
Salto para patamares mais elevados da receita e do
emprego geradas pelo turismo internacional.
Descentralizao espacial com interiorizao e
melhor distribuio territorial da receita e do emprego
gerados pelo turismo internacional.
Maior e melhor distribuio sobre o territrio, do
transbordamento econmico gerado pela demanda
turstica internacional.
Ampliao das oportunidades de obteno de renda
nas comunidades tradicionais (sociedades indgenas
e comunidades quilombolas) geradas (1) pelo
incremento da visitao turstica (de fluxos derivados
de destinos tursticos prximos), (2) pelo incremento
da produo e comercializao (nas prprias
comunidades ou nos destinos tursticos prximos) de
produtos e utenslios de seu uso tradicional e (3) pela
transferncia de recursos por parte do trading turstico
e/ou governos locais, por conta da sua contribuio
ao incremento do poder de atrao do destino (espcie
de pitada adicional de sofisticao e exotismo) e ao
incremento da permanncia mdia do turista no
destino.
Limites
As potencialidades da brasilidade tem, evidentemente, os
seus limites entre os quais, cabe salientar:
Limites no seu potencial de desenvolvimento turstico
56
Limites expanso da demanda turstica internacional
derivados de sua posio geogrfica no mercado:
Distante dos principais centros emissores do mercado
internacional (Europa, Estados Unidos e Japo) e
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
reduzida capacidade emissora dos pases vizinhos (
exceo da Argentina).
Limites descentralizao espacial e criao de
novos destinos receptivos nacionais, por conta dos
custos adicionais envolvidos no seu planejamento e
na implantao da sua infra-estrutura e nas
dificuldades de manuteno de uma ambincia de
segurana, em todos eles.
Limites na sua contribuio ao incremento da capacidade
inclusiva do turismo
Carter privado das atividades vinculadas cadeia do
turismo. Os seus empreendedores podem ter viso
solidria. Mas o seu foco bsico se manter na
conquista do mercado e na maximizao dos
benefcios prprios.
A ambincia socioeconmica e institucional, nos
espaos receptivos (como reflexo do quadro nacional)
no favorecem a capacidade de incluso social do
turismo: salrios baixos, baixa participao da massa
salarial no valor agregado e baixa contribuio fiscal
(por concesso de incentivos ou por sonegao
consentida).
Reduzido valor agregado no turismo de simples
visitao a atrativos tursticos.
Os limites incluso social de comunidades
tradicionais, pelo turismo, podem ter a sua origem,
tanto na demanda ainda incipiente e pontual,
dificultando a formao de fluxo regular de turistas e,
portanto, de renda como em formas inadequadas
de oferta que podem redundar na explorao do
produto por empresrios inescrupulosos ou na
aculturao perversa das prprias comunidades.
57
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
A brasilidade perante o segmento do mercado
domstico formado por pessoas com hbito de viajar
ao exterior
Possibilidades
Promover e valorizar atrativos tursticos da brasilidade de
interesse nacional com potencial de atrao para este
segmento mais nobre da demanda turstica domstica,
cabendo salientar:
Praias tropicais do Nordeste dotadas de modernos
equipamentos hoteleiros.
Cruzeiros martimos no litoral do Nordeste (incluindo
a ilha de Fernando de Noronha) e do Sul/Sudeste.
Espaos receptivos e roteiros tursticos na Amaznia,
no Pantanal e em Foz de Iguau.
Roteiros tursticos envolvendo cidades histricas de
Minas Gerais e do Nordeste.
Destinos e roteiros de natureza de maior poder de
atrao: Chapadas do Planalto Central, Serras do Sul,
Regio dos Lagos do So Francisco, Stios
Arqueolgicos de elevado valor histrico (como Serra
da Capivara).
Impactos potenciais
58
Poder desviar, para o mercado nacional, fluxos
tursticos e recursos que seriam normalmente
direcionados para destinos tursticos externos.
Portanto, aumentar a receita e o emprego gerados
pelo mercado domstico.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Ajudar a promover distribuio de renda, dentro do
pas, das regies mais ricas basicamente emissoras
para as regies mais pobres basicamente receptivas
(sobretudo o Nordeste).
Limites
A carncia de destinos e atrativos tursticos nacionais
aparelhados para receber um segmento turstico
extremamente exigente em sofisticao e qualidade.
Distncias significativas entre os espaos emissores do
Sul/Sudeste e os espaos receptivos do Norte/Nordeste
que oneram estas viagens tursticas e lhe tiram
competitividade vis-a-vis de destinos tursticos mais
prximos (localizados nas prprias regies Sul/Sudeste)
e at de destinos internacionais localizados no cone
sul (Buenos Aieres, Bariloche e Punta del Este, entre
outros).
A incluso social gerada por este segmento do mercado
domstico, ancorado na brasilidade, ser indireta, ou
seja, atravs do incremento provocado na receita
turstica e no emprego.
A brasilidade perante o segmento mais popular do
mercado domstico
Potencialidades
O segmento popular do mercado domstico formado
por mais de vinte milhes de turistas.
um segmento com elevado potencial de crescimento,
tanto pelo incremento esperado da renda desta
populao como pela sua elevada propenso marginal
ao consumo de bens e de servios tursticos.
59
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
um segmento do mercado domstico com menor
grau de exigncia em relao ao valor turstico dos
atrativos, o que permite multiplicar a promoo de
atrativos tursticos de mbito regional e local.
Entre os atrativos tursticos da brasilidade que podero
ser promovidos para visitao turstica deste segmento
do mercado domstico, cabe assinalar:
Atrativos de valor histrico prximos ao lugar
de residncia.
Atrativos naturais prximos do lugar de
residncia: cachoeiras, lagos, rios,
microclimas, acidentes geogrficos e
outros.
Cidades prximas ricas em artesanato e
outros bens culturais.
Eventos e festejos de mbito regional e
at local.
Comunidades tradicionais: sociedades
indgenas, comunidades quilombolas e
colnias de pescadores.
Impactos potenciais
60
Aumentar, de modo direto, o fluxo turstico, a renda
gerada e o emprego. Em geral, as atividades voltadas
para os turistas com menor nvel de renda so mais
geradoras de emprego.
Diversificar e desconcentrar, espacialmente, a oferta
turstica para o mercado domstico.
Portanto, ajudar a promover uma desconcentrao
espacial dos fluxos tursticos, da renda e do emprego
gerados pelo turismo.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Dever incorporar na sua oferta turstica, recursos,
produtos e servios de segmentos sociais
marginalizados que favorecero a sua incluso social.
Limites
Reduzido poder de gastos tursticos das pessoas que
compem este segmento do mercado domstico.
Carter pontual/sazonal de boa parte das atividades
envolvidas neste segmento turstico e dificuldade
conseqente de gerar fluxos regulares de turistas e,
portanto, de trabalho e renda para as pessoas que
trabalham nelas.
Como em qualquer outra atividade, tambm neste
segmento turstico, parte significativa da renda turstica
gerada ser apropriada por agentes econmicos mais
articulados e capitalizados, reduzindo a sua
capacidade de incluso social.
O capital social como ncora do desenvolvimento
turstico
O capital social na cadeia do turismo
Baixo nvel de capital social
Como sabido, o nvel do capital social de um pas, de
modo geral, diretamente proporcional ao nvel do exerccio
de sua cidadania e de sua democracia participativa.
No o nico fator explicativo. Mas o longo perodo do
regime militar pelo que passou o Brasil, na segunda metade
do sculo passado, certamente contribuiu para obstaculizar
e retardar a construo do seu capital social.
61
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Assim como em outros setores econmicos, tambm no
setor turstico se refletiu o incipiente capital social do pas.
Principais manifestaes
62
Ausncia de relaes de cooperao entre os agentes
dos diferentes elos da cadeia do turismo. As empresas
vinculadas a um determinado elo visualizam as
empresas vinculadas aos outros elos da cadeia, no
como potenciais parceiros, mas como concorrentes
que podem disputar-lhe parte do valor agregado no
conjunto do setor. A disputa e a desconfiana tem
sido mais acirradas entre operadoras e agncias de
viagens, de um lado, e meios de hospedagem, do outro.
A falta de confiana e a recusa cooperao tem
estado presentes, tambm, entre as empresas de um
mesmo elo da cadeia do turismo. No setor hoteleiro
este quadro gera relaes quase selvagens como,
acordos sistematicamente violados por baixo do pano
ou aviltamento de tarifas, na baixa estao, por parte
dos hotis de categoria superior, para eliminar do
mercado meios de hospedagem de categoria inferior.
Desconsiderao do papel e das possibilidades de
cooperao dos agentes mais frgeis da cadeia turstica
(pequenos fornecedores, pequenos comerciantes, guias
informais, motoristas de txi e outros), por parte das
empresas tursticas de maior porte.
Baixo grau de organizao dos referidos agentes, assim
como das comunidades localizadas no entorno dos
atrativos tursticos e conseqente reduzido grau de
cooperao entre eles.
A desconfiana e a falta de cooperao sincera tem
inibido, tambm, a formao do capital
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
socioinstitucional. Os poderes pblicos tendem a
instrumentalizar politicamente o seu apoio eventual
aos agentes do setor turstico. E, como conseqncia,
os programas e projetos que explicitam este apoio
duram tanto quanto a prpria administrao que os
formula. Na administrao seguinte, viram papel
molhado.
Impactos negativos gerados
No parece exagero afirmar que o baixo nvel de
capital socioinstitucional na cadeia do turismo foi
fator determinante pelo reduzido porte alcanado por
este setor no Brasil, tanto quando comparado com
outros destinos do continente americano como,
sobretudo, quando comparado ao potencial turstico
da sua oferta primria de recursos.
Tem impactado, negativamente, tambm, a
capacidade de incluso social do setor. De maneira
indireta, pela baixa expresso econmica alcanada
pelo turismo e, de maneira direta, pela reduzida
incorporao de agentes vinculados a atividades
perifricas da cadeia do turismo.
Evoluo recente
No passado recente houve mudanas positivas que esto
ajudando a ampliar, ainda que de modo tmido, o capital
socioinstitucional da cadeia turstica:
O PRODETUR, lanado pelo Governo Federal,
envolve, tambm, as outras esferas do poder, assim
como os agentes da cadeia do turismo presentes nas
suas reas de atuao e as prprias organizaes sociais
das comunidades locais. E o que mais relevante, o
63
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
programa conseguiu perpassar varias administraes
pblicas sem mudanas de carter partidrio.
J parece estar consolidado um processo de crescente
participao e eventual cooperao entre os agentes
dos principais elos da cadeia do turismo, atravs de
congressos nacionais celebrados anualmente.
Foram criadas novas institucionalidades de carter local
os conselhos de desenvolvimento turstico e regional
como a CTI Nordeste que esto ajudando a ampliar
o capital socioinstitucional da cadeia do turismo.
Nos destinos tursticos mais desenvolvidos tm-se
criado associaes de empresrios vinculados ao setor
para, em conjunto, promover a sua ampliao e
sustentabilidade.
Em alguns destinos comeam a emergir de maneira
ainda tmida relaes de cooperao entre
operadoras de receptivo e hotis de maior porte, de
um lado, e agentes de empresas de menor porte, do
outro. O contrato de day use com pequenos hotis
localizados no meio rural constitui um bom exemplo.
As possibilidades de aumentar o capital social na
cadeia do turismo
So inmeras as possibilidades de aumentar o capital social
da cadeia do turismo, atravs de aes concretas, concebidas
e implementadas de maneira concertada. A seguir, so
relacionadas algumas dessas possibilidades:
64
Ajudando a construir uma ambincia social de
confiana e de cooperao entre os agentes dos
principais elos da cadeia turstica nacional para
pactuar estratgias partilhadas de apoio ao
desenvolvimento do setor turstico.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Ajudando a reproduzir essa ambincia entre os agentes
presentes em destinos tursticos relevantes do pas,
para reforar a sua cooperao e fortalecer a expanso
dos mesmos.
Apoiando a gerao de parcerias entre empresas
receptivas de grande porte operadoras e hotis,
principalmente e pequenas empresas com reduzido
poder de captao de turistas de segmentos tursticos
alternativos e/ou incipientes mas com possibilidades
de ofertar produtos tursticos complementares.
Estimulando, nos destinos tursticos, relaes de
confiana e de cooperao com os agentes vinculados
s atividades perifricas da cadeia do turismo.
Estimulando a participao das comunidades
localizadas no entorno dos atrativos tursticos: na
conservao e proteo ambiental do entorno
territorial, e na formao de uma ambincia social
que favorea as relaes de convivncia com os
turistas.
Impactos potenciais
Sobre o desenvolvimento do setor turstico
Facilitar o aumento dos investimentos realizados na
cadeia do turismo, pelo aporte de recursos prprios
das empresas nacionais, pelos financiamentos obtidos
junto aos bancos oficiais e pela atrao de recursos
privados internacionais.
Aumentaro as possibilidades de formao de parcerias
entre investidores proprietrios de reas e investidores
nacionais privados e/ou institucionais empresas
administradoras de meios de hospedagem e
65
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
operadoras com presena marcante nos principais
espaos emissores do marcado internacional.
Ajudar a fortalecer os elos estratgicos da cadeia
turstica brasileira (operadoras, administradoras e redes
hoteleiras).
Propiciar o desenvolvimento e consolidao dos
principais destinos tursticos emergentes, pela sinergia
criada com a ampliao do capital social nos seus
territrios.
Facilitar o desenvolvimento de segmentos tursticos
alternativos que, no presente, enfrentam dificuldades
de acesso ao mercado.
Propiciar uma maior integrao entre os diferentes
elos da cadeia turstica brasileira.
Sobre a sua capacidade de incluso social
66
De modo geral, a partir dos benefcios gerados pelo
fortalecimento e desenvolvimento do setor turstico:
Ampliao da receita turstica e do seu
transbordamento econmico sobre o territrio, maior
valor agregado e maiores oportunidades de trabalho.
Ajudar a criar novas oportunidades de trabalho e de
renda para as comunidades do interior, atravs da
expanso de segmentos tursticos alternativos, como
o turismo rural, o turismo de natureza e o turismo de
visitao a comunidades tradicionais.
Ampliar as oportunidades de mercado para pequenos
fornecedores que ajudam a complementar a oferta
dos destinos tursticos (artesos, pequenos produtores
de comidas e bebidas e outros).
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Criar oportunidades de incremento de renda para
pequenos agentes j includos, de maneira perifrica,
na cadeia dos atuais destinos tursticos do pas (guias
informais, motoristas de txi, vendedores ambulantes
e outros).
Ajudar a criar oportunidades de trabalho e de renda
para comunidades localizadas no entorno dos atrativos
tursticos, pelas suas possibilidades de participao na
preservao ambiental dos espaos receptivos.
Limites
As possibilidades de ampliao do capital social e do seu
potencial para o desenvolvimento turstico mais inclusivo
tm limites e restries. Entre eles, cabe salientar:
A fragilidade da presena de empresas nacionais em
elos estratgicos da cadeia do turismo,
especificamente:
As operadoras nacionais esto focadas
basicamente no mercado interno e no emissivo
para o mercado internacional.
No existem empresas nacionais especializadas
em administrao de hotis de categoria
internacional.
No existem redes hoteleiras brasileiras de porte
nacional. As que existiam no passado
definharam e as poucas novas que surgiram s
tm como vnculo a sua pertinncia a um
determinado grupo econmico.
O enraizamento de uma cultura tradicional em parte
significativa dos empresrios que atuam h muito
tempo no segmento de hotelaria:
67
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
68
Empresrios fechados nos negcios de famlia
Desconfiados e no cooperantes
Desatualizados em tcnicas modernas de gesto
Desarticulados do mercado
Sem viso de futuro
Forte enraizamento da partidarizao do poder nas
administraes pblicas que acabam contaminando
as polticas pblicas e solapando a sua credibilidade
perante a sociedade civil, em geral e, de modo
especfico, perante os agentes estratgicos da cadeia
do turismo.
Baixa capacitao de atores e frgil nvel
organizacional de segmentos em que atuam, que
dificultam a sua participao na cadeia do turismo e,
como conseqncia, inibem a capacidade de incluso
social do setor. Cabe citar, especificamente: os
segmentos tursticos alternativos de formao ainda
recente, as comunidades tradicionais, os pequenos
fornecedores complementares de bens e servios, os
agentes inseridos de modo precrio em atividades
perifricas da cadeia do turismo e as comunidades
que residem no entorno dos atrativos tursticos.
Riscos reais de tornar parcerias e acordos de
cooperao entre agentes da cadeia do turismo com
poder extremamente diferenciado, em instrumentos
de dominao e explorao dos mais fortes sobre os
mais frgeis.
Mesmo que estes riscos no se concretizem e mesmo
que os agentes mais frgeis da cadeia do turismo
venham a ser capacitados e fortalecidos, a sua
participao no processo de desenvolvimento turstico
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
do pas sempre ter uma funo complementar e no
determinante, em funo do porte e da natureza dos
elos que compem a cadeia do turismo. Isto permite
inferir que:
A construo do capital social ser mais relevante para
o processo de desenvolvimento turstico do que para
o incremento da capacidade de incluso social do
turismo, e
A capacidade de incluso social do turismo, no sentido
amplo criando oportunidades de trabalho,
agregando valor e distribuindo riquezas ser maior
do que a sua capacidade de incluso social especifica
criando oportunidades de insero para grupos
sociais especficos hoje marginalizados.
Os processos de promoo das estratgias de
incluso social
A promoo da brasilidade
Sob o ngulo da dimenso turstica, as duas formas bsicas
de promoo da brasilidade so: A promoo dos valores
tursticos da brasilidade nos principais espaos emissores do
mercado turstico internacional e nacional, e o apoio s
iniciativas empresariais voltadas para a explorao de
produtos/destinos com elevado contedo de brasilidade.
Promoo de brasilidade nos mercados emissores
No bojo do processo de implementao do Plano
Nacional de Desenvolvimento Turstico, o Ministrio
do Turismo/Embratur poder promover, em parceria
com os principais agentes da cadeia do turismo, a
construo de uma nova imagem do destino Brasil
69
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
que incorpore os atributos mais marcantes e com maior
potencial de atrao turstica da brasilidade.
O Ministrio do Turismo/Embratur, em parceria com
estados, municpios e agentes locais da cadeia turstica,
poder promover a reconstruo da imagem dos
principais destinos receptivos do pas, replicando a
imagem geral da brasilidade, mas com a incorporao
de elementos que melhor traduzam os valores
especficos da brasilidade local.
Na promoo do pas nos mercados externo e interno,
junto com a imagem geral da brasilidade, os rgos
oficiais e a iniciativa privada podero promover os
destinos receptivos nacionais com maior contedo de
brasilidade, maior poder de atrao turstica e maior
capacidade de incluso social.
Apoio s iniciativas de explorao turstica de
brasilidade
70
O Ministrio do Turismo e os rgos pblicos de apoio
ao turismo podero conferir prioridade ao
desenvolvimento de novos destinos tursticos que
envolvam produtos de brasilidade.
O Ministrio do Turismo, em parceria com estados e
municpios e com os agentes locais da iniciativa
privada vinculados ao setor, poder apoiar a
reestruturao da oferta turstica dos principais destinos
receptivos do pas, recheando-a de produtos que
melhor exprimam a brasilidade local.
Nas operaes de financiamento ao setor turstico, o
BNDES e os outros rgos oficiais de financiamento,
podero conferir prioridade aos projetos que
envolvam o uso, a valorizao e a explorao turstica
dos contedos da brasilidade.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
A construo do capital social
A ampliao do capital social na cadeia do turismo
envolver um processo de construo pedaggico,
como na maioria dos outros setores produtivos. A
confiana pressuposto para a cooperao e ponto
de partida para a construo do capital social no
se impe. Se conquista. No depende de pessoas ou
instituies individuais, mas de um querer coletivo.
Ela exige, por isso mesmo, uma ambincia social
propicia que deve ser construda gradativamente. No
Brasil, esta no ser uma tarefa fcil, porque exigir
mudanas profundas na natureza das relaes criadas
e enraizadas entre os atores estratgicos que
participam na cadeia do turismo.
A construo do capital social poder ser acelerada
atravs da estratgia de concepo e implementao
de projetos coletivos de interesse da maioria dos atores
da cadeia do turismo. O processo de implementao
do plano nacional de desenvolvimento turstico , pode
tornar-se ainda, uma oportunidade singular para a
viabilizao da referida estratgia.
O processo de implementao do plano nacional de
desenvolvimento turstico dever ter, como base, o
compartilhamento de todos os atores envolvidos, da
conscincia das potencialidades tursticas da
brasilidade.
Mas, a seguir, ser necessrio, durante o processo, que
os atores envolvidos na cadeia do turismo pblicos
e privados evoluam, da conscincia das
potencialidades, para a conscincia de construo de
um projeto comum, ou seja, para a intencionalidade
coletiva de aproveitar as oportunidades geradas pela
brasilidade.
71
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
No deslanchamento do projeto coletivo ter um papel
determinante a construo de uma viso de futuro
comum, at como fator de mobilizao dos atores
para a promoo de pactos que ajudem a realizar as
difceis, mas necessrias mudanas de postura e de
comportamento.
A partir deste ponto, o processo compartilhado de
implementao
do
plano
nacional
de
desenvolvimento turstico ir gerando as condies
de confiana e cooperao entre os atores que
permitiro, a mdio e longos prazos, ancorar o turismo
brasileiro no seu capital social.
Este processo, adaptado s condies especficas
regionais/locais, poder ser construdo, tambm, nos
principais destinos tursticos do pas, assim como nos
novos destinos a serem desenvolvidos e ancorados na
brasilidade.
3. Estratgias sugeridas
Neste capitulo so sugeridas algumas estratgias de
desenvolvimento turstico, ancoradas na brasilidade e no
capital social, que visam, por um lado, alcanar novos
patamares no porte do setor turstico brasileiro e, por outro
lado, conferir-lhe maior capacidade de incluso social.
A brasilidade e o capital social, como ancoras estratgicas
do desenvolvimento turstico tendem a criar sinergias que
se complementam. A brasilidade, revelando uma oferta mais
rica e diversificada de recursos, permitir ampliar o potencial
de atrao turstica do pas. O capital social, aumentando a
coeso e a cooperao entre os atores da cadeia do turismo,
ajudar a viabilizar o efetivo aproveitamento do potencial
turstico do pas. Por esta razo, a maioria das 12 estratgias
72
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
sugeridas esto ancoradas, conjuntamente, na brasilidade e
no capital social.
Em consonncia com as reflexes apresentadas no capitulo
anterior, parte das estratgias sugeridas tem como foco o
desenvolvimento do setor turstico que, de modo geral,
gerar incluso social. E outra parte, ter como foco o
incremento da capacidade de incluso social do setor
turstico, atravs da insero, na cadeia turstica, de grupos
sociais e comunidades mais vulnerveis.
Finalmente, conforme recomendao do Termo de
Referencia, as estratgias sugeridas tm cronograma
diferenciado para a sua implementao. Das 12 estratgias
sugeridas, quatro so estratgias para implementao em
curto prazo, quatro para implementao em mdio prazo e
duas para implementao em longo prazo.
O propsito perseguido com estas sugestes estimular o
debate entre os participantes do evento.
3.1 Estratgias de curto prazo
1 Construo compartilhada da imagem da brasilidade
para o mercado turstico internacional, com implementao
associada segunda estratgia, antecedendo-a, ou
independentemente dela.
2 Implementao compartilhada envolvendo, ao menos,
os agentes estratgicos vinculados ao setor do Plano
Nacional de Desenvolvimento Turstico, com estratgia
ancorada, de modo crescente, na brasilidade e no capital
social.
3 Articulao e apoio do Ministrio do Turismo aos
principais grupos hoteleiros do Brasil para promover a
formao de administradoras nacionais de hotelaria, visando
o fortalecimento deste elo estratgico da cadeia turstica.
73
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
4 Articulao da EMBRATUR com redes hoteleiras,
administradoras e grandes operadoras internacionais
principalmente da Europa para pactuar e promover uma
nova estratgia de promoo turstica do destino Brasil
mais barata e eficiente atravs do uso dos Diretrios de
Servios distribudos pelas operadoras nas suas redes
capilares de agncias de viagens, nos espaos emissores
3.2 Estratgias de mdio prazo
1 Reestruturao compartilhada envolvendo os rgos
estaduais e locais de turismo e os principais agentes da cadeia
turstica local da imagem, da oferta e da promoo dos
principais destinos tursticos do pas, em consonncia com
a nova imagem e com o plano nacional de desenvolvimento
turstico.
2 Promoo compartilhada Ministrio do Turismo/
Bndes/Agentes da cadeia turstica de um programa nacional
inovador de financiamento s atividades da cadeia do setor,
consoante com as estratgias e prioridades pactuadas no
referido plano .
3 Estmulo do Ministrio do Turismo e dos outros rgos
pblicos estaduais e municipais aos hotis e s empresas de
receptivo com atuao nos destinos tursticos, para a
celebrao de contratos de parceria de visitao e estadia
turstica com as pequenas unidades de setores tursticos
emergentes e com comunidades tradicionais localizadas no
entorno prximo, em bases justas e sustentveis, de modo a
promover a sua insero positiva na cadeia do turismo.
4 Articulao do Ministrio do Turismo e dos rgos
estaduais de turismo com os coletivos dirigentes dos destinos
tursticos e com as entidades de capacitao profissional,
para promover a capacitao e fortalecer a organizao das
comunidades tradicionais inseridas nos roteiros tursticos,
74
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
das comunidades localizadas no entorno dos atrativos e dos
espaos de visitao turstica, dos pequenos prestadores de
servios aos turistas e dos pequenos fornecedores das
empresas do setor turstico.
3.3 Estratgias de longo prazo
1 Articulao do Ministrio do Turismo/EMBRATUR e
dos rgos estaduais de turismo com universidades e
unidades escolares do ensino mdio para promover projetos
de visitao turstica dos estudantes a atrativos naturais,
histricos e culturais de interesse turstico regional e local,
localizados no seu entorno prximo.
2 Articulao do Ministrio do Turismo/EMBRATUR com
os agentes da cadeia do turismo para promover e incentivar
o turismo receptivo da terceira idade, tanto do mercado
domstico, quanto do mercado internacional, aproveitando
as excepcionais condies climticas do pas, principalmente
do nordeste, nas estaes de baixa freqncia turstica.
75
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo, Solidariedade e Incluso
Cristovam Buarque1
Durante algum tempo, trabalhei com turismo. Fui
economista-chefe do setor de avaliao dos projetos de
turismo do BID Banco Interamericano de
Desenvolvimento, em Washington, DC. Trabalhei com
alguns projetos grandes na Repblica Dominicana, no
Mxico, no Pelourinho, e adquiri gosto pelo setor e
conscincia da sua importncia. Com o tempo, fui levado a
outras atividades, mas fiquei surpreso e contente com convite
para participar deste seminrio Dilogos do Turismo uma
viagem de incluso, e apresentar este trabalho. Porque o
assunto proposto, Solidariedade e incluso social, rene
os principais temas aos quais venho me dedicando
atualmente.
Trabalho com incluso social como poltico, e com
solidariedade como dirigente de uma Organizao noGovernamental chamada Misso Criana, que atua para
colocar crianas na escola. Alm disso, esse convite me
permitiu trazer algumas das idias que venho apresentando
e discutindo por todo o Brasil: a adaptao das escolas s
exigncias do mundo de hoje. Enfim, ao me preparar para
vir at aqui e preparar este pequeno texto, percebi
nitidamente a relao de meus interesses atuais com o
turismo.
Primeiro, gostaria de dizer duas palavras sobre os dois
mundos que existem hoje, justamente quando o turismo
comea a se desenvolver mais fortemente. Embora o turismo
Senador pelo PDT/DF. Texto preparado com base em palestra
proferida no dia 9 de dezembro de 2005, no Hotel San Marco, em
Braslia, em evento organizado pelo Ministrio do Turismo e pelo
IBAM Instituto Brasileiro de Administrao Municipal.
76
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
sempre tenha existido, ele s deu um salto de quantitativo e
qualitativo depois da II Guerra Mundial. E foi a partir dos
anos 50 que ele comeou a se desenvolver nos nveis atuais,
por duas razes. Primeira, porque havia uma linha dividindo
o mundo, a linha da Cortina de Ferro, o Muro de Berlim,
que impedia que existisse turismo em todas as fronteiras.
Segunda porque os meios de comunicao e de transporte
eram muito mais rudimentares, limitados. A indstria de
aviao contava com pequenos aeronaves, e no existia tanta
integrao entre pases. A Comunidade Econmica Europia
ainda no existia. O que havia era um sonho de uma
comunidade comum no geral. Mas ainda no existiam os
planos de acabar com as fronteiras entre pases.
Vrios fatores foram os responsveis pela transformao do
turismo na atividade com a importncia que possui dos dias
de hoje, mas dois foram fundamentais: o avano dos meios
de transporte, com avies capazes de transportar centenas
de pessoas de uma s vez, e o avano nos meios de
comunicao, com o desenvolvimento da Internet e da
telefonia celular, que permitiram s pessoas viajarem com
muito mais conforto e segurana.
Outro fator surpreendente foi a queda das fronteiras
nacionais. Elas caram de duas formas: a queda do muro de
Berlim, com o fim da Cortina de Ferro, permitiu que uma
grande quantidade de reas, antes inacessveis, fossem
incorporadas indstria do turismo. Alm disso, a evoluo
dos meios de transporte facilitou a visita de lugares antes de
difcil acesso, como o Nepal, a ndia, at mesmo o Brasil. O
mundo tornou-se muito mais acessvel em relao ao turismo
em escala global.
Entretanto, apesar da queda dessas barreiras, surgiu um outro
muro, uma outra barreira, uma separao muito pior do
que a cortina de ferro: uma separao social. A idia que
77
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
prevalecia na dcada de 1950 era de que por volta do ano
2000 os pases seriam razoavelmente integrados socialmente,
e desintegrados nacionalmente. Entretanto, o que hoje se v
uma integrao entre as naes e uma desintegrao dentro
de cada pas e de cada sociedade. Caram as barreiras que
separavam os pases, as restries alfandegrias, as polticas
de moeda, mas criou-se uma barreira social que separa os
pobres dos ricos. Na verdade, hoje mais fcil fazer turismo
do outro lado do mundo, e ao mesmo tempo muito mais
perigoso atravessar a rua at a esquina na sua prpria cidade.
Criamos um mundo integrado e desintegrado. Geogrfica,
econmica, culturalmente integrado, mas desintegrado
socialmente. E apesar da queda da Cortina de Ferro, temos
hoje uma Cortina de Ouro que separa os ricos dos pobres.
No mais no sentido da mera desigualdade; muito mais
brutal do que isso. So fronteiras. H lugares em que o turista
no entra. Era mais fcil um ocidental atravessar o muro de
Berlim do que hoje algum subir determinados morros no
Rio de Janeiro. Pelo menos, antes havia regras. Voc chegava
na Embaixada da Alemanha Oriental e seu visto era recusado,
ou atendido. Hoje, voc chega a um morro e no sabe nem
quem deve consultar para conseguir uma licena para subir.
O mesmo muro que praticamente aboliu passaportes criou
a impossibilidade da convivncia entre os mais prximos.
Um exemplo disso o Mxico, que hoje exige visto dos
brasileiros, por presso dos Estados Unidos. As razes no
so mais polticas, so razes econmicas. Alm disso, as
exigncias hoje so maiores para se conseguir um visto para
os Estados Unidos do que antes para se entrar em um dos
pases da Cortina de Ferro. Mas no so exigncias polticas,
e sim exigncias sociais. Voc precisa declarar o quanto
ganha. No mais uma barreira racial, no porque somos
latinos, porque eles adoram os latinos ricos.
78
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Aquele mundo sem transporte de qualidade, dividido por
fronteiras nacionais que dificultavam o turismo, foi
substitudo por um mundo desintegrado socialmente.
Cortado, dividido, como se uma cortina serpenteasse atravs
do planeta, cortando todos os pases. Em pases como o
Brasil, uma imensa maioria pobre, e uma minoria rica.
Na Europa, a imensa maioria rica, mas existe uma pequena
parcela de pobres, basta lembrar as queimas de automveis
recentemente ocorridas em Paris. O fato que esses dois
mundos se estranham. O Planeta ficou dividido. De um lado,
um Primeiro-Mundo-Internacional-dos-Ricos, onde est
tudo integrado os softwares que utilizamos, os pontos
tursticos que conhecemos, os objetos do desejo foram
universalizados para esse Primeiro Mundo dos ricos, com
um bilho de pessoas que compem a base turstica. Esse
o Primeiro Mundo integrado, do qual o turismo gosta.
Mas ao lado desse Primeiro-Mundo-Internacional-dos-Ricos,
separado pela fronteira invisvel mas real da Cortina de Ouro,
h um arquiplago de comunidades pobres que no se
integraram. Porque os pobres do Nepal so completamente
diferentes dos pobres do Nordeste brasileiro. Mas um rico
da Nigria muito parecido com um rico europeu ou
brasileiro. Os pobres se diferenciam at mesmo dentro do
prprio pas. J os ricos so todos iguais, em todos os pases.
Pode ser que nem todos falem Ingls ainda, mas a forma de
pensar e de agir a mesma.
Esse um bilho de consumidores de bens sofisticados pode
dinamizar as indstrias sem incorporar novas pessoas. O que
implica uma mudana radical no pensamento da poca de
Marx e do socialismo da dcada de 1970, de que o
capitalismo para crescer precisava fazer crescer o nmero
de consumidores. Agora, h outra maneira de aumentar a
demanda pelos produtos sem aumentar o nmero de
79
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
compradores: fazer com que quem compra, compre cada
vez mais. O capitalismo contemporneo, restrito a uma parte
da populao, percebeu que j que no d para todo mundo
ter carro, melhor induzir a mesma pessoa a trocar de carro
a cada dois, trs anos, ou aumentar o nmero de carros da
mesma famlia.. Aumentou-se o tempo de vida dos ricos e o
nmero de carros que eles compram ao longo da vida. At
os anos de 1950, as famlias compravam um nico carro
para toda a vida. Hoje no mais assim. Cada pessoa que
consome, consome mais; e os que no consomem,
continuam sem consumir. Mesmo assim, a economia se
dinamiza.
A indstria hoje pode funcionar perfeitamente, sem
necessidade, ou quase, de trabalhadores. Mas o mais grave
que os trabalhadores hoje necessrios fazem parte do
mundo dos ricos. No h mais necessidade de trabalhadores
sem formao, salvo um ou outro servial. O resto feito
por mquinas, ou por trabalhadores especializados que j
tm um nvel de renda que lhes permita acesso ao mundo
dos ricos, como os trabalhadores do ABC paulista.
O comrcio tambm no precisa se misturar com o povo.
Porque parte das coisas vendida pela Internet, a outra
vendida nos shoppings centers. Na maior parte das cidades,
no mais preciso ir aos centros das cidades se misturar
com o povo. Os ricos se isolaram. Nem o comrcio nem a
indstria precisam dos pobres, nem de um processo de
integrao social, para se dinamizarem.
Ento a indstria e o comrcio podem sobreviver
perfeitamente sem derrubar a Cortina de Ouro. A incluso
social no necessria para dinamizar a indstria e o
comrcio. O setor econmico excludente. Ele poder em
breve construir uma cortina fsica, como, alis, j existe: os
80
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
shoppings, os vidros fechados dos automveis, os crachs
em cada universidade. Tudo isso uma maneira de se isolar.
Aqui entra o maravilhoso potencial tico e tcnico do
turismo. Um dos raros setores que fogem a essa regra
excludente, porque para se dinamizar plenamente, o turismo
precisa da incluso social e precisa da incluso social por
dois motivos. Primeiro, porque um setor que precisa de
mo-de-obra com diferentes nveis de especializao.
Diferentemente da indstria, um restaurante necessita tanto
do chef especializado quanto do lavador de pratos. No hotel,
so necessrios os doutores em administrao hoteleira e
muita gente apenas qualificada para fazer as camas. Assim
pode-se contratar gente de dentro do Primeiro-MundoInternacional-dos-Ricos, e gente do Arquiplago-Social-dosPobres, gente dos dois lados da Cortina de Ouro. Segundo,
porque ao mesmo tempo em que precisa de gente do lado
dos ricos, o turismo no se desenvolve plenamente enquanto
no se conseguir incluir os excludos socialmente.
Os resorts so os shoppings centers do turismo, mas
enquanto estiverem isolados das cidades onde se encontram,
no preenchero todo o seu potencial. Ao mesmo tempo
em que bom curtir o isolamento de um resort, ainda mais
interessante se hospedar em um resort que esteja a uma
razovel distncia dos pontos tursticos, onde se possa
circular; voc se isola na hora que quiser, mas tambm se
mistura na hora que quiser. Por isso, o turismo um setor
pluralista, faz parte de um modelo que deseja se dinamizar
economicamente, fazendo a incluso social. O comrcio e
a indstria so setores que podem se dinamizar sem
necessidade de promover a incluso social. No caso desses
dois setores, fazer a incluso social uma opo tica,
ideolgica, poltica. No caso do turismo, alm de ser uma
opo ideolgica, tambm uma necessidade econmica.
81
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Creio que dentro do setor de turismo a gente pode ter mais
esperana de encontrar pessoas que trabalham em busca da
incluso social por interesse, no apenas por solidariedade:
influindo nas polticas pblicas e na execuo de gestos
solidrios, para o dono da fbrica, no importa se existe ou
no esgoto na cidade, mas se houver uma epidemia de dengue
na cidade, o turismo prejudicado, pois o turista no vem.
Ento, importante que haja um sistema de esgoto, e o
controle da dengue. Se um operrio for assassinado, ele
substitudo, mas para o turismo a repercusso internacional
afasta os turistas. Com muita violncia, o turista no vem.
Outra coisa a educao da populao. Um povo bem
educado capaz de fornecer informaes tursticas. Se o
povo no for educado, o turista no consegue se comunicar
com ele, em primeiro lugar por causa do idioma. Se
tivssemos todos os jovens concluindo um bom Ensino
Mdio, seria possvel que eles pudessem dar ao menos uma
resposta em Ingls para uma pergunta de um turista.
Um pas sem educao, sem gua e esgoto de qualidade,
sem segurana, pode continuar, sem maiores dificuldades,
sua industrializao voltada para os ricos. Mas ele ser um
pas que espanta turistas. Essa a chance de o setor turstico
fazer crescer um movimento pela defesa das polticas de
incluso.
Durante muito tempo, acreditou-se que para fazer a
integrao social era preciso primeiro desenvolver a
economia. Mas isso no se comprovou. O crescimento da
economia no se distribuiu, nem se transformou em bemestar generalizado, para toda a populao. O que vai
derrubar a Cortina de Ouro um programa de polticas
pblicas, dirigidas diretamente s necessidades da populao
pobre: contratar pessoas para colocar gua e esgoto em todas
82
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
as casas do Brasil, garantir Bolsa-Escola, para que todas as
crianas estudem, pagar bem e exigir muito dos professores.
A um custo no muito elevado, durante dois anos, seria
possvel empregar alguns milhares de pessoas atualmente
desempregadas, garantindo-lhes uma renda que dinamizaria
a economia local, e que ao mesmo tempo o turismo, se elas
fossem empregadas para, por exemplo, construir sistemas
de gua e esgoto nas cidades ribeirinhas do Rio So Francisco
e para arborizar suas margens, recuperando esse rio para as
atividades tursticas, atualmente pouco utilizadas por falta
de condies sociais. Isso se chama incentivos sociais. Como
a Bolsa-Escola, que paga as mes para que os filhos possam
estudar; ou a Poupana Escola, que deposita um valor no
final do ano para o aluno que passar de ano, com a condio
de que o dinheiro s seja retira se ele concluir o Ensino
Mdio. Um programa de incentivos sociais ao custo de 5%
da renda nacional seria suficiente para erradicar a pobreza
do Brasil no prazo de poucos anos. E a conseqncia seria
no apenas uma sociedade mais justa, como tambm mais
dinmica em todos os setores, mas especialmente no setor
turstico.
Um setor especialmente decisivo na luta contra a pobreza
no Brasil, e que teria um impacto decisivo sobre a dinmica
do setor turstico, mais do que o setor industrial e mais do
que o comrcio, a educao bsica. verdade que
aumentou o nmero de alunos matriculados na educao
bsica, mas no aumentou a freqncia s aulas, nem a
concluso do Ensino Mdio, e muito menos a qualidade da
educao, especialmente se comparamos nossa situao com
a de outros pases que investiram e interferiram na educao
bsica. Pases que h 30 anos eram iguais ou menos
desenvolvidos que o Brasil, como o Mxico e a Coria do
Sul, e hoje esto muito distantes da nossa realidade.
83
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Para dar o salto de que precisamos, o caminho ser
nacionalizar a Educao Bsica brasileira. No possvel
que tenhamos uma educao de qualidade se ela depende
da vontade do prefeito, como se as crianas no fossem
brasileiras, e sim cariocas, caruaruenses, brasilienses. Alm
disso, preciso padronizar nacionalmente os salrios e a
formao dos professores, definir nveis mnimos nacionais
de aceitao dos prdios e equipamentos das escolas e um
piso nacional para o contedo das disciplinas, em cada srie.
Se o aluno precisa aprender a ler e a escrever, no possvel
ainda que existam crianas concluindo a 4 srie sem saber
ler e escrever. Todas as escolas tm de oferecer um contedo
mnimo para os alunos.
Essa idia de nacionalizar a Educao tambm composta
de uma Lei de Responsabilidade Educacional para os
prefeitos, nos mesmos moldes da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Somos um pas com uma minoria rica, que despreza a
maioria pobre. Por isso, essa minoria no se importa com a
qualidade da educao das crianas, filhos e filhas, da
grande maioria pobre. S que os profissionais do turismo
no tm o direito de esquecer a educao bsica. No por
solidariedade apenas, nem por generosidade, nem por
patriotismo. Basta que a causa seja um egosmo inteligente,
porque sem educao bsica de qualidade, o turismo no
ir florescer plenamente. Porque um aluno que tem uma
educao de qualidade, alm de demandar mais do setor
turstico, serve como vetor dinamizador do setor, na medida
em que o turista sabe que naquele pas a populao
educada.
Por isso vim aqui, acreditando que posso conseguir entre
vocs uma base de apoio para a Nacionalizao da Educao
Bsica. Alm disso, acho que vocs podem ter gestos
84
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
solidrios, e investir nisso. Vejo avies em que se pode doar
dinheiro para o Unicef, hotis que ensinam a criar suas
prprias ONGs, ou redes de hotis se reunirem para oferecer
apoio s crianas da regio, para que possam terminar seus
estudos. Alguns oferecem incentivos sociais para os filhos
de seus funcionrios. Isso cria inclusive um impacto
mercadolgico, uma simpatia pelos hotis que participam
de campanhas de solidariedade. O setor de turismo no geral
pode participar disso.
Deixo aqui o meu recado: primeiro, que o mundo se integrou
e se dividiu ao mesmo tempo possvel viajar ao redor do
mundo, mas no se pode virar a esquina com a mesma
segurana; segundo, que a indstria e o comrcio, para se
dinamizarem, podem se concentrar naqueles que consomem
mais cada vez mais; terceiro, que o turismo talvez seja o
nico setor que realmente precise da integrao social para
se desenvolver e ao mesmo tempo colabore com a integrao
enquanto se desenvolve, quarto, que vocs podem ser uma
base social mobilizada, para exigir e apoiar polticas pblicas
necessrias para a incluso social; quinto, que vocs podem
ser os prprios agentes da execuo de programas de incluso,
por meio de organizaes no-Governamentais que
funcionem em conjunto com os promotores tursticos.
Quero agradecer o convite que me permitiu realizar essa
reflexo, que me permitiu recordar o quando j trabalhei
com turismo como economista, unindo as lembranas de
minhas atividades do passado com aquelas que hoje exero
como poltico, preocupado com a integrao social e a
solidariedade.
Muito obrigado.
85
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
86
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Parte II
Palestras Exploratrias/Propositivas e
Resultados das Oficinas
87
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
88
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Igualdade Racial e Turismo
Lecy Brando*
Deus maravilhoso e continua me surpreendendo a cada
momento. Jamais poderia imaginar que um dia seria
convidada para participar de um encontro to importante
como este, visto que sou apenas uma compositora e cantora
popular que optou por usar a arte para defender os interesses
das minorias e das comunidades brasileiras. Agradeo ao
IBAM por esta oportunidade e fico feliz em perceber que o
Ministrio do Turismo tambm se importa com as questes
raciais e promove polticas pblicas sob o vis da incluso.
Em 21 de maro de 2003 (Dia Internacional pela Eliminao
da Discriminao Racial) foi criada pelo Governo Federal a
Secretaria Especial de Polticas de Promoo da Igualdade
Racial que comandada pela Ministra Matilde Ribeiro.
Esta Secretaria tem a finalidade de proteger os direitos dos
indivduos, dos grupos raciais e tnicos, com nfase na
populao negra. a primeira vez na histria deste pas que
um governo cria uma Secretaria deste nvel, mas no
esqueamos que esta ao resultante da luta do Movimento
Negro. Com muita honra fui convidada pela Ministra Matilde
Ribeiro para fazer parte do Conselho que rene negros,
indgenas, caboclos, ciganos, judeus, rabes e palestinos.
Da, a igualdade racial. Todos juntos lutando pela dignidade
de vida das cidads e cidados brasileiros.
* Cantora e Compositora e membro do CNPIR (Conselho Nacional de
Promoo da Igualdade Racial). O rgo ligado Seppir (Secretaria
Especial de Polticas de Promoo da Igualdade Racial) da Presidncia
da Repblica e participante das Conferncias Estaduais de Promoo
da Igualdade Racial.
89
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Quando este pas foi descoberto j era habitado pelos povos
indgenas, os verdadeiros donos desta terra. Paulatinamente
o colonialismo foi responsvel pelo doloroso processo de
genocdio destes povos.
J os negros foram trazidos da frica acorrentados nos navios
negreiros, nas piores condies. As elites coloniais
construram suas riquezas com o sangue, o suor e a fora
dos africanos que eram impiedosamente castigados pelos
capatazes quando cometiam a mnima falha. Foram tantos
os escravos, que hoje o Brasil o segundo pas de populao
negra, perdendo apenas para Nigria. O Brasil foi o ltimo
pas a dar liberdade aos escravos. E vocs perguntam: por
que os negros militantes no comemoram o 13 de maio?
Porque essa tal liberdade na verdade no nos favoreceu,
no nos desenvolveu. Os escravos no tinham terra, nem
condies de tocar suas vidas. Aps a Abolio os negros
foram marginalizados.
Mas qual a funo social desse povo ? A sensao de ser
dono de seu prprio corpo acabou por mostrar um negro
que podia cantar e danar a hora que quisesse e do jeito
que bem entendesse. Os grupos que no sculo XVII fundaram
os quilombos so revividos pelos negros forros que formam
as caixas de alforria, as comunidades de terreiro,
irmandades, entidades carnavalescas. Sabemos que no final
do sculo XIX, quando acontece a imigrao dos negros
baianos para o Rio de Janeiro, o samba de roda d origem
ao samba carioca nascido na Praa Onze, lugar na poca
chamado de Pequena frica onde Tia Ciata fazia as festas.
As festas, a culinria e a religio so fortes componentes da
presena africana na Histria do Brasil e certamente esto
entre os principais atrativos para que turistas de todo o mundo
se interessem por viagens para c.
90
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Muitos depoimentos apontam o nosso pas como o mais belo
do mundo. Temos todas as riquezas naturais, nosso folclore
riqussimo, nossa cultura vastssima, o clima
superagradvel, o povo lindo e sensual, o futebol
inigualvel.
Mas ser que no processo do desenvolvimento humano
sustentvel os setores social, cultural, esportivo, e ambiental
e o prprio turismo esto afinados com a igualdade racial?
Se Deus deu tudo ao pas, eu quero ver esse povo mais
feliz. Tem linguado, tem pintado, carapeba e camaro. Tem
banana, tem laranja, tem mangaba e tem mamo. Tem
coentro, tem chicria, tem alface e agrio. No entendo tal
histria .... no tem alimentao.
Quanta terra, quanta serra, cachoeira, rio e mar. Tem a praia,
tem lagoa, tem garoa e tem luar. Milho verde pra pamonha,
coisa boa de provar. O que falta vergonha pra essa vida
melhorar...
A grande importncia destes Dilogos de Turismo por uma
Via de Incluso que eles sinalizam uma grande
contribuio para o crescimento social e econmico das
comunidades no sentido de combater a excluso social. H
uma grande discusso no pas para que seja definido o que
verdadeiramente a democracia racial. Se no houver
direito social no h direito civil tampouco direito poltico.
Indiscutivelmente o povo negro o principal responsvel
pelas alegrias da nao brasileira.
na palma da mo, olha meu amor, neste meu Brasil todo
mundo bate tambor. Bumba-boi e boi-bumb. Ijex,
91
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
maculel, carimb, tambor de mina, ciranda, cateret. Tem
calango, tem fandango, tem partido versador. Neste meu
Brasil todo mundo bate tambor. Samba-enredo, sambareggae, caboclinho e lundu. Tem xaxado, tem chegana,
reisado e maracatu. Capoeira na Ribeira, sua bno tocador.
Nesse meu Brasil todo mundo bate tambor.
Apesar do batuque de todos esses tambores o que a gente
percebe que nos desfiles das escolas de samba cada vez
mais o embranquecimento est presente. Negros esto nas
baterias e negras nas alas de baianas porque no h outro
jeito. Mas como dirigentes e com voz de deciso nas grandes
escolas eles no aparecem. Alis, as poucas escolas presididas
por negros jamais conseguem vencer no Carnaval. O povo
s est presente nas arquibancadas da concentrao e da
disperso. A imprensa no fotografa passistas negros. Nas
matrias de Carnaval s se destacam as celebridades que j
esto na mdia nos 365 dias do ano. As rainhas de bateria
das comunidades foram trocadas por modelos e atrizes que
fazem do desfile uma ponte para aparecer nas capas de revista
aps o Carnaval. Mas quem fundou esta instituio chamada
Escola de Samba foi o povo negro.
Sabemos que a produo cultural traz para o Rio de Janeiro
recursos milionrios. No posso deixar de admitir que um
fato novo nas escolas tem sido positivo. So os projetos
sociais. Tudo comeou no Imprio Serrano, com o Imprio
do Futuro.
Depois veio a Mangueira com a Vila Olmpica e a Mangueira
do Amanh. Vrias escolas esto seguindo o exemplo.
Do outro lado da histria surge o interesse sexual pela mulher
negra do samba, conhecida como mulata exportao. Ela
92
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
serve para rebolar para o turista e fazer um programa. Para
casar ela dispensvel. E por falar nas mulheres preciso
que o Ministrio do Turismo atente para os hotis
chiqussimos que fazem esquemas com turistas e que, por
meio de computador, escolhem as mulheres que eles
querem, muitas das vezes moas pobres que so aliciadas
para a prostituio. Recentemente foi descoberta uma
quadrilha no litoral norte de So Paulo que embarcou cerca
de trinta mulheres para Espanha as quais tiveram seus
passaportes tomados por criminosos espanhis e ainda
receberam ameaas.
Em vez disto, se houvesse interesse no investimento nas classes
mais pobres, estas jovens poderiam receber ensinamento
para no futuro exercer funes de recepo, na gerncia e
capacitao em lnguas estrangeiras.
Dificilmente vejo pessoas negras como guias tursticos. Acho
at que deveria haver cotas na rede hoteleira de acordo com
a regio. De acordo com a populao negra de cada Estado
deveria haver o percentual nos hotis com incluso de
trabalho para que o turista visse a realidade do pas.
Nos esportes ainda acho tmida a participao das empresas
multinacionais j que elas so em largo nmero. Deveria
haver uma lei para que todas as empresas que viessem a se
instalar aqui tivessem a obrigao de investir em atividades
esportivas para as populaes carentes. Ainda acho tmida a
participao das empresas multinacionais j que elas so
em largo nmero
Olhando o tamanho do Brasil e sua produo cultural fico
me perguntando por que as pessoas no so aproveitadas
de fato para sobreviver dessa cultura. Todas as regies tm
seus ritmos, seus artesanatos, seus petiscos e suas roupas que
deveriam ser mais divulgados pela grande mdia.
93
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Um assunto bastante delicado e revoltante refere-se
discriminao aos turistas afro-descendentes mormente aos
que chegam da Nigria ou de Angola. A autoridade policial
generaliza a todos e os classifica de traficantes. As gerncias
dos hotis demostram mal-estar com a presena dos negros
africanos. Tratam com desconfiana, falam de m vontade
e no fazem nada para disfarar esse mau humor. Aqui em
Braslia por duas ocasies mulheres negras africanas foram
desrespeitadas por garons de um conhecido hotel e por
ocasio da Conferncia da SEPPIR um outro hotel tambm
discriminou indgenas e ciganos.
Segundo a anlise da Conselheira da SEPPIR Lcia Xavier o
turismo ser inclusivo quando significa resgatar a presena
e a obra da populao negra do Brasil recuperando sua
histria e sua participao na sociedade a exemplo das obras
de Aleijadinho e de outros que, com o seu legado,
colaboraram profundamente para o turismo no Brasil. Vejam
as baianas de acaraj de Salvador que valendo-se de seu
esprito empreendedor transformaram seus territrios de
trabalho e da convivncia social da cidade onde moram em
pontos tursticos. Outra frente necessria no campo do
turismo a ampliao dos postos de trabalho para negros,
especialmente em atividades que tenham visibilidade.
Faz-se necessrio que os departamentos de RH Recursos
Humanos da hotelaria brasileira, das lojas de shopping
center de todo o Brasil, dos restaurantes, e do comrcio em
geral, entendam que a populao brasileira tem
aproximadamente 50% de negros e negras e que inadivel
a admisso desses cidados e cidads nos seus quadros de
funcionrios. A gente precisa encontrar a gente em todos os
lugares.
94
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Gostamos de festas, de bebidas, de futebol, de carnaval.
Gostamos de educao, sade, moradia, segurana e,
principalmente, trabalho. O trabalho dignifica o cidado.
Cumprimento o Ministrio do Turismo que por meio do IBAM
promove esse encontro em que o dilogo se apresenta como
uma real via de incluso.
Deus deu tudo para o Brasil. E se Deus deu tudo eu quero
ver esse povo mais feliz convivendo com a igualdade racial.
95
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
GT: Igualdade Racial e Turismo
Perguntas orientadoras:
1. Como incentivar uma boa viagem aos
afrodescendentes e indgenas?
Diante do preconceito ainda existente e das desigualdades
nas oportunidades de viagem, o Ministrio do Turismo, para
incentivar uma boa viagem aos afrodescendentes e indgenas,
no mbito de suas competncias, dever buscar parcerias
para institucionalizar programas, projetos e aes para:
a)
produo de conhecimento sobre a prtica do turismo
pelos afrodescendentes e indgenas:
Recomendaes Operacionais
realizar estudos de demanda nessas comunidades
para melhor conhecer seus valores, interesses e desejos
de viagem.
b)
desenvolvimento de conscincia poltica e da
melhoria da auto-estima das etnias:
Recomendaes Operacionais
aes Operacionais
viabilizar aes de estmulo e valorizao das culturas
tnicas;
96
estimular e valorizar a criao de roteiros que
reconheam e valorizem as culturas tnicas;
estabelecer articulao com as comunidades tnicas
e com os organismos governamentais e nogovernamentais que apiam as etnias e grupos.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
c)
combate ao preconceito:
Recomendaes Operacionais
desenvolver e implementar campanhas de valorizao
dos turistas das diferentes culturas como, por exemplo,
O Melhor do Brasil o Brasileiro e j que os
brasileiros so ndios, brancos, negros, pardos, mulatos
e todos os descendentes de imigrantes, no somos
exticos e nem podemos criar esteretipos.
introduzir a discusso sobre o combate a discriminao
e o preconceito nos diferentes ambientes que tratam
do turismo;
promover a discusso sobre os valores tnico-culturais
nas disciplinas de histria e cultura brasileira, nas
escolas pblicas e privadas com relevncia para o
turismo;
estabelecer parceria com as organizaes
afrodescendentes, indgenas, os prestadores de servios
tursticos;
introduzir o tema do combate ao preconceito nos
Programas do MTur e parceiros.
d)
sensibilizao e mobilizao de afrodescendentes e
indgenas para a prtica do turismo:
Recomendaes Operacionais
realizar campanhas de conscientizao sobre os
benefcios e o direito de viajar;
estimular iniciativas de valorizao cultural, pela
viagem, priorizando crianas e jovens;
buscar
parceria
com
as
organizaes
afrodescendentes, indgenas e os prestadores de
servios tursticos.
97
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e)
fomento criao de produtos tursticos no
tradicionais e que viabilizem a insero das classes C,
D & E para os afrodescendentes e indgenas:
Recomendaes Operacionais
priorizar a criao, promoo e comercializao de
produtos tursticos adequados aos interesses tursticos
dos diferentes pblicos;
promover a oferta de produtos tursticos completos,
seguros e de qualidade;
estabelecer parceria com as organizaes
afrodescendentes, indgenas e os prestadores de
servios tursticos.
f)
qualificao dos servios tursticos:
Recomendaes Operacionais
98
articular com as instituies de ensino (tcnico e
profissional) a insero de contedo sobre os prejuzos
da discriminao e do preconceito nos cursos de
preparao de mo-de-obra e de profissionais de
turismo, com destaque para as pessoas que iro
receber os turistas;
viabilizar a capacitao de guias de turismo com
postura e atitudes adequadas para trabalhar com a
diversidade de grupos.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
g)
viabilizao de condies para que os grupos tnicos,
as comunidades excludas, tenham acesso aos
diferentes pacotes tursticos:
Recomendaes Operacionais
criar uma espcie de Carto Turismo para facilitar
o financiamento de viagem;
criar linhas de microcrdito especficas ao turismo social;
criar condies para que os agenciadores informais
organizem e financiem viagens e pacotes tursticos,
com respaldo legal.
2. Como promover a insero dos
afrodescendentes pela prestao de servios
tursticos?
Diante do preconceito ainda existente e das desigualdades
nas oportunidades de trabalho, o Ministrio do Turismo, para
incentivar a insero dos afrodescendentes e indgenas e
considerando as suas competncias, dever buscar parcerias
para institucionalizar programas, projetos e aes para:
a)
sensibilizao das pessoas para seus talentos e as
oportunidades de negcio, trabalho e emprego na
atividade turstica:
Recomendaes Operacionais
criar mecanismos para viabilizar a insero dos trabalhadores
e empreendedores informais no mercado formal;
incentivar a organizao de incubadora empresarial
visando possibilitar tempo hbil para despertar o
interesse e talento de cada um;
estabelecer articulao com a iniciativa privada e com
os conselhos da causa racial para a realizao, de
forma integrada, dessas aes.
99
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
b)
qualificao profissional dos interessados:
Recomendaes Operacionais
promover a capacitao e aperfeioamento dos
envolvidos no saber fazer;
viabilizar bolsas de estudo para afrodescentes de baixa
renda.
c)
incentivo ao associativismo e cooperativismo
empresarial, facilitando a busca de recursos e a correta
aplicao dos recursos:
d)
orientao tcnica na elaborao de pequenos
projetos de investimento:
Recomendaes Operacionais
100
criar mecanismos de apoio aos interessados por meio
de convnios com o SEBRAE, a Associao Brasileira
dos Bacharis em Turismo ABBTUR e Instituies
de Ensino.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo em Comunidades
Quilombolas uma contribuio
historiogrfica
Hebe Mattos*
1. A emergncia da questo quilombola aps a
Constituio de 1988
Est ainda por ser feita a histria da aprovao e dos
desdobramentos legais do art. 68 do Ato das Disposies
Constitucionais Transitrias da Constituio Brasileira de
1988 que reconheceu direitos territoriais aos remanescentes
das comunidades dos quilombos, garantindo-lhes a titulao
definitiva pelo Estado brasileiro1 .
Para entender a redao do artigo e sua incluso nas
disposies transitrias da Constituio preciso levar em
considerao, principalmente, o fortalecimento dos
movimentos negros no pas, ao longo da dcada de 1980, e
a reviso por eles proposta em relao memria pblica
da escravido e da abolio. imagem da princesinha
branca, libertando por decreto escravos submissos e bem
tratados, que durante dcadas se difundiu nos livros didticos
brasileiros, passou-se a opor a imagem de um sistema cruel
*Professora Titular de Histria do Brasil. Departamento de Histria,
Universidade Federal Fluminense
1
O texto integral do art. 68 do Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias estabelece que Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas terras reconhecida a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os ttulos
respectivos.
101
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e violento, ao qual o escravo negro resistia, especialmente
pela fuga e formao de quilombos2 .
A pesquisa acadmica em histria social da escravido foi
tambm tocada por esta conjuntura. A partir de uma
perspectiva que propunha pensar o africano escravizado e
seus descendentes como atores sociais relevantes para a
compreenso histrica da sociedade brasileira, uma reviso
historiogrfica se produziu no pas em relao ao tema. A
demografia, a cultura, as relaes familiares e a sociabilidade
escrava passaram a ser estudadas por inmeros
pesquisadores. Cada vez mais as aes e opes dos africanos
tornados escravos no Brasil foram percebidas como essenciais
para a compreenso histrica da sociedade que os
escravizava. Desde suas estratgias de organizao de
famlias, de formao de organizaes religiosas para
obteno de alforria, at as diferentes formas de sua insero
no mundo do trabalho3 .
De fato, o avano da pesquisa histrica colocara em relevo,
tambm, a impressionante legitimidade da sociedade
escravista no Brasil at pelo menos a primeira metade do
sculo XIX, mesmo entre ex-escravos, o que no eliminava
os episdios de resistncia, que ocorriam, entretanto, nos
limites do pensvel e do possvel no contexto da sociedade
brasileira oitocentista. As concentraes de escravos fugidos,
chamadas mocambos ou quilombos, eram efetivamente
endmicas, porm se encontravam em estreita relao com
o mundo das senzalas4 .
Cf. Soares, Mariza. Nos atalhos da memria Monumento a Zumbi.
In: KNAUSS, 1999, pp. 117-135.
Cf. A historiografia recente da escravido brasileira IN: SCHWARTZ,
2001, pp. 21-82.
Cf. SCHWARTZ, 1988, especialmente caps. 16 e 17; GOMES, 1995,
2005; e REIS e GOMES, 1996.
102
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
A conjuno desses dois movimentos resultou em significativo
deslocamento nas imagens mais correntes em relao
escravido e abolio no pas, fazendo emergir a figura
do escravo como protagonista tambm do processo
abolicionista, atravs de processos judiciais de ao de
liberdade, de atos de rebeldia no dia-a-dia das senzalas e
das fugas coletivas generalizadas na dcada de 1880,
acontecimentos que precederam e balizaram o ato legal da
abolio5 . Neste contexto, algumas comunidades negras
rurais isoladas alcanaram certa notoriedade como possveis
descendentes de antigas comunidades de escravos fugidos,
formadas especialmente nos anos que precederam a
abolio. A aprovao do artigo sobre os direitos territoriais
das comunidades dos quilombos culminou, assim, todo
um processo de reviso histrica e mobilizao poltica, que
conjugava a afirmao de uma identidade negra no Brasil
difuso de uma memria da luta dos escravos contra a
escravido.
No entanto, muitas das comunidades negras rurais espalhadas
pelo pas, em conflito pelo reconhecimento da posse
tradicional de terras coletivas, ento majoritariamente
identificadas como terras de preto6 , no se associavam
facilmente idia histrica clssica do quilombo. Ao
contrrio, algumas delas, em casos estudados por
antroplogos ou historiadores nos anos 1970 e 1980 tinham
seu mito de origem em doaes senhoriais realizadas no
contexto da abolio, numa construo narrativa
marcadamente informada por uma tica paternalista7 .
Cf., entre as pesquisas desenvolvidas ainda nos anos 1980, AZEVEDO,
1987 e CHALHOUB, 1980.
5
Sobre o tema, cf. ALMEIDA, 1989, 2002.
Cf. SOARES, 1981; SLENES, 1996.
103
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Apesar disso, alm da referncia tnica e da posse coletiva
da terra, os conflitos fundirios vivenciados no tempo
presente aproximavam o conjunto das terras de preto,
habilitando-as a reivindicar enquadrar-se no novo
dispositivo legal.
A aplicao prtica do art. 68 mostrou-se, portanto,
extremamente complexa e causou inicialmente profundas
controvrsias8 . Juristas, historiadores, antroplogos e, em
especial, a Associao Brasileira de Antropologia (ABA),
tiveram importante papel nessa discusso. Tendo em vista o
crescimento do movimento quilombola, predominaram as
interpretaes que consideravam a formao de grupos
tnicos, valorizando o contexto de resistncia cultural que
permitiu a viabilizao histrica de tais comunidades e
propondo uma ressemantizao da palavra quilombo para
efeitos da aplicao da proviso constitucional9 .
Com abrangncia nacional, o processo de emergncia das
novas comunidades quilombolas se apresenta hoje como
uma realidade social inescapvel. Segundo o Decreto 4.887,
de 20/11/2003, que regulamenta o artigo constitucional, em
termos legais, a caracterizao dos remanescentes das
comunidades dos quilombos ser atestada mediante
autodefinio da prpria comunidade, entendo-as como
grupos tnico-raciais, segundo critrios de auto-atribuio,
com trajetria histrica prpria, dotados de relaes
territoriais especficas, com presuno de ancestralidade
Sobre esta questo, cf. PRICE, 1999, 2002.
Cf. ODWYER, 1995. Sobre o conceito de ressemantizao, ver
tambm de ALMEIDA, Alfredo Wagner B. de Quilombos: sematologia
face a novas identidades IN: PVN (ORG.), 1996; GOMES, Flvio S.
Ainda sobre os quilombos: repensando a construo de smbolos de
identidade tnica no Brasil IN: ALMEIDA, FRY e REIS, 1996; e, ainda,
ODWYER, 2002.
8
9
104
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
negra relacionada com a resistncia opresso histrica
sofrida. importante ressaltar que, quando se fala em
identidade tnica, trata-se de um processo de autoidentificao bastante dinmico que no se reduz a
elementos materiais ou traos biolgicos distintivos, como
cor da pele, por exemplo.
Atualmente, 178 comunidades esto formalmente referidas
como remanescentes das comunidades dos quilombos no
Sistema de Informaes das Comunidades afro-brasileiras
(SICAB) na pgina da Fundao Cultural Palmares, setenta
delas j tituladas10 . Levantamento do Centro de Geografia e
Cartografia Aplicada (Ciga) da Universidade de Braslia
(UNB), sob a direo do gegrafo Rafael Sanzio, registrou
848 ocorrncias em 2000 e 2.228 territrios quilombolas
em 200511 .
2. Razes histricas das comunidades dos
quilombos
No Maranho e no Par encontra-se proporo expressiva
das comunidades dos quilombos. So 34 no Par e 35 no
Maranho, registrados no SICAB da Fundao Palmares, e
642 e 294, respectivamente, segundo o mapa dos territrios
quilombolas da Universidade de Braslia. A proliferao de
acampamentos de escravos fugidos, chamados mocambos,
na fronteira entre Maranho e Par, bem como nas
cachoeiras do alto do rio Trombetas, tornaram tais reas
alvos preferenciais da preocupao repressiva das autoridades
Cf. Sistema de Informaes das Comunidades afro-brasileiras (SICAB)
na pgina da Fundao Cultural Palmares do Ministrio da Cultura
(www.palmares.gov.br) , acessada em 03/09/2005.
11
Cf. SANZIO, 2001, 2005. Ver tambm Segundo Cadastro Municipal
dos territrios Quilombolas do Brasil, http://www.unb.br/acs/
unbagencia/ag0505-18.htm
10
105
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
provinciais do Par, na segunda metade do sculo XIX, no
contexto de desagregao da ordem escravista na regio.
Segundo Flvio Gomes, quilombolas, grupos indgenas e
depois colonos e camponeses fizeram ali suas prprias fronteiras,
as quais foram marcadas por inmeras experincias de lutas,
de alianas e de conflitos (GOMES, 2003: p. 89). Tais territrios,
que atraam tambm camponeses livres, em geral libertos e
seus descendentes, continuaram a servir como opo de
sobrevivncia para os ltimos escravos da regio aps a abolio.
Nas comunidades de quilombo do Alto Trombetas, a memria
dos antigos mocambos mostrou-se, desde o incio, constitutiva
da identidade dos grupos e os territrios hoje reivindicados
correspondem, de modo geral, s antigas reas mocambeiras12 .
As reas geogrficas reivindicadas pelas comunidades dos
quilombos no Maranho tm maior amplitude e se estendem
por praticamente todo o Estado. Antigas fazendas escravistas
e suas comunidades de senzala esto historicamente na base
da formao de muitas das chamadas terras de preto
maranhenses, mas o papel da fronteira aberta na expanso
dos mocambos tende hoje a predominar na memria pblica
das comunidades dos quilombos, sobre as narrativas de vis
paternalista, que enfatizavam heranas, compras ou doaes
de terra por parte dos antigos senhores, antes
predominantes 13 . De fato, a pesquisa histrica tende a
comprovar que ambos os fenmenos se entrecruzaram no
processo de desagregao da sociedade escravista
maranhense e continuaram a se misturar como opes para
o campesinato negro depois da abolio14 .
Cf. FUNES, 1995, 2000 (http://www.quilombo.org.br/quilombo/doc/
ComunidadesRemanescentes.doc), em 9/9/2005.
13
Cf. SOARES, 1981 e ODWYER, Eliane. Os quilombos e as novas
etnias In: ODWYER, 2002.
14
Cf., especialmente, GOMES, 2003, cap. 3 e 4.
12
106
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Tambm no serto do Nordeste, encontra-se uma expressiva
concentrao das comunidades dos quilombos referidas
proviso constitucional e pelo menos a primeira delas assim
identificada, o Quilombo do Rio das Rs, na Bahia, j foi
alvo de pesquisas histricas e antropolgicas aprofundadas15 .
O mapa dos territrios das comunidades dos quilombos
produzido pela Universidade de Braslia refere-se a 396
comunidades no estado, a maioria delas no serto. Vinte seis
delas encontram-se referidas no Sistema de Informaes das
Comunidades Afro-brasileiras (SICAB) da Fundao Palmares.
De fato, a pesquisa sobre o Quilombo do Rio das Rs aponta
para um campesinato negro, formado por libertos e seus
descendentes desde o final do sculo XVIII, que se dirigiu
para a regio em busca de um projeto campons em grande
parte efetivado por diversas formas tradicionais de posse da
terra, s ameaadas a partir de meados do sculo XX.
No sudeste do Brasil, com relativo paralelismo nas reas do
sul do pas, as pesquisas histricas e antropolgicas mais
aprofundadas sugerem fortemente que as comunidades dos
quilombos esto diretamente ligadas ltima gerao de
cativos africanos, estimada em cerca de um milho de
pessoas chegadas ao Brasil por fora da demanda da
expanso cafeeira, principal produto de exportao brasileiro
no sculo XIX, espraiadas desde os portos clandestinos do
litoral para as demais lavouras comerciais da regio.
significativa a concentrao de comunidades em zonas
litorneas, reconstituindo o mapa dos desembarques
clandestinos de escravos aps 183116 , data da primeira lei
Por ngulos diferentes, o processo de mobilizao poltica e de
construo da identidade quilombola em Rio das Rs aparece estudado
em duas teses de doutorado, MARC, 1999 e VERAN, 2000.
16
o caso, por exemplo, das comunidades de Manguinhos, Rasa,
Marambaia, Bracu e Campinho da Independncia, no Rio de Janeiro,
todas em reas de antigos portos clandestinos de desembarque de
escravos. Cf. RIOS E MATTOS, 2005, parte II, cap. 4.
15
107
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
brasileira de extino do trfico atlntico de escravos. Tais
grupos esto tambm presentes nas antigas reas escravistas
de exportao, muitas vezes disputando a propriedade das
antigas fazendas onde seus antepassados serviram como
escravos17 . Encontram-se, ainda, em antigas reas de fronteira
agrcola aberta, onde por vezes existiam menes a antigas
comunidades de escravos fugidos, mas para onde os ltimos
libertos tambm se dirigiram, imediatamente antes e aps a
abolio, em busca de um projeto campons a ser vivido
coletivamente. Este parece ser o caso, especialmente, das
comunidades do Esprito Santo18 . Em alguns casos tambm
os novos quilombos so fruto de movimentos migratrios
de famlias dos ltimos libertos ao longo do sculo XX19 . Em
mais de uma das comunidades identificadas foi possvel
reconstituir genealogias at os africanos escravos chegados
regio no sculo XIX20 .
A famlia como linhagem, os nomes prprios que se repetem
em cada gerao ou se transformam em sobrenomes, a
parentela como referncia de pertencimento ao grupo,
prticas comuns s antigas comunidades de senzala do Brasil
oitocentista, apresentam-se como regularidades nas
o caso das comunidades de So Jos da Serra e de Quatis, no Rio
de Janeiro, de Cafunds, em So Paulo, e de Morro Alto, no Rio Grande
do Sul, entre muitas outras. Cf. RIOS e MATTOS, 2005, parte II, cap.
4; SLENES, 1996; BARCELLOS, 2004.
18
o caso, entre outros, do quilombo do Laudncio. Cf. MARTINS,
1997 e OLIVEIRA, Osvaldo Martins de. Quilombo do Laudncio,
municpio de So Mateus (ES) In: ODWYER, 2002.
19
o caso do quilombo Silva, no Rio Grande do Sul. Cf. CARVALHO
e WEIMER, 2004.
20
Cf. RIOS e MATTOS, 2005, Parte II, cap. 4.; SLENES, 1996, e
BARCELLOS, 2004.
17
108
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
comunidades dos quilombos 21 . Neste sentido, as
comunidades dos quilombos que emergem da aplicao do
artigo constitucional emprestam visibilidade a um
campesinato negro formado no processo de desagregao
da escravido no Brasil, que, de certa maneira, sobreviveu
ao intenso processo de urbanizao sofrido pela sociedade
brasileira nos ltimos cinqenta anos.
Como amplamente conhecido, o ato legal de abolio
definitiva da escravido no Brasil se fez por uma lei assinada
pela princesa regente, que simplesmente declarava abolida
a escravido no Brasil e revogava as disposies em contrrio,
em 13 de maio de 1888 (Lei urea). Aps a lei, e durante
alguns anos, os ex-senhores continuaram a se organizar
politicamente demandando indenizao pela perda de sua
propriedade em escravos. Quase no se discutiu formas de
reparao aos ex-escravos, mas nos meses finais da
monarquia, a questo da democracia rural, com a
discusso de projetos que inclussem algum tipo de acesso
terra aos recm-libertos, foi postulada por setores
abolicionistas como um complemento necessrio da
abolio da escravido22 . Com a regulamentao do art. 68
dos ADCT da Constituio de 1988, com mais de cem anos
de atraso, a possibilidade de desenvolver polticas de
reparao aos descendentes dos ltimos africanos
escravizados, libertos no sculo XIX, pode vir a se
concretizar.
Sobre o papel do parentesco e dos nomes prprios, nas comunidades
escravas brasileiras do sculo XIX, cf. SLENES, 1998 e RIOS, 1990;
sobre a noo de linhagem e o papel do nome nas comunidades de
quilombo contemporneas, cf., entre outros, SLENES, 1996;
BARCELLOS, 2004 e MATTOS, 2004, parte I, cap. 3.
22
Cf. SANTOS, C. A. Projetos Sociais Abolicionistas. Rupturas ou
Continusmo? IN: REIS, 2000, pp. 54-74.
21
109
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Neste sentido, a recente visibilidade da questo quilombola
exige uma profunda reviso nos modelos de gesto utilizados
para a implementao de polticas pblicas. Os quilombos
se constituem em um sistema onde as dimenses
sociopolticas, econmicas e culturais so centrais para a
construo e atualizao de sua identidade, estruturada ao
longo dos anos com base na memria da escravizao, da
dispora africana e das formas de resistncia cultural desde
ento engendradas. Dessa forma, buscam a eqidade de
maneira peculiar trazendo tona a discusso do
desenvolvimento imbricado na questo da identidade.
3. O patrimnio imaterial das comunidades
quilombolas
O art. 215 da Constituio Federal garante o pleno exerccio
dos direitos culturais e acessos s fontes da cultura nacional,
alm de apoiar e incentivar a valorizao e a difuso das
manifestaes culturais; especificamente em seu 1, que
define que o Estado proteger as manifestaes das culturas
populares, indgenas e afro-brasileiras, alm de outros grupos
participantes do processo civilizatrio nacional. Neste
sentido, as polticas pblicas relativas s comunidades
remanescentes dos quilombos devem voltar-se basicamente
para a proteo do patrimnio imaterial a elas ligado,
fortemente associado s heranas culturais da dispora
africana no pas, em especial da ltima gerao de
escravizados, chegada ao territrio brasileiro na primeira
metade do sculo XIX.
Para reforar este ponto, passo a analisar algumas evidncias
produzidas pelo projeto Memrias do Cativeiro, do
Laboratrio de Histria Oral e Imagem (LABHOI) da
Universidade Federal Fluminense, que reuniu e analisou
entrevistas de descendentes de escravos das antigas reas
110
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
cafeeiras do centro-sul do pas (Rio de Janeiro, Minas Gerais,
So Paulo e Esprito Santo), que concentravam a maioria
dos escravos s vsperas da abolio definitiva do cativeiro.
As entrevistas de histria oral, que deram origem a um livro
e um DVD, no guardavam qualquer preocupao inicial
com o tema das comunidades dos quilombos, mas diversos
grupos visitados pelos pesquisadores do LABHOI passaram
a identificar-se como comunidades quilombolas ao longo
do desenvolvimento do projeto 23 . Assim, os resultados
alcanados ilustram de maneira expressiva as possibilidades
do trabalho histrico com a memria coletiva e o patrimnio
imaterial presente nessas comunidades.
So os aspectos simblicos da memria familiar da
escravido que mais se destacam nas narrativas, elaboradas
e reelaboradas em funo de relaes tecidas no tempo
presente, como em todo trabalho de produo de memria
coletiva. No entanto, para o desenvolvimento deste artigo,
escolhi colocar primeiramente em relevo os aspectos
histricos referentes escravido oitocentista, isto , referidos
a experincias empiricamente comprovveis, existentes nos
relatos reunidos.
Entre eles, destaco especialmente as referncias estrutura
do trfico atlntico clandestino (1831-1856) e tambm ao
trfico interno que lhe sucedeu. Os desembarques
clandestinos de escravos africanos esto referidos de modo
surpreendente nas narrativas, especialmente de moradores
de comunidades litorneas do Rio de Janeiro, situadas
prximas de praias onde se tem registro de desembarque
ilegal de escravos (como Marambaia, Bracuhy e Rasa).
O projeto resultou no livro Memrias do Cativeiro. Famlia, Trabalho
e Cidadania no Ps-Abolio (RIOS e MATTOS, 2005) e em um DVD
de mesmo ttulo, com roteiro baseado no livro, com direo e
montagem de Guilherme Fernandez e Isabel Castro.
23
111
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
A identificao de origem na frica Central dos antepassados,
em especial na utilizao das designaes de procedncia usuais
no sculo XIX (Bento Monjola; Tio Congo etc.) outra referncia
repetida, fortemente ancorada em evidncias histricas.
As referncias separao de famlias no trfico interno
(minha av dizia, nunca mais eu vi meus pais, foi ser escrava
em outra fazenda 24 ) so tambm recorrentes, foram
comprovadas empiricamente em mais de um dos casos
registrados, e correspondem ao que a pesquisa histrica
registra para o perodo25 .
Apesar das referncias histricas ao trauma do trfico negreiro
na origem familiar, os personagens cativos com identidade
prpria nas narrativas so aqueles inseridos em uma
comunidade escrava mais antiga e diferenciada,
distinguindo-se dos demais. A memria genealgica referida
a antigas comunidades de senzala est na base de
constituio da nova identidade quilombola na maioria das
comunidades negras das antigas regies cafeeiras.
Via de regra, os antepassados dos depoentes apareceram
classificados nas narrativas em trs diferentes geraes: aqueles
que chegaram ainda sob a vigncia do trfico transatlntico
os africanos; seus filhos nascidos no Brasil ainda escravos
ou ventre-livres; e seus netos nascidos j no tempo da
liberdade. Destaca-se, neste caso, a relevncia na memria
familiar do impacto de medidas legais de profundo alcance
na redefinio das relaes cotidianas entre senhores e escravos
e entre os cativos entre si no sculo XIX: a extino do trfico
africano (1850) e a Lei do Ventre Livre (1871); medidas que
se apresentariam pouco presentes nas celebraes pblicas
relativas ao calendrio abolicionista estruturadas aps a Lei
urea e o advento do perodo republicano.
24
25
112
Cf. Depoimento de D. Jlia, Labhoi-UFF, 1994.
Cf., entre outros, MATTOS, 1998, pp 337-384.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O incio dos processos de identificao e demarcao das
chamadas terras de preto como remanescentes dos
quilombos e as novas veiculaes pblicas, na escola e na
mdia, dos significados da escravido, impactaram
significativamente a memria coletiva dos grupos estudados.
Neste novo contexto, narrativas de fugas emergiram nos
depoimentos, antes silenciadas. Na comunidade de So Jos
da Serra, em uma srie de depoimentos de um dos mais
velhos moradores, aps os contatos da Fundao Palmares
e o reconhecimento do grupo como remanescente das
comunidades dos quilombos, um av que veio fugido de
uma fazenda para a outra em busca da proteo do
fazendeiro, antes pouco mencionado, ressurgiu como heri,
e o fazendeiro que o acoitou, como organizador de
quilombos. A Fazenda do Ferraz era tambm o Quilombo
do Ferraz26 . Mas foram os filhos e netos de nossos depoentes,
os mais velhos deles nascidos em meados do sculo XX, que
construram a nova identidade quilombola. Recuperaram
as narrativas de seus pais e avs, mas desenvolveram para
elas novas interpretaes. Neste novo contexto, prticas
culturais com origem no tempo do cativeiro, como o jongo
e o caxambu, por exemplo canto e dana em roda ao som
de tambores foram transformadas em capital simblico
para afirmao da identidade quilombola 27 .
A identidade tnica de um grupo a base para sua forma de
organizao, para a sua relao com os demais grupos e a
Cf. entrevistas de Manoel Seabra, da Comunidade de So Jos da
Serra, Catlogo de Histria Oral, Acervo Memrias do Cativeiro,
LABHOI-UFF, 1998, 2003, 2004 e 2005 e DVD Memrias do Cativeiro
(LABHOI-UFF, 2005).
27
Cf. conferncia e entrevista de Antnio Nascimento Fernandes,
Comunidade de So Jos da Serra, Catlogo de Histria Oral, Projeto
Memrias do Cativeiro, LABHOI-UFF, 2003; RIOS e MATTOS, 2005,
parte II, cap. 4; DVD Memrias do Cativeiro, LABHOI-UFF, 2005.
26
113
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
sua ao poltica. A maneira pela qual os grupos sociais
definem a prpria identidade resultado de uma confluncia
de fatores, escolhidos por eles mesmos: de uma ancestralidade
comum, formas de organizao poltica e social, a elementos
lingsticos e religiosos (BARTH, 1969). O reconhecimento
oficial como comunidades dos quilombos nomeia e redefine
a constituio dos grupos de parentesco descendentes da
ltima gerao de africanos nas antigas reas cafeeiras do
centro-sul do pas, que passam a atuar politicamente como
grupos tnicos organizados a partir da memria do tempo do
cativeiro e da posse coletiva dos territrios ocupados.
4. O Quilombo So Jos e o turismo cultural
como via de incluso
Neto e bisneto de escravos, um deles africano, Manoel Seabra
[85] e Antnio Nascimento Fernandes [58] nasceram na
mesma fazenda em que seus antepassados serviam como
escravos, quando, em 1888, se aboliu a escravido no pas.
Como representantes da Associao da Comunidade Negra
Remanescente de Quilombo da Fazenda So Jos da Serra,
oficialmente criada em 21 de junho de 2000, pleiteiam para
o grupo, como remanescentes de quilombo, a posse da terra
da antiga fazenda, para nela desenvolverem projetos de
turismo cultural28 .
Manoel Seabra um dos mais velhos moradores da
comunidade e porta-voz autorizado da memria do
grupo29 . Quando de nossas primeiras visitas Fazenda So
A Fazenda de So Jos da Serra est localizada na Serra da Beleza,
no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, no Municpio de Valena, a
cerca de 3km da estrada [de terra] que liga Santa Isabel a Conservatria
[12km de Santa Isabel, 22km de Conservatria].
29
Sobre o papel dos porta-vozes autorizados nos processos de
identificao coletiva, cf., entre outros, BOLTANSKI (1982, sobretudo
cap. 2).
28
114
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Jos da Serra, sob os auspcios da Fundao Palmares, apenas
seu Manoel Seabra e sua irm, D. Zeferina [me de Antnio
Nascimento Fernandes], falaram oficialmente em nome do
grupo aos pesquisadores. Os demais moradores lhes
delegaram, de forma explcita, esta responsabilidade, mesmo
durante a convivncia mais cotidiana com a antroploga
Ldia Meirelles, poca da produo do laudo de
identificao como remanescentes de quilombo30 .
Antnio Nascimento Fernandes, mais conhecido como
Toninho, sobrinho de Manoel Seabra e Vice-presidente
da Associao de Comunidades de Quilombo do Estado do
Rio de Janeiro [2004]. Foi Subprefeito e Coordenador de
Cultura Negra no Municpio de Valena, alm de Vereador,
entre 1996 e 2000. Sua trajetria pblica se confunde com
a da transformao dos antigos colonos descendentes de
escravos da Fazenda de So Jos da Serra, na atual
Comunidade de Quilombo do mesmo nome31 .
Em 1998, no mbito de projeto coordenado por Eliane Cantarino
ODwyer para a Fundao Palmares e o Instituto de Terras do Rio de
Janeiro, redigi juntamente com a antroploga Ldia Meirelles o relatrio
de identificao como comunidade remanescente de quilombo nos
termos do art. 68 do ADCT (Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias) da Constituio de 1988 da Comunidade Negra Rural
de So Jos da Serra (MATTOS e MEIRELES, 1998).
31
Em 29 de novembro de 2003, o grupo de jongo da Comunidade de
So Jos da Serra foi convidado a se apresentar no CCBB (Centro
Cultural Banco do Brasil), na cidade do Rio de Janeiro, no contexto da
Exposio Arte da frica. Na vspera da apresentao, a meu convite,
Antnio Nascimento Fernandes e seu tio Manoel Seabra do Nascimento
visitaram o Laboratrio de Histria Oral e Imagem (LABHOI-UFF) no
Campus do Gragoat da Universidade Federal Fluminense, quando
foram entrevistados por mim e pela Prof.a Martha Abreu, no mbito do
projeto Memrias do Cativeiro (MC) do LABHOI. Neste dia, Toninho
fez ainda uma conferncia para meus alunos da disciplina de Histria
Oral do segundo semestre de 2003.
30
115
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Antnio Nascimento Fernandes filho de Zeferina
Nascimento e Sebastio Fernandes, o Sebastio Zequinha,
ambos netos de antigos escravos da Fazenda So Jos.
Impressiona, na genealogia da famlia, a repetio de nomes,
desde o tempo do cativeiro, e a detalhada memria familiar
de seus antepassados32 . Sebastio era filho de Jos Geraldo
e neto do ex-escravo Geraldo, que contava 22 anos quando
acabou a escravido e que o bisneto ainda conheceu,
morando no lugar denominado Bocaina. Zeferina tinha o
nome da av Zeferina, ex-escrava, casada com o Velho
Dionsio, nascido na So Jos pela mesma poca, pois
segundo ela o pai tinha uma poro de irmos ali (MC,
Zeferina Nascimento Fernandes, 15/5/1995). Dionsio era
maestro e tocava clarinete, mas lembrado por netos e
bisnetos como um homem terrvel, que tratava os filhos com
mo de ferro, a figura tpica do pai-senhor. Apesar dos
muitos filhos, a maioria deles deixou as terras da fazenda,
rumo s plantaes de laranja de Nova Iguau ou cidade
do Rio de Janeiro, nas dcadas de 30 e 40 do sculo
passado33 . Brandina, a me de Zeferina, permaneceu na So
Jos, mas casou-se cedo, por escolha do pai, com um amigo
dele, muitos anos mais velho. Este, porm, se mostrou um
bom marido e a livrou, segundo ela contava aos filhos e
Conseguimos localizar, nos Livros de Assento de Batismo e
Casamento da Parquia de Santa Isabel do Rio Preto, todos os
ascendentes citados nos depoimentos de Antnio Nascimento
Fernandes.
33
As informaes sobre a migrao dos tios para as plantaes de
laranja de Nova Iguau, presentes na entrevista de Antnio Nascimento
Fernandes, aparece de forma bem mais detalhada nos depoimentos
de sua me, D. Zeferina do Nascimento [1995], e de seus tios, Manoel
Seabra [1998, 2003] e Florentina do Nascimento [2003]. Segundo
eles, seus pais Manoel e Brandina tiveram 12 filhos.
32
116
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
netos, dos castigos at ento freqentes34 . Segundo os
depoimentos de seus trs filhos, ainda residentes na fazenda,
Manoel Seabra, marido de Brandina e av de Toninho,
chegou na So Jos ainda de colo, vendido como escravo
da Bahia, junto com o pai e a me [Pedro Cabinda e
Militana], tambm em meados do sculo XIX. Toninho
nasceria nas mos da av Brandina, parteira da regio, em
1946. O batismo seria feito no mesmo ano, pois as crianas
morriam muito e no deixavam morrer pago. Morria o
corpo, mas no o esprito (MC, Antnio Nascimento
Fernandes, Niteri, 18/11/2003).
Ainda muito jovem, decidiu deixar a fazenda: Eu sa um
pouquinho na marra... eu era um garoto at um pouco
rebelde dentro da comunidade. Primeiro, seguiu o destino
comum da famlia, buscando trabalho na Baixada e no Rio
de Janeiro, trabalhando como valeiro, depois se alistou
no servio militar [1969]. A passagem para a reserva, como
sargento do Exrcito, e a morte do pai o trouxeram de volta
fazenda, em 1979. Ali, voltou a plantar milho e feijo,
mas decidiu morar em Santa Isabel, na casa do sogro, pois
tinha filho em idade escolar e a escola pblica existente
em terras da fazenda, construda na dcada anterior, s
possua as quatro primeiras sries (MC, Antnio Nascimento
Fernandes, 2003).
A narrativa sobre os maus-tratos do pai, o casamento obrigado e o
bom relacionamento posterior do casal, apesar de Brandina
permanecer chamando o marido de seu Manoel por toda a vida,
aparece nas entrevistas de Zeferina, Manoel e Florentina, filhos dos
mesmos, e do neto Toninho. O casamento realizou-se em 23 de maio
de 1903, ele com 34 anos e ela com 14, conforme se encontra
registrado no Livro II, folha 81, termo 6, da Parquia de Santa Isabel
do Rio Preto.
34
117
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Quando Toninho voltou para a fazenda, em 1979, conta
que havia uma capelinha em cima do morro, que caiu pouco
tempo depois. Naquela poca, segundo ele, a comunidade
praticamente no tinha patro. Ele e a me decidiram,
ento, fazer uma capela embaixo, no terreiro, para levantar
o moral de todos, abalados com a morte de seu pai. Desde
ento, as tradicionais festas que aconteciam no 13 de maio,
na casa de D. Zeferina, passaram a acontecer no terreiro,
duas vezes por ano, aparentemente tomando como
referncia o calendrio abolicionista 13 de maio e 28 de
setembro35 . Estas festas eram abertas a convidados e nelas se
fizeram leiles para ajudar a construo da nova capela (MC,
Antnio Nascimento Fernandes, 2003).
As festas e o relativo isolamento da comunidade comearam
a atrair a ateno de pesquisadores e jornalistas. Um enviado
do Prefeito de Valena foi casa de Toninho, em Santa Isabel,
em 1994, para intermediar uma visita da TV ao grupo.
Segundo Toninho, ele recusou a visita, alegando que o
Prefeito nunca tinha pisado l e que s atenderia a um pedido
dele depois que ele prprio visitasse o local. Como resultado,
a TV no esteve nas terras da So Jos da Serra naquele ano,
mas o Prefeito foi visit-los e Toninho acabou Subprefeito
do distrito de Santa Isabel, onde a fazenda est localizada
(MC, Antnio Nascimento Fernandes, 2003).
Uso o advrbio aparentemente porque, se D. Zeferina enfatizava o
carter tradicional da comemorao do 13 de maio, Toninho ir
considerar que a festa em 28 de setembro foi instituda por ele, j nos
anos 1980 e no tinha qualquer relao com a comemorao da Lei
do Ventre Livre alm da mera coincidncia. A rpida mudana da
relao de Toninho com a memria da abolio, a partir de seu contato
com o movimento negro, talvez explique tal coincidncia, que no
pode, entretanto, ser totalmente descartada.
35
118
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Com sua entrada na poltica, consolidou-se, como identidade
coletiva, a comunidade negra rural de So Jos da Serra, e
o grupo de jongo comeou a fazer apresentaes na
cidadezinha, em frente igreja, liderados por sua me, D.
Zeferina, e seu tio, Manoel Seabra. A partir da atuao
poltica de Toninho junto ao movimento negro de Valena,
em 1995, Ana Maria Lugo Rios (2001), ento trabalhando
na pesquisa para sua tese de doutorado, sobre a experincia
dos libertos ps-emancipao no Vale do Paraba fluminense,
teve notcia da comunidade e entrevistou D. Zeferina, em
Santa Isabel; a entrevista est depositada no acervo do
LABHOI. Em 1996, Toninho se elegeu Vereador. No ano
seguinte, seria publicada uma primeira grande reportagem
sobre o grupo na revista Isto [21/5/1997]. Em 1998,
convnio entre a Fundao Palmares e o ITERJ (Instituto de
Terras do Rio de Janeiro) trouxe uma equipe de antroplogos
e historiadores para a comunidade, para sua identificao
como remanescente de quilombo, nos termos da
Constituio de 198836 .
Em 2000, Toninho foi convidado pelo Prefeito a tornar-se
Coordenador de Cultura Negra da Secretaria de Cultura de
Valena, transferindo sua residncia para a sede do
Municpio; foi ento responsvel por levar o encontro
regional de jongueiros para a cidade (Idem, ibidem).
Nesta altura, a comunidade negra rural j se havia tornado
comunidade negra remanescente de quilombo So Jos da
Serra, segundo o estatuto da Associao de Moradores,
registrado em 21 de junho de 2000. Em um Municpio
marcado pela nostalgia dos bares de caf, o quilombo
comeou a transformar-se em referncia turstica e cultural.
Em 2002, as festas de maio e setembro do quilombo da
O laudo de identificao pode ser acessado em www.historia.uff.br/
labhoi .
36
119
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Fazenda So Jos j tinham virado uma espcie de atrao
turstica, apesar da precariedade da infra-estrutura local,
sendo divulgada no Rio de Janeiro por grupos especializados
em msica popular. O jongo da So Jos virava espetculo.
As viagens do grupo de jongo para fora da comunidade
tornaram-se uma constante. Em 2003 e 2004, apresentaramse no SESC da Tijuca e no CCBB [Rio de Janeiro], com mais
de quarenta integrantes e foram destaques em reportagens
de diversos jornais e televises37 . Em final de 2004 gravaram
um Cd livro com apoio do SESC-Rio de Janeiro e da ONG
Brasil Mestio. Apesar da precarssima estrada de terra que
d acesso ao quilombo, a festa de maio de 2005 reuniu
cerca de 2.000 pessoas que lotaram os dois hotis de Santa
Isabel do Rio Preto e alugaram at quartos em casas de famlia
na cidadezinha.
A narrativa de Toninho sobre o jongo reproduz alguns dos
elementos bsicos dos relatos da gerao de seus pais e avs,
ao mesmo tempo em que produz um rompimento bsico
em relao ao suporte tradicional que lhe dava forma. Em
conferncia a uma turma de graduao em histria da
Universidade Federal Fluminense, Toninho assim abordou
o surgimento do jongo na comunidade.
E o Jongo na Comunidade So Jos da Serra, eu vou falar
um pouquinho do Jongo. O Jongo da Comunidade So Jos
da Serra uma das coisas que a gente tem conscincia [que]
uma das coisas boas, porque o Jongo ele foi criado assim:
no tempo da escravido, ento o negro vinha l de fora da
frica e quando chegava no Brasil eles faziam tudo pra poder
trocar, tirar parentesco, grau de parentesco. Cada um levava
para um lugar a at com lngua diferente [...] at dialeto
Entre outros, destaco: O Globo, 11/5/2003 e 20/11/2003, Jornal do
Brasil, 23/11/2003; O Dia, 5/5/2004; Jornal Nacional, TV GLOBO, 13/
5/2004.
37
120
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
no falava o mesmo [...] para poder complicar a convivncia
deles nas comuni... nas fazendas. E no Jongo, os negros se
organizaram atravs do cntico. Ento comearam a cantar...
e cantando eles se conheciam, atravs do canto e daquilo
foi surgindo algum namoro, nas lavouras de caf. E passaram
a um confiar no outro. E assim foi criado o Quilombo
tambm. Porque o Jongo ele um cntico no decifrvel.
Porque o cara cantava, combinava quem ia fugir, como ia
fugir, quando iria fugir, com quem iria fugir. Mas os feitores,
que ficavam o dia todo nas lavouras de caf no tomavam
conhecimento daquilo. A foi indo, com o passar do tempo,
a foi criando os quilombos. Veio o dos Palmares, depois
vm outros quilombos como hoje o de So Jos da Serra
[...].
Para Toninho, o jongo desestimulou a compra de escravos,
pois as fugas foram aumentando e eles passaram a se
desinteressar da compra. Talvez uma curiosa metfora para
a extino do trfico negreiro. A partir da, o jongo foi
crescendo, crescendo nas fazendas, at que, um dia, uma
criana abriu o bico e disse como as fugas eram planejadas
e o negro velho passou a proibir a participao dos mais
jovem. Assim se explicaria a interdio das crianas nas
prticas do jongo tradicional.
Por outro lado, preocupados em parar as fugas, os donos
das fazendas comearam a trazer o jongo para o terreiro do
caf. Na verdade, eles tambm gostavam do troo.
Toninho relata, assim, uma certa rotinizao do jongo
dentro das fazendas, com o aval dos proprietrios. Ainda
segundo ele, com o passar do tempo, a lavoura de caf foi
perdendo fora e os negros, dispensados dela depois da
abolio, ficaram andando de um lado para o outro e
alguns vieram para a cidade grande. Essas favelas que esto
a tambm so criao dos negros [...] eu mesmo tenho muita
gente na favela do Salgueiro. Na cidade, face ao ritmo mais
121
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
acelerado da vida urbana, o jongo teria dado lugar ao
samba. Ento isso a um pouquinho da histria da
comunidade e da histria do jongo.
Mas Toninho no nos fala apenas da histria da comunidade
e da do jongo. No se recusa a falar da histria da escravido
de uma maneira mais geral.
Para falar do tempo da escravido, recupera narrativas muito
prximas das encontradas no acervo Memrias do Cativeiro.
Atribui estas histrias ao av Jos Geraldo, entre as quais se
destaca, alm da nfase na importncia do parentesco, a
narrativa sobre a chegada fazenda de escravos africanos
to debilitados que seriam enterrados vivos.
Recusa, entretanto, o marco da abolio, que, no acervo
Memrias do Cativeiro, o principal recurso de periodizao
a separar o tempo do cativeiro e o tempo da liberdade
e, nas narrativas da me e do tio, estrutura a prpria histria
do grupo. As relaes crescentes de Toninho com o
movimento negro explicam a rejeio poltica ao marco 13
de maio que, segundo seu ponto de vista, precisaria ser
esvaziado. Relata, entretanto, as dificuldades de inserir o 20
de novembro entre as comemoraes da comunidade. A
soluo parece ter sido enfatizar o calendrio religioso, ligado
s festas dos santos.
[...] Porque essa data de 20 de novembro para os negros,
que mora assim na roa l, uma data bem recente. Isso a
comeou a ser trabalhado a partir dos 300 anos de Zumbi.
Faz nove anos. Ento voc v, um troo muito recente.
Hoje ns estamos sabendo, [por]que de primeiro a gente
trabalhava muito 13 de maio, que a Princesa Isabel fez isso,
mas hoje ns temos que a Princesa Isabel apenas assinou
uma das coisas que j tinha acontecido... o negro no foi
libertado, o negro conquistou sua liberdade. isso que eu
fao questo de frisar em todo lugar que eu vou. A liberdade
122
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
do negro com aspas, porque no temos ainda tal, tal a total
liberdade, ela foi conquistada, nada de Princesa Isabel
assinou. Ento pra gente mesmo, hoje, eu que tenho
conscincia, o 20 de novembro, mas uma data bem
recente. Eu fui l em Guaratinguet, eu vi o cara cantando
jongo em louvor Princesa Isabel. Ento eu voltei de l
bem magoado, mas no pude falar nada porque a gente
precisa de tempo pra trabalhar isso a. Ento hoje ns temos
que fazer o que? Zumbi, trabalhar o Zumbi.
[...]
Porque de repente o Tio Maneco [Seu Manoel Seabra] pode
estar l [em entrevista com Martha Abreu e Hebe Mattos]
falando em nome da Princesa Isabel, defendendo a Princesa
Isabel, ento a viso totalmente diferente da minha, mas eu
tenho que respeitar...
[...]
[Atualmente] a comunidade comemora mesmo dia de
Santo Antnio, o dia de So Pedro, So Joo, Santa Brbara
que o dia que um pouquinho ligado a Umbanda e So
Jos que no tem muito a ver, mas o Santo da fazenda, o
dono da fazenda e ali que ns estamos procurando nosso
espao.
Procurando este espao, foi criada a Associao da
Comunidade Negra Remanescente de Quilombo So Jos
da Serra, registrada no Cartrio do 1o Ofcio de Notas da
Comarca de Valena, em 21 de junho de 2000. Segundo o
estatuto, so objetivos da Associao, enquanto sociedade
civil sem fins lucrativos, conforme seu artigo quarto:
Par. 1. Promover o turismo cultural prprio das suas tradies
na regio;
Par. 2. Revigorar os laos da unidade familiar, introduzindo
hbitos alimentares naturais e habitacional [sic];
123
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Par. 3. Criar progressivamente estrutura prpria de
distribuio dos produtos de forma a evitar a subjugao de
formas injustas de intermediao dos bens produzidos;
Par. 4. Promover o apoio e a execuo de formas de
associao de bens e trabalho coletivo entre os lavradores,
sob o regime comunitrio;
Par. 5. Estimular e incentivar a fixao do homem no setor
rural, buscando evitar o xodo rural;
Par. 6. Desenvolver o aprimoramento da mo-de-obra,
atravs da alfabetizao e profissionalizao dos seus
membros em artesanato ou similares.
Entre os vrios objetivos da associao, clara a prioridade
dada ao turismo cultural, para o qual a prtica do jongo se
apresenta como fator fundamental. Atualmente, a
comunidade recebe escolas para visitas de um dia, tendo
um convnio assinado com a Prefeitura de Volta Redonda.
medida que consigam alguma melhoria do ponto de vista
material (por enquanto os ganhos so principalmente
simblicos), os moradores do quilombo pretendem construir
novas habitaes diferentes das tradicionais de estuque e
sap, mas planejam manter as construes atuais como
lugares de memria, abertos visitao. Neste contexto, o
jongo do Quilombo So Jos une tradio e inovao
passado e futuro nos projetos traados para a comunidade:
Ns pensamos em coletividade. J temos um projeto de
reflorestamento, de agricultura pequena de hortalia, fbrica
de doces, criao e artesanato. Ento ns j temos um
projeto para manter a comunidade unida. Dividir criao
de porcos, galinha... cada um trabalhando numa rea mas
dentro da associao. O cara pode ter um pequeno cercado
[...] um pequeno cercado para manter como mantm hoje,
mas o grande mesmo, onde est a massa, vai ficar com a
124
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
coletividade, dentro da associao. E todo o dinheiro que a
gente ganhar na comunidade vai para a associao e no
final do ms a gente [re]parte [...].
[...]
Ao criar o estatuto [da comunidade] ns dissemos que s
pode permanecer na comunidade filho da comunidade,
parente da comunidade, mas atravs da associao. A pessoa
de fora, para voltar para a comunidade, tem que passar pela
associao. Ento se algum mudar da comunidade, aquela
casa fica para a associao. Ento a associao que vai
cuidar daquilo. [...] Mas eu vejo tambm a salvao disso
tudo o Jongo. A gente [...] vem aqui no Rio, amanh mesmo
a gente vai ficar aqui no Banco do Brasil, isso a deixa o
pessoal da comunidade muito otimista, porque l no distrito
de Santa Isabel ningum viaja mais do que a comunidade
de So Jos da Serra. E eu deixo eles bem conscientes, por
que isso? Por causa do Jongo, o carro-chefe. E para que
tenha o Jongo tem que ter o qu? Unio. Sem unio no
pode. O Jongo no canta sozinho e nem dana sozinho,
precisa de um grupo. Ento isso que a gente est
trabalhando muito com as crianas... amanh ns vamos
estar a com crianas... danando o Jongo, at criana de
seis anos, cinco anos... tem criancinha l que est com dois
anos e j sabe... bota l e a gente j deixa. um troo que
no passado no podia, mas a gente deixa porque eu acho
que o salvador da comunidade vai ser o Jongo.
125
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
5. Reflexes finais sobre o turismo social nas
comunidades dos quilombos a partir do caso do
Rio de Janeiro
Apesar da herana comum relativa s ltimas geraes de
escravos africanos, ao sentido de identidade tnica e
organizao coletiva do uso da terra, so inmeras as
especificidades e diferenas entre as muitas comunidades
dos quilombos espalhadas pelo pas. A extenso das terras
ocupadas, o nmero de moradores e as regras definidoras
de pertencimento e excluso so extremamente
diferenciados nas diversas regies. O turismo social como
estratgia de sobrevivncia apresenta-se como um projeto
possvel apenas para algumas dessas comunidades,
especialmente quando so protagonistas de prticas artsticas
ou artesanais valorizadas no mercado cultural, como o
caso do Quilombo de So Jos da Serra.
So muitas, entretanto, as armadilhas que podem estar
embutidas nessa proposta. Especialmente a tentao de
romantizar e folclorizar o passado, com perda das referncias
comunitrias que permitem s chamadas tradies culturais
serem praticadas de forma integrada ao cotidiano do grupo.
Alm disso, o ritmo das transformaes pode acelerar-se de
tal modo que acabe por comprometer as bases comunitrias
de renovao da cultura do grupo.
Mudanas e transformaes na cultura tradicional no so
em si mesmas problemas. Ao contrrio, as prticas culturais
com origem nas tradies trazidas pela ltima gerao de
africanos para as antigas regies cafeeiras nunca deixaram
de modificar-se. O desafio conseguir que tais modificaes,
geradas pela modernizao e pelo acesso a novos bens de
consumo, no terminem por inviabilizar as bases
comunitrias que permitiram que tal processo criativo se
126
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
desenvolvesse da forma como at agora se desenvolveu, isto
, valorizando a herana imaterial dos antepassados e
enfatizando um senso de identidade coletiva. Neste sentido,
as especificidades e diferenciais socioculturais devem ser
ressaltados, valorizados e priorizados quando da montagem
de um modelo de desenvolvimento sustentvel para as
comunidades quilombolas. Tambm a insero dos
representantes das comunidades como interlocutores junto
s agncias governamentais (inclusive do ponto de vista
jurdico) deve ser priorizada, como forma de garantir o
protagonismo quilombola em um processo de implantao
de atividades tursticas em suas comunidades. Neste sentido,
a atividade turstica no pode comprometer a
sustentabilidade ambiental, cultural e poltica do grupo, sob
pena de perder os prprios fundamentos que tornaram
possvel que o turismo social se apresentasse para eles como
possibilidade de sobrevivncia.
Por outro lado, parece-me fundamental conseguir integrar
a memria das comunidades e de suas tradies culturais
histria da regio em que se encontram localizadas. Nesse
sentido, o exemplo da histria das comunidades quilombolas
do Estado do Rio de Janeiro bastante ilustrativo, pois esta
se fez diretamente relacionada histria da expanso cafeeira
na regio desde princpios do sculo XIX.
O atual Estado do Rio de Janeiro apresentava-se, em finais
do sculo XIX, como a principal provncia escravista do
ento Imprio do Brasil. De acordo com a Diretoria Geral
de Estatstica, a Provncia do Rio de Janeiro contava com
301.352 escravos em 1874, sendo a segunda em nmeros
absolutos de escravos e a primeira em nmeros relativos,
39,7% da populao. Segundo Relatrio do Ministrio da
Agricultura, de 14 de maio de 1888, foram libertados no
Rio de Janeiro, com a aprovao da Lei urea, 162.421
127
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
pessoas, 22,4% do total no pas (CONRAD, 1978, Tabela 2,
p. 345, Tabela 18, p. 359).
Ao norte do Estado, uma importante agricultura de canade-acar se desenvolvera desde o sculo XVIII. Ultrapassada
a Serra do Mar, nas altitudes mdias do Vale do Rio Paraba,
desenvolvera-se, desde o incio do sculo XIX, uma intensa
expanso do cultivo do caf, que rapidamente se tornou o
principal produto de exportao do pas. At a extino
definitiva do trfico africano, em 1850, as fazendas de caf
do Vale do Paraba foram trabalhadas basicamente por
escravos africanos, em geral falantes de lnguas banto, que
formavam, nas reas de expanso da fronteira agrcola, at
90% do conjunto dos trabalhadores de uma plantation
(SLENES, 1995). Aps esta data, as fazendas cafeeiras
continuaram a comprar trabalhadores cativos, agora das reas
menos prsperas, de pequenos e mdios proprietrios, numa
grande cadeia de trfico interno que envolveu as vrias
provncias do pas (MATTOS, 1998, parte 2). Por outro lado,
retraram-se as pequenas e as mdias propriedades
escravistas, ao mesmo tempo em que crescia a produo
camponesa (idem). Nas ltimas dcadas da escravido, um
pouco por toda parte, grupos de escravos fugidos buscavam
misturar-se com o campesinato livre circundante, em grande
parte descendente de antigos escravos libertos (GOMES,
1995; MACHADO, 1994).
No Rio de Janeiro, ao longo da costa, na qual
desembarcavam os carregamentos clandestinos de escravos,
que alimentaram a expanso cafeeira nas ltimas dcadas
do trfico africano [1831-1850], encontram-se as
comunidades remanescente dos quilombos de Santa Rita
do Bracuhy [Municpio de Angra dos Reis], Rasa [Municpio
de Bzios], Caveira [Municpio de So Pedro da Aldeia],
Marambaia [Municpio de Mangaratiba] e Campinho da
128
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Independncia [Municpio de Paraty], todas em reas
litorneas, atualmente vocacionadas para o turismo. O
trfico atlntico de escravos aparece com destaque na
memria social dessas comunidades. A partir das praias, os
novos cativos eram redistribudos para as reas cafeeiras e
canavieiras da Provncia. Esta prtica confirmada pela
documentao de poca, pelo menos no caso das fazendas
litorneas da Floresta e de Santa Rita do Bracuhy, de Joaquim
de Souza Breves, em Mangaratiba e Angra dos Reis,
respectivamente (ABREU 1995, BREVES, 1966).
De forma complementar, fora das reas litorneas do Estado,
as outras duas comunidades identificadas [Quatis e So Jos
da Serra] esto nas regies mais antigas do Vale do Paraba
Fluminense. Aps a chegada macia de africanos de origem
banto, nas dcadas de 30 e 40 do sculo XIX, a regio
conheceu uma relativa estagnao, predominando, ao final
do perodo escravista, comunidades escravas j antigas e
estabilizadas. As condies de transformao de alguns
destes grupos de parentesco [muitas vezes a meio caminho
entre a escravido e a liberdade, com parte da famlia ainda
escrava e a outra vivendo nas cercanias da antiga fazenda,
como roceiros livres] em economias camponesas, com posse
coletiva da terra, atravs da herana dos ex-senhores, da
simples posse ou da compra de terras em comum, nas
dcadas que imediatamente antecederam a abolio da
escravido e a ela se sucederam, tm sido destacadas por
alguns autores, bem como as dificuldades que se seguiram
para a manuteno desta situao (MACHADO, 1994, pp.
42-43; SLENES, 1996, pp.78-79).
Ambas as regies conheceram um grande afluxo de africanos
de cultura banto, na fase ilegal do trfico de escravos no
Brasil [1831-1850], que coincide com a primeira fase da
129
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
expanso cafeeira no Estado. Um significativo esvaziamento
econmico se seguiu abolio do cativeiro nas duas reas,
condio que obviamente influiu na relativa estabilidade
dos grupos considerados, que se manteve at o ltimo quartel
do sculo XX, quando especialmente o crescimento do
turismo e de atividades de lazer (casas de campo, hotis
etc.) viria questionar a posse tradicional das terras ocupadas.
Segue-se, em geral, um perodo de conflito, com substanciais
perdas de direitos, maior ou menor desestruturao dos
modos de vida tradicionais e formas de desdobramento legal,
diferenciadas em cada caso. A partir do final dos anos 1990,
as demandas de terra e as identidades destes grupos se
reorganizam enquanto remanescentes de quilombos, ao
mesmo tempo em que crescem substancialmente o nmero
e a qualificao de seus possveis aliados. Prticas culturais
de origem banto, especialmente o jongo e o caxambu, so
revalorizadas. Num novo contexto de legitimao dos
direitos de posse da terra, reforam-se os elementos que
delimitavam as fronteiras dos grupos em relao sociedade
envolvente [da valorizao, como marca de diferenciao,
de prticas culturais como o jongo, manuteno de um
cemitrio prprio em Santa Rita do Bracuhy].
O jongo, a folia de reis e outras manifestaes prprias do
complexo cultural cafeeiro, com forte presena nas
comunidades dos quilombos do Rio de Janeiro e clara
influncia das culturas banto da frica Central, esto sendo
inventariadas em projeto de pesquisa coordenado na UFF
pela historiadora Martha Abreu, com apoio da Petrobras.
Todas estas referncias de patrimnio imaterial podem ser
facilmente articuladas com a cultura material existente no
litoral fluminense e no velho Vale do Paraba. Antigos
caminhos, igrejas, senzalas, fazendas. Um navio negreiro
130
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
afundado objeto de pesquisas arqueolgicas da UNICAMP,
no antigo porto do Bracuhy. Os casares de caf do Vale do
Paraba, organizados para o turismo histrico e cultural,
podem e devem ser articulados com as comunidades dos
quilombos e seu patrimnio imaterial. A sociedade escravista
cafeeira formou-se basicamente com escravos africanos; eles
constituam a maioria da populao nessas reas e foram
protagonistas da histria econmica, social, poltica e cultural
da regio.
Como consideraes finais, elenco alguns pontos para
subsidiar as discusses que sero empreendidas nesse
Seminrio pelos profissionais envolvidos com a questo:
1) Uma primeira questo a ser problematizada a da
organizao das comunidades quilombolas como atores
coletivos, no contexto de projetos de desenvolvimento do
turismo cultural no seu interior. Ou seja, em que bases sero
organizados os processos de comercializao dos bens
materiais e imateriais que devero integrar o novo circuito
econmico engendrado pelo turismo social. Como se
articularo apropriao individual e coletiva dos recursos
gerados? Obviamente, os integrantes das comunidades com
suas formas atuais de organizao devem ser os principais
interlocutores nessa questo. Porm, ela deve ser pensada
tambm no mbito das polticas pblicas, pois estas podem
reforar (a exemplo do art. 68 do ADCT da Constituio) os
elementos de coeso e identidade tnica dos grupos ou, ao
contrrio, atuar como fora dispersora, como de certa forma
predominara at ento. Afinal, as comunidades em pauta
so, antes de tudo, sobreviventes de um processo de intensa
explorao econmica e disperso cultural.
2) Em segundo lugar, preciso evitar a tentao de folclorizar
os grupos quilombolas, adequando-os de forma mecnica
ou ensaiada aos diferentes gostos dos turistas e suas
131
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
expectativas de autenticidade. Novamente no se trata de
evitar as transformaes e mutaes estticas e culturais, nem
mesmo de tentar atuar reduzindo a velocidade delas, mas
de buscar fornecer condies em nvel local para que as
relaes internas ao grupo e suas instituies domsticas
continuem na base das prticas culturais passveis de serem
comercializadas no circuito do turismo cultural. Nos ltimos
dez anos, foram intensas as transformaes vividas pela
comunidade do quilombo So Jos, acompanhadas de perto
pela pesquisa etnogrfica e histrica do LABHOI. Porm, as
bases comunitrias da produo dessas transformaes tm
se mantido, em grande parte, graas ao papel da nova
identidade quilombola na atualizao das relaes
tradicionais de parentesco que uniam o grupo s terras da
antiga fazenda e emprestavam consistncia s prticas
culturais que hoje abrem a possibilidade do turismo social
(a religio, o jongo, a culinria, as hierarquias de idade e a
valorizao da memria).
3) Por fim, alm do protagonismo das prprias comunidades,
parece-me importante buscar parceiros nas pesquisas sobre
patrimnio imaterial que vm sendo desenvolvidas em
diversas universidades. Pesquisadores autnomos da rea
cultural muitas vezes dividem-se entre tradicionalistas que
recusam as relaes de mercado como conspurcadoras da
pureza e tradio cultural das comunidades e
produtores culturais por vezes excessivamente atentos s
demandas do mercado, vido por autenticidades
fabricadas. Neste sentido, alm de antroplogos,
economista e profissionais da rea da cultura e do turismo,
os historiadores podem oferecer uma contribuio
importante para pensar propostas de integrao das
comunidades quilombolas ao turismo histrico regional.
132
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Bibliografia Citada
[ABREU, 1995,] Abreu, Martha. O Caso do Bracuhy. In: MATTOS,
Hebe Maria e SCHNOOR, Eduardo (Orgs.). Resgate uma janela para
o oitocentos. Rio de Janeiro: Top Books, 1995.
[ALMEIDA, 1989] Almeida, Alfredo Wagner Berno de Terras de
Preto. Terras de Santo. Terra de ndio IN: Habette, J. e Castro, E. M.
(orgs.) Cadernos NAEA, UFPA, 1989.
[ALMEIDA, 1996] Almeida, M.H.T. , Fry, P. e Reis, E. (orgs) Poltica e
cultura: vises do passado e perspectivas contemporneas. So Paulo,
ANPOCS/HICITEC, 1996.
[ALMEIDA, 2002] Almeida, Alfredo Wagner Berno de (org.). Terras de
Preto no Maranho: Quebrando o mito do isolamento. So Lus:
Centro de Cultura Negra do Maranho (CCN-MA) e Sociedade
Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), 2002.
[AZEVEDO, 1987] Azevedo, Clia. Onda negra medo branco: o negro
no imaginrio das elites. Sculo XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
[BARCELLOS, 2004] Barcellos, Daisy Macedo et alii. Comunidade
Negra de Morro Alto. Historicidade, Identidade e Territorialidade. Porto
Alegre, UFRGS Editora, 2004.
[BARTH, 1969] Barth, Fredrik. Ethnic groups and boundaries: the social
organization of culture difference. Boston: Little Brown & Co, 1969.
[BOLTANSKI, 1982] Boltanski, Luc. Les cadres. La formation dun
groupe social. Paris: Minuit, 1982.
[BREVES, 1996] Breves, Armando de Morais. O reino da Marambaia.
Rio de Janeiro: Grfica Olympica Ed., 1996.
[CARVALHO, 2004] Carvalho, Ana Paula Comin e Weimer, Rodrigo
de Azevedo. Relatrio de Identificao do Quilombo Silva, RGS,
Fundao Cultural Palmares, 2004.
[CHALHOUB, 1990] Chalhoub, S. Vises da liberdade: uma histria
das ltimas dcadas da escravido na Corte. So Paulo: Companhia
das Letras, 1990.
[CONRAD, 1978] Conrad, Robert. Os ltimos Anos da Escravatura
no Brasil, 1850-1888. Traduo de Fernando de Castro Ferro. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 1978.
[DERSCHUM, 1999] Derschum, Frederico Guilherme.Breve Histria
da Fazenda de So Jos da Serra (doc. 24a). (KOINONIA - Comunidade
de So Jos da Serra, Fundao Palmares, processo 01420000100/
99-99, dossi encadernado), 1999.
133
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
[FUNES, 1995] Funes, Eurpedes. Nasci nas matas, nunca tive senhor:
histria e memria dos mocambos do baixo Amazonas. Tese
(Doutorado) FFLCH/USP, So Paulo, 1995.
[FUNES, 2000] Funes, Eurpedes. Comunidades Remanescentes dos
Mocambos do Alto Trombetas. Comisso Pro ndio de So Paulo,
dezembro 2000.
[GOMES, 1995] Gomes, Flvio S. Histrias de Quilombolas: mocambos
e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro sculo XIX. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.
[GOMES, 2003] Gomes, Flvio S. Experincias Atlnticas. Ensaios e
Pesquisas sobre a escravido e o ps-emancipao no Brasil. Passo
Fundo, FPF, 2003.
[GOMES, 2005] Gomes, Flvio. A Hidra e os Pntanos. Mocambos,
quilombos e comunidades de fugitivos no Brasil (sculos XVII-XIX).
So Paulo, UNESP, 2005.
[GOMES e REIS, 1996] Gomes, Flvio S. e Reis, J. J. Liberdade por um fio.
Histria dos quilombos no Brasil. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
[KNAUSS, 1999] Knauss, Paulo (org). Cidade Vaidosa. Imagens
urbanas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Sette letras, 1999.
[MACHADO, 1994] Machado, Maria Helena. O Plano e o Pnico. Os
movimentos sociais na dcada da abolio. Rio de Janeiro: UFRJ/EDUSP, 1994.
[MARC, 1999] Marc, Ren. A Formao da Identidade Quilombola
dos Negros de Rio das Rs de Ren Marc , Doutorado em Histria,
Salvador, UFBA, 1999.
[MARTINS, 1997] Martins, Robson Luis M. Os Caminhos da Liberdade:
abolicionistas, escravos e senhores na Provncia do Esprito Santo
1884-1888. Histria - Universidade Estadual de Campinas, 1997.
[MATTOS, 1998] Mattos, Hebe. Das Cores do Silncio. Os significados
da liberdade no sudeste escravista - Brasil, sc. XIX. Rio de Janeiro :
Nova Fronteira, 1998.
[MATTOS, 2004] Mattos, Hebe. Marcas da Escravido. Racializao,
Biografia e Memria do Cativeiro na Histria do Brasil. Tese de Professor
Titular em Histria do Brasil. Niteri, Departamento de Histria,
Universidade Federal Fluminense, 2004.
[MATTOS e MEIRELES, 1998] Mattos, Hebe Maria e Meireles, Ldia
Celestino. Meu Pai e Vov Falava: Quilombo Aqui. Memria do
Cativeiro, Territrio e Identidade na Comunidade Negra Rural de So
Jos da Serra. Relatrio de Identificao de Comunidade Remanescente
de Quilombo. Fundao Palmares, Ministrio da Cultura, 1998.
134
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
[ODWYER, 1995] ODwyer, Eliane Cantarino (org) Terra de Quilombo.
(Apresentao, 1-2). Publicao da Associao Brasileira de Antropologia
(ABA), Rio de Janeiro, 1995.
[ODWYER, 2002] ODwyer , Eliane Cantarino (org.) Quilombos.
Identidade tnica e territorialidade, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.
[PRICE, 1999] Price, Richard. Reinventando a Histria dos Quilombos.
Rasuras e Confabulaes. IN: Afro-sia, 23 (1999), 239-265.
[PRICE, 2002] Price, Richard (org.) dossi Marrons in the Amricas. In:
Cultural Survival Quartely - Volume 25 n. 4, Cambridge, 2002.
PROJETO VIDA DE NEGRO - PVN (org.) Frechal: Terra de Preto Quilombo Reconhecido como Reserva Extrativista. So Lus,
SMDDH,CCN, 1996.
[REIS, 2000] Reis, Daniel Aaro (org.). Intelectuais, Histria e Poltica
(sculos XIX e XX). Rio de Janeiro, 7 Letras, 2000.
[RIOS, 1990] Rios, Ana Lugo. Famlia e Transio. Famlias Negras em
Paraba do Sul, 1872-1920. Dissertao de Mestrado em Histria, Niteri,
UFF, 1990.
[RIOS e MATTOS, 2005] Rios, Ana Lugo e Mattos, Hebe. Memrias do
Cativeiro. Famlia, Trabalho e Cidadania no Ps-Abolio. Rio de Janeiro,
Civilizao Brasileira, 2005
[SANZIO, 2001] Sanzio, Rafael. O espao geogrfico dos remanescentes
de antigos quilombos no Brasil In: Terra Livre, 17, 2001, p. 139-154.
[SANZIO, 2005] Sanzio, Rafael. Territrio das Comunidades
Quilombolas, 2.a. configurao espacial, Braslia, CIGA-UNB, 2005.
[SCHWARTZ, 2001] Schwartz, Stuart. Escravos, Roceiro e Rebeldes.
Bauru, EDUSC, 2001
[SCHWARTZ, 1998] Schwartz, Stuart. Segredos Internos. Escravos e
engenhos na sociedade Colonial. So Paulo: Companhia das Letras, 1988.
[SLENES, 1995] Slenes, Robert. Malungu ngoma vem! frica coberta
e descoberta do Brasil. In Cadernos do Museu da Escravatura, no 1,
Luanda: Ministrio da Cultura, 1995.
[SLENES, 1996] Slenes, Robert W. Histrias do Cafund. In: VOGT,
Carlos e FRY, Peter.Cafund. A frica no Brasil. So Paulo: Companhia
das Letras e Editora da UNICAMP, 1996.
[SLENES, 1998] Slenes, Robert. Na Senzala, uma flor. Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 1998.
[SOARES, 1981] Soares, Luiz Eduardo. Campesinato: ideologia e poltica.
Rio de Janeiro. Zahar Editores S.A., 1981.
[VERAN, 2000] Vern, Franois. Rio das Rs. Terre de Noirs. Doutorado
em Antropologia, EHESS, Paris, 2000.
135
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
GT: Turismo e Comunidades Quilombolas
Perguntas orientadoras:
1. Como promover a insero das comunidades
quilombolas pela prestao de servio
turstico?
O Ministrio do Turismo, no mbito de suas competncias,
para promover a insero das Comunidades Quilombolas
pela prestao de servio, dever buscar parcerias para
institucionalizar programas, projetos e aes voltados para:
a)
produo, organizao e difuso de conhecimento
sobre Comunidades Quilombolas:
Recomendaes Operacionais
136
fomentar a realizao de estudos e pesquisas sobre as
Comunidades Quilombolas, de acordo com seus
interesses;
mapear e diagnosticar a situao turstica (real e
potencial) das Comunidades Quilombolas no Brasil,
atendendo inicialmente aquelas apontadas como
estratgicas pelos Estados para o Programa de
Regionalizao do Turismo;
diagnosticar as aes governamentais e investimentos
voltados para as Comunidades Quilombolas;
identificar e disseminar experincias exitosas. Exemplo:
Projeto da Cidade de Quissam, Fazenda da
Machadinha, RJ.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
b)
fortalecimento da identidade e do protagonismo das
Comunidades Quilombolas:
Recomendaes Operacionais
orientar e capacitar as comunidades como
protagonistas do processo de gesto para o
desenvolvimento do turismo;
capacitar as comunidades para formulao e gesto
de projetos e efetivao de parcerias;
orientar e capacitar pessoas da Comunidade para
estabelecer parcerias com as empresas privadas para
projetos de estruturao dessa Comunidade.
c)
estruturao e qualificao da oferta turstica
Quilombola:
Recomendaes Operacionais
garantir a desconcentrao territorial e a
democratizao na seleo de projetos e aes;
viabilizar o resgate, estruturao e qualificao das
manifestaes culturais (danas, msicas, culinria e
outros);
viabilizar a qualificao e aperfeioamento do
artesanato;
viabilizar a organizao de calendrios local, regional
e nacional das manifestaes e eventos culturais das
Comunidades Quilombolas;
viabilizar o aparelhamento das Comunidades
Quilombolas conforme necessidades, respeitando os
princpios, diretrizes e interesses de cada uma;
137
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
viabilizar capacitao da comunidade para prestao
de servios tursticos;
incentivar empresas privadas para estabelecerem
parcerias com as comunidades quilombolas;
promover articulao entre os programas do MTur e
tambm com outras instituies. Exemplo: Secretaria
Especial de Polticas Pblicas da Igualdade Racial /
SEPPIR.
e)
integrao da oferta da comunidade quilombola com
outras ofertas:
Recomendaes Operacionais
138
viabilizar iniciativas de sensibilizao das
comunidades vizinhas, municpios e regio para as
tradies quilombola;
incluir as comunidades quilombolas na agenda de
aes de apoio ao desenvolvimento, promoo e
comercializao turstica dos municpios e regies;
viabilizar a participao das comunidades
quilombolas em eventos de promoo e
comercializao;
viabilizar linhas de crdito adequadas para o
desenvolvimento local das comunidades quilombolas.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo e Orientao Sexual
Joo Silvrio Trevisan*
Turismo, um direito de tod@s
Quando, aos 25 anos de idade, fiz minha primeira viagem
para fora do Brasil, foram no apenas trs meses visitando
pases da Europa e da frica (com mochila nas costas e poucos
dlares) mas tambm uma verdadeira viagem de formao
em busca do meu tempo e de mim mesmo. Entre 1969 e
1970, pude tomar contato no apenas com as duas Europas
(ocidental e oriental) mas tambm com a magia do mundo
rabe, em visitas Tunsia e ao Marrocos. Eu tinha acabado
de me assumir como gay e, nessa condio, procurei contato
com outros homossexuais, em lugares to diversos como
Roma, Amsterd, Londres, Paris e norte da frica. O
conhecimento de mundos para mim desconhecidos marcou
minha vida para sempre. E marcou inclusive minha
orientao homossexual, diante da qual descobri um universo
imprevisto e fascinante. Mergulhando num outro mundo
a ser desvendado, a atividade turstica pode visar ao lazer
ou aos negcios. Mas minha experincia nesse rito de
iniciao nos anos de 1960 confirma que toda viagem de
conhecimento implica quase automaticamente uma outra
viagem interior de autoconhecimento. Assim, no de
estranhar que os objetivos do turismo tenham se diversificado
tanto, hoje em dia, agregando interesses inicialmente no
to bvios, que o mundo globalizado veio ampliar. Inclusive
no campo da orientao sexual.
*Escritor, ensasta, dramaturgo, tradutor, jornalista, coordenador de
oficinas literrias, ativista GLBT brasileiro. Fundador do Grupo SOMOS na defesa dos direitos dos homossexuais na dcada de 1970,
colunista da revista G Magazine.
139
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Um conceito de turismo menos mope deveria fazer parte
do horizonte da populao de qualquer estrato social. Apesar
de discutvel, j existe um turismo implantado nas favelas
cariocas, por exemplo, em que grupos estrangeiros so
levados a percorrer o lado menos nobre da cidade, mas parte
especialssima da sua realidade ali nasceu e viceja, entre
outros, o samba. verdade que se oferece aos turistas
estrangeiros um vis algo extico que olha a favela de dentro
de uma gaiola, como visitas a santurios ecolgicos. Nem
por isso permite-se que os moradores/as de favela tenham
amplo contato com os turistas, que ali aparecem como o
mundo de fora. Ainda assim, de um modo geral essa prtica
aponta para um outro lado do turismo, que h muito deixou
de se ligar apenas diverso em si. Na verdade, esse tipo de
abordagem mudou o foco do turismo, no apenas para coisas
em si mesmas bonitas, mas para elementos que compem
uma realidade menos estereotipada. Pense-se, como outro
exemplo, nas viagens tursticas aos antigos campos de
concentrao, que ocorrem na Alemanha. Trata-se de um
turismo que se poderia chamar de cvico, com vocao
eminentemente pedaggica: as crianas alems so obrigadas
a essas visitas j no perodo escolar, para conhecerem
elementos negativos da histria do seu pas e serem advertidas
sobre a brutalidade redobrada que seria a repetio desse
fenmeno histrico. Assim, igualmente, j existe em todo
mundo o turismo de vocao ecolgica, voltado para a
observao respeitosa e no invasiva da natureza. Ainda
outro exemplo o turismo da terceira idade, que h dcadas
vem sendo praticado e consagrado no Brasil e no exterior,
revelando-se extremamente funcional. Ao contemplar uma
faixa especfica do espectro social, o turismo para idosos
manifesta uma viso muito ampla do seu escopo, incluindo
palestras e festas durante as viagens. Tudo isso visa romper a
solido de idosos e, por tabela, minorar um grave problema
140
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
social. Nessa mesma linha, parece bastante adequado
praticar um turismo explicitamente inserido nas lutas pelos
direitos civis. assim, por exemplo, que grupos de negros
americanos visitam pases africanos donde se originou o fluxo
de seus ancestrais escravizados, para os Estados Unidos. O
objetivo reatar laos com o passado escravocrata, mas
tambm ter a possibilidade de conhecer costumes de seus
ancestrais.
Pode-se perguntar se um turismo seccionado no seria uma
maneira falaz de impulsionar o gueto e a discriminao. A
meu ver, parece legtimo pensar-se em tipos de turismo que
privilegiem os interesses de grupos especficos. Trata-se de
necessidades especficas que no podem esperar, num futuro
indeterminado, que a sociedade aceite sua vocao para a
diversidade e, assim, cumpra seu papel de democracia
pluralista, inclusive no turismo. Como dizia Fernando
Gabeira, em contexto semelhante na dcada de 1970, no
se pode esperar 70 anos de revoluo socialista para ter
um orgasmo. Na verdade, no deveria haver necessidade
de seccionar os focos do turismo se a sociedade vivenciasse
sua vocao democrtica at as ltimas conseqncias.
Portanto, no deveria se orientar por parmetros meramente
estatsticos, atravs dos quais as parcelas mais representadas
socialmente (maiorias) impem seus pontos de vista s demais
(minorias). Nossas democracias ainda esto longe de
contemplar a extrema fragmentao de identidades e
interesses presente nas sociedades modernas. Toda maioria
necessariamente composta de inmeras minorias. Mesmo
porque continua sendo discutvel o prprio conceito de
minorias: no se pode afirmar, em nenhuma sociedade, que
as mulheres sejam minoria. E tampouco se pode dizer que a
cultura negra seja minoritria, num pas como o Brasil,
141
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
miscigenado e marcado por enorme influncia cultural da
populao afro-brasileira.
Nesse leque cada vez mais aberto a interesses peculiares,
pode-se acrescentar um turismo associado orientao
sexual que, acoplando-se vocao imediata de viajar, soma
elementos de luta por maior incluso de cidad@s GLBTs
no exerccio tanto de atividades tursticas diretas quanto de
funes dentro do mercado turstico. Ora, a luta pelos direitos
homossexuais tem uma longa histria. E o turismo fez parte
dela. Para examinar essa histria e uma participao especial
nela, proponho uma viagem s razes, como primeiro objeto
do presente ensaio.
A vocao viageira de homossexuais
Apesar da extrema invisibilidade da histria homossexual,
um olhar mais acurado poder revelar exemplos de como
homossexuais sempre estiveram envolvidos em viagens para
fora de seus locais de origem e para outros pases. Essa tende
a ser uma constante na histria de vida de milhares de
homossexuais, em diferentes pases e nas mais diversas
pocas. Veja-se, em pleno sculo XV, controlado por um
cristianismo ferrenho nos assuntos da f e dos costumes, a
figura singular e insuspeita de Joana dArc, que vestiu-se de
homem e suplantou os chefes militares ao comandar o
exrcito francs, alm de recusar-se tanto ao casamento
quanto maternidade1. Muitos estudiosos/as na rea de
gnero associam tais caractersticas rebeldes ao fato de Joana
dArc ser lsbica. No vamos entrar no mrito da espinhosa
questo de assumir ou no sua orientao sexual, mas a
verdade que, parte as motivaes polticas, Joana foi
Cf. Os Marginalizados, de Hans Mayer, Editora Guanabanara, Rio de
Janeiro, 1989, p. 39 a 41.
142
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
queimada por feitiaria, que na Idade Mdia comumente se
associava ao lesbianismo. Detalhe importante: para assumir
um papel s permitido aos machos guerreiros, ela deixou
sua aldeia em Lorena e saiu em perambulao pela Frana.
Tratava-se de algum escapando de suas origens e das regras
impostas s mulheres de seu tempo. Joana no saiu para
uma viagem no sentido turstico estrito, mas partiu para fora
da sua aldeia, numa experincia de exlio, em busca de sua
verdade pessoal: ser um outro tipo de mulher. Homossexuais
sempre tenderam a ter um p na estrada, voluntria ou
compulsoriamente. Muito freqentemente, viagem e exlio
constituem partes de um mesmo ncleo na experincia
homossexual, qual se acopla o turismo praticado num
sentido estrito. Na inquisio portuguesa, uma das
condenaes mais comuns aos sodomitas (termo que
identificava homossexuais) era o degredo para fora da sua
cidade ou do seu pas 2 . O Brasil recebeu muitos
homossexuais portugueses na condio de degredados. Num
sentido turstico estrito, j nos sculos XVIII e XIX a Itlia era
conhecida entre homossexuais como plo por excelncia
de um embrionrio turismo homossexual, pois ali era
possvel encontrar toda espcie de satisfao ertica, no
dizer do pesquisador Hans Mayer. Tratava-se de uma
tendncia to intensa que Mayer fala em dispora
homossexual, quando cita a Itlia como refgio onde os
exilados de Sodoma buscaram uma nova ptria e
procuravam sua identidade 3. Para as terras italianas
rumavam pessoas de culturas to diferentes como o russo
Verificar dados no livro Devassos no Paraso (A Homossexualidade
no Brasil da Colnia Atualidade), de Joo Silvrio Trevisan, Ed.
Record, 3 edio, Rio de Janeiro, 2000, Parte II: A Santa Inquisio
descobre o paraso.
3
Cf. Hans Mayer, obra citada, pp. 164-166.
2
143
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Peter Ilitch Tchaikovsky, o alemo Joahnn Joachim
Winckelmann, o irlands Oscar Wilde e o dinamarqus Hans
Christian Andersen, na esteira de um costume consagrado
pelos cdigos homossexuais da poca. Em suas vidas, de
um modo ou de outro, h fatos que indicavam o cruzamento
desses dois elementos: viagem a passeio e extravasamento
de uma sexualidade margem. Veneza tinha sua beleza
arquitetnica, cultuada por artistas em geral, mas oferecia
tambm a graa e o romantismo dos gondoleiros, muito
presentes no imaginrio homossexual de ento. Alis, consta
que prostitutas venezianas costumavam travestir-se de
homens para atrair mais lucrativamente outros homens4.
Por que homossexuais viajam tanto? Em resposta sensao
de exlio em seu prprio pas, freqente entre grande nmero
de homossexuais, ocorre uma necessidade premente de
conhecer o mundo. A tendncia que homossexuais
abandonem os lugares mais inspitos e agressivos, inclusive
suas cidades de origem, para procurar o seu lugar, movidos
pelo desejo de se libertar. Da um certo pendor andarilho
que pode ser associado vivncia homossexual em nossas
sociedades. Veja-se o caso do poeta ingls Lord Byron, que
fugiu da Inglaterra em 1816, para escapar das rigorosas leis
homofbicas britnicas, que o ameaavam com priso e
pena morte, por seus casos homossexuais. A partir da, Byron
perambulou pela Itlia, Sua, Espanha, Portugal, Albnia,
Constantinopla e Grcia, onde viveu grandes paixes por
adolescentes gregos, tendo tornado um deles herdeiro de
sua fortuna 5 . A partir do sculo XX, homossexuais
comearam a migrar mais maciamente para grandes centros,
Apud Hans Mayer, obra citada, p.161.
Cf. GAY 100 (A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL GAY MEN
AND LESBIANS, PAST AND PRESENT), de Paul Russell, A Citadel Press
Book, New Jersey, 1996, pp. 152 a 155.
4
5
144
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
onde pudessem gozar do anonimato, ter maior liberdade e
manter contato com outros homossexuais, na cena gay
urbana. Ficou famoso na Paris dos anos de 1920 o caso das
expatriadas americanas Gertrude Stein e sua amante Alice
B. Toklas. Para a mesma Paris e em igual perodo, rumou
um grupo de lsbicas famosas, composto por artistas e
escritoras inglesas e americanas, entre elas Djuna Barnes,
Radclyffe Hall e Doly Wilde (sobrinha de Oscar Wilde), que
se reuniam sistematicamente no apartamento da anfitri
Natalie Barney, grande defensora do amor entre mulheres6.
Ainda na dcada de 1920, ocorreram as escapadas
desvairadas, a Paris e Montecarlo, do famoso casal ingls
Vita Sackville-West e Violet Trefusis, depois de abandonarem
os respectivos maridos. Em seu dirio, Vita confessa que
adorava sair travestida de homem com a amante, para danar
e freqentar sales de jogo, sob a alcunha de Julian7. No
mesmo sentido de peregrinao devem-se mencionar as
viagens, dentro e fora dos Estados Unidos, de escritores
ligados ou no beat generation William Burroughs
(homossexual inicialmente metido num trgico casamento
heterossexual) em viagem pelo Mxico e Marrocos, Jack
Kerouac (um bissexual conflituado e alcolatra) em suas
incansveis andanas americanas, ou Paul Bowles, escritor
e compositor americano que passou a viver no Marrocos
(enquanto ele e a mulher viviam casos homossexuais). Podese mencionar tambm o escritor ingls Christopher
Isherwood, que na dcada de 1920 mudou-se para Berlim,
6
Cf. AS SEREIAS DA RIVE GAUCHE, de Vange Leonel, Editora
Brasiliense, So Paulo, 2002.
7
Cf RETRATO DE UM CASAMENTO, de Nigel Nicolson, Ed. Nova
Fronteira, Rio de Janeiro, 1976, pp. 109 e 110.
145
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
considerada ento capital gay do mundo, de onde ele extraiu
os temas para suas primeiras obras. H ainda outras
disporas homossexuais, como nos casos de Andr Gide,
que descobriu os osis da Tunsia, ou Henry de Montherland,
que se refugiou na Espanha, ou E. M. Forster, que tematizou
suas experincias homoerticas juvenis na ndia8.
Por sua reputao de suposta sensualidade e tolerncia, o
Brasil do sculo XX de certo modo funcionou tal como a
Itlia antes, pois muitos homossexuais estrangeiros aqui
vieram libertar-se das amarras culturais de seus pases de
origem, tais como o argentino Tlio Carella, o belga Conrad
Detrez, a americana Elizabeth Bishop e o alemo Hubert
Fichte, entre inmeros outros9. Mas, por mais paradoxal que
possa parecer, o Brasil tambm tido como um dos
campees mundiais de crimes contra homossexuais,
conforme alguns poucos estudos disponveis10 . Em funo
disso, ocorre o caminho inverso de inmeros homossexuais
homens e mulheres que deixam o Brasil para poder viver sua
sexualidade em pases gay friendly ou buscam melhores
condies legais para casais homoafetivos. Em geral, as
condies socioeconmicas favorecem o segmento
homossexual que tem acesso a viagens: costumam ser mais
ricos e mais exigentes do que a mdia da sociedade em geral.
Muito freqentemente, so tambm mais inquietos. Mas podese falar ainda de uma dispora homossexual por sobrevivncia
econmica, como no caso emblemtico dos travestis
brasileiros, turistas compulsrios. Sistematicamente expulsos
de casa ainda jovens, eles acabam indo viver nos grandes
Cf. Hans Mayer, obra citada, p. 166.
Para outros homossexuais estrangeiros/as no Brasil, ver DEVASSOS
NO PARASO, obra citada, pp. 76 a 105.
10
O CRIME ANTI-HOMOSSEXUAL NO BRASIL, Luiz Mott e outros,
Editora Grupo Gay da Bahia, Salvador, 2002, p. 150.
8
9
146
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
centros urbanos ou viajam para a Itlia, Sua, Espanha e
Frana, onde sobrevivem exercendo a prostituio com maior
segurana e rentabilidade.
Por trs de todas essas tentativas de encontrar seu lugar, a
dispora homossexual tem uma longa histria de luta.
O conceito de homossexualismo e as
primeiras lutas pelos direitos homossexuais
No decorrer dos sculos e em diversas culturas, a prtica
homossexual veio criando um verdadeiro jogo de gato e
rato para se esquivar das punies violentas que recaam
sobre ela desde multa, palmatria, priso, confisco de
bens, banimento, execrao e aoite pblico at marca com
ferro em brasa, castrao, decepamento das orelhas,
enforcamento, morte na fogueira, empalao e afogamento.
Antigamente conhecida por nomes como amor viril,
sodomia, pecado nefando, uranismo ou terceiro
sexo, s em 1869, na Alemanha, o amor entre pessoas do
mesmo sexo recebeu o nome cientfico de
homossexualismo. O mdico seu criador, que seria ele
prprio homossexual, visava apresentar a atrao pelo
mesmo sexo como inata, portanto natural e no adquirida,
para assim afastar a culpa por sua prtica. Tal inteno lhe
valeu a simpatia do mundo cientfico progressista da poca11.
Na verdade, o tiro saiu pela culatra, pois o conceito cientfico
foi englobado pela psiquiatria. Com isso, o amor entre pessoas
do mesmo sexo deixou de ser matria de pecado para tornarse doena, e portanto passvel de tratamentos. Sua
condenao transferiu-se da esfera da religio para a cincia,
Cf. HOMOSSEXUALIDADE: UMA HISTRIA, de Colin Spencer, Ed.
Record, R. Janeiro, 1996, p. 274
11
147
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
de modo que os padres foram substitudos pelos mdicos,
como seus algozes.
Em 1897, na cidade de Berlim, o Dr. Magnus Hirschfeld
criou a primeira organizao de luta pelos direitos
homossexuais, que em 1919 passou a chamar-se Comit
Humanitrio e Cientfico, acoplado ao Instituto de Cincia
Sexual, que se devotava a estudos de homossexualismo e
travestismo. Segundo o Anurio do Comit, o grupo visava
conseguir apoio do Legislativo para abolir do Cdigo Penal
alemo o famoso 175, de contedo explicitamente antihomossexual, e pretendia interessar os prprios
homossexuais na luta por seus direitos12. Alm de realizar
palestras por toda parte, a comear pelo prprio Reichstag
(Cmara dos Deputados), o Comit chegou a tal eficincia
militante que produziu pelo menos um filme sobre a questo
homossexual: Anders Als Die Andern (Diferente dos Outros),
de 1919, do qual no sobrou nenhuma cpia integral. Em
toda a Alemanha, criaram-se 25 sucursais do Comit
Humanitrio. Em 1920, contavam-se em torno de 25 jornais,
com anncios sentimentais, voltados para o pblico
homossexual masculino, alm de quatro exclusivamente
para lsbicas e uma revista para cultores do
sadomasoquismo, por entre vrias pornogrficas. To intensa
era a vida homossexual em Berlim que em 1922 inaugurouse um teatro que s apresentava peas de temtica
homoertica, o Eros Theater. As campanhas pela reforma
sexual promovidas pelo Comit alemo obtiveram
repercusso em vrios pases da Europa, recebendo apoio
de gente famosa como Thomas Mann e Lou Andras Salom.
Da Alemanha, as atividades liberacionistas homossexuais se
espalharam por outros pases europeus, com grupos
organizados na Inglaterra, ustria, Holanda, Itlia e
12
148
Cf. Colin Spencer, obra citada, pp. 307 e ss.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Thecoslovquia. Os eventos internacionais incluram vrios
Congressos para Reforma Sexual. O primeiro aconteceu em
1921, na capital Berlim. Em 1928, durante o 2 Congresso,
ocorrido em Copenhague, fundou-se a Liga Mundial pela
Reforma Sexual. O seguinte foi organizado no ano de 1929,
em Londres, tendo Bertrand Russel como delegado ingls.
O ltimo ocorreu em Viena, 1930. No seu auge, a Liga
contou com 130.000 afiliados no mundo todo. Os
liberacionistas homossexuais, que em sua grande maioria
eram socialistas, transformaram o apelo de Marx e lanaram
seu prprio lema: Uranistas do mundo todo, uni-vos13.
Graas ascenso dos nazistas ao poder, o Instituto de
Cincia Sexual foi tomado e destrudo, em 1933. Houve
queima pblica de seus arquivos, material coletado para
pesquisa e 10.000 livros que o governo nazista considerou
degenerados. O 175 foi reforado, detalhando a
proibio de beijos, abraos e at fantasias homossexuais.
Comearam ento prises em massa, com experincias
realizadas em cobaias homossexuais vivas, prtica de
esterilizao e envio para campos de concentrao (sem
retorno). At hoje segue desconhecido o nmero de mortos
homossexuais sob o nazismo, mas s nos arquivos policiais
alemes contavam-se 50.000 pessoas fichadas. Raramente
os organismos internacionais mencionam o fato. Trata-se
do nico grupo que nunca recebeu indenizao de guerra.
Assim, aps 35 anos de lutas, o movimento homossexual
alemo foi massacrado pelos nazistas e quase apagado do
mapa, deixando um frgil rastro14.
Cf. RACE DEP!, de Guy Hocquenghem, ditions Libres/Hallier, Paris,
1979, pp. 101 e ss.
14
Cf. THE EARLY HOMOSEXUAL RIGHTS MOVEMENT (1864-1935),
de John Lauritsen e David Thorstad, Times Change Press, N.York,
1974, pp. 38 e 45.
13
149
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O moderno movimento homossexual
Mesmo aps a derrota nazista na Alemanha e em pases menos
conservadores, tornou-se difcil retomar o flego do perodo
de 1920. Na esfera socialista, a prtica homossexual foi
considerada pelo estalinismo como produto da decadncia
burguesa, merecendo represso feroz, que provocou ondas
de suicdio no Exrcito Vermelho e deportaes para campos
de concentrao15. A trombada nazista colocou, durantes
dcadas adiante, uma imensa pedra no caminho do
movimento pelos direitos homossexuais. A retomada deu-se
de modo muito acanhado. No final da dcada de 1940 e
incio dos anos de 1950 surgiram nos Estados Unidos dois
grupos homossexuais organizados: o Mattachine Society e,
mais tarde, o Daughters of Bilitis (constitudo s de lsbicas).
Para se ter idia de sua mentalidade antiquada, o Mattachine
se autodefinia como uma organizao de servio e assistncia
social dedicada proteo e evoluo da Minoria Andrgina
da sociedade16. Ambos eram grupos pequenos, com reduzida
capacidade de mobilizao. Como seu modelo de
organizao era o Partido Comunista americano, a liderana
do grupo atuava de forma centralizada e exigia prudncia
at na maneira de se vestir formalmente, para no chamar
ateno. Sua proposta ideolgica tambm se mostrava muito
reduzida, pois recusavam assumir-se como parte de uma
cultura especificamente homossexual. Em vez da ao
coletiva, priorizavam contatos com o mundo acadmico, no
intuito explcito de influenciar cientistas, pesquisadores e
instituies, na verdade as fontes do autoritarismo
homofbico17. Da seu isolacionismo.
Cf. John Lauritsen e David Thorstad, obra citada, pp. 68-70.
Cf. Colin Spencer, obra citada, p. 339.
17
Cf. SEXUAL POLITICS, SEXUAL COMMUNITIES (THE MAKING OF A
HOMOSEXUAL MINORITY IN THE UNITED STATES, 1940-1970), de John
DEmlio, The University of Chicago Press, Chicago, 1983, pp. 57 e ss.
15
16
150
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
At que, em 28 de junho de 1969, ocorreu nos Estados
Unidos um episdio que viria mudar a histria do movimento
homossexual, no a partir dos escritrios quase clandestinos
das velhas lideranas, mas nas ruas, protagonizado por
homossexuais annimos, legtimos representantes da
comunidade gay americana 18. Era uma sexta-feira de
madrugada, quando ocorria mais uma batida policial num
bar danante de Nova York, o Stonewall Inn, em Grenwich
Village. O local, freqentado sobretudo por homossexuais
jovens, no brancos e travestis, tinha m fama, inclusive
porque apresentava shows de go-go boys. Ao contrrio das
outras vezes, a pequena multido de clientes retirada fora
do bar reagiu primeiro com vaias, depois atirando objetos,
garrafas, latas de cerveja e pedras sobre os policiais. Em pouco
tempo formou-se uma multido enfurecida e o bar acabou
em chamas. Mais policiais chegaram, para resgatar seus
colegas acuados pela multido. Segundo noticirio do
Village Voice, travestis porto-riquenhos e jovens bichas
desmunhecadas comandavam o ataque contra os policiais
perplexos. Durante a madrugada e a noite seguinte, a revolta
se espalhou pela vizinhana, com homossexuais furiosos
atirando latas de lixo contra carros do esquadro de polcia
antimotim. No sbado, os muros da regio estavam cheios
de pichaes conclamando ao gay power. A modificao
substancial de atitude foi notada pelo poeta Allen Ginsberg,
que, no domingo, veio dar seu apoio e comentou com a
reportagem do jornal: As bichas perderam aquele olhar
ferido que tinham dez anos atrs19. Logo depois, nasceu
em Nova York o Gay Liberation Front, um grupo de
homossexuais militantes que pregava a revoluo gay.
O relato que se segue resume as pesquisas de John DEmlio, obra
citada, pp. 231-239.
19
Cf. Village Voice, 3 de julho de 1969, p. 18, apud John DEmlio,
obra citada, p. 232.
18
151
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Passado um ano, ramificaes dessa organizao espalhavam
a rebelio histrica dentro da comunidade gay de todo o
pas, instaurando a luta pelos direitos homossexuais inclusive
em estados mais conservadores e cidades menores, chegando
a mais de 800 grupos de liberao, ao final da dcada de
1970 20. Abandonava-se definitivamente o complexo de
inferioridade dos antigos militantes comunistas
homossexuais.
Exilado da ditadura brasileira e vivendo na Califrnia nesse
perodo, eu pude constatar como o movimento gay enraizavase no seio da comunidade, disseminado em todas as classes,
sem precisar atrelar-se a partidos polticos. Assumir-se
homossexual supunha, quase automaticamente, lutar por seus
direitos. Construa-se rapidamente um discurso prprio,
enquanto se partia para um programa poltico novo que
propunha um amplo espectro de revoluo na cultura, na
sociedade e nas conscincias individuais. O gay mouvement
americano comeou a buscar uma gay revolution, com
grande capacidade de mobilizao baseada na firme
conscincia de sua opresso e na solidariedade entre os
oprimidos. No se fazia mais uma separao rgida entre o
pessoal e o poltico, tpica da esquerda tradicional. Essa
revoluo popular deveu-se ao contexto da contracultura
americana das dcadas de 1960 e 1970, dentro da qual
vicejavam variados tipos de marxistas menos autoritrios,
ao lado de hippies, anarquistas, pacifistas contra a guerra
do Vietn, militantes dos direitos civis, ativistas negros e
feministas. Esses grupos compunham a nova esquerda (new
left), que teve flexibilidade para permitir uma identidade
prpria ao movimento homossexual e passou a dialogar com
ele. Afinal, desde o incio uma das principais bandeiras da
contracultura fora o amor livre.
20
152
Cf. John DEmlio, obra citada, p. 238.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
De l para c, muita coisa mudou, em vrios sentidos. O
movimento pelos direitos homossexuais tomou flego em
quase todo o mundo. A Organizao Mundial da Sade retirou
o homossexualismo da lista de doenas. Muitas cidades ao
redor do mundo aprovaram leis antidiscriminatrias a
homossexuais. Denncias de sociedades, situaes e atos
homofbicos passaram a circular mais rapidamente. E vrios
pases j implantaram leis que aprovam a constituio oficial
de casais homossexuais, com todos os direitos que lhes so
devidos. Assim, a Holanda, que desde 1998 efetivara
legalmente a possibilidade de matrimnio entre homossexuais,
a partir do ano 2000 passou tambm a conceder a esses casais
os mesmos direitos na adoo de crianas, at ento s
permitidos a casais heterossexuais. Mas no se trata de termos
chegado ao paraso gay. Vtimas de mentalidades retrgradas
e fanatismo, homossexuais continuam sendo perseguidos e
assassinados em todas as partes. Em inmeros pases islmicos,
alm de outros como China e Jamaica, continuam
funcionando leis persecutrias prtica homossexual, com
pouqussima ressonncia de protesto por parte de organismos
internacionais, exceo da Anistia Internacional. Como a
toda ao corresponde uma reao em igual intensidade, tm
recrudescido por toda parte grupos e movimentos contrrios
aos direitos homossexuais, sobretudo de extrao religiosa
fundamentalista. Nos ltimos anos, atravs do papa e de vrios
rgos do Vaticano, a prpria Igreja Catlica tem
sistematicamente lanado documentos e feito
pronunciamentos condenatrios homossexualidade. Se
considerarmos a repercusso na mdia e o poder de influncia
que a Igreja ainda exerce no mundo, tais atos funcionam como
verdadeira incitao violncia contra homossexuais. E a
julgar pelas manifestaes do papa Bento XVI, nada indica
que aparea nos horizontes da catolicidade oficial uma maior
compreenso em relao ao amor homossexual.
153
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O movimento homossexual no Brasil
No Brasil, o primeiro movimento organizado de luta pelos
direitos homossexuais surgiu quase dez anos aps os
americanos, com a fundao em 1978 do grupo Somos, na
cidade de So Paulo, e do jornal Lampio da Esquina, cuja
redao funcionou no Rio de Janeiro, a partir do mesmo
ano21. O grupo Somos-SP inclua inicialmente homens e
mulheres, que se organizaram em subgrupos de atividades,
abrangendo desde estudos tericos e terapia grupal para
novos participantes, at promoo de palestras em escolas e
protestos pblicos. Sua organizao baseava-se na autonomia
poltica do movimento homossexual e numa direo
gestionria no centralizada. Uma das idias-chave, presente
desde os primrdios do grupo, foi a de que a
homossexualidade devia ser uma instncia de determinao
dos prprios homossexuais, e no de especialistas, fossem
eles padres, juzes, cientistas ou lderes polticos. Assim, o
formato do liberacionismo homossexual a ser implantado
em todo o pas foi inaugurado pelo Somos-SP (logo depois
surgiu um Somos no Rio de Janeiro e outro em Sorocaba,
estado de So Paulo). A partir dessa experincia seminal, os
grupos liberacionistas homossexuais proliferaram por todo
o pas, chegando a se reunir, em nvel nacional, no 1
Encontro Brasileiro de Grupos Homossexuais, realizado em
So Paulo, em abril de 1980. Em junho desse mesmo ano,
ocorreu um evento precursor das grandes Paradas GLBT
futuras: uma passeata de protesto organizada por grupos
homossexuais militantes, que reuniu mais de 500 pessoas
manifestando-se, pelas ruas centrais de So Paulo, contra as
prises arbitrrias efetuadas por um delegado de polcia em
21
Os dados que seguem podem ser melhor consultados no meu livro
DEVASSOS NO PARASO, obra citada, Parte IV: A manipulao da
homossexualidade liberada, entre as pginas 335 e 385.
154
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
locais freqentados por homossexuais, prostitutas e travestis,
na regio do largo do Arouche. Em 1981, o grupo Somos
rachou politicamente, por interferncia de grupos
partidrios, o que marcaria todo o futuro do movimento
homossexual com alinhamento ideolgico e atrelamento
partidrio. Aproveitando a ocasio, as mulheres tambm se
separaram para criar o Grupo de Ao Lsbica Feminista,
que chegou a publicar um boletim interno chamado Chana
com Chana. Quanto ao Lampio, que era mensrio e tinha
distribuio nacional, foi um jornal que exerceu grande
influncia no segmento homossexual da poca. Perseguido
pela ditadura, que ameaou seus editores com processo
judicial por atentado moral, Lampio sofreu tambm com
as esquerdas, s quais ele pretendia se alinhar e pelas quais
foi sistematicamente ignorado. Buscando dar voz s assim
chamadas lutas menores, que comeavam a se organizar
atravs das organizaes feministas, anti-racistas e
ambientalistas, Lampio fazia crtica aos preconceitos de
esquerda e direita, numa linguagem que buscava recuperar
o jargo bichesco. O jornal durou at 1981, encerrando
suas atividades graas s crnicas dificuldades financeiras,
aps a edio de 37 nmeros. Podem-se citar como
caractersticas dessas lutas iniciais do movimento
homossexual brasileiro tanto a busca de uma identidade
original quanto a radicalidade na crtica social, inclusive
tentando implantar, em vo, um modelo prprio de
participao poltica baseado na autonomia.
Quando, em meados dos anos 1980, surgiu a pandemia da
Aids, que ento atingia sobretudo o segmento homossexual,
o movimento encontrava-se combalido por lutas polticas
divisionistas. Com raras excees, o que restou dele mudou
seu foco para a luta anti-Aids. Ao mesmo tempo em que na
rea de sade se criavam servios estaduais e nacional para
controlar a doena, foram surgindo inmeras ONGs que
155
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
recebiam financiamento governamental ou internacional para
interferir no segmento homossexual, com promoo de
debates, distribuio de preservativos e atendimento aos
doentes. Se nesse momento o movimento homossexual
tornou-se quase refm da luta contra Aids, o ponto positivo
que nunca se falou to abertamente da homossexualidade
para a populao brasileira. Foram homossexuais dentro
desses grupos e desses servios que ajudaram a implantar um
modelo de combate epidemia no Brasil, hoje reconhecido
at mesmo pela Organizao Mundial de Sade.
Em 1995, fundou-se a Associao Brasileira de Gays, Lsbicas
e Travestis (ABGLT), procurando implementar polticas de
direitos homossexuais e coordenar aes em todo o pas.
Nesse mesmo perodo, o movimento tomou grande impulso
atravs da luta pela Parceria Civil Registrada, com projeto
de lei apresentado na Cmara dos Deputados, e at hoje
no votado pelos congressistas. A multiplicidade de atividades
voltadas para o pblico GLBT se manifesta na existncia de
listas de discusso na Internet, inmeros sites informativos e
linhas telefnicas para denncia de discriminao, assim
como livrarias, editoras e agncias de viagem especializadas,
alm de eventos festivos e culturais organizados por empresas
GLS (festivais de cinema, exposies) ou pela comunidade
homossexual (beijaos de protesto). No entanto, o fato mais
relevante em termos polticos e de mobilizao da
comunidade foi o surgimento, a partir de 1995, das Paradas
do Orgulho GLBT em todo o pas, especialmente a Parada
de So Paulo, que teve grande impacto ao colocar nas ruas
centrais da capital paulista milhes de pessoas celebrando o
amor homossexual. Homossexuais vo engrossando, assim,
uma luta poltica sofisticada. Num pas de cultura machista
como o Brasil, trata-se do nico segmento da sociedade a
exigir o direito de amar amplamente e mesmo contra a
corrente.
156
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Visibilidade, pink money e reconhecimento
social
Na luta pelos direitos da comunidade homossexual, um fator
de grande importncia tem sido a visibilidade. Procura-se
chamar a ateno da sociedade e das empresas para as
necessidades da demanda GLBT e tambm para as vantagens
de contemplar tais necessidades. Assim, no se pensa apenas
num amplo conceito de democracia, mas tambm na
participao de homossexuais no mercado. A entra o
chamado pink money, que muita gente acredita ser arma
infalvel contra a discriminao. Sua capacidade de persuaso
real, como se ver a seguir. Mas, infelizmente, o pink
money nem sempre funciona como elemento demovedor
de preconceitos. claro que homossexuais podero boicotar
seja empresas seja produtos que promovem a discriminao
por orientao sexual. Ainda assim, ocorrem algumas
armadilhas em que o turismo homossexual quase
inviabilizado em funo de costumes discriminatrios
arraigados. Anos atrs ocorreu o caso famoso de um navio
americano de turismo explicitamente homossexual que foi
impedido de se abastecer na costa da Jamaica, graas
mentalidade retrgrada dos governantes locais. Alm de
impedir o turismo como direito de todos, um gesto assim
obscurantista constitui uma grave falta contra os direitos
humanos, por humilhar homossexuais, tratando-os como
leprosos morais. Imagine-se um navio com turistas negros
impedidos de aportar em territrio branco separatista, ou
de turistas judeus a quem se negasse abastecimento num
porto de pas anti-sionista. Seria impensvel, pois criaria um
incidente diplomtico envolvendo muitas naes. Mas, no
caso do ato anti-homossexual por parte do governo
jamaicano, no se aventou sequer a hiptese de um protesto
do governo americano, quanto menos uma punio nos
quadros da ONU.
157
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Mesmo quando existe, meramente pontual e de imenso
oportunismo, a preocupao com os interesses da
comunidade homossexual (ainda que esteja a implicado o
pink money, direta ou indiretamente). Num pas como o
Brasil, o preconceito contra homossexuais existe de modo
visvel, considerando-se desde o tratamento familiar e escolar
at a abordagem sensacionalista da mdia. Nas telenovelas,
por exemplo, a presena de personagens homossexuais tem
funcionado como alavanca para aumentar os ndices de
audincia, oferecendo ao pblico doses homeopticas desses
personagens homossexuais de ambos os sexos, que so vistos
como animais exticos. O lado particularmente perverso
de toda a manobra sua clara explorao voyeurstica. Vejase, como ilustrao, o uso que a TV Globo fez da represso,
para atingir um nvel quase indito de altos ndices no Ibope:
para o final da novela Amrica, anunciou amplamente a
ocorrncia do primeiro beijo gay na TV brasileira. E, no
ltimo instante, sonegou-o sorrateiramente, sob pretexto de
no ferir os sentimentos da audincia menos preparada para
tal. verdade que na quinta edio do programa Big Brother
Brasil, ocorrido em 2005, saiu vencedor um jovem professor
e jornalista homossexual assumido, Jean Wyllys, com ampla
maioria de votos de espectadores. Mas isso se deveu menos
s simpatias da TV Globo do que s qualidades humanas do
vencedor, que conquistou o pblico (sobretudo mas no s
homossexual). Os votos do pblico lhe foram dados
maciamente por sua postura tica, simpatia e inteligncia.
Alis, a julgar por exemplos anteriores, a incluso de um
homossexual no referido programa j supunha a
possibilidade de criar sensao e polmica. Se as emissoras
de TV nem sempre apresentam homossexuais caricatos (que
continuam presentes em vrios dos seus programas cmicos),
no caso do beijo que no houve entrou em cena o poder
refreador da Globo. Como todo mundo quer ver um beijo
158
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
proibido, alimenta-se o seu Ibope com o sensacionalismo
que, por sua vez, se alimenta da represso que a prpria
Globo incentiva ao negar o beijo, criando assim expectativas
at a prxima novela, na qual haver obviamente um
personagem gay problematizado, que, com certeza, vai gerar
novamente a possibilidade de um novo beijo proibido. E
assim at o infinito. Menos do que um crculo vicioso, tratase de um circuito perverso. A mesquinhez, que beira a
crueldade, evidencia-se na presena (quase provocadora)
de calorosos beijos heterossexuais e em todo tipo de
falcatruas permitidas na novela Amrica. Mas o beijo gay,
esse imprprio. A, pouco interessa o poder do chamado
pink money.
Em pases como o Brasil, ainda reduzida a fora de presso
da comunidade homossexual. Se o pblico GLS capaz de
votar em massa pela vitria de Jean Wyllys no Big Brother
Brasil 5, nesse caso a mobilizao est relacionada mais com
uma empatia emocional potencializada pela capacidade da
divulgao televisiva do que por uma real conscincia dos
direitos e da capacidade mobilizadora dessa mesma
comunidade. Ao contrrio dos Estados Unidos, no Brasil
ainda so impensveis as campanhas de boicote a produtos
lesivos imagem da comunidade homossexual. H antes de
tudo uma questo bsica a ser superada: a tal visibilidade,
que se baseia na conscincia dos seus direitos. No se pode
desconhecer a importncia das Paradas GLBT em todo o
pas, mas ser preciso lembrar tambm sua insuficiente
capacidade de persuaso da sociedade e de dissuaso de
seus agentes discriminadores. O preconceito continua,
mesmo diante da inegvel realidade do pink money.
Empresas dos mais diversos setores ainda se negam a associar
seus nomes e produtos a eventos ligados comunidade gay.
Apesar de no ser o nico, o caso mais gritante que conheo
o da Parada GLBT de So Paulo, considerada a maior do
159
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
mundo e o maior evento turstico da cidade de So Paulo
como se ver mais amplamente a seguir. Ainda assim, at
hoje ela no consegue patrocnio das grandes empresas,
mesmo aquelas que fabricam produtos supostamente
cortejados pelo mercado GLBT (por exemplo, produtos light).
At aquelas empresas multinacionais que mantm canais
abertos com a comunidade homossexual em outros pases
(como cartes de crdito, perfumarias e linhas areas) aqui
no Brasil colocam o p no freio, receosas de macular seus
produtos na associao com a homossexualidade. Como no
caso da Globo, toda permissividade sempre conformista:
permite-se at aqui para proibir da em diante.
Mas isso no parece ser prerrogativa brasileira. Em recente
entrevista, o dramaturgo americano Edward Albee manifestava
indignao com o fato ocorrido durante a temporada novaiorquina de sua ltima pea A Cabra, quando os mesmos
espectadores que aceitaram com naturalidade a relao
amorosa de um homem por uma cabra retiraram-se do teatro
revoltados, no momento em que pai e filho trocam um beijo
homossexual, na mesma pea22.
Turismo GLBT nos Estados Unidos
Para se ter uma idia do potencial turstico da comunidade
homossexual, so significativos os resultados de uma pesquisa
realizada em 2005, com a populao gay e lsbica
americana, em So Francisco23. A se mostrava que 96% de
22
Cf. artigo Tragdia das pequenas coisas, de Corine Lesnes, in
Caderno Mais!, Folha de So Paulo, 23 de novembro de 2005, p. 8.
23
Fontes das informaes estatsticas: Gay & Lesbian Travel Profiles,
da Community Marketing, Inc., San Francisco, CA; Travel Industry
Association of Americas Travel Poll; US Census; US Passport Office;
webflyer.com Para estas e outras informaes, consultar o site
www.CommunityMarketingInc.com (Uso permitido pelo grupo
Community Marketing, Inc., San Francisco, CA, 2005).
160
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
homossexuais pesquisad@s realizaram ao menos uma
pequena viagem de descanso no ltimo ano, contra apenas
56% dos viajantes americanos em geral. Constatou-se ainda
que 84% dos homossexuais pesquisados tm passaporte
vlido, contra a mdia nacional americana de 23%. Por
outro lado, a mdia da renda familiar de homossexuais
pesquisad@s foi de 87.500 dlares por ano, contra 41.994
dlares anuais da renda familiar mdia americana (no censo
disponvel, que de 2000). Ou seja, homossexuais
american@s obtm algo como o dobro da renda mdia
nacional nos Estados Unidos. Mais: 72% de homossexuais
pesquisad@s tm diploma universitrio, contra a mdia
nacional de 29%, indicando um grau expressivo de formao
profissional entre a comunidade homossexual, mais de duas
vezes superior mdia do pas.
Certamente, dados assim superlativos permitiram a
organizao de uma ampla rede de turismo para atender de
maneira especial o segmento gay-lsbico em todo mundo,
a partir dos Estados Unidos. Em 1983, foi fundada na Flrida
onde continua sediada a Associao Internacional de
Turismo Gay e Lsbico, tambm conhecida como IGLTA
(International Gay and Lesbian Travel Association), presente
hoje em 70 pases dos cinco continentes, com cerca de mil
associados24. Entre eles se incluem: agncias operadoras;
companhias areas (como American Airlines, United Airlines
e Lufthansa); hotis (das cadeias Sheraton e Hyatt, entre
outras); empresas de aluguel de automvel (Avis e Alamo,
por exemplo); linhas ferrovirias; escritrios municipais de
turismo; e empresas de seguro de viagem. No Brasil, h por
volta de dez associados, entre eles hotis das redes Othon e
Agradeo a Clvis Casemiro, da agncia CVC-Shopping Frei Caneca,
de So Paulo, as informaes que seguem, sobre a IGLTA.
24
161
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Pestana, assim como as companhias TAM e Varig, alm de
algumas agncias tursticas de Rio de Janeiro e So Paulo.
Desde seu incio, a IGLTA promove convenes anuais em
grandes cidades ao redor do mundo como aconteceu com
Johannesburgo, Barcelona, Filadlfia, So Francisco, Sidnei
etc. Promove tambm dois simpsios anuais, em diferentes
pases. Em 2005, a conveno anual ocorreu em Colnia,
na Alemanha, enquanto os simpsios aconteceram em
Buenos Aires e Lisboa. O Rio de Janeiro foi eleito para sediar
a conveno anual em 2007, o que lhe abre boas
perspectivas para incrementar o fluxo de turismo gay-lsbico
internacional.
A ltima associada brasileira a integrar a IGLTA foi a So
Paulo Turis, que enviou representantes conveno de
Colnia, com participao da prpria diretora do rgo,
alm do presidente do So Paulo Convention Bureau. Esse
interesse, que bem recente, resulta do sucesso da Parada
do Orgulho GLBT, hoje considerado o maior evento de
captao de turistas na cidade de So Paulo, atraindo mais
de 200 mil visitantes contra 40 mil da Frmula 1 e menos
de 30 mil pessoas vindas para o carnaval paulistano. A
movimentao financeira alavancada durante a Parada
GLBT de So Paulo, em 2005, foi da ordem de R$ 100
milhes, apenas na semana do Orgulho GLBT. Tudo isso
resultado do trabalho voluntrio de pessoas ligadas
Associao da Parada do Orgulho GLBT de So Paulo, ONG
promotora do evento, portanto sem gastos financeiros
adicionais. No entanto, para se ter idia do tipo de
disparidade que vitima o turismo gay, o patrocnio da
prefeitura Parada GLBT de So Paulo proporcionalmente
minsculo ante os recursos que os rgos governamentais
destinam ao fraco carnaval paulistano. Embute-se a o receio
de receber a acusao, por parte de grupos religiosos
fanticos e entidades conservadoras, de se estar favorecendo
162
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
a difuso do homossexualismo. Algo semelhante acontece
em relao aos patrocnios privados. Vrios canais de TV e
a cerveja Brahma, por exemplo, pagam para retransmitir o
carnaval ou para manter camarotes prprios, em So Paulo.
Mas nada disso ocorre na Parada GLBT, para a qual no se
carreia um nico tosto pela retransmisso do evento, de
grande interesse na mdia nacional e internacional. Alm
de resultar de mera discriminao, essa situao implica uma
manipulao cruel do preconceito. Por exemplo, a TAM e
Varig fazem anncios em revistas e sites internacionais GLBT,
alm de participar em festas e convenes voltadas para o
turismo GLBT, associando-se a agncias especializadas para
captar turistas entre a populao gay americana. Mas essas
empresas brasileiras se recusam a fazer algo parecido no Brasil.
Alis, revistas voltadas para o pblico gay, como a G Magazine,
sofrem de permanentes problemas financeiros por falta de
anncios publicitrios de empresas pblicas ou privadas
pelo mesmo medo de sujar seus produtos. Quanto aos rgos
governamentais, ocorrem aes raras e esparsas, sem uma
poltica programada para a rea. Enquanto isso, os Ministrios
de Turismo da Alemanha, Frana e Inglaterra criaram e
distribuem catlogos oficiais de turismo GLBT em vrias de
suas cidades, alm de participar de convenes em todo o
mundo e pagar anncios em revistas gay de vrios pases da
Comunidade Europia. Enquanto no Brasil no temos guias
especializados nem nos centros urbanos de intensa vida gay,
as prefeituras de So Francisco, Paris, Berlim e Amsterd, para
dar alguns exemplos, produzem e distribuem guias de eventos
e locais de interesse de turistas homossexuais. Em pases
desenvolvidos da Europa e Amrica do Norte, muitas cadeias
de hotis oferecem condies favorveis a turistas gay. Por
exemplo, a cadeia de hotis W (no existente no Brasil),
oferece tarifas especiais durante eventos gay, disponibilizando
em suas dependncias at mapas com points GLBT das
cidades onde esto implantados.
163
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Convm lembrar que, em funo da grande incidncia de
viagens de interesse homossexual, guias gay tornaram-se uma
tradio no segmento homossexual. Seja para viagens de
navio e vos charter por lugares exticos e badalados, ou
em passeios e expedies locais, a comunidade homossexual
acostumou-se a indicar solidariamente os caminhos. Entre
inmeros outros, cumpre salientar o famoso e polpudo
Spartacus International Gay Guide, que existe h dcadas,
e em suas quase mil e quinhentas pginas inclui pases to
dspares como Camboja e Hungria, Mxico e Coria do Sul,
Bulgria e Senegal, com indicaes precisas sobre a vida
gay local25. Atualmente, os guias gay so tantos que existem
editoras especializadas em sua publicao, por toda parte.
Alis, normal que pases de intensa vida gay, assim como
grandes cidades europias e americanas, tenham venda
guias especficos das atividades e lugares de freqncia GLBT
nacional e local, com informaes detalhadas que incluem
preos, qualidade dos servios e at itens de segurana (em
lugares de paquera homossexual). No Spartacus, por
exemplo, o Coliseu de Roma era desaconselhado para
paqueras, por seu alto risco de segurana. Existem inclusive
guias alternativos e politicamente corretos, que muitas vezes
beiram a obra literria ficcional, por mesclarem deliciosas
narrativas e incidentes nas visitas a lugares de interesse GL26.
Atualidade de um turismo gay no Brasil
Em certos setores da vida brasileira, j existe uma tradio
de turismo GLBT. Mesmo quando no explcito ou pouco
formalizado como tal, o carnaval brasileiro tem um apelo
Cf. Spartacus International Gay Guide, Bruno Gmnder Verlag, Berlin.
Veja-se, por exemplo, Are you two... together? (A gay and Lesbian
Travel Guide to Europe), de Lindsy Van Gelder e Pamela Robin Brandt,
Random House, New York, 1991.
25
26
164
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
gay que atrai nmero cada vez maior de turistas
homossexuais estrangeiros e nacionais para cidades como
Rio de Janeiro, Salvador e at mesmo Recife/Olinda. Podese falar tambm de um turismo gay mais bvio, voltado para
a intensa vida noturna e de lazer das grandes cidades
brasileiras. Veja-se o caso de Belo Horizonte.
Proporcionalmente, a capital mineira tem o maior nmero,
em todo o pas, de saunas gay com funcionamento 24 horas.
Isso responde demanda de homossexuais de toda a regio
e do estado de Minas Gerais, que viajam capital nos fins
de semana, exclusivamente para freqentar os points
homossexuais.
Quando comparado ao mercado turstico internacional, o
Brasil ainda est muito aqum de suas potencialidades. Mas
j despontam algumas conquistas. Em 2004 foi fundada em
So Paulo a ABRAT GLS (Associao Brasileira de Turismo
para Gays, Lsbicas e Simpatizantes). Seu objetivo reunir
empresas interessadas no turismo dirigido a esse pblico.
Alis, a ABRAT GLS considera importante a incluso do S,
pois acredita que pessoas simpatizantes, ou seja, amigos e
familiares de homossexuais, tambm possam privilegiar
empresas gay friendly. Recentemente, a ABRAT GLS
promoveu um workshop para profissionais da rea hoteleira
interessados em conhecer gostos e necessidades da
comunidade GLS (como se pode ver no site http://
www.abratgls.com.br). Isso importante, pois no so muitas
as cadeias de hotis brasileiros que oferecem boas condies
para casais homossexuais por exemplo, evitando
constrangimentos ao solicitar cama de casal. J existem
tambm sites de informao turstica voltada para a
comunidade GLBT, que incluem at informaes variadas
sobre as lutas pelos direitos homossexuais. Veja-se, a
propsito o site do www.lambdabrasil.com. Apesar de ainda
agregar poucas agncias especializadas em todo o pas, o
165
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
turismo gay considerado um dos mais promissores do Brasil
atualmente. Na contramo da crise do mercado, h vrios
anos tem ocorrido um crescimento substancial de agncias
de viagem voltadas ao segmento homossexual. Os motivos
podem ser tanto a maior abertura das operadoras diante de
homossexuais quanto a prpria conscincia crescente da
comunidade homossexual sobre seus direitos. O setor que
mais cresce o de pacotes exclusivos para o pblico GLS.
De fato, vrias agncias de viagem adotaram a estratgia de
se voltar exclusivamente para o segmento GLBT. Assim
acontece com a libi, de So Paulo, que chega a vender
sessenta pacotes por ms a clientes homossexuais de sua lista
que rene pelo menos dez mil nomes27. Uma vez superado
o preconceito e o medo de perder clientes do ramo
tradicional, as operadoras voltadas para o turismo
homossexual vm obtendo lucros que dobram ano a ano,
em funo da demanda reprimida. Alguns dados estatsticos
confirmam essa tendncia. No ano 2000, uma pesquisa da
Universidade Paulista (Unip) confirmava o segmento GL
como um dos ramos do turismo com maior crescimento no
Brasil. Os dados ali colhidos indicam que, no total de turistas
estrangeiros vindos ao Brasil, de 7% a 8% se definem como
homossexuais. A pesquisa indica tambm que 92% dos
homossexuais pesquisados viajam freqentemente28. Tudo
isso se explica. Numa populao estimada atualmente pelo
IBGE em 180 milhes de habitantes, calcula-se que o Brasil
tenha entre 7 milhes a 18 milhes de pessoas homossexuais,
pelo menos tomando como referncia os clculos
internacionais de que homossexuais perfazem de 4% a 10%
da populao geral. Dessa porcentagem, a grande maioria
Cf. artigo Sob as cores do arco-ris, Correio Braziliense, Braslia,
14 de maio de 2003.
28
Apud revista G Magazine, So Paulo, fevereiro de 2001, p. 15.
27
166
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
no tem filhos, mesmo vivendo maritalmente em casal.
Significa que essa gente toda dispe de mais tempo e dinheiro
para consumir em viagens de lazer.
Outro dado importante que, mesmo com a setorizao
turstica ainda engatinhando, o Brasil j apresenta sinais
concretos de um novo tipo de turismo gay, que veio ampliar
o conceito de lazer. A se incluem as Paradas do Orgulho
GLBT, que hoje acontecem em torno de sessenta cidades
brasileiras de norte a sul, atraindo turistas homossexuais de
todas as idades e classes. Por sua monumentalidade e
organizao, destaca-se particularmente a Parada de So
Paulo. Sob organizao da Associao do Orgulho GLBT de
So Paulo, essa tem sido a maior Parada GLBT do planeta
pelo segundo ano consecutivo, com mais de 2 millhes de
pessoas presentes na sua 9 edio, em 2005. Acoplado ao
ms do Orgulho GLBT, evidente que esse evento paulistano
vem atraindo a ateno de agncias nacionais e
internacionais, interessadas na crescente presena de turistas
homossexuais do Brasil, Amrica Latina, Europa e Amrica
do Norte. Alm disso, a Parada do Orgulho GLBT
considerada pela prpria Prefeitura como o maior evento
turstico de So Paulo, como j se mencionou anteriormente.
O interesse crescente da Prefeitura paulistana com a Parada
resulta da sua importncia aferida por recente pesquisa sobre
o perfil dos visitantes da 9 Parada GLBT de So Paulo, em
2005. Tal pesquisa, realizada pela SP Turismo S/A e Secretaria
Executiva de Turismo do Estado de So Paulo, em parceria
com a Associao da Parada do Orgulho GLBT de So Paulo
e a Escola de Sociologia de So Paulo, obteve dados
surpreendentes como potencial turstico. Constatou-se que
53% dos participantes no evento tm renda at cinco salrios
mnimos mensais. Ainda que possa apresentar uma pequena
defasagem por se referir a 2003, a mdia nacional estimada
pelo IBGE de 77% com renda na mesma faixa at cinco
167
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
salrios mnimos/ms. Enquanto 15% dos entrevistados da
Parada recebem entre seis e dez salrios mnimos/ms, a
mdia nacional de 6,1% para igual faixa. No quesito
educao, constatou-se que, dentre os entrevistados durante
a 9 Parada de So Paulo, 31% tm ensino mdio completo.
Segundo o IBGE, a mdia nacional na faixa de quatro a sete
anos de estudo realizados permanece muito semelhante:
entre 31,4% (mulheres) e 32,9% (homens). Mas quando se
trata de oito a dez anos de estudos, a mdia nacional alcana
apenas 16,4% dos homens ou 16,3% das mulheres, enquanto
os pesquisados na Parada alcanam 31% com ensino mdio
completo. A situao fica ainda mais favorvel para os
pesquisados na Parada quando se trata do ensino superior.
De fato, em 2003 o IBGE constatou 23,1% de homens e
26,5% de mulheres na faixa populacional com 11 anos e
mais de estudos. Enquanto isso, o percentual dos pesquisados
na Parada apresenta 30% com curso superior completo,
alm de 10% com ps-graduao29.
Concluso: um turismo de incluso
homossexual
O sucesso de eventos pblicos de grande porte como as
Paradas do Orgulho GLBT brasileiras indicam, no quadro
dos interesses tursticos, uma importante novidade: a
crescente conscientizao sobre os direitos dos/as cidados/
s homossexuais do Brasil. Ainda que o motor maior da vinda
de turistas a uma Parada monumental como a de So Paulo
continue sendo o lazer, como se constatou, para se chegar
aceitao desse lazer foi preciso assumir publicamente sua
homossexualidade. A grande presena de mquinas
29
Fontes: So Paulo Turismo/Secretaria de Turismo do Estado de So
Paulo, 2005; e IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios,
com estimativas revistas de 2001 a 2003.
168
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
fotogrficas, alm das cmeras televisivas transmitindo cenas
do evento para inmeros canais de TV, coloca em cena o
dilema de ser ou no ser abertamente homossexual. No clima
de festa e celebrao, est embutida a extraordinria
importncia poltica das Paradas GLBT, relacionada
visibilidade que permite mostrar o rosto e a identidade luz
do dia, doa a quem doer. Essa , a meu ver, a maior novidade
agregada ao turismo GL dos anos mais recentes, no Brasil.
Por isso, acredito que alm dos bvios points que centralizam
a vida gay nos grandes centros urbanos, como bares,
restaurantes, boates, saunas e cinemas, j se pode pensar em
outros motivos alavancadores do turismo GL. Nos trajetos
tursticos mais convencionais, seria o caso de incluir, por
exemplo, lugares que marcaram a histria da luta pelos
direitos homossexuais no Brasil. Em Nova York, uma visita
ao bar Stonewall no Village tornou-se item obrigatrio para
turistas gay. De igual modo seria possvel incluir no trajeto
de um turismo homossexual, por exemplo, o prdio que
sediava a redao do primeiro jornal para o pblico GLS
brasileiro, o Lampio da Esquina, no centro do Rio de Janeiro.
Ou se poderia promover uma visita praa Darcy Penteado,
diante do monumental edifcio Copan, criado pelo arquiteto
Oscar Niemeyer no centro de So Paulo. O nome da praa
homenageia um dos pioneiros do movimento homossexual
brasileiro, e o Copan um megaedifcio to populoso quanto
um bairro, habitado majoritariamente por homossexuais de
todas as partes e estilos. A rigor, um turismo orientado para
a comunidade homossexual poderia at mesmo incluir no
seu roteiro outros segmentos que lutam por seus direitos,
como os negros e os ndios. Inclusive porque estudos diversos
atestam relaes muito peculiares nesses setores sociais com
a homossexualidade. Visitar tribos indgenas pode dar a
conhecer seus costumes, entre os quais a maneira particular
de homens trocarem afeto, sem nenhuma conotao social
169
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
de imoralidade. Por outro lado, h inmeros terreiros de
candombl com babalorixs homossexuais e at mesmo
travestis como mes-de-santo. No caso das lsbicas, seria
interessante agregar dados e roteiros ligados luta do
movimento feminista.
Do ponto de vista de polticas governamentais, a incluso
do turismo GLBT na vida nacional poderia ser incentivada
pela criao de uma espcie de certificao de qualidade
ao estilo das diversas ISO, garantidas pela Associao
Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT), ou at mesmo o Selo
Verde. Trata-se de uma espcie de ISO turstica, visando
avaliar qualidade e potencial turstico. A entidade mais
autorizada para tal tarefa me parece ser o Ministrio de
Turismo, por se tratar de sua rea especfica. Aps auditorias
para constatar as metas objetivadas, o Ministrio outorgaria
um selo de qualidade e potencialidade de turismo, na rea
GLBT, a empresas ou eventos que cumprissem metas dentro
de padres preestabelecidos. Esse tipo de aval seria utilssimo
em mais de um sentido. Funcionaria como garantia a
consumidores homossexuais sobre a boa qualidade de
servio oferecido. Mas seria, sobretudo, um instrumento para
alavancar o interesse das empresas em relao ao mercado
GLBT e apagar seus resqucios de desconfiana ou
preconceito. As Paradas de Orgulho GLBT, por exemplo,
poderiam ser muito mais valorizadas e talvez sofressem
menos para conseguir patrocnio se o selo do Ministrio
garantisse sua importncia e lhes desse credibilidade turstica
perante o empresariado nacional.
Os elementos aventados acrescentariam ao lazer GLBT
aquelas conquistas de conscientizao dos direitos
homossexuais, numa tendncia que daria continuidade
tradio viageira dos antigos agora menos num sentido de
dispora homossexual e mais como fator de incluso.
170
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Resta uma pergunta, final mas fundamental: como incluir
no turismo GLBT as classes menos favorecidas da
comunidade homossexual? Refiro-me no apenas
possibilidade de sobreviver do turismo, mas de usufruir o
prazer por ele proporcionado. Obviamente, no se trata de
uma questo exclusiva do segmento social GLBT. Est
relacionada ao prprio conceito de turismo e sua funo
social. Pela amplido de questes que suscita, o fator
inclusivo deve ser primordial num turismo que se queira
socialmente justo e democrtico. Portanto, deixo em aberto
essa espinhosa questo: como e quando o usufruto do turismo
deixar de ser um privilgio das classes mdias e das elites?
171
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
GT: Turismo e Orientao Sexual
Perguntas orientadoras:
1. Como incentivar uma boa viagem?
Diante do preconceito ainda existente, o Ministrio do
Turismo, no mbito de suas competncias, para incentivar
uma boa viagem aos turistas GLS, dever buscar parcerias
para institucionalizar programas, projetos e aes para:
a)
produo de conhecimento sobre a prtica do turismo
GLS:
Recomendaes Operacionais
172
viabilizar estudos e pesquisas para conhecer o perfil
e as especificidades do mercado Gays. Lsbicas,
Bissexuais, Travestis e Transgneros GLBTT;
traar o perfil da demanda, gerar e disseminar as
estatsticas: (1) realizar pesquisas nos roteiros
qualificados, (2) realizar pesquisa junto ao trade.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
b)
incorporao, em suas polticas, de programas,
projetos e aes visando a prtica da incluso pela
diversidade sexual:
Recomendaes Operacionais
incluir, de forma integrada e transparente, nos diversos
projetos de sua responsabilidade e influncia, os
grupos: GLBTT, portadores de deficincia, negros,
mulheres, indgenas e quilombolas, para que haja uma
ao conjunta, de real incluso, beneficiando a todos;
promover a diversidade pela propaganda institucional
inclusiva por meio de cartazes, folders e stios
eletrnicos de promoo turstica;
incluir roteiros especficos que sero comercializados
no Salo do Turismo.
c)
combate ao preconceito:
Recomendaes Operacionais
desenvolver campanhas orientadoras e educativas
para disseminar o conceito da diversidade para
setores da sociedade civil e, com isto, contribuir para
a formao de uma sociedade mais solidria, educada
e vigilante do desenvolvimento com incluso;
articular a insero do tema Diversidade no ensino
(prioritariamente nos cursos de turismo, hotelaria e
direito) e na pesquisa universitria, visando a formao
de profissionais capazes de praticar a incluso destes
grupos em suas aes;
planejar, criar e implementar campanhas de
publicidade e marketing na mdia nacional, voltadas
ao cliente GLS, trazendo visibilidade diversidade.
Esta uma forma de aumentar a auto-estima desse
grupo social, ao mesmo tempo mostrar a necessidade
173
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
de integrar essa comunidade. Exemplo de campanha
a ser desenvolvida: Preconceito Prejuzo;
174
fomentar a criao de leis regionais que combatam o
preconceito e a discriminao orientao sexual;
articular a fiscalizao da aplicao destas leis e
oferecer suporte amplo e irrestrito a todos que possam
se beneficiar delas;
viabilizar estratgias de sensibilizao sobre o
contedo e cumprimento das normas e leis pertinentes
ao assunto para os atores do setor pblico e privado
que atuam no turismo;
organizar e disponibilizar experincias de trabalhos
de incluso da diversidade de forma articulada entre
o Ministrio do Turismo, Secretarias Estaduais e
Municipais de Turismo, Universidades, ONGs,
entidades GLBTT, Conselho Nacional de Turismo,
Fruns Estaduais de Turismo, Conselhos Municipais
etc.;
articular apoio criao de calls centers estaduais
(0800) para assuntos sobre diversidade sexual e apoio
a aes conjuntas de incluso e visibilidade do grupo
GLBTT;
articular a criao de campanhas contra a explorao
sexual e campanhas informativas sobre DST e AIDS,
no mbito do turismo. Uma idia: distribuio de
camisinhas aos roteiros GLS com orientaes sobre o
tema;
incluir o assunto em palestras, seminrios e oficinas
ligados ao turismo GLS.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
d)
incentivo ao arranjo produtivo do turismo para
atendimento e incluso da diversidade sexual:
Recomendaes Operacionais
organizar e disponibilizar informaes sobre este
tema para todos os agentes e gestores do setor pblico
e privado;
fomentar a criao de roteiros e pacotes para os grupos GLS;
realizar campanhas e premiao para equipamentos
e servios tursticos que contemplem a incluso da
diversidade. O prmio deve estar vinculado a um
programa de premiao nacional, a ser definido pelo
Ministrio do Turismo. Um exemplo o Prmio
Simpatia;
buscar parceria com as instituies que tratam dos
interesses da comunidade GLBTT para a realizao
deste trabalho.
e)
qualificao do mercado turstico:
Recomendaes Operacionais
viabilizar a qualificao profissional para atender este
pblico, com oferta de cursos que contemplem a
diversidade sexual;
criar selo para distino de servios e equipamentos
qualificados para atendimento ao pblico GLBT.
Uma idia: Selo Simpatia disposto de forma visvel
para todos os freqentadores do espao contemplado.
175
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
2. Como promover a insero do grupo GLBTT
pela prestao de servios tursticos?
O Ministrio do Turismo, para promover a insero do grupo
GLBTT pela prestao de servios tursticos, no mbito de
suas competncias, dever buscar parcerias para
institucionalizar programas, projetos e aes para:
a)
levantamento, organizao e difuso dos tipos e
potencial de trabalhos gerados pela atividade de
turismo, que podem ser exercidos e oferecidos
comunidade GLBTT;
b)
realizao de campanhas publicitrias com imagem
inclusiva de indivduos da comunidade GLBTT
realizando trabalhos e servios da atividade turstica:
Recomendaes Operacionais
apresentar exemplos de pessoas desse grupo social
que atuam com sucesso no setor;
realizar as campanhas de forma articulada. Exemplo:
com os Ministrios do Trabalho, Ministrio do
Desenvolvimento Social.
c)
sensibilizao e incentivo cadeia produtiva do
turismo para a insero da comunidade GLBTT:
Recomendaes Operacionais
176
incluir o tema nas aes e programas do Ministrio
do Turismo e parceiros.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
d)
valorizao de talentos e habilidades de indivduos
da comunidade GLBTT para atuao em eventos
artsticos e culturais e para participao na produo
associada ao turismo (artesanato e outros):
Recomendaes Operacionais
viabilizar o desenvolvimento e aperfeioamento de
talentos entre os GLBTT;
facilitar o acesso e capacitao por meio de campanha
institucional;
estabelecer parcerias. Exemplo: Sistema S.
177
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Sociedades Indgenas e Turismo
Jos R. Bessa Freire*
There is nothing so strange in a strange land as
the stranger who comes to visit it (DENNIS
OROURKE Cannibal Tours 1988)
Introduo
Turistas europeus e norte-americanos, num luxuoso cruzeiro
pelo mar da Papua Nova Guin, visitam 18 aldeias de uma
tribo, localizadas na floresta ao longo do rio Sepik. O cineasta
australiano DENNIS OROURKE, professor do Research
School of Pacific Studies, est l, presente, filmando tudo.
O contraste gritante. De um lado, os nativos apresentam
dana tradicional, encenada especialmente para essa
ocasio, e mostram seu artesanato, suas pinturas faciais, seus
rituais, suas narrativas, suas casas de reza. De outro, os turistas
entram nas aldeias, invadem as casas, barganham o preo
de colares, pulseiras, mscaras de madeira e outras peas de
artesanato, buscando o extico, o diferente, o autntico.
Se fosse fico, com atores, seria uma caricatura
estereotipada. Mas as imagens mostram, em plena ao,
personagens reais de um documentrio, revelando uma tribo
de turistas, que conhece muito pouco sua prpria cultura e,
talvez por isso mesmo, tenha dificuldades em se relacionar
com a alteridade. Um casal de americanos, mascando
chiclete, tenta disfarar um riso nervoso diante de objetos
flicos vendidos como suvenir, depois de fotografar, sem
* Coordenador do Programa de Estudos dos Povos Indgenas da UERJ
e professor do Programa de Ps-graduao em Memria Social da
UNI-Rio - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
178
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
qualquer constrangimento, o interior da casa de reza. O
alemo corpulento, de chapu e terno safri, quer saber o
lugar onde antigamente os nativos celebravam seus
banquetes antropofgicos, e manifesta desejo de film-lo. A
italiana, em cala jeans, estilizada, a face pintada com
padres grficos locais, comenta que no acha certo que os
nativos reorganizem sua forma de vida em funo do
turismo, porque isso compromete a autenticidade da cultura
visitada. As imagens reproduzem cenas em que turistas e
nativos interagem l, naquele espao denominado por
CLIFFORD (1999) como zona de contato. Os nativos
querem e precisam vender aquilo que o turista est disposto
a comprar: artesanato, paisagem, exotismo, danas, festas,
pintura corporal, oportunidade de fotografar, filosofia de
vida e outras produes culturais e smbolos identitrios.
So justamente esses interesses comuns que tornam vivel a
interao entre ambos. Esse o tema de Cannibal Tours,
(1988, 72 minutos), um documentrio que levanta polmica,
oferecendo elementos para desconstruir as noes de nativo
e de turista, apresentados freqentemente de forma
simplificada e maniquesta, o primeiro como oprimido, e
o segundo como representante da vanguarda do capitalismo
injusto e opressor (OROURKE: 1999).
O filme, produzido em associao com o Institute of Papua
New Guinea Studies, pode ser muito til, na medida em
que as situaes por ele apresentadas suscitam o debate e
contribuem para formular vrias questes que pretendemos
discutir aqui no seminrio nacional Dilogos do Turismo
uma viagem de incluso.
Por que ultimamente o turismo vem demonstrando crescente
interesse e se expandindo pelas comunidades indgenas? O
que querem os turistas com os ndios? Quais so os resultados
econmicos, polticos e culturais de tal expanso, que coloca
em relao direta o local e o global?
179
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Qual o impacto da atividade turstica sobre as culturas
indgenas e sobre a representao que os prprios turistas
fazem delas e de si mesmos? Como se organizam e reatualizam as tradies e a identidade tnica frente aos novos
elementos externos trazidos pelo fluxo turstico? possvel e
desejvel organizar e planejar um sistema de turismo social,
sob controle dos ndios, capaz de contribuir para a
sobrevivncia dos indivduos, de assegurar a existncia de
suas lnguas e de revitalizar identidades minorizadas? Como
formar quadros profissionais capacitados para tal tarefa? Qual
o perfil desses profissionais?
Em que medida o desenvolvimento do turismo pode atender
ao conjunto de necessidades e especificidades culturais e
econmicas das comunidades indgenas? Nesse caso, as
normas estabelecidas pelo Estado no devem ir alm da
questo econmica, buscando contemplar as especificidades
culturais? Como formular polticas pblicas para o setor
diante da escassez de estudos, de pesquisas e de bibliografia
sobre o tema? Qual o papel das diferentes agncias
governamentais FUNAI, IPHAN, Ministrios do Turismo,
da Educao, do Meio Ambiente na elaborao e
articulao dessas polticas, de tal forma que assegurem a
defesa do patrimnio material e imaterial dos diferentes
grupos tnicos?
O turismo, ao criar um mercado ampliado para os produtos
nativos, capaz de regenerar a indstria artesanal,
constituindo-se numa alternativa vivel de desenvolvimento
auto-sustentvel? Como resolver a contradio entre a
procura dos turistas pela autenticidade e a negao da
autenticidade decorrente do contato turstico? Em que
medida a noo de autenticidade compartilhada por
turistas e nativos? Qual a representao que os ndios tm
do turista? Como os turistas vem os ndios? Qual o papel
180
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
que tm nessa representao as agncias, os guias e os
profissionais do turismo?
As respostas a essas perguntas exigem pesquisas e estudos
que ainda no foram realizados. Embora o Setor do Turismo
um dos mais prsperos do mundo tenha provocado
mudanas em algumas populaes indgenas no Brasil e em
outros pases, os processos sociais gerados por essa atividade
foram poucos estudados pela antropologia. necessrio
observar e ouvir os principais atores dessa experincia e
acompanhar as diversas formas de interao entre eles:
ndios, turistas, guias, donos e funcionrios de agncias de
turismo e de viagens, de pousadas, de restaurantes, de bares,
de lojas de artesanato. Mas necessrio, sobretudo, proceder
a alguns esclarecimentos tericos sem os quais abordagem
do problema fica seriamente prejudicada.
Do ponto de vista terico, a discusso sobre o turismo em
reas indgenas remete a algumas noes e categorias como
cultura, nao, tradio, autenticidade e identidade tnica,
instncias essencializadas que acabam por pensar a cultura
como uma unidade congelada, a tradio como uma
continuidade com o passado, a autenticidade como um
recurso de legitimao, o nacionalismo como um valor
perene, e a identidade como algo inegocivel.
Num primeiro tpico, para viabilizar uma abordagem terica
da relao entre o turista e o nativo, vamos problematizar
algumas noes que ajudam a pensar essa relao.
Discutiremos conceitos como o de cultura chamando a
ateno para seu carter fluido e dinmico; de identidade
tnica mostrando tratar-se de uma instncia negociada e
modificada pelos agentes sociais; de nao assinalando
sua origem histrica. A partir dessas colocaes, a
autenticidade, to procurada pelos turistas, ser repensada,
da mesma forma que as noes de preservao e tradio.
181
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
A prpria classificao das construes culturais modernas
em autnticas ou falsas ser revista. Num segundo
momento, discutiremos algumas prticas de turismo em reas
indgenas no Brasil, enfatizando que os ndios no so
vtimas ou elementos passivos de um processo de perda de
cultura, mas se constituem em agentes de sua prpria
formao cultural. E, finalmente, na terceira parte, sero
apresentadas propostas tericas para pensar o turismo, com
sugestes de polticas pblicas para serem discutidas na
oficina Comunidades Indgenas e Turismo, programada
para acontecer durante o evento.
A abordagem terica: o turista e o nativo
Num encontro sobre turismo cultural, realizado em Buenos
Aires, JORGE GOBBI (2003) recorreu teoria ps-colonial
para criticar o senso comum e a antropologia tradicional,
que construram uma imagem essencializada do nativo,
visto como um indivduo no-ocidental, legtimo
representante das verdadeiras tradies locais, mas a quem
nunca se concedeu o direito de falar, a no ser pela
intermediao do etngrafo. A crtica tambm se estendeu
viso naturalizada sobre o turista, considerado como um
indivduo decididamente bobo, desprovido de bagagem
cultural, cujas aspiraes no passavam de um mero reflexo
dos desejos do mercado, o que justificava que suas prticas,
consideradas irrelevantes, no fossem estudadas.
A operao de desconstruir essas imagens exige conceber o
turismo como um dos espaos no o nico onde
identidades so negociadas, o que requer, antes de tudo,
rever as conceitualizaes clssicas de cultura que, de
maneira geral, apostam no seu carter fixo, homogneo,
coerente e claramente delimitado. Nesse sentido, til
apresentar as propostas de alguns autores que, de diferentes
182
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
formas e em diferentes momentos histricos, problematizam
essas posies tericas que substantivizam a cultura em
elementos como lngua, costumes, crenas, territrio,
impossibilitando a apreenso de processos de mudana, da
diversidade e heterogeneidade da vida social. Esses autores
postulam o carter de constructo da cultura, e dos conceitos
a elas associados como etnicidade, identidade tnica e
tradio.
O conceito de etnicidade uma ferramenta til para pensar
os diferentes grupos sociais em contextos interacionais ou
em processos de excluso e incluso. Nessa discusso,
FREDERIK BARTH constitui um marco terico para um novo
tratamento desse conceito na antropologia social. O seu
trabalho Ethnic Groups and Boundaries (1969) representa
uma ruptura com os estudos intertnicos convencionais ao
propor que um grupo tnico no pode ser definido a partir
de traos culturais comuns, mas sim como uma forma de
organizao social. Para BARTH, um grupo tnico no se
define por seu estofo cultural (que se modifica no tempo e
varia de acordo com ajustamentos ecolgicos), mas atravs
de critrios pelos quais ele mesmo estabelece as suas fronteiras
(critrios de pertencimento e excluso) e pela tentativa de
normatizao da interao entre os membros do grupo e as
pessoas de fora. (OLIVEIRA 1994: viii). A anlise de um
grupo tnico deve ser feita, portanto, no atravs das formas
como os traos de uma cultura esto distribudos, mas a
partir de como a diversidade tnica socialmente articulada
e preservada.
Como que os grupos tnicos se constituem e quais os
mecanismos que utilizam para a manuteno de suas
fronteiras? A preocupao de BARTH (1969), que se centra
menos na conservao da cultura e mais na busca dos
processos geradores da conservao ou da mudana, aponta
183
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
a variao como uma caracterstica central. Como a cultura
se apresenta em vrios nveis, isso permite que os grupos
possam variar e continuar sendo os mesmos. Num
determinado momento o grupo se define a partir da lngua,
em outro, a partir de determinados ritos, por exemplo. A
continuidade do grupo tnico, portanto, no est
necessariamente relacionada continuidade cultural.
Por outro lado, ao colocar o seu foco de anlise na interao
entre grupos tnicos diferentes, BARTH se ope abordagem
clssica que trata as sociedades como totalidades fechadas e
auto-explicveis. na interao que emergem as identidades
tnicas e no no isolamento, ou seja, a identidade tnica
construda a partir da afirmao de um ns em relao
negao de um eles, onde as marcas culturais so levadas
ao extremo e os limites tnicos que separam os grupos so
construdos. Nesse sentido, para compreender um grupo
tnico no se pode tomar uma cultura apenas, uma tradio
apenas, mas todas aquelas culturas com as quais o grupo
interage.
Dessa forma, o grupo tnico entendido como um grupo
cujos membros possuem uma identidade auto-atribuda.
Essas categorias tnicas, que classificam uma pessoa em
termos de sua identidade bsica e geral, so produzidas pelos
prprios atores sociais. Os indivduos se enquadram nas
identidades tnicas, assim como essas identidades so
reelaboradas por eles. Nesse sentido, a identidade no dada
a priori, h uma margem de manobra onde o indivduo pode
manipular os elementos identitrios, negoci-los atravs
do confronto, do conflito.
BARTH destaca, assim, o carter dinmico da cultura,
definindo-a como uma corrente, um fluxo, cujas formas so
mutveis e os limites fluidos. Chama a ateno para o carter
construdo do limite ou fronteira entre grupos tnicos, em
184
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
oposio concepo de fronteira como algo natural e no
problemtico. A cultura, a identidade tnica e a tradio
so utilizadas e modificadas pelos agentes sociais, sendo,
portanto, socialmente produzidas.
A questo da identidade discutida tambm por uma outra
abordagem, sintetizada por GEORGE MARCUS, numa
iniciativa que estabelece os princpios bsicos da proposta
por ele chamada de Etnografia Modernista, com grande
destaque na antropologia a partir dos anos de 1980. Segundo
esta perspectiva, o aparato terico-metodolgico da
antropologia clssica Etnografia realista tenta explicar
um grupo ou sociedade como uma totalidade fechada e autoexplicvel, mostrando-se improdutivo para apreender os
processos atuais de produo de identidades, marcados pela
livre circulao de produtos, pessoas, capitais e imagens
(MARCUS: 1991).
Os processos atuais de formao identitria so
multilocalizados e dispersos, emergindo de um sistema
desterritorializado, que transita por entre fronteiras. Ao
problematizar a noo de espao da abordagem clssica,
essa proposta entende que no se pode explicar as
identidades tomando por referncia uma sociedade ou
comunidade, necessrio perceber que na formao das
identidades esto em jogo elementos externos a essas
unidades. As identidades no podem ser definidas de maneira
categrica e coerente, na medida em que se formam a partir
de turbulncias, fragmentos, referncias interculturais e a
intensificao localizada das possibilidades e associaes
globais (MARCUS: 1991, 204).
Por outro lado, HANNERZ, ao considerar a cultura como
um fluxo, se contrape idia de que os modos de viver e
de pensar so puros, estveis, eternos (HANNERZ: 1997,
29). A metfora do fluxo lhe permite destacar o carter
185
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
processual da cultura. A partir do contexto de globalizao
e transnacionalidade, idias como fluxo, mobilidade,
emergncia e recombinao constituem novas variveis para
pensar a noo de cultura. Segundo ele, se a idia de fluxo
implica direes, necessrio contestar a existncia de
centros dominantes, uniformizadores e reconhecer que esses
fluxos culturais so ativamente manipulados por parte de
todos os agentes envolvidos, tanto de um lado como de outro.
No h uma relao de centro-periferia, mas uma
multiplicidade de centros, fluxos entrecruzados e
contrafluxos, criando um espao de interculturalidade,
embora saibamos que esse espao esteja marcado por
relaes assimtricas, determinadas por condies
econmicas, histricas e sociais. Portanto, se a identidade
do objeto da pesquisa desmancha no ar, a identidade do
modelo terico utilizado pelo etngrafo no deve
permanecer intacta, slida (MARCUS: 1991, 210). Assim,
tanto BARTH quanto os etngrafos modernistas contestam a
viso essencializadora da cultura, da identidade tnica e da
tradio, chamando a ateno para o carter de constructo
dessas entidades.
Na mesma direo vai BENEDICT ANDERSON (1989),
quando numa perspectiva histrico-cultural aborda o
conceito de nao, que s emerge em fins do sculo XVIII.
Ele postula que a nao uma comunidade imaginada, na
medida em que os indivduos pertencentes a ela jamais
conhecero a maioria de seus compatriotas, embora na
mente de cada um esteja presente a imagem de sua
comunho. A nao imaginada, ainda, como limitada, j
que existem fronteiras, limites, para alm dos quais existem
outras naes. A nao imaginada como comunidade,
como uma elaborao de um sentimento de fraternidade e
companheirismo. Finalmente, a nao imaginada como
186
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
soberana devido ao contexto histrico de crtica e destruio
do governo dinstico, de onde ela emerge.
A questo nacional est vinculada conformao dos estados
modernos, como uma organizao da produo capitalista
e nele a imprensa tem um papel importante. A escrita
configura um status para as lnguas como mais uma forma
de construir identidades, assim, as idias de patrimnio e
conscincia nacional so veiculadas pela imprensa desde o
sculo XVIII. O crescimento da mquina editorial capitalista
torna possvel que um nmero cada vez maior de pessoas
pense sobre si e se relacione com outras. Assim, as naes
modernas se caracterizam por uma vinculao imaginada
ou uma sensao de comunidade annima.
Anderson destaca o carter de constructo das idias de nao,
nacionalidade, nacionalismo, definindo-as como artefatos
culturais e postulando a necessidade de analisar como elas
se tornaram entidades histricas, de que modo seus
significados se alteraram no correr do tempo e por que hoje
em dia, inspiram uma legitimidade emocional to profunda
(ANDERSON: 1989, 12). A nao, construda, criada,
inventada e historicamente datada se sustenta na iluso de
ser eterna, como uma comunidade compacta que se move
firmemente atravs do tempo.
Nao, cultura, identidade nacional, tradio e etnicidade
so assim construes, que se caracterizam, segundo
HANDLER (1984), por serem resultados de um processo
inconsciente, as pessoas pensam que esto descobrindo algo
que, na verdade, esto inventando. Essa construo consiste,
em primeiro lugar, numa seleo, posto que para construir
a imagem necessrio incluir e excluir elementos. Em
seguida, esse processo envolve uma recontextualizao dos
elementos selecionados, ou seja, os objetos numa nova
interpretao transformam-se em algo novo, sendo
187
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
representados como em continuidade com um passado
cultural autntico. Finalmente, o objeto selecionado e
recontextualizado abraar novos sentidos.
Handler afirma que a cultura e suas manifestaes so
continuamente recriadas no presente, mostrando como os
traos culturais no existem naturalmente, mas so
objetificaes semiticas, s assim possvel falar em
continuidade. Assim, na medida em que o processo de
objetificao da cultura constitui uma inveno,
constantemente recriada, no se pode falar em persistncia,
sobrevivncia, adaptao e autenticidade. No h uma
continuidade natural com o passado, o que h uma nova
construo, obviamente referida ao passado, mas criada no
presente. Por isso, ele prope a ruptura da dicotomia real x
simblico, opondo-se idia de que o primeiro constituiria
uma entidade natural, objetivamente dada, que existe
independente de qualquer concepo humana sobre ela;
enquanto a segunda se oporia ao natural, como uma
inveno. Sem negar a realidade, o autor recusa a existncia
de uma realidade natural das coisas (HANDLER: 1984).
Ao se analisar a experincia do turismo em reas indgenas
e, particularmente, a questo das identidades tnicas postas
em ao nestas situaes, preciso estar atento aos processos
de essencializao, isto , aos mecanismos atravs dos quais
a identidade tnica, a cultura, a nao e a tradio aparecem
como entidades congeladas e a-histricas, garantindo,
justamente atravs desse engessamento, aquilo que
consideram como autenticidade. No turismo em reas
indgenas, o turista costuma procurar e exigir um tipo de
autenticidade que significa aquilo que j vem definido em
sua cabea. Como querem comprar objetos autnticos,
procuram compr-los de vendedores tambm autnticos.
A autenticidade responde a um repertrio prvio de
188
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
caractersticas definidas pelas representaes sociais sobre
os grupos indgenas. De todos os modos, parece claro que
turistas e nativos compartem uma srie de imagens
naturalizadas sobre certos imaginrios (GOBBI 2003).
Criticando alguns autores que falam da contaminao das
culturas nativas pelo turismo e outros, como MacCANNELL,
que sustentam que o turismo contribui para a manuteno
artificial da identidade, GOBBI se pergunta: Por acaso
essa recriao da identidade, essa conservao, no se d em
termos relacionais com os turistas e com o mercado? Existem
formas de construir identidades por fora dos sistemas polticos,
econmicos e sociais hegemnicos? (GOBBI: 2003).
As respostas dos autores aqui visitados so claras. Eles nos
ajudaram a concluir que as identidades no so dados a
priori, mas, ao contrrio, so negociadas pelos agentes sociais
envolvidos num processo de interao. De modo geral, a
interao pensada como instncia definidora da identidade.
Da mesma forma, o que se concebe como tradio resulta
de um processo que envolve seleo de elementos culturais,
recontextualizao desses elementos e atribuio de novos
sentidos, com uma reelaborao criativa permanente. O
turismo, como uma das foras sociais e econmicas de maior
peso na vida de certas comunidades locais, parte do
contexto onde se processa a construo de identidades e
onde se re-atualizam as tradies. Nesse sentido, parece
interessante pensar como so construdas e manipuladas as
identidades nesse tipo especfico de interao social que
constitui o turismo indgena no Brasil.
O turismo em terras indgenas no Brasil
At o momento, o turismo tem sido abordado pelo estado
brasileiro como uma atividade de venda de servios e
produtos tursticos, regulamentada por uma legislao
189
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
especfica, que de alguma forma ordena o mercado de
viagens e, ao mesmo tempo, determina as responsabilidades
no relacionamento entre as agncias e o consumidor,
estabelecendo garantias quanto aos direitos do turista, de
um ponto de vista comercial. Paralelamente, existem diversas
aes institucionais do Estado, de natureza cultural e
preservacionista, envolvendo outras instituies (MinC,
IPHAN, Ministrio do Meio Ambiente, IBAMA, MEC)
destinadas a favorecer e incentivar a proteo e o
conhecimento do patrimnio nacional, material e imaterial.
Nesse sentido, a iniciativa do seminrio Dilogos do
Turismo, resgata, de um lado, uma dimenso pouco
estudada da atividade turstica, e de outro, permite fazer a
articulao que falta das aes setoriais.
Embora a o turismo tenha se tornado um dos Setores mais
prsperos do mundo e tenha causado impacto sobre algumas
populaes indgenas no Brasil, o turismo ainda um tema
pouco estudado pelas cincias sociais e, em particular, pela
antropologia. So escassos os trabalhos que analisam os
processos culturais gerados no mbito da atividade turstica
em todas as suas manifestaes. Quanto aos cursos de
turismo, eles esto mais preocupados com a capacitao e
o treinamento de quadros tcnicos do que na formao de
pesquisadores capazes de produzir conhecimentos sobre o
tema. Segundo o Cadastro das Instituies de Ensino Superior
(2004), existem atualmente no territrio nacional mais de
120.000 alunos matriculados em 601 cursos superiores de
turismo, turismo e hotelaria e hotelaria, credenciados ou
reconhecidos pelo MEC, oferecidos por 493 Instituies de
Ensino Superior (IES), dentre as quais s 90 so universidades
e, dessas, s 28 so pblicas, quase todos com currculos
voltados exclusivamente para a formao tcnica. Esse dado
fornece algumas pistas para esboar um perfil de profissional
emergente que se forma, com objetivos acadmicos pouco
190
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
definidos e com uma maior preocupao no mercado. No
que se refere ps-graduao, existem em todo o pas apenas
quatro programas reconhecidos pela CAPES, exclusivamente
de mestrado, nenhum de doutorado. Portanto, trata-se de
um campo de reflexo ainda embrionrio, que no conta
ainda com massa crtica.
O turismo social, sobretudo aquele desenvolvido em terras
indgenas, ainda um campo novo, sem regulamentao,
com pouca pesquisa e pouca reflexo sobre os seus impactos,
o que dificulta a promoo de iniciativas de planejamento
e gesto nesses locais. Algumas iniciativas foram
desenvolvidas recentemente por agncias de turismo. Uma
delas, proposta pela Freeway para visitar o Parque do Xingu,
inclui visita de dois dias a aldeia Puiwa Poho, criada pelos
Waur fora do permetro do parque, onde os turistas so
convidados a participar da rotina dos ndios, ouvir narrativas
mticas, assistir s danas, pintura corporal e ainda se banhar
no rio e degustar a culinria local. A outra, apresentada pela
Agncia Brasil 10, foi discutida com os ndios Ticuna, da
Comunidade de So Leopoldo, no alto Solimes (AM) (SPREI:
2005).
Qual o potencial turstico das comunidades indgenas no
Brasil? Segundo o Censo demogrfico de 2000, realizado
pelo IBGE, 734.000 pessoas que vivem no Brasil se
declararam ndios, sendo que 52,2% vivem nas cidades e
47,8% no meio rural. Esses dados precisam ser trabalhados
de forma mais rigorosa e sistemtica, mas de qualquer forma,
independente de suas imprecises, eles mostram, de maneira
irrefutvel, o surgimento e o fortalecimento dos chamados
ndios urbanos, que migram para as cidades, onde
reatualizam suas identidades. Em algumas capitais Manaus
e Campo Grande so dois bons exemplos vrios grupos
tnicos como os Sater-Maw, os Ticuna e os Terena
191
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
organizaram centros culturais onde apresentam danas,
vendem artesanato e cds bilnges com msicas gravadas
em portugus e lngua indgena, e recebem grupos
organizados de turistas. Mas essa situao dos ndios urbanos
bastante nova.
O Censo de 1991, realizado pelo IBGE, indicava que
naquela poca apenas 24,1% dos ndios viviam em rea
urbana, fora do seu territrio de origem, enquanto 75,9%
ocupavam reas demarcadas, delimitadas ou reivindicadas
como terras indgenas. A situao legal dessas terras
demonstra claramente que no possvel qualquer
planejamento de atividades tursticas em reas indgenas, se
elas no forem reconhecidas legalmente como tal. Segundo
o coordenador-geral da Coordenao das Organizaes
Indgenas da Amaznia Brasileira (COIAB) e secretrioexecutivo do Frum de Defesa dos Direitos Indgenas,
Jecinaldo Barbosa Cabral, ndio sater-maw, o Estado
brasileiro lento na demarcao de nossas terras. Elas so
reconhecidas apenas depois de muita presso dos povos e
do movimento indgena. Nos ltimos sete anos (1998-2004),
uma mdia de 14 terras indgenas por ano teve seus limites
declarados pelo Ministrio da Justia. Considerando que 628
terras indgenas ainda precisam ser demarcadas ou ter seus
limites revistos, se o Brasil mantiver essa mdia, precisaremos
de mais 45 anos para reconhecer todas as terras indgenas
do pas, segundo dados do Frum em Defesa dos Direitos
Indgenas (CABRAL: 2005).
Mas se por um lado o desenvolvimento do turismo em reas
indgenas necessita da garantia da terra aos ndios, por outro
lado, o turismo interno, isto , a visita dentro do prprio
meio geogrfico e/ou cultural ajuda a proteger a fronteira
tnica, principalmente se reforado pelo turismo externo,
convencional. Na sua tese de doutorado no Programa de
192
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Ps-graduao em Antropologia Social, GRNEWALD
(2001) estudou a experincia turstica dos Patax, no litoral
sul da Bahia, que produziu um contato ntimo entre os ndios
e os turistas. Ele compara essa experincia com a dos Cajun
da Louisiana, estudada por ESMAN, para quem a indstria
do turismo encoraja ativamente as expresses de orgulho
tnico e a renovao de padres tradicionais, e as agncias
de renovao tnica, por sua vez, encorajam o turismo
(GRNEWALD: 2001, 47).
No Brasil, alm do caso clssico citado dos Patax, outras
experincias foram objetos de estudos. O turismo
desenvolvido em rea Guarani, da aldeia Krukutu, no estado
de So Paulo e as atividades de ecoturismo em algumas
comunidades Guarani do Rio de Janeiro foram considerados
como uma alternativa econmica vivel se o ecoturismo,
for bem planejado com participao da comunidade no
processo de gesto, com preparao e esclarecimento da
populao no que se refere conscientizao sobre o turismo
e riscos que podero advir (MELO: 2005). Em Roraima,
desde 1998, os Macuxi demonstraram preocupao com a
questo. Nesse ano, realizaram um encontro no contexto
do Programa Nacional de Municipalizao do Turismo
(BOTELHO FILHO & PESCE JR.: 1998), seguido em 1999
de uma oficina de sensibilizao com 35 participantes da
Maloca da Raposa, no municpio de Normandia (BOTELHO
FILHO: 1999). No Amazonas, a Federao das
Organizaes Indgenas do Alto Rio Negro (FOIRN), com
assessoria tcnica da Universidade Federal do Amazonas,
tambm realizou, em junho de 2004, oficina para discutir a
temtica de Sustentabilidade e Ecoturismo Indgena (FOIRN:
2004). Todas essas experincias evidenciaram a necessidade
de formulao de polticas pblicas para disciplinar o
turismo em reas indgenas.
193
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
As polticas pblicas: por um turismo
intercultural
O processo de discusso sobre polticas pblicas para o
turismo em reas indgenas se iniciou h dez anos quando o
GTC Amaznia foi encarregado pelo Ministrio do Meio
Ambiente de elaborar, com apoio da FUNAI, um Programapiloto de Ecoturismo em Terras Indgenas. Dois anos depois,
em 1997, o Ministrio do Meio Ambiente, a FUNAI e duas
ONGs Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e Eco-Brasil
promoveram um encontro em Bela Vista (Gois) para discutir
as diretrizes norteadoras do Ecoturismo em Terras Indgenas.
Talvez o resultado mais importante do evento tenha sido a
criao do Grupo Tcnico de Coordenao de Ecoturismo
para a Amaznia Legal. Um de seus desdobramentos foi a
elaborao, em Silva Jardim (RJ) do Manuel Indgena de
Ecoturismo, cujo texto foi elaborado por especialistas em
ecoturismo, antroplogos e tcnicos indigenistas, tendo
como ilustradores ndios das naes Arara, Jaminawa,
Kaxinaw, Katukina, Kulina e Machineri do Estado do Acre.
(PARAGUASS & DE LA PENHA: 1997). O manual
pretendeu tambm apresentar princpios, critrios e
diretrizes a fim de informar e preparar as comunidades
indgenas para operaes ecotursticas que vm ocorrendo
informalmente e sem controle dentro das terras indgenas
(Faria 2003). Aps algumas consideraes de ordem mais
geral, seria oportuno discutir aqui vrias diretrizes
especficas, retomando princpios formulados pelas
iniciativas citadas.
A escola, a mdia e o turismo so responsveis, em grande
medida, pela representao que o brasileiro tem do ndio.
Embora ainda em estado embrionrio, a arena turstica
194
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
constitui um espao privilegiado de constituio e
reproduo da imagem das populaes indgenas,
produzidas e veiculadas por diversos agentes da sociedade
brasileira (FREIRE, M.: 2001). O caso dos ndios Patax
constitui um exemplo. GRNEWALD entrevistou, entre
outros agentes, ndios e turistas, em Coroa Vermelha (BA).
Os turistas no demonstraram desagrado com os guias, mas
tambm no expressaram total satisfao J os ndios foram
unnimes em criticar os guias e as empresas tursticas,
acusando-os de prejudicar a venda do artesanato, quando
fazem circular, entre os turistas, informaes contraditrias.
Segundo os ndios, alguns guias repetem sistematicamente
que no existe mais ndios autnticos e que Coroa
Vermelha uma favela. Outros aconselham ao turista no
se aproximar dos ndios, porque eles so brabos
(GRNEWALD: 2001, 43). Por isso, os Patax decidiram
interferir nesse processo, capacitando-se eles prprios
como guias e monitores. Recentemente, em novembro de
2005, quarenta ndios Patax receberam da Bahiatursa o
certificado de Monitores de Turismo de Atrativos Naturais.
A meta melhorar a qualidade de atendimento aos turistas
e ampliar os conhecimentos bsicos sobre a histria e a
cultura da comunidade. (Correio Brasiliense, 30/11/2005,
p.7).
Essas consideraes nos permitem indicar alguns subsdios
para o debate referente formulao de polticas pblicas
para turismo em reas indgenas.
1. Fomentar a pesquisa para conhecer os impactos sociais,
culturais, econmicos e ambientais do turismo em reas
indgenas e compreender, por exemplo, as novas formas de
territorialidade que os ndios esto construindo e as respostas
que esto dando ao processo de globalizao. A produo
de conhecimentos no campo das cincias sociais e,
195
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
particularmente, da antropologia, imprescindvel para a
elaborao do planejamento turstico preocupado com o
etnodesenvolvimento, a incluso social, a gerao de renda,
o uso sustentvel dos recursos naturais e a preservao do
patrimnio natural e cultural.
2. Levantar os dados, localizar os relatrios tcnicos
existentes e mapear as experincias j realizadas para avaliar
o potencial turstico e de mercado das reas indgenas, bem
como para desenhar o perfil dos seus visitantes e fazer o
diagnstico das comunidades indgenas inseridas no
Programa de Regionalizao. Para isso, fundamental a
recuperao da memria que j existe nos rgos pblicos,
ONGs, universidades e organizaes indgenas.
3. Garantir o controle das comunidades sobre a gesto das
atividades tursticas em reas indgenas e no processo de
tomada de decises. Isso significa, entre outros aspectos, a
existncia de operador/agncia receptiva local
prioritariamente coordenada por organizaes indgenas.
4. Promover cursos de capacitao para a formao de
agentes indgenas de turismo, de forma articulada com as
escolas indgenas, assumindo o seu carter intercultural,
bilnge, especfico e diferenciado. Hoje, em terras
indgenas, existem mais de duas escolas de ensino
fundamental em todo o pas, onde mais de 120.000 crianas
estudam com cerca de 5.000 professores. Em algumas reas
j comeam a desenvolver o ensino mdio, de forma
inovadora. Nos cursos de formao de professores indgenas,
seria conveniente criar uma linha de ao educativa que
contemple informaes bsicas sobre o turismo (MEC: 2002)
5. Desenvolver aes educativas envolvendo tanto os turistas
que vo visitar as aldeias como as comunidades indgenas
receptoras, tal como vem se dando em pases como o Mxico
196
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e o Peru. As comunidades indgenas devem estar preparadas
para receber os visitantes, da mesma forma que os turistas
necessitam de informaes bsicas para lidar com a
diversidade cultural.
6. Com as organizaes representativas dos ndios de vrias
regies do pas, como a COIAB Coordenao das
Organizaes Indgenas da Amaznia Brasileira e a FOIRN
Federao das Organizaes Indgenas do Rio Negro, e o
apoio e parceria de organizaes governamentais e nogovernamentais, selecionar reas onde possa ser
desenvolvido um turismo tnico planejado, com condies
de acesso e salubridade e uma infra-estrutura adequada de
recepo aos turistas.
7. Estimular e apoiar a formao de centros culturais, centros
de artesanato e museus em reas indgenas, onde os ndios
possam confeccionar e vender seu artesanato e apresentar
suas diferentes manifestaes culturais: danas, culinria,
objetos de cultura material. No Mxico, existe uma
experincia que merece ser discutida. L, nos ltimos 15
anos, moradores de pequenos povoados organizaram mais
de 160 museus comunitrios, que hoje esto espalhados por
todo o pas. Esses museus, alm de receberem turistas, cuidam
algumas vezes das zonas arqueolgicas, impedem o saqueio
do patrimnio ai existente, preservam a histria e a memria
da comunidade, zelam pelo meio ambiente, realizam
oficinas de artesanato e de danas, refletem sobre a questo
da cidadania e dos direitos humanos e tratam do cotidiano
e dos problemas da comunidade. O museu dos ndios
Huichol, na comunidade indgena de Huajimic, no Estado
de Nayarit, um desses (FREIRE, J. 2001).
8. Elaborao de normas para o turismo em reas indgenas,
com a formulao de uma legislao prpria, que discipline
197
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
a entrada de turistas em reas indgenas, a partir do que est
estabelecido na Constituio Brasileira de 1988, que
reconhece os direitos indgenas diferena.
9. Estabelecimento de medidas cautelares para registrar,
patentear e proteger os etno-saberes, presentes em muitos
atrativos culturais oferecidos pelos diversos grupos tnicos
aos turistas, seguindo as normas j estabelecidas pelo IPHAN
de registro do patrimnio imaterial.
Alguns desses princpios foram tambm discutidos na
Teleconferncia Internacional Indgena sobre Certificao
do Turismo, organizada de 31 de maio a 2 de julho de 2004
pelo Indigenous Tourism Rights Internacional (ITRI), com
sede em Saint Paul, Minnesota, nos Estados Unidos. Dela
participaram lderes indgenas, representantes de agncias
de turismo, antroplogos e especialistas que trataram de
vrios temas ligados ao ecoturismo, como mercado, tica,
desenvolvimento de critrios e diretrizes, significado dos
projetos operados pelos povos indgenas, direito e
autodeterminao dos povos indgenas (CEDIN: 2004). Uma
de suas concluses, bastante singela, pode concluir essa
comunicao: os principais beneficirios do turismo em
reas indgenas devem ser os prprios ndios e suas culturas.
Bibliografia
Anderson, Benedict - Nao e Conscincia Nacional (1983). So Paulo,
tica, 1989.
Barth, Fredrik. Introduction. In Ethnic groups and boundaries. London.
G. Allen & Unwin. 1969.
Botelho Filho, M. & Pesce Jr. Jos G. (moderadores). Relatrio do
Projetos Novas Fronteiras da Cooperao para o Desenvolvimento
Sustentvel PNFC/PNUD. Roraima. Embratur. 1998 (mimeo).
Botelho Filho, Mardnio (moderador). Relatrio da Oficina de
Sensibilizao de Comunidade. 1 Fase. Maloca da Raposa
Normandia. PRONAF/PNMT. 1999 (mimeo).
198
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
CEDIN. Tele Conferencia Internacional acerca de la certificacin del
turismo. Boletin del Centro para el Desarrollo Indgena. Buenos Aires,
Puntarenas, Costa Rica. 09/06/2004. http: //www.cedincr.org
Cabral, Jecinaldo Barbosa. E as demarcaes de terras indgenas? So
Paulo. Folha de So Paulo, 5 de dezembro de 2005, A-C.
Clifford, James. Culturas viajeras. In Itinerarios transculturales.
Barcelona, Gedisa. 1999.
Faria, Ivani Ferreira. Identidade e Turismo: subsdios para o
planejamento do turismo indigena em So Gabriel da Cachoeira/AM.
Tese de Doutorado em Geografia (Geografia Fsica). So Paulo. USP.
2003.
FOIRN Federao das Organizaes Indgenas do alto Rio Negro.
Yaneretama. Sustentabilidade e Ecoturismo Indgena. So Gabriel da
Cachoeira. SDSMA/UFAM.2004.
Freire, Jos R. Bessa. Encontro de museus comunitrios no Mxico.
Museu ao Vivo Boletim do Museu do ndio/Funai. Rio de Janeiro,
ano XI, n.19, janeiro de 2001.
Freire, Maria Jos A. A construo de um ru: a representao do
ndio na imprensa brasileira. Dissertao de Mestrado. PPGAS. Rio de
Janeiro. 2001
Gobbi, Jorge. Turismo y autenticidad: hacia una propuesta relacional
para el estdio de la interacin entre nativos y turistas en las
comunidades locales. Buenos Aires. III Encuentro de Turismo Cultural.
30-31 de octubre y 1 de noviembre de 2003.
Grnewald, Rodrigo de Azevedo. Os ndios do descobrimento.
Tradio e turismo. Rio de Janeiro. Contracapa. 2001
Hannerz, Ulf - Fluxos, Limites e Hibridizao. Rio de Janeiro. Mana PPGAS, n.03. 1997.
Handler, Richard. On sociocultural discontinuity: nationalism and
cultural objectification in Quebec. Current Anthropolog, vol. 25. n.1,
55-71. 1984
Marcus, George. Identidades passadas, presentes e emergentes:
requisitos para etnografias sobre a modernidade no final do sc. XX
ao nvel mundial. So Paulo. Revista de Antropologia - USP, n. 34.
1991.
199
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
MEC Coordenao Geral de Apoio s Escolas Indgenas. Educao
Escolar Indgena. Quem so, quantos so e onde esto os povos
indgenas e suas escolas no Brasil? SEF. Braslia. 2002
Melo, Erick Silva Omena de. Turismo sustentvel em reas indgenas:
uma alternativa para a Aldeia Guarani Araponga do Municpio de
Paraty/RJ. Monografia de concluso do Curso de Bacharelado em
Turismo. Rio de Janeiro. Universidade Estcio de S. Dezembro de
2005.
OLIVEIRA, Joo Pacheco de. A viagem de volta: reelaborao cultural
e horizonte poltico dos povos indgenas do Nordeste. Projeto Estudo
sobre Terras Indgenas no Brasil (PETI). Rio de Janeiro. Museu Nacional,
1994.
ORourke, Dennis. On the making of Cannibal Tours. Research School
of Pacific Studies. Canberra. 1999.
Paraguass, Aldenir & De la Penha, Denise Ham. Apresentao.
Manual Indgena de Ecoturismo. Braslia. Editora Coronrio/GTC
Amaznia. 1997.
Sprei, Carlos. Communaut des Indiens Ticuna, Sud Ouest de lEtat
dAmazonas, Sao Leopoldo, Haut SOLIMES. Rio de Janeiro. Brasil
10. 2005.
200
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
GT: Sociedades Indgenas e Turismo
Perguntas orientadoras:
1. Como promover a insero das sociedades
indgenas pela prestao de servios
tursticos?
Diante da fragilidade social, cultural, poltica, econmica e
ambiental das sociedades indgenas, o Ministrio do Turismo,
para promover a insero dessas Sociedades pela prestao
de servios tursticos, no mbito de suas competncias,
dever buscar parcerias para institucionalizar programas,
projetos e aes para:
a)
fomento produo e difuso de informao e
conhecimento sobre as Sociedades Indgenas e o turismo:
Recomendaes Operacionais
fomentar a pesquisa acadmica sobre o tema;
promover novas pesquisas e estudos (Sugestes de
temas para as pesquisas: impactos sociais, culturais,
econmicos e ambientais da atividade turstica em
reas indgenas; pesquisa de mercado, perfil dos
visitantes e turistas em reas indgenas; modelo de
organizao, modelos de gesto da atividade turstica);
levantar e divulgar resultados de pesquisas e estudos
sobre o assunto;
fomentar publicaes;
realizar concursos de trabalhos.
201
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
b)
estabelecimento de medidas cautelares para
patentear os saberes etnos;
c)
fomento ao debate da temtica turismo em reas
indgenas e elaborao de normas especficas para
visitas em reas indgenas:
Recomendaes Operacionais
202
levantar informaes e documentao sobre o tema
nos rgos pblicos e demais organizaes;
pesquisar, levantar e mapear as organizaes indgenas
brasileiras e verificar a relao com o turismo;
estruturar grupo de trabalho com a participao das
organizaes indgenas e do mercado;
realizar seminrio para discusso de diretrizes;
apoiar a elaborao de diagnstico das reas
identificadas e de propostas para estruturao de
produto turstico, em articulao com a FUNAI;
identificar reas potenciais para o desenvolvimento
da atividade turstica e a estruturao de novos
produtos;
estabelecer parcerias. Exemplo: MMA, IBAMA, CEGEN
(Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico), CNPT,
MEC / Coordenadoria Geral de Educao Indgena,
CAPES, FUNAI, SEPIR, SESC, SENAC, CNPq, ABA
(Associao Brasileira de Antroplogos),
Universidades, ISA (Instituto Scio-Ambiental), CTI
(Comisso de Trabalhadores Indgenas), CIMI
(Conselho Indgena Missionrio), CPI-AC (Comisso
Pr-ndio - ACRE).
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
d)
informao, capacitao e preparao das
comunidades indgenas para a gesto da atividade
turstica:
Recomendaes Operacionais
viabilizar a organizao da atividade receptiva pelas
pessoas da comunidade;
formar agentes indgenas de turismo (monitor) em
articulao com as escolas indgenas;
fomentar a criao de Associaes de Turismo em
reas indgenas;
inserir o turismo como tema transversal no
Referencial Curricular Nacional para Escolas
Indgenas RCNEI/MEC para as comunidades de
interesse;
criar curso de capacitao e formao com contedo
programtico no mbito da EJA Educao de Jovens
e Adultos;
inserir atividades prticas, visitas tcnicas, estgios e
intercmbios;
levantar, conhecer e difundir experincias de turismo
em reas indgenas internacionais visando promover
intercmbios.
203
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e)
capacitao e preparao do mercado (operadoras,
agncias e turistas) para o turismo em reas indgenas:
Recomendaes Operacionais
preparar operadoras e agentes de viagem para
trabalharem com comunidades indgenas;
definir capacitao para as operadoras e agentes de
viagem, com contedo especfico, como prcondio para comercializao dos produtos tursticos
em reas indgenas;
levantar e estudar o perfil do visitante ou turista;
realizar palestras com os turistas abordando questes
indgenas (cultura, comportamento e ambiente), como
condio prvia de visitao.
f)
estmulo e fortalecimento dos Centros Culturais
Indgenas:
Recomendaes Operacionais
204
incluir e valorizar o artesanato, as manifestaes
culturais (msica, danas etc.), os ritos e a culinria;
incentivar a organizao de museus, exposies
histricas, plantas medicinais;
assegurar que a concepo e caractersticas dos
Centros Culturais expressem a cultura indgena.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Gnero, Turismo, Desigualdades
Adriana Piscitelli*
Introduo
Este texto trata das relaes entre gnero, turismo e desigualdade
a partir de algumas perguntas quase singelas, mas cujas respostas
so complexas e dividem opinies no debate pblico. Quais
so os efeitos do turismo nas relaes entre homens e mulheres?
Como ela incide nas distribuies de poder que permeiam
essas relaes? O turismo alimenta desigualdades? Contribui
para elimin-las? Tais perguntas so visveis nas discusses de
agncias governamentais e no-governamentais e na mdia,
particularmente quando se trata do aspecto tido como
expresso do grau mximo de desigualdade quando vinculada
ao Setor, o turismo sexual. No debate, a expectativa no que se
refere s possibilidades abertas pelo turismo em termos de
reduo da pobreza confrontada com um dos exemplos tidos
como mais cruel materializao das desigualdades entre
homens e mulheres, pases ricos e pobres.
As respostas s perguntas anteriores so complexas porque
o turismo envolve diversas dimenses, todas elas permeadas
por gnero. As distines entre caractersticas consideradas
masculinas e femininas que, articuladas a outras diferenas
(de classe, raciais, regio, orientao sexual, idade), so
implementadas em distribuies diferenciadas de poder,
situando as pessoas em posies desiguais (BRAH, 1996;
MacCLINTOCK, 1995; CRENSHAW, 2002). As marcas de
gnero so aspectos centrais na organizao do turismo, na
venda de produtos tursticos (o marketing que cria sedutoras
* Antroploga, Pesquisadora e Professora da Universidade de
Campinas UNICAMP, Coordenadora do Ncleo de Estudos de
Gnero PAGU/UNICAMP
205
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
imagens dos lugares de destino) e em seu consumo
(PRITCHARD e MORGAN, 2000). Por este motivo,
compreender a (re) produo de desigualdades no mbito do
turismo exige prestar ateno s imagens e ideologias de
viagem criadas pelo mercado (e re-criadas pelos turistas) e ao
mercado de trabalho organizado por e em torno da atividade
turstica. necessrio considerar tambm as dinmicas de
gnero presentes nas sociedades receptoras e como elas se
modificam no marco do desenvolvimento do turismo. A
compreenso deste processo exige levar seriamente em conta
o marco poltico no qual ele tem lugar, algo que crucial
quando se trata do turismo em regies pobres do mundo.
Vrios destes aspectos so tratados em documentos dos
organismos internacionais voltados para o desenvolvimento
e na produo acadmica sobre turismo, sobretudo nas
abordagens sensveis s inquietaes feministas. Esta literatura,
que comea a ser publicada em finais da dcada de 1980,
relativamente escassa quando comparada com o grande
volume de produo sobre turismo1 . Todavia, o conjunto
do material relevante em termos da discusso sobre turismo
e gnero, uma vez que suas formulaes so centrais para
as diretrizes das polticas pblicas destinadas a promover o
acesso riqueza, oportunidades e participao na sociedade.
Essa produo se concentra basicamente em trs tpicos: o
mercado de trabalho, a problemtica do turismo sexual e,
em menor grau, a produo de imagens tursticas. As
perspectivas que informam a discusso desses temas so
Os trabalhos centrados nas relaes entre turismo e gnero so
relativamente escassos na produo internacional (excetuando as
discusses especficas sobre turismo sexual), aspecto que se reitera na
literatura brasileira. Nesta ltima h aluses a essa relao, sobretudo,
quando se trata de discusses sobre meio ambiente ou turismo sustentvel
(BARBOSA e BEGOZZI, 2004) e no turismo sexual (BEM, 2003; DIAS
FILHOS, 1998; LEHMANN, 1994; SILVA e BLANCHETTE, 2005).
206
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
diferenciadas. Elas expressam posicionamentos s vezes
antagnicos no que se refere aos efeitos do turismo em termos
de gnero, apresentados ora como positivos, ora como
francamente negativos.
Neste texto, analisam-se os argumentos centrais nesse debate,
tomando como referncia a literatura internacional sobre o
tema e pesquisas realizadas, em uma perspectiva
socioantropolgica, no Brasil. O trabalho est dividido em
trs partes. Na primeira, delineiam-se as principais idias
presentes na discusso. Na segunda parte, examino esses
argumentos considerando resultados de pesquisas que
realizam-se sobre turismo internacional, gnero e sexualidade
em Fortaleza; sobre imagens de brasileiras e mulheres de
outros pases de Amrica do Sul em sites da web destinados a
turistas sexuais e sobre a migrao de brasileiras ao exterior
em contextos vinculados ao turismo sexual. Finalmente, na
terceira parte, considera-se como as idias que resultam desse
confronto podem contribuir para a elaborao de diretrizes
no campo de polticas pblicas voltadas para a problemtica.
1. Apresentando o debate:
turismo, desigualdades e oportunidades
Nos pases em desenvolvimento os nacionalistas
temem os perigos do turismo, visto como algo
que pode converter seu pas em uma nao de
garons e camareiros. Mas, o verdadeiro fundo
da hierarquia est integrado pelas mulheres, as
camareiras e lavadeiras.
Linda Richter (2000)
A discusso sobre as relaes entre gnero e turismo est
parcialmente orientada por questes centrais no debate
sobre turismo em sentido amplo. Essas questes, delineadas
com particular nitidez quando se trata dos efeitos do turismo
207
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
internacional nos pases e regies considerados em
desenvolvimento, referem-se ao grau no qual a atividade
turstica gera benefcios ou, ao contrrio, apresenta efeitos
negativos nas comunidades receptoras. No debate h um
acordo em termos de considerar que impactos tidos como
positivos no plano econmico no necessariamente so
positivos no plano social, isto , na organizao social, na
cultura e no cotidiano das comunidades.
Alguns estudos tendem a destacar o aspecto positivo do
turismo como agente de crescimento econmico, utilizando
indicadores tais como aumento de divisas; novas
oportunidades de emprego; melhora dos nveis de renda;
introduo de tcnicas e novas tecnologias; melhora na sade
pblica, na oferta de servios sanitrios. Outras pesquisas,
centradas, sobretudo, em dimenses culturais, prestam
ateno s alteraes no sistema de valores, nos
comportamentos individuais, nas condutas morais e estilos
de vida coletivos; alteraes na tolerncia em termos de
sexualidade; aumento da prostituio e da delinqncia;
introduo de drogas; alcoolismo; mercantilizao das
culturais locais; autonomizao em relao famlia,
religio e aos valores comunitrios; imitao e reproduo
dos comportamentos estrangeiros. Vrios, entre estes
trabalhos, destacam os efeitos negativos do turismo nas
sociedades receptoras e os atribuem s disparidades polticoeconmicas entre os turistas e a populao receptora e ao
poder ideolgico e cultural dos visitantes sobre os visitados.
H, ainda, linhas alternativas que afirmam a existncia de
uma variabilidade de impactos sociais, em funo da
diversidade de contextos especficos nos quais visitantes e
visitados se relacionam. Nessas perspectivas, tal diversidade
s compreendida atravs de anlises contextualizadas que
mostrem a complexidade do turismo e cujos resultados
podem ser utilizados como referncia para comparaes,
208
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
mas no podem ser generalizados, aplicados a qualquer
outro contexto (GUAY e LEFEBVRE, 1998).
Esta breve sistematizao visa situar o debate sobre as
relaes entre gnero e turismo. Os argumentos desta
discusso mantm relaes com uma ou outra das posies
anteriormente comentadas, mas o fazem introduzindo a
questo de gnero como problemtica central, para
explorar, a partir dela, os impactos do turismo. As diversas
linhas que participam nesta discusso coincidem em conferir
centralidade aos esteretipos de gnero, s noes
preconcebidas e cristalizadas sobre masculinidade e
feminilidade, na produo de desigualdades no mbito do
turismo. Essas abordagens convergem tambm em considerar
o turismo sexual e a construo de certos tipos de imagens
dos lugares tursticos como expresses das desigualdades que,
implementando esses esteretipos, esto especificamente
relacionadas atividade turstica.
No que se refere a este ltimo ponto, diversos estudos
mostram como distines de gnero so e foram
fundamentais nas ideologias das viagens, inclusive anteriores
ao desenvolvimento do turismo de massa, estimulando-as
mediante imagens feminilizadas de lugares virgens, a serem
penetrados (PRATT, 1992; ENLOE, 1989). As imagens
produzidas no marco da indstria turstica, alm de serem
marcadas por gnero, so, com freqncia, altamente
erotizadas, estimulando diversas expresses da sexualidade,
criando espaos sexualizados entre os quais se contam os
locais destinados lua-de-mel ou praias cujo atrativo
reside no erotismo pblico (CHAMBERS, 2000). Quando se
trata de certas regies pobres do mundo, essa erotizao,
vinculada a noes de exotismo, apela ao consumo dos
corpos inferiorizados, seja por meio da produo visual de
imagens corporais ou mediante metforas construdas em
209
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
torno da natureza, selvas voluptuosas ou trridas praias
tropicais (PRITCHARD e MORGAN, 2000).
A principal discrepncia nas discusses sobre as relaes
entre gnero e turismo reside na percepo do mercado de
trabalho vinculado indstria turstica. Enquanto uma linha
de discusso considera possvel criar, atravs do mercado
de trabalho, alteraes nas dinmicas de gnero,
favorecendo as mulheres, as abordagens feministas crticas
insistem na impossibilidade de modificar essas dinmicas
sem alterar as desigualdades que permeiam a ordem global,
nas quais gnero ocupa um lugar central. Isto porque
imagens cristalizadas de feminilidade e masculinidade e os
lugares subordinados ocupados pelas mulheres so cruciais
nos processos polticos e econmicos que perpetuam essa
ordem global.
A primeira dessas aproximaes, considerando o turismo
uma relevante fora econmica, discute como utilizar de
maneira eficiente os recursos por ele oferecidos para reduzir
a pobreza das mulheres e das comunidades locais nos pases
considerados em desenvolvimento. O principal argumento
que, em termos mundiais, o turismo uma das principais
fontes de emprego e de possibilidades de gerao de renda
para as mulheres. Portanto, e apesar de criar um mercado
de trabalho no qual h uma visvel pirmide de gnero, o
turismo deveria ser visto como benfico, j que abre
caminhos para a reduo da pobreza das mulheres nos pases
em desenvolvimento. Considera-se que, alm de oferecer
recursos em termos de gerao de renda, o turismo abre
caminhos para a participao das mulheres nas reas de
planejamento e administrao locais.
A sntese dos resultados da pesquisa sobre emprego e
participao das mulheres no turismo apresentada pelas
Naes Unidas Comit do Reino Unido de Meio Ambiente
210
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e Desenvolvimento (HEMMATI, 1999), que reuniu dados
disponveis no mundo inteiro e contemplou 12 estudos de
caso em diferentes pases, oferece um exemplo das
percepes positivas do impacto do turismo. O estudo,
baseado no emprego formal em hotis e restaurantes, setor
tido como o maior empregador nesse Setor, delineia um
quadro no qual o turismo emprega, em termos gerais, na
maioria dos pases, um maior nmero de mulheres do que
outros setores2. No estudo se observa que as mulheres
recebem salrios inferiores aos homens, um fator que se
agrava nos pases pobres. No mundo considerado
desenvolvido, elas receberiam, em mdia, 80% do valor dos
salrios masculinos. A diferena seria maior nos pases em
desenvolvimento, nos quais as mulheres receberiam entre
10% e 70% do valor dos salrios masculinos. Alm disso,
certos trabalhos, os menos bem remunerados, localizados
na base da pirmide ocupacional, seriam desempenhados
majoritariamente (90%) por mulheres. E, ao contrrio, a
participao das mulheres nos altos nveis administrativos
seria nfima.
Contudo, o turismo valorizado, considerado como bom
candidato para melhorar a posio das mulheres devido
sua amplitude, rpido crescimento, natureza diversificada e
dinmica e sua flexibilidade. Considera-se que, alm de
empregos, o turismo oferece estmulos para a procura de
treinamento e educao j que demanda, no mnimo,
O relatrio trabalhou com os dados disponveis entre 1988 e 1997,
mas se deixa claro que, em termos mundiais, na base dos dados
existentes, apenas foi possvel traar um quadro geral porque: no h
suficientes dados sobre o setor informal, no h dados desagregados
por sexo para todos os pases, h mais dados sobre os nmeros de
homens e mulheres trabalhando nos setores tursticos que sobre os
salrios mdios e sobre as horas de trabalho. Alm disso, h diversos
pases sobre os quais no h dados disponveis.
211
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
conhecimentos bsicos de administrao e lnguas
estrangeiras. Neste argumento, a idia que a independncia
financeira e a educao conduziriam ao aumento da autoestima feminina e a relaes mais igualitrias nos mbitos
familiar e comunitrio.
Outra das linhas de debate considera a indstria turstica
como uma expresso do poder, crescentemente
internacionalizado que, ancorado em desigualdades de
gnero, as alimenta (ENLOE, 1989). Nesta abordagem, o
impacto social do turismo internacional percebido como
negativo e como uma das expresses da ordem global. A
idia que o mercado de trabalho criado pelo turismo no
contribuiu para a eliminao das desigualdades, em termos
de gnero. Nesta aproximao, trabalhos menos bem
remunerados para as mulheres nos setores tursticos dos
pases do Sul e turismo sexual fazem parte de um mesmo
continuum vinculado s desigualdades mundiais institudas
por essa ordem, em padres nos quais o turismo segue
caminhos de explorao de gnero abertos pelas atividades
coloniais (BOLLES, 1997).
Nesta abordagem, a gerao de empregos no mbito da
indstria turstica considerada atravs das lentes que
avaliam as relaes entre gnero e trabalho no marco da
globalizao. De acordo com essas leituras, o capital
internacional se apia em ideologias e relaes sociais
marcadas por gnero para recrutar e disciplinar
trabalhadores/as com o fim de obter e reproduzir fora de
trabalho barata dentro e atravs das fronteiras nacionais
(MILLS, 2003). O turismo, como outras atividades
econmicas, utilizaria noes de masculinidade e
feminilidade para baratear os custos do trabalho, definindo
certos segmentos da populao, sobretudo mulheres (e
crianas), como trabalhadores de baixo custo. A produo
212
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
de imagens das trabalhadoras como corpos sexualizados,
cuja subordinao sustentada atravs da erotizao, faria
parte dessas estratgias disciplinarias.
Nesta leitura, no Setor do Turismo, a extenso da idia de
trabalho domstico a certos servios desempenhados
principalmente pelas mulheres (lavar, limpar, arrumar,
cozinhar, servir), com baixa remunerao, reitera um padro
no qual o ingresso das mulheres na fora de trabalho no
est associado com melhorias no estatuto econmico das
mulheres em relao aos homens, nem incide na alterao
nas relaes de poder no mbito familiar (ANDERSON e
DIMON, 1995; RICHTER, 2000; ENLOE, 1989)3. Alm disso,
os trabalhos menos bem remunerados e menos visveis so
realizados por mulheres dos grupos mais desvalorizados em
termos de etnicidade, cor e classe (ENLOE, 1989; ADIB e
GUERRIER, 2003). Neste quadro, a sexualizao que torna
populaes das comunidades receptoras alvo de consumo
sexual no marco do turismo, sobretudo mulheres e crianas
que corporificam etnicidades e cores inferiorizadas, expressa
apenas uma diferena no estilo de estratgias de subordinao
e no grau de explorao dos seres consumidos.
Sem contestar o diagnstico poltico presente nesta
abordagem, as pesquisas realizadas problematizam o efeito
univocamente negativo concedido ao turismo, inclusive o
internacional, nas dinmicas de gnero. A ampliao na
participao das mulheres nas reas de planejamento e
Nesta linha de argumentao, considerar que imagens cristalizadas
de masculinidade e feminilidade incidem no posicionamento inferior
das mulheres no significa pensar que essas imagens sejam idnticas
em todos os contextos. Segundo MILLS (2003), em alguns lugares o
status das mulheres solteiras, consideradas maneira de filhas
subordinadas, as torna um recurso de mo-de-obra barata e flexvel.
Em outros contextos, o status das mulheres como esposas e mes o
que justifica baixos salrios e a precariedade dos empregos.
3
213
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
administrao locais verificada em estudos que tratam de
iniciativas comunitrias, de grupos locais e de cooperativas
(BARBOSA e BEGOSSI, 2004; SWAIN, 1989). De acordo com
esses estudos, noes de gnero e esferas de atuao tradicionais
tendem a ser reforadas quando os grupos locais no
administram o desenvolvimento do turismo. Ao contrrio, as
mulheres tendem a deslocar-se, ocupando lugares de deciso,
influncia e prestgio, em termos comunitrios, quando esse
desenvolvimento controlado pela comunidade local (SWAIN,
1989). Esta particularidade registrada nas abordagens que
consideram o turismo uma fora com efeitos positivos, nas quais
se estimulam parcerias entre segmentos do Turismo e as
comunidades, como via para a produo de efeitos positivos,
tambm em termos de gnero (HEMMATI, 1999).
Mas, o que sucede nos lugares nos quais a atividade turstica,
especialmente o turismo internacional, tende a estar controlado
por poderosos interesses econmicos cuja caracterstica no
necessariamente preocupar-se com as comunidades locais?
Estudos de caso realizados em diversas partes do mundo
sugerem, a partir de anlises complexas e contextualizadas,
que os significados de gnero e as relaes sociais por eles
informadas fazem mais do que sustentar estruturas globais de
poder. Essas dimenses tambm constituem um terreno
dinmico no qual formas de dominao podem ser
contestadas, re-trabalhadas e ainda potencialmente
transformadas (CUKIER, NORRIS e WALL, 1996). Nas relaes
econmicas globais, masculinidades e feminilidades no so
homogneas nem so experienciadas de maneira uniforme.
As pessoas podem ser recrutadas na base de imagens de
docilidade, mas as experincias e recursos a partir do trabalho
assalariado e dos rendimentos decorrentes do turismo podem
proporcionar-lhes novos meios para contestar sua
subordinao em outras arenas da vida cotidiana. Novos
espaos abertos pela mobilidade global e prticas de trabalho
214
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
possibilitam expresses de identidades de gnero transgressivas,
em termos de vises consideradas tradicionais. Essas anlises
mostram que compreender estes aspectos no marco do turismo
internacional exige levar em conta como gnero atravessa
dimenses globais e locais, a insero das populaes nativas
na atividade turstica e suas possibilidades de gerao de renda
fora dela, relacionamentos entre visitantes e visitados e os
padres de gnero que permeiam as relaes entre os
integrantes das comunidades locais.
O turismo sexual, fenmeno considerado em umas e outras
abordagens como mxima expresso das desigualdades
vinculadas ao Setor do Turismo, oferece um caso particularmente
rico para pensar sobre essas idias. Na literatura sobre essa
problemtica, o turismo sexual considerado como produto de
uma convergncia entre diversos fatores: a existncia de uma
indstria ancorada em fatores econmicos e polticos que
estimula a produo de lugares de recriao voltados para o
consumo de sexo, a alimentao de uma ideologia turstica na
qual as populaes de certas regies pobres so percebidas como
atraentes e disponveis para o consumo (sobretudo mulheres,
particularmente marcadas por certos traos raciais) e a existncia
de populaes cujo grau de pobreza as estimula a participar no
mercado de sexo. Tomando como referncia uma pesquisa
qualitativa sobre o tema em Fortaleza4, na prxima parte do
texto examino vrios argumentos at aqui expostos.
A anlise est baseada nos resultados de pesquisa desenvolvida a
partir de uma abordagem antropolgica. Os dados, coletados em
trabalho de campo realizado concentrado em dez meses entre outubro
de 1999 e agosto de 2002 (as ltimas visitas ao campo tiveram lugar
em novembro de 2003 e junho de 2004, paralelamente ao
acompanhamento da trajetria de mulheres de Fortaleza que migraram
para Itlia), foram obtidos atravs de entrevistas informais e estruturadas
com diferentes agentes envolvidos nas indstrias do turismo e do
sexo, atravs de observao, e pela gravao de entrevistas em
profundidade com 75 entrevistados/as, entre eles 26 mulheres que
4
215
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
2. Setor Turstico, Trabalho e Turismo Sexual
Fortaleza, considerada uma das principais cidades brasileiras
ligadas ao turismo sexual internacional, tida como um
centro de indstria e, sobretudo, de turismo por suas belas
praias e agitada vida noturna. Com mais de 2.000.000 de
habitantes, considerada uma das cidades de mais rpido
crescimento do pas e, tambm, uma das regies
metropolitanas mais pobres (IBGE, 2000). Em Fortaleza e
reas prximas, a intensificao do turismo visvel na
transformao de praias que eram praticamente desertas,
na metade da dcada de 1980, em requintados balnerios e
no grande aumento no nmero de hotis. Em 2001, ano em
que realizei parte substantiva da pesquisa de campo, os
turistas estrangeiros representaram menos do 10% do total
de visitantes (Governo do Estado do Cear, 2002)5. Mas o
turismo internacional era extremamente visvel nos lugares
tursticos da cidade, onde visitantes estrangeiros brancos
mantm relacionamentos com turistas sexuais e com 25 turistas e
expatriados em busca de sexo de vrias nacionalidades. Foram
entrevistados, tambm, agentes vinculados ao turismo e prostituio,
na cidade, homens nativos que mantm relacionamentos sexuais/
afetivos, com estrangeiras e estrangeiras que se relacionam com
homens locais. Alm disso, obtive dados secundrios, estatsticas e
estudos de casos sobre turismo e prostituio domstica de agncias
governamentais, instituies educacionais e ONGs. (Governo do
Estado do Cear, 2002; Cmara Municipal de Fortaleza, 1999;
KUBITSCHEK, 1997). Para uma sntese dos resultados dessa pesquisa
ver PISCITELLI, prelo e 2004.
5
Nesse ano, a cidade recebeu mais de 1.450.000 turistas brasileiros e
apenas 172 mil estrangeiros (Governo do Estado do Cear, 2002).
6
Registro que algumas mulheres estrangeiras freqentavam os circuitos
tursticos acompanhadas por parceiros tambm estrangeiros ou em
famlia; a cidade no aparecia como destino atraente para estrangeiras
ss, de acordo com algumas entrevistadas, o machismo reinante as
fazia sentirem-se desconfortveis.
216
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
eram, em geral, encontrados na companhia de jovens locais,
tidas como mais escuras6. Nesse momento o turismo era
considerado uma das fontes de emprego de mais rpido
crescimento no Cear 7 , mas, em Fortaleza, o turismo
internacional era visto com esperana e preocupao por
estar fortemente associado ao turismo sexual.
No Brasil, o debate pblico sobre o turismo sexual (que tende
a defini-lo como prostituio, envolvendo principalmente
crianas e adolescentes), tornou essa problemtica uma fonte
de preocupao nacional. No comeo da dcada de 1990,
era possvel ver estrangeiros entrando nos grandes hotis de
Fortaleza com meninas aparentando ser muito jovens, mas
os sinais visveis dessas ocorrncias no setor da orla
desapareceram8. As aes da sociedade civil organizada
fomentaram o banimento da publicidade turstica oficial que
utilizava imagens sexualizadas de mulheres e estimularam
campanhas governamentais contra a explorao sexual de
crianas por estrangeiros 9 . Contudo, essas imagens
continuaram sendo produzidas pelo setor privado e vendidas,
localmente, na forma de postais e calendrios10. Mas, o que
interessa destacar: essas aes tiveram efeitos, entre os quais
PLANCE, 1996, e SINE, 1996, in CORIOLANO, 1998.
Baseio-me na observao uma vez que, embora meu estudo sobre
Fortaleza tenha sido realizado entre 1999/2002, acompanho regulamente,
desde 1985, as transformaes vinculadas ao turismo na cidade.
9
Uma Campanha Nacional pelo Fim da Explorao, da Violncia e do
Turismo Sexual contra Crianas e Adolescentes foi lanada em todo o
pas em 1995, envolvendo aes tanto no Brasil (com linhas telefnicas
onde o turismo sexual envolvendo crianas podia ser denunciado)
como no exterior, atravs de acordos com Itlia, Frana, Alemanha e
Inglaterra, a fim de punir cidados dessas naes tanto no Brasil como
em seus pases de origem. O Brasil moda, Isto 1681, 19/12/2001.
10
Pouca ateno tem sido concedida difuso de imagens voltadas
para o turismo nacional, que mostrando desigualdades regionais,
tambm apontam para a sexualizao do Nordeste (EMRICH, 2004).
7
8
217
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
se conta a realizao de pesquisas que relativizam a completa
responsabilidade atribuda, no passado, aos turistas sexuais
pela incidncia da prostituio infanto-juvenil em Fortaleza.
Estudos acadmicos sobre essas questes na cidade
mostraram que, no final da dcada de 1990, nas reas sob
anlise, incluindo aquelas freqentadas por turistas, a
prostituio envolvia basicamente adolescentes. Tambm
indicavam claramente que, embora os turistas representassem
uma porcentagem considervel dos clientes, os turistas
brasileiros tinham participao prxima dos estrangeiros e,
no total, a participao de ambos era inferior dos clientes
locais, que constituam a maioria dos consumidores. (Cmara
Municipal de Fortaleza, 1999). A despeito do resultado dessas
pesquisas, o turismo sexual continua a ser considerado uma
das principais fontes da explorao sexual de crianas (PETIT,
2004)11. Casos de estrangeiros pedfilos esto reiteradamente
presentes nos jornais. E vale observar que, no Brasil, esse termo
no usado com a mesma freqncia quando se trata de
consumidores de sexo brasileiros (LANDINI, 2003). O turismo
sexual envolvendo jovens adultas (que no se configura
necessariamente como crime12) (SILVA e BLANCHETTE, 2005)
tambm tem suscitado ansiedade, por ser percebido como
associado s drogas e, acima de tudo, ao trfico internacional
de mulheres.
A incluso de Fortaleza nos circuitos mundiais de turismo
sexual, que visvel na cidade, referendada e recomendada
O recente Relatrio da Comisso de Direitos Humanos sobre a venda
de crianas, a prostituio infantil e a pornografia envolvendo crianas
(PETIT, 2004: 9) afirma que no Brasil o turismo sexual uma das formas
mais difundidas de explorao sexual comercial de crianas.
12
Em termos da lei, a prostituio que envolve mulheres acima dos
dezoito anos no crime; conforme o Cdigo Penal (arts. 227, 228,
229 e 230), s crime a explorao e o favorecimento da prostituio.
11
218
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
nos sites da Internet voltados para informar os viajantes
procura de sexo (PISCITELLI, 2005). A produo sobre
turismo sexual internacional possibilita afirmar que a
alterao na geografia desse tipo de turismo, intimamente
associada a fatores econmicos, polticos e culturais, mantm
relaes com aspectos nos quais pouco difere de outros tipos
de turismo contemporneo. Refiro-me necessidade de
consumo de uma autenticidade vinculada aos novos
destinos, algo que confere um plus de valorizao e uma
certa distino aos turistas em sentido amplo. por isto que
os pontos do circuito mundial de turismo sexual perdem
valor quando se popularizam excessivamente (MULLINGS,
1999; PISCITELLI, 2002).
No marco das modificaes nessa geografia, a pobreza
um fator relevante, embora no garanta o sucesso de um
lugar a ponto de torn-lo centro de turismo sexual. Esses
destinos so definidos em funo da possibilidade de sexo
barato somada construo de estilos de sensualidade,
atravessados por gnero e raa, vinculados a certas regies
e a certos pases. Os sites destinados aos turistas sexuais
revelam que as desigualdades regionais afetando o Nordeste
do Brasil so claramente percebidas por esses turistas. A
regio surge como destino em funo das possibilidades que
ela oferece em termos do acesso a mulheres portadoras de
certos atributos, com o atrativo adicional de serem menos
profissionalizadas que no Rio de Janeiro e dispostas a
entabular relacionamentos maneira de namoradas de frias.
As cidades do Nordeste so contrastadas com as cidades do
Sul do pas, nas quais se considera que h mulheres de classe
social mais elevada e pouco acessveis. Os depoimentos de
usurios d o World Sex Archives, um dos sites da web mais
populares entre turistas procura de sexo, instando outros a
trocar cidades do Sul pelo Nordeste do Brasil so
significativos:
219
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Curitiba, especialmente com pouco
conhecimento do Brasil, no fcil. Para
uma experincia de... longo prazo, aposta
melhor teria sido o nordeste, onde as
meninas so pobres, acostumadas a ficar
com gringos com quem mal podem se
comunicar, e que no fazem muito mais
durante o dia do que programas, mas
claro que essas meninas tendem a ser mais
mulatas e morenas. Sugiro que voc v
para o nordeste voc anda procurando
no lugar errado13
Floripa sem dvida uma bela cidade...
mas no o melhor lugar para o hobby
Voc pode encontrar algumas no
profissionais de frias, mas no se
impressionaro com um gringo, a maioria
so garotas de classe alta de So Paulo,
Porto Alegre ou Argentina... Recife e
Fortaleza so mais adequadas.14
As mulheres de Fortaleza que estabelecem relaes sexuais/
econmicas com turistas em busca de sexo tm sua prpria
viso sobre o universo do turismo sexual local, que elas
percebem como oferecendo (inigualveis) oportunidades de
ingressos, de mobilidade social e, em alguns casos, de
migrao para pases do Primeiro Mundo.
As entrevistadas freqentam a regio da cidade considerada
centro noturno da prostituio voltada para estrangeiros, na
cidade, a praia de Iracema. Elas intercambiam sexo por bens
Fonte: World Sex Archives. Linha de conversao: Paulsobe# no
Carnaval de 2003 em So Paulo /Brazil, 02/03/2003.
14
Fonte: World Sex Archives. Saetta, Linha Paulsobe in So Paulo
Carnival 2003/Brazil, 04/03/2003.
13
220
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e vantagens materiais, formando relacionamentos com os
visitantes estrangeiros s vezes tambm permeados por
sentimentos romnticos 15. Os locais denominam esses
relacionamentos turismo sexual de classe mdia,
diferenciando-os de outras modalidades mais pobres ou
de menor nvel de prostituio. Essas mulheres so jovens,
a maioria entre vinte e trinta anos; originrias do Cear e de
outros estados do Nordeste.
Elas fazem parte das camadas baixas e mdias baixas da
cidade, embora estejam longe de serem extremamente
pobres, em termos locais, e/ou analfabetas. Em geral, moram
em conjuntos habitacionais para pessoas de baixa renda,
mas no nas reas miserveis da cidade, ou de classe mdia
baixa. Tambm atingiram um nvel de escolaridade
comparativamente mais alto (algumas tm secundrio
incompleto ou completo ou supletivo) do que as mulheres
envolvidas nas verses mais pobres da prostituio. Em
um marco social no qual a sexualidade de jovens de camadas
baixas tradicionalmente tem sido consumida por homens
locais de camadas superiores16 e, ocasionalmente, um meio
para possibilitar a sobrevivncia ou melhorar a vida,
algumas entrevistadas trocaram os primeiros namorados
locais por estrangeiros. Outras procuraram, primeiro, ajuda
(uma categoria central neste universo) em homens locais,
Para uma discusso da imensa diversidade de relaes ligadas ao
turismo sexual, ver: KEMPADOO, 2000; sobre as fronteiras pouco
ntidas entre a prostituio e outras formas de encontros sexuais no
quadro do turismo sexual, ver: OPPERMAN, 1999; COHEN, 1982,
1986.
16
Vrios dos homens locais entrevistados, na faixa dos quarenta anos,
tiveram sua primeira experincia sexual com a empregada domstica
da casa ou com prostitutas. Esse padro se altera entre os entrevistados
mais jovens que se iniciaram com amigas ou namoradas das suas
mesmas camadas sociais.
15
221
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
mais velhos, trocando depois esse velho que ajuda
(FONSECA, 2004) por um estrangeiro. Outras, finalmente,
ingressaram no universo do turismo sexual internacional aps
terem se dedicado a realizar programas com homens locais
e turistas brasileiros.
A cor da pele dessas mulheres considerada pelos padres
nativos entre o moreno e o moreno claro. Do ponto de vista
local, as jovens daquelas classes sociais que estabelecem
relacionamentos com turistas estrangeiros, especialmente
quando consideradas de pele escura, so vistas como
prostitutas. Mulheres de camadas mais elevadas e pele tida
como mais clara envolvidas em relacionamentos sexuais com
turistas estrangeiros podem evitar o rtulo de prostitutas. Mas
esse rtulo afeta de maneira recorrente as mulheres de
estratos mais baixos e/ou pele mais escura que acompanham
visitantes internacionais.
Algumas dessas entrevistadas se consideram trabalhadoras
do sexo. Para elas o turismo internacional traz a possibilidade
de realizar programas (termo que se refere estritamente aos
contratos que regulam a troca de sexo por pagamento
financeiro direto, nos quais preos, perodos de tempo e
tipos de prticas sexuais so previamente acordados) com
estrangeiros, clientes preferidos porque pagam melhor e, de
acordo com elas, as tratam melhor do que os clientes locais
e inclusive de outros estados do Brasil. Muitas das
entrevistadas, porm, no se vem nesses termos.
Estas ltimas so mulheres jovens que tm empregos estveis,
com salrios por elas considerados baixos (em 2002, os
salrios mais elevados estavam em torno de R$ 500). Esses
empregos esto direta ou indiretamente relacionados com a
indstria turstica. Elas so arrumadeiras de hotis, garonetes
em bares e restaurantes no setor turstico, cabeleireiras ou
manicuras em sales de beleza da orla. Em alguns casos,
222
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
esses empregos possibilitam renda mais elevada que os
obtidos por outras mulheres de suas famlias, trabalhando
na roa, no servio domstico ou no comrcio. A vinculao
dos trabalhadores na indstria turstica com o turismo sexual
tem sido documentada em diversos lugares do circuito
mundial (CABEZAS, 2004). No caso das mulheres
entrevistadas em Fortaleza, os relacionamentos com os
turistas oferecem diversos benefcios econmicos. Elas no
fazem programas, mas aceitam e em geral pedem presentes
e contribuio financeira para suas necessidades imediatas
e de mdio prazo, entre as que se contam os recursos
necessrios para iniciar pequenos negcios (ter o prprio
salo de beleza, uma barraca na praia, um restaurante, so
os sonhos de algumas delas). Essas jovens respiram uma
atmosfera de estrias de casos e casamentos de sucesso, com
nfase particular na aquisio de apartamentos, bares,
restaurantes todas expressando uma clara mobilidade
social.
Nem todas essas mulheres pretendem migrar. No entanto,
algumas das jovens que se consideram trabalhadoras do sexo
e a maioria das que no se pensam nesses termos, sonham
com um futuro melhor em alguns pases estrangeiros,
principalmente na Europa. Os contatos transnacionais que
tm lugar nesse contexto alimentam esse desejo de migrar
que amplifica, em escala global, os sonhos de migrao
tecidos por geraes anteriores de nordestinos em torno das
cidades do Sudeste do Brasil.
Nem a pobreza extrema, nem a falta de empregos (e o
desenvolvimento do turismo certamente promoveu alguns
dos que elas tm) so os aspectos que conduzem essas jovens
a essas modalidades de relacionamentos. Contudo, os
aspectos econmicos (lidos como oportunidades)
desempenham um papel importante na construo de seu
223
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
desejo por esses relacionamentos. Essa idia de oportunidade
se torna compreensvel considerando o posicionamento
dessas mulheres dentro dos padres de gnero que as afetam
permeando a diviso sexual do trabalho, opes de emprego
disponveis, sua localizao em termos das concepes
raciais e de classe locais e os lugares que elas ocupam nas
relaes com os homens nativos de seu prprio estrato social.
Essas entrevistadas so afetadas por barreiras de classe e raciais
que elas julgam rgidas e quase intransponveis e por
aspiraes de mobilidade social intensificadas pelo contato
com o universo do turismo internacional. Neste marco,
equiparar os salrios das mulheres aos dos homens de
camadas sociais anlogas nos empregos vinculados
indstria turstica provavelmente no alteraria o quadro. E
elas so afetadas, tambm pelo que consideram o extremo
machismo local, caracterizado por traos de intensa
possessividade, agressividade, distanciamento afetivo, falta
de respeito, infidelidade, violncia, de homens que jamais
dividem as tarefas domsticas, nem se responsabilizam em
termos econmicos e pelo cuidados pelos filhos. Essas
mulheres consideram os viajantes estrangeiros como agentes
para escapar a essa malha de relaes que percebem como
algo que as aprisiona.
A produo internacional sobre turismo sexual chama a
ateno para a heterogeneidade de modalidades presentes
nesse universo, considerando um conjunto de fatores, o sexo
e a idade de aqueles/aquelas oferecendo servios sexuais, a
orientao sexual dos consumidores, a participao ou no
de intermediadores, a integrao desse tipo de servios no
setor formal ou informal, em tempo parcial ou integral e
224
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
traando, tambm, distines entre turistas sexuais
(MULLINGS, 1999) (OCONNELL DAVIDSON, 1996).17
Para alguns dos estrangeiros entrevistados, homens de
nacionalidades, idades, nveis de escolaridade e renda
extremamente diversificados18, Fortaleza aparece como uma
zona inesgotvel que possibilita inmeras experincias
sexuais com custos relativamente baixos em termos
internacionais. Mas vale registrar que eles estabelecem
distncias com os pedfilos. Preocupados principalmente
com no ter problemas com a polcia, so sensveis s
Essas distines so traadas, tambm, entre as turistas sexuais, as
mulheres dos pases do Norte que viajam procura de sexo nas
naes do Sul. E, se o turismo sexual protagonizado por homens dos
pases do Norte concebido como tentativa de re-criao, em escala
global, de padres tradicionais de masculinidade e de uma antiga
submisso feminina em vias de desapario no Primeiro Mundo,
quando as protagonistas so as mulheres dos pases do Norte, se
considera que os parceiros/as exploram novas vias para negociar
masculinidade e feminilidade. Algumas autoras chamam a ateno
para o fato de que essa idia est presente em anncios circulando
nos pases do Norte, nos quais se convida as mulheres a engajar-se
em viagens de aventura, que oferecem a experincia
empoderadora de viajar livres dos papis e expectativas de gnero
tradicionais PRUITT e LAFONT, 1995.
18
O circuito de turismo sexual de classe mdia abriga uma
multiplicidade de visitantes internacionais, que chegam principalmente
de Itlia, Portugal, Holanda, Alemanha, Frana, Inglaterra, Estados
Unidos e alguns pases latino-americanos. H homens casados e
solteiros; jovens de vinte ou trinta anos e tambm homens de quarenta,
cinqenta e sessenta anos. As profisses variam, e incluem trabalhadores
manuais, professores de lnguas, jornalistas, pequenos empresrios e
tambm advogados e consultores financeiros internacionais. Entre os
entrevistados, alguns contavam com secundrio completo, outros com
escolas tcnicas superiores ou escolaridade superior completa. Os
salrios e/ou retiradas mensais variaram entre U$ 1.000 (um argentino)
e US$ 1.2500 (um norte-americano).
17
225
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
campanhas contra a prostituio infantil e aos movimentos
vinculados s diversas Comisses Parlamentares de Inqurito
sobre Turismo Sexual que tiveram lugar na cidade. Este
aspecto, perceptvel durante a realizao do trabalho de
campo, vastamente registrados na correspondncia que
os turistas sexuais intercambiam no site. Como exemplo
reproduzo uma dessas mensagens:
A Polcia Federal recentemente
completou uma investigao exaustiva da
prostituio em Fortaleza, gravando
vdeos de todos os estrangeiros que
chegavam ao aeroporto, mandando
agentes disfarados a casas de massagens
e apartamentos, entrevistando garotas de
programa, e escrevendo um relatrio
detalhado que foi posto disposio da
mdia. A maior parte dele enfocava a
declarao de Lula no sentido de acabar
com a prostituio infantil. Mas o alvo
so definitivamente os donos do Caf del
Mar, frica etc., a despeito de que eles
controlem as meninas.
By bom boa on Sunday, June 15, 2003
Linha de conversao: Espera-se Grande
Estouro em Fortaleza
Para outros viajantes, esse estilo de turismo sexual alarga o
leque de opes disponveis em termos de relacionamentos
estveis. Alguns se vinculam a uma amante fixa, com baixo
ou mdio custo, qual enviam dinheiro mensalmente, e
visitam trs ou quatro vezes durante o ano, enquanto mantm
seus casamentos na Europa. Outros vm no universo de
turismo sexual de Fortaleza a possibilidade de obter esposas
que, alm de corporificar um estilo de sexualidade, marcado
226
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
pela cor e considerado pouco usual e extremamente atraente,
reiterem padres tradicionais de feminilidade, incluindo
docilidade e desejo de agradar, que eles consideram extintos
em seus pases de origem. Precisamente, esses ltimos so
os viajantes procura de sexo mais almejados pelas nativas.
Nesse universo, as mulheres exibem um conjunto de prticas
atravs das quais tentam obter benefcios materiais de seus
namorados estrangeiros, estratgias que estimulam a difuso
dos romances, abrindo caminho para relacionamentos em
longo prazo (percebidos como mais rentveis) e uma eventual
viagem para o exterior. Mas, no se trata de pura
instrumentalidade. Os estrangeiros so muitas vezes
idealizados, concebidos como incorporando os melhores
estilos de masculinidade. Ao mesmo tempo, as nativas
incorporam os atributos que os visitantes estrangeiros lhes
conferem, mediante os quais as sexualizam.
Essa sexualizao, contudo, est intimamente ligada s
possibilidades de mobilidade social sonhadas por essas
jovens. Em relacionamentos que so, em termos globais, uma
expresso da posio subordinada dessas mulheres, ao
incorporar a extrema sensualidade atribuda a elas, elas
abrem caminhos que desestabilizam critrios lineares de
desigualdade no plano micro das relaes com seus parceiros
e tambm ampliam suas esferas de deciso e influncia, no
mbito familiar. Na percepo dessas jovens, os
relacionamentos com os estrangeiros alargam seus universos
e oferecem oportunidades, uma noo que expressa o
desejo de ascender a uma posio social e poltica
inteiramente diferente no mundo. Essa busca de
oportunidades, no oferecidas pelos empregos ao quais elas
tm acesso, talvez seja uma das razes que explicam o baixo
xito de prticas de ONGs que, lutando contra a migrao
associada ao turismo sexual, alertam nativas dessas regies
227
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
sobre os perigos a que as mulheres brasileiras se expem no
exterior e/ou oferecem treinamento profissional, como via
alternativa ao trabalho sexual, em geral em ocupaes com
salrios relativamente baixos, na regio, como manicura ou
cabeleireira (profisses que vrias das entrevistadas j
exerciam).
Hoje, a praia de Iracema, regio na qual foi realizada parte
substantiva da pesquisa, marcada pelo estigma da
prostituio, est quase abandonada. Os restaurantes e bares
nos quais realizei entrevistas, que eram freqentados por
turistas e tambm pelas camadas mdias locais, fecharam.
Estabelecimentos e apartamentos esto venda. O registro
recentemente publicado na revista Viagem (11/2005)
sintetiza a percepo geral do efeito do turismo sexual nessa
praia:
A praia de Iracema (endereo do Pirata,
famoso forr das segundas-feiras) uma
regio de casario antigo que foi
restaurada na virada do milnio e chegou
a ter alguns dos restaurantes e bares mais
chiques de Fortaleza. Hoje, os
restaurantes se concentram praticamente
numa quadra s, e o resto do pequeno
bairro virou um mar de inferninhos e
discoteconas suspeitas. Impossvel andar
por ali sem ser abordado pelas garonetes
e no s por elas.
O turismo sexual, nefasto para essa praia, utilizado
instrumentalmente por vrias das entrevistadas, possibilitou
a algumas enfrentar certas prticas tradicionais, em termos
de gnero. Suas trajetrias permitem perceber que, embora
corporificassem uma sensualidade extrema, elas opuseram
iniciativa, racionalidade e resistncia submisso,
228
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
simplicidade e dependncia que lhes eram atribudas. Vrias
(fizessem ou no programas) residem hoje na Europa. Os
contextos de turismo sexual so considerados porta para
caminhos migratrios (e de trfico) seguidos por brasileiras
que se integram na indstria do sexo na Europa e isso sucede
em alguns casos (PISCITELLI, 2005b). Contudo, a maioria
dessas jovens deixou o mercado do sexo atravs de
relacionamentos com os turistas que conheceram em
Fortaleza e vive em famlias de camadas mdias europias,
formadas com eles, somando-se ao contingente de migrantes
brasileiros que, enviando remessas desde o exterior,
contribuem com a melhora de vida das famlias que
permaneceram no Brasil (PISCITELLI, 2004, b).
Estudos que analisam os efeitos do turismo sexual assinalam
que em lugares nos quais diversos aspectos vinculados ao
turismo internacional so foras relativamente novas (o
capital estrangeiro, novos circuitos de migrao Europa e
uma indstria do sexo em ampliao) nem sempre fcil
discriminar entre permanncias e alteraes nas
configuraes de gnero (BRENAN, 2004). Modificaes nas
relaes em um ou outro ncleo domstico, apontando para
a ampliao das esferas de influncia e deciso femininas
no necessariamente expressam alteraes nessas
configuraes. Para afirmar que elas existem necessrio
detectar recorrncias, padres. A modalidade de turismo
sexual analisada remete procura de oportunidades, ao
traado de um projeto de ascenso social, a estratgias para
viabiliz-lo e a prticas de resistncia feminina (nas quais se
utilizam os recursos disponveis). Mas, neste ponto
necessrio confrontar as abordagens que percebem com
olhos otimistas as contestaes subordinao nas
circunstncias mais adversas. Apesar de certas contestaes,
esta modalidade de turismo sexual remete s desigualdades
estruturais, permeadas por gnero, entre as nacionalidades
229
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
em jogo. As sadas individuais achadas por essas entrevistadas
esto longe de interferir nessas desigualdades. Elas tampouco
incidem na alterao das configuraes de gnero locais
(que so coletivas). Finalmente, essas sadas, apesar de
possibilitar que algumas mulheres escapem de certas malhas
de desigualdade no plano local, no evitam que elas sejam
afetadas por outras, permeadas por gnero, em suas novas
vidas no exterior.
3. Informando Linhas de Ao
Descrevi detalhadamente este estudo de caso porque ele
oferece elementos para considerar, a partir de um contexto
brasileiro, os principais tpicos tratados na discusso sobre
as relaes entre gnero e turismo, explorando caminhos
para eliminar as desigualdades. A intensificao do turismo,
ao gerar empregos e receitas certamente pode ser associada
a aspectos positivos em termos de desenvolvimento, reduo
da pobreza e incluso social, seja em pequenas comunidades
ou em centros urbanos. Paralelamente, ele apresenta riscos
no que se refere reproduo de desigualdades de gnero,
particularmente srios quando se trata de regies pobres,
nas quais as mulheres contam com escassas oportunidades.
Seguindo as linhas feministas crticas, a questo seria enfrentar
e promover o desenvolvimento do turismo a partir de
situaes mais igualitrias, tambm em termos de gnero. E,
se alguns riscos podem ser reduzidos a partir da atividade
turstica, criar situaes menos desiguais exige a participao
articulada de diversas instncias do governo e da sociedade
em aes que extrapolam o mbito do turismo.
No que refere-se ao Brasil, os riscos sociais vinculados a
essas desigualdades, evidentes no caso que acabo de
apresentar, no so delineados de maneira to ntida no que
se refere ao mercado de trabalho criado pela e em torno do
230
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
turismo. H uma escassez de pesquisas e estudos sobre o
tema. Observo que uma consulta no SCIELO/Brasil, arquivo
de peridicos acadmicos on-line, indicou 16 artigos sobre
turismo, em nenhum dos quais os termos gnero ou mulher
foram includos nas palavras-chave (novembro de 2005).
Levando em conta que para pensar como agir necessrio,
antes de mais nada, conhecer, seria necessrio realizar uma
srie de pesquisas (em abordagens quantitativas e qualitativas)
que analisem a participao diferenciada de homens e
mulheres em diversos segmentos desse mercado, em vrias
partes do pas e em diferentes tipos de turismo, explorando
seus efeitos em termos de gnero. A escassez de investigaes
que resultem em um diagnstico um ponto de
estrangulamento para a elaborao de linhas de ao.
Pesquisas realizadas em outras partes do mundo levantam
pontos e formulam recomendaes que seria importante
considerar a partir de contextos nacionais. Mas, para tanto,
fundamental fomentar pesquisas acerca do tema e esta a
primeira das recomendaes no curto prazo. De outro modo
no h como balizar as recomendaes. Em termos gerais,
as pesquisas disponveis para outros pases asseguram que a
participao em empreendimentos tursticos contribui para
diminuir a pobreza em termos individuais e do ncleo
domstico, alterando, em termos de gnero, a distribuio
do trabalho e a ingerncia das mulheres nos processos de
deciso no plano comunitrio. Mesmo neste caso, supondo
que se aplique ao contexto brasileiro, necessrio que essa
idia seja confrontada com anlises que mostrem os efeitos
dessa participao nas vidas de homens e mulheres e nas
relaes entre uns e outras. Isto exige considerar tipos de
ocupao, nveis de renda e horas de trabalho, fora e dentro
de casa, em todos os servios, incluindo os vinculados ao
cuidado (da casa, as crianas, idosos, doentes). E requer
231
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
tambm explorar os processos decisrios no mbito familiar
e comunitrio.
Esses efeitos deveriam ser traados tendo como referncia
diferenas na participao no setor informal e formal e, ainda,
neste ltimo, possveis diferenas no tipo e nvel de emprego
e de renda nos empreendimentos tursticos controlados por
capitais estrangeiros e nacionais. Levando em conta que nos
pases considerados desenvolvidos as diferenas salariais
entre homens e mulheres so mais reduzidas, seria
importante verificar se essa relao se reitera nos
empreendimentos tursticos estrangeiros no Brasil.
Recomendaes gerais formuladas pelas Naes Unidas
(HEMMATI, 1999), estimular e oferecer treinamento para as
mulheres em reas vinculadas atividade turstica (sobretudo,
naquelas tidas como no tradicionais em termos de gnero,
voltadas para marketing, administrao e lnguas
estrangeiras), criao e facilitao de acesso a programas de
microcrdito, certamente so caminhos para a promoo
de oportunidades. Alm disto, a participao de
organizaes no-governamentais e governos locais pode
contribuir para viabilizar e melhorar o acesso das mulheres
ao mercado. Contudo, a adequao dos aspectos particulares
dessas iniciativas e seus efeitos em termos de distribuies
de poder entre homens e mulheres s podem ser avaliados
a partir de estudos em contextos especficos.
As recomendaes das Naes Unidas incluem o apoio ao
trabalho feminino mediante polticas facilitadoras, desde
creches e programas para a igualdade de oportunidades,
incluindo cotas de mulheres em cargos de alta administrao
(hoteleira) e trabalhos de conscientizao no que se refere
discriminao das mulheres, incluindo o assdio sexual no
trabalho, tambm por parte dos turistas. Contudo, apesar de
apresentar aspectos especficos voltados para a atividade
232
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
turstica, essas recomendaes no diferem em termos gerais
daquelas voltadas para a incluso mais igualitria das
mulheres no mercado de trabalho, em sentido amplo. Ao
contrrio, os outros dois tpicos centrais nas discusses sobre
gnero e turismo, o turismo sexual e a criao de imagens
sexualizadas de certos lugares tursticos, problemticas
geradas no mbito da indstria turstica, parecem requerer
recomendaes especficas.
De fato, at certo ponto, essas duas questes interligadas
podem ser enfrentadas no mbito da atividade turstica e na
articulao desta com aes governamentais. Vrias medidas,
que j esto em curso no Brasil, mostram aspectos positivos.
O controle da produo de imagens tursticas oficiais voltadas
para a difuso do Brasil no exterior um desses aspectos.
Contudo, seria importante tentar influenciar tambm a
produo de imagens no oficiais e no s aquelas voltadas
para os estrangeiros, mas tambm as destinadas a turistas
brasileiros. Tomando como referncia o turismo sexual no
Brasil, ele no protagonizado exclusivamente por
estrangeiros e as pesquisas indicam que as propagandas
tursticas voltadas para o turismo nacional tm recriado a
sexualizao de certas regies, particularmente as mais
desiguais (EMRICH, 2004). Alm disto, necessrio lembrar
que a sexualizao no produzida apenas a partir da
reproduo de imagens visuais de corpos, ela tambm age
atravs da linguagem com que se descrevem as belezas
naturais.
No que se refere ao turismo sexual, as campanhas para
combater a explorao sexual comercial de crianas e a
articulao com agncias (governamentais e nogovernamentais) dos pases emissores de turistas sexuais para
difundi-las no exterior tm mostrado efeitos positivos, na
medida em que amedrontam e inibem turistas sexuais. Essas
233
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
campanhas, que incluem o controle do acesso de crianas e
adolescentes a hotis, motis, bares e discotecas, apoiadas
pelos estabelecimentos tursticos que aderem ao Cdigo de
tica no Turismo, deveriam ser reiteradas, ampliadas e
difundidas da maneira mais vasta possvel nos meios de
comunicao europeus. De maneira anloga, os
estabelecimentos que cumprem o Cdigo de tica poderiam
ser premiados, difundindo-os mediante agncias de
viagens, redes vinculadas ao combate a este tipo de
explorao, redes feministas e de movimentos de mulheres.
Deveria tambm ser estimulado o turismo de estrangeiras
dos pases emissores de turistas sexuais para as cidades
favoritas desses conterrneos, criando condies para fazlas sentirem-se confortveis, educando os empregados dos
setores tursticos para no discrimin-las ou assedi-las pelo
fato de viajarem ss. A presena dessas mulheres em hotis,
bares, barracas, um fator inibidor para certos turistas sexuais
que tem sido acionado com relativo sucesso em outras partes
do mundo (ENLOE, 1989).
Essas recomendaes podem ser seguidas no curto prazo.
Contudo, alterar a imagem sexualizada existente sobre o
Brasil, particularmente, sobre certas regies do pas (e em
muitos casos, das populaes nativas sobre si prprias),
uma tarefa complexa, em longo prazo, que est associada
oferta de sexo local. No que se refere explorao sexual
infantil, vinculada a fatores de extrema pobreza (Cmara
Municipal de Fortaleza, 1999) e, ocasionalmente, a abusos
e violncia domstica, ela s pode ser controlada atravs de
programas que melhorem o nvel de renda das famlias e
que interfiram tambm nos fatores culturais que incidem
em aspectos negativos no relacionamento com as crianas,
incluindo empurrar as crianas para o mercado do sexo ou
ignorar a participao delas no mesmo.
234
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Esse conjunto de medidas, porm, afeta de maneira bastante
indireta o turismo sexual envolvendo jovens adultas,
sobretudo aquelas que, mesmo oferecendo servios sexuais,
o fazem de maneira autnoma, sem agenciadores ou
intermediadores. Nestes casos, eliminar a problemtica exige
que os relacionamentos sexuais/econmicos com turistas
sexuais deixem de ser considerados uma opo atraente para
as mulheres nativas. E isto significa oferecer a elas
substantivas oportunidades que promovam a mobilidade
social e exige alterar, ao mesmo tempo, as dinmicas de
gnero locais e os mecanismos de discriminao racial que
afetam as garotas, sobretudo as de camadas baixas. As
recomendaes para eliminar o turismo sexual, portanto,
incluem medidas em curto prazo mas tambm em mdio e
longo prazo que, envolvendo oportunidades no mercado
de trabalho, no se restringem a elas porque tambm
necessrio interferir seriamente na educao, incluindo
programas voltados, de maneira especfica, para alterar
imagens cristalizadas de feminilidade e masculinidade, de
diferenas raciais e, tambm, de sexualidade.
Finalizo este texto sistematizando recomendaes em curto,
mdio e longo prazos e insistindo na necessidade de esforos
articulados atravs de diferentes setores sociais para enfrentar
os problemas e tirar partido das possibilidades vinculadas
ao turismo. Alm de gerar empregos e receitas, ele cria riscos
que pem em evidncia desigualdades, permeadas por
gnero, constitudas em longos processos de excluso. Nesse
sentido, tem o mrito de destacar pontos a serem levados
em conta na construo de uma agenda de polticas pblicas
pois essas desigualdades no podem ser eliminadas atravs
da atividade turstica.
235
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Estratgias
Mercado de trabalho
Produo de imagens
de lugares tursticos
Turismo sexual
Estudos que analisem
a participao de
homens e mulheres no
setor turstico,
explorando seus
efeitos em termos de
gnero .
curto
prazo
Atores envolvido
Ministrio de Cincia
Tecnologia (agncias
fomento pesquisa),
Ministrio da Educa
(CNPq), IBGE, Secreta
Nacional de Mulhere
Interferir na produo
de imagens sexualizadas
dos lugares tursticos:
voltadas para o turismo
nacional e produzidas
tambm no setor
privado.
Ministrio de Turismo
Secretarias Estaduais
Turismo
Secretaria das Mulhe
ONGs
Reiterao, ampliao
e difuso das
campanhas contra a
explorao sexual de
crianas
Governo Federal
Articulao com
agncias
internacionais para
difundir as campanhas
nos pases emissores
de turistas sexuais
Governo Federal (MR
Ministrio do Turismo
Secretaria das Mulhe
ONGs
Governo Estadual
Governo Municipal
ONGs
Estmulo ao turismo de Ministrio de Turismo
mulheres dos pases
Secretarias Estaduais
emissores de turistas
Turismo, Secretaria d
sexuais para o Brasil
Mulheres, ONGs
236
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Estratgias
Mercado de trabalho
Produo de imagens
de lugares tursticos
Turismo sexual
Ministrio do Trabal
Emprego, Secretaria
Mulheres, Ministrio
Educao
A partir dos resultados
de pesquisa, oferecer
treinamento para
mulheres em reas
vinculadas atividade
turstica
Mdio e
longo
prazo
Divulgar e facilitar o
acesso a programas de
microcrdito
Programas que
melhorem a renda
familiar para evitar a
complementao de
renda por meio da
prostituio
Caixa Econmica Fe
Banco do Nordeste,
do Brasil
Educao/Trabalho/A
Social, Mulheres e D
Humanos
Ministrio do Trabal
Emprego (Economia
Solidria), Governos
ONGs
Divulgar informao
sobre
empreendimentos
femininos no mercado
Governos locais, em
Apoio ao trabalho
feminino creches
Programas para
estimular a igualdade
de oportunidades no
setor turstico
Atores envolvid
Secretaria das Mulhe
Ministrio do Turism
Programas educativos
para crianas, jovens e
adultos, dentro e fora
do mbito escolar,
voltados para interferir
em noes de gnero,
concepes sobre
sexualidade e
discriminao racial.
Ministrio da Educa
Secretarias de Educa
Sade, Direitos Hum
Mulheres, Igualdade
237
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Bibliografia Citada
ADIB, Amerl e GUERRIER, Yvonne (2003): The interlocking of Gender
with Nationality, Race, Ethnicity and Class: the Narratives of Women
in Hotel Work, Gender, Work and Organization, Vol. 10, n 4, pp.
413-432.
ANDERSON, Joan e DIMON, Denise (1995): The Impact of Opening
Markets on Mexican Male/Female Wage and Occupational Differentials.
The Social Science Journal, vol. 32, n4, pp. 309-326.
BARBOSA, Snia Regina da Cal Seixas e BEGOSSI, Alpina (2004):
Fisheries, Gender and Local Changes at Itaipu Beach, Reio de Janeiro,
Brazil: na individual approach. Multicincia.
BOLLES, Lynda (1997): Women as a Category of Analysis in Scholarship
on Tourism: Jamaican Women and Tourism Employment, in:
CHAMBERS, Erve (ed) Tourism and Culture, an Applied Perspective.
State University of New York Press.
BRAH, Avtar (1996). Cartographies of diaspora, constesting identities.
Londres, Routledge.
BRENNAN, Denise (2004): Women Work, Men Sponge, and Everyone
Gossips: Macho Men and Stigmatized/ing Women in a Sex Tourist
Town, Anthropological Quarterly, 77,4, pp. 705-733.
CABEZAS, Amalia (2004): Between Love and Money: Sex, Tourism,
and Citizenship in Cuba and the Dominican Republic, Signs: Journal
of Women in Culture and Society, 2004, vol. 29, n 4, pp. 987-1015.
CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA (1999): Explorao Sexual e
Comercial de Adolescentes em Fortaleza, Cartilha Popular .
CARPAZOO, Ana Rosa Lehman (1994) Turismo e identidadeconstruo de identidades sociais no contexto do turismo sexual entre
alemes e brasileiras na cidade do Recife. Dissertao de mestrado
apresentada no mestrado em antropologia, Universidade Federal de
Pernambuco, 1994.
COHEN, Erik (1982): Thai girls and Farang men: The edge of
ambiguity. Annals of Tourism Research 9: 403-428.
COHEN, Erik (1986): Lovelorn farangs: the correspondence between
foreign men and Thai girls, Antrhopological Quarterly, July, Vol 59,
n 3, pp. 115-127.
CORIOLANO, Luzia Neide (1998): Do Local ao Global. O turismo
litorneo cearense, Campinas, Papirus.
238
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
CRENSHAW, Kimberl: Documento para o encontro de especialistas
em aspectos da discriminao racial relativos ao gnero, in Revista
Estudos Feministas, 1, 2002, pp. 171-188.
CUKIER, Judie, NORRIS, Joanne e WALL, Geoffrey (1996): The
involvement of Women in the Tourismo Industry of Bali, Indonesia,
The Journal of Development Studies, 33,2, pp. 248-270.
CHANDLERS, Eve (2000): Native Tours, The Anthropology of Travel
and Tourism. Waveland Press, Illinois.
DAVIDSON, Julia (1996): Sex Tourism in Cuba, Race and Class, 38, 1.
DIAS FILHO, Antonio Jona (1998): Fuls, Ritas, Gabrielas, Gringlogas
e Garotas de Programa. Falas, prticas, textos e imagens em torno de
negras e mestias, qu apontam para a construo da identidade
nacional, a partir da senxualidade atribuda mulher brasileira.
Dissertao apresentada ao curso de Mestrado em Sociologia da
Universidade Federal da Bahia, Salvador.
EMRICH, Glycia (2004): Esculturas em Bronze, gnero e sexualidade
nas propagandas tursticas voltadas para os brasileiros. Relatrio
parcial de pesquisa apresentado ao CNPq, Unicamp.
ENLOE, Cynthia (1989): Bananas, Beaches and Bases. Making Feminist
Sense of International Politics. Berkeley, University of California Press
FERNANDEZ, Nadine (1999): Back to the future? Women, race and
tourism in Cuba, in KEMPADOO, Kamala, ed: Sun, Sex and Gold,
Tourism and Sex Work in the Caribbean, Rowan and Littlefield, 1999.
FONSECA, Claudia (2004): A Morte de um Gigol: Fronteiras da
transgresso e sexualidade nos dias atuais, in: Sexualidades e saberes...
GOVERNO DO ESTADO DO CEAR. SECRETARIA DE TURISMO
(2002): Cear, Terra da Luz. Indicadores Tursticos.
GUAY, Pierre-Yves e LEFEBVRE, Sylvain (1998): Les impacts sociaux
du tourisme internacional: univocit ou variabilit?, in: MICHEL, Franck
(ed): Tourismes, Touristes, Societs, Paris, ed LHarmattan.
HEMMATI, Minu (1999): Gender and Tourism: Womens Employment
and Participation in Tourism. Report, United Nations Environment
and Development UK Committee, in www.unedforum.org, capturado
em outubro, 2005.
KEMPADOO, Kamala (1999): Continuities and change. Five centuries of
prostitution in the Caribbean, in KEMPADOO, Kamala, Sun, Sex and Gold,
Tourism and Sex Work in the Caribbean, Rowan and Littlefield, 1999.
239
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
KUBITSCHEK, Marcia (1997): The example of Brazil, in WTO General
Assembly Round Table on Tourism Promotion in Foreign Markets,
Istanbul, Turkey, 23 October.
LANDINI, Tatiana Savoia (2003): Pedfilo, quem es? A pedofilia na
mdia impressa. Cadernos de Sade Pblica. Rio de Janeiro. 19 (sup2),
pp. 273-282.
MACKLINTOCK, Anne (1995): Imperial leather, New York, Routledge,
1995
MILLS, Mary Beth (2003) Gender and Inequality in the Global Labor
Force. Annual Review of Anthropology, 32: 41-62.
MULLINGS, Beverly (1999): Globalization, tourism, and the
International Sex Trade, in: KEMPADOO, Kamala, ed: Sun, Sex and
Gold, Tourism and Sex Work in the Caribbean, Rowam and Littlefield.
OPPERMANN, Martin (1999): Sex Tourism, Annals of Tourism
Research, vol 26, n 2.
PETIT, Juan Miguel (2004): Report on the sale of children, child
prostitution and child pornography, Mission to Brazil. COMMISSION
ON HUMAN RIGHTS.
PRATT, Mary Louise (1992) Imperial Eyes: Travel Writing and
Transculturation. New York, Routledge.
PRITCHARD, Annette e MORGAN, Nigel J (2000): Privileging the Male
Gaze, Gendered Tourism Landscapes. Annals of Tourism Research,
Vpl 27, n 4, pp. 884-905.
PISCITELLI, Adriana (prelo) Priplos Tropicais: a insero de Fortaleza
nas rotas mundiais do turismo sexual, in COSTA, Albertina: Homen,
homens, So Paulo, Editora 34,
PISCITELLI, Adriana (2005): Viagens e sexo on line: a Internet na
geografia do turismo sexual. Cadernos PAGU, 25, Mercado do Sexo,
Campinas, Unicamp, pp. 281-327
Piscitelli, Adriana (2005b): Exotismos em confronto? Migrao de
brasileiras para inserir-se na indstria do sexo na Espanha. XXIX
Encontro Anual da ANPOCS.
PISCITELLI, Adriana (2004) On Gringos and Natives, gender and
sexuality in the context of international sex tourism in Fortaleza.
Vibrant, Brazilian Virtual Anthropology, n1;
240
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
PISCITELLI, Adriana (2004b) Sexualidade Tropical em contextos do
Primeiro Mundo. Texto apresentado no V Encontro Fazendo Gnero,
Florianpolis.
PISCITELLI, Adriana (2002) Exotismo e autenticidade: relatos de
viajantes procura de sexo. Cadernos Pagu, 19, Campinas, pp. 195233;
PRITCHARD, Annette e MORGAN, Nigel (2000): Privileging the male
gaze. Gendered tourism landscapes. Annals of Tourism Research. Vol
22, n 4. pp. 884-905.
PRUITT, Deborah, LaFONT, Suzanne (1995): For love and money.
Romance Tourism in Jamaica, Annals of Tourism Research, vol. 22,
n 2, pp. 422-440
RICHTER, Linda K (2000): Exploring the political role of gender in
tourism research, Equation.
SILVA, Ana Paula e BLANCHETTE, Thaddeus (2005): Nossa Senhora
da Help, sexo turismo e deslocamento transnacional em Copacabana,
Cadernos PAGU, 25, Mercado do Sexo, Campinas, Unicamp,pp. 249281
SOARES DO BEM, Arim: As armadilhas do turismo sexual, um esboo
para a reflexo, texto apresentado no Seminrio Sexualidades e Saberes,
Convenes e Fronteiras, PAGU/CLAM, Unicamp, 2003
SWAIN, Margaret Byrne (1995): Gender in Tourism, Annals of Tourism
Research, vol. 22, n2, pp. 247-266.
SWAIN, Margaret Byrne (1989): Gender Rolesin Indigenous Tourism:
Kuna Mola, Kuna Yala and Cultural Survival, in: SMITH, Valene: Hosts
and Guests, The Anthropology of Tourism, University of Pennsylvania
Press.
241
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
GT: Turismo, Eqidade e Gnero
Perguntas orientadoras:
1. Como promover a eqidade de gnero pelo
turismo?
O Ministrio do Turismo, para promover a eqidade de
gnero pelo turismo, no mbito de suas competncias,
dever buscar parcerias para institucionalizar programas,
projetos e aes para:
a)
apoio e realizao de estudos sobre a participao
de homens e mulheres no setor turstico e os impactos
em termos de gnero;
b)
combate ao turismo sexual:
Recomendaes Operacionais
242
combater, com determinao, a maior desigualdade
entre homens e mulheres, entre ricos e pobres que
a materializao do turismo sexual, seja de origem
domstica ou internacional, nos seus mais diversos
entendimentos: explorao infanto-juvenil,
explorao de mulheres adultas, principalmente
daquelas que corporificam etnicidades;
reforar e manter as campanhas de combate ao
turismo sexual e explorao sexual infanto-juvenil;
sensibilizar empresrios do setor turstico para coparticiparem das campanhas;
incluir, no processo de desenvolvimento dos roteiros,
dados e informaes sobre a discriminao da
mulher;
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
realizar programas educativos para crianas, jovens
e adultos, dentro e fora do mbito da escola, voltados
para noes de gnero, concepes sobre sexualidade
e discriminao racial;
articular com outros Ministrios aes integradas e
que possam ser incorporadas nas polticas pblicas.
c)
definio de uma poltica de produo e de uso de
imagem dos lugares tursticos para fins de promoo
nacional e internacional:
Recomendaes Operacionais
explicitar, no material de divulgao do Ministrio
do Turismo, a questo da eqidade como forma de
reforo mudana cultural;
realizar ampla campanha de sensibilizao e
orientao, com a participao da mdia e dos
empresrios do setor turstico, para retirar a imagem
da mulher como atrativo nos materiais promocionais;
promover campanhas nos pases emisores para
estimular a vinda de mulheres turistas ao Brasil.
243
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
d)
orientao aos profissionais que trabalham com
polticas pblicas, projetos e programas de
desenvolvimento turstico quanto importncia da
realizao de uma anlise contextualizada de
impactos positivos e negativos da atividade turstica:
Recomendaes Operacionais
orientar quanto a importncia de contrastar os
benefcios econmicos com os possveis efeitos
negativos nas relaes sociais e valores culturais,
principalmente no caso de comunidades receptoras;
orientar sobre a importncia de considerar as
diversidades regionais na formulao das polticas na
questo da eqidade;
estabelecer articulao com Ministrio de Educao,
secretarias afins e instituies de ensino e outros.
e)
sensibilizao da sociedade sobre a desigualdade de
gnero:
Recomendaes Operacionais
244
incluir a questo da desigualdade de gnero como
tema transversal aos currculos desde o ensino
fundamental;
promover campanhas para adequao dos
equipamentos tursticos de forma a atender
plenamente as necessidades da mulher;
estabelecer parcerias. Exemplo: Ministrio de
Educao, secretarias afins.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
f)
melhoria da situao da mulher no trabalho:
Recomendaes Operacionais
incentivar e divulgar iniciativas, mecanismos e
instrumentos para a prtica de turismo que valorizem:
a qualificao da mulher para o trabalho, a
administrao do desenvolvimento do turismo por
grupos locais, a participao da mulher em atividades
consideradas masculinas e vice-versa;
incentivar e divulgar instrumentos e iniciativas que
garantam a equiparao na remunerao para cargos
ou funes iguais, independente de gnero;
incentivar e divulgar mecanismos e iniciativas que
apiem o trabalho feminino (Ex: creches);
incentivar e divulgar mecanismos e iniciativas que
facilitem o acesso ao microcrdito.
g)
adequao dos equipamentos tursticos de forma a
atender plenamente as necessidades da mulher:
Recomendaes Operacionais
realizar este trabalho junto ao Ministrio do Trabalho
e secretarias afins.
245
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Comunidades Costeiras Frente
Expanso do Turismo
Eduardo Schiavone Cardoso*
1. Introduo
O litoral a rea de contato entre a terra e o mar. Do
ponto de vista da natureza um espao de transio, com
ecossistemas nicos, sendo o ponto de chegada de toda gua
drenada pelos rios. Argilas, areias e material orgnico
encontram nos litorais uma etapa de sua deposio,
caracterizando este espao como um elo entre o continente
e o mar.
Os usos que a sociedade faz do espao litorneo tambm
possuem caractersticas particulares. A pesca, a circulao
de mercadorias, o turismo, entre outros usos presentes no
litoral d a esta poro do espao geogrfico caractersticas
peculiares, construdas por sujeitos sociais que a encontram
seu lugar.
Considerando que alguns aspectos da natureza e da
sociedade somente se manifestam no litoral, possvel
consider-lo como portador de uma problemtica especfica,
sendo o turismo que se desenvolve no litoral tambm
portador de suas particularidades. Refletir sobre os impactos
e alternativas para as comunidades costeiras frente
expanso do turismo o objetivo do presente artigo.
2. A natureza do litoral
A Zona Costeira possui uma importncia muito grande para
a vida no mar. As guas rasas, onde a energia solar penetra
* Professor do Depto. de Geocincias UFSM
246
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
com maior intensidade aliada presena de ecossistemas
importantes de troca entre a terra e o mar, propiciam as
condies para o desenvolvimento dos nveis mais baixos
das cadeias alimentares que iro povoar os oceanos. Muitas
espcies de peixes, crustceos e moluscos se reproduzem
ou passam seus primeiros estgios de vida no litoral.
O fato de ser uma zona de contato traz para o litoral
caractersticas especficas quanto ao relevo e aos ambientes
costeiros. Falsias, praias, cordes de restinga, costes
rochosos e recifes so formaes presentes apenas no litoral,
como tambm os mangues, os esturios, as lagunas, pntanos
marinhos entre outros ecossistemas.
O litoral brasileiro estende-se por cerca de 7.367km
lineares. Se considerarmos as reentrncias da costa este valor
alcana cerca de 8.500km (MORAES, 1999). considerado
o maior litoral inter e subtropical do mundo (ABSABER,
2003). Segundo este mesmo autor, a combinao de
elementos do relevo, da vegetao e dos demais aspectos
da paisagem possibilita uma setorizao do litoral brasileiro
em seis compartimentos no sentido norte-sul. So eles o
Litoral Equatorial Amaznico, o Litoral Nordestino
Setentrional, o Litoral Nordestino Oriental, o Litoral Leste,
o Litoral Sudeste e o Litoral Sul.1
O Litoral Amaznico compreende o trecho entre os
estados do Amap e Maranho na altura das baas de So
Marcos e So Jos, no Golfo Maranhense. Caracteriza-se
pela presena de inmeras reentrncias na linha da costa,
originadas de uma abundante rede de drenagem que a
desgua. Os manguezais esto presentes em grande parte
O detalhamento destes compartimentos pode ser encontrado em
ABSABER, 2003. Uma compartimentao anterior apresentada por
SILVEIRA, 1964.
1
247
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
desta poro litornea, que comporta ainda a foz do rio
Amazonas e suas inmeras ilhas.
Estendendo-se do leste do litoral maranhense at o litoral
potiguar, encontramos o Litoral Setentrional Nordestino,
caracterizado pela presena de campos de dunas e terraos
litorneos que em contato com o mar do origem s falsias.
Os campos de dunas se estendem em largos trechos atingindo
na rea dos Lenis Maranhenses grandes propores.
A fachada oriental do Litoral Nordestino marcadamente
mais mida que sua poro setentrional. Na poro litornea
do estado de Alagoas, iremos encontrar um conjunto de
grandes lagunas costeiras, das quais se destacam as de
Munda e Mangaba. O Litoral Nordestino Oriental estendese at a foz do rio So Francisco.
O Litoral Leste estende-se da divisa entre os estados de
Alagoas e Sergipe at o litoral capixaba. Neste trecho
encontram-se terraos litorneos e a linha da costa
delimitada ora por pequenas falsias, ora por extensas praias
com presena de formaes vegetais de restinga recobrindo
as faixas de areia. Nas desembocaduras dos rios tais como
Jequitinhonha, Pardo, So Mateus h presena de
manguezais.
O Litoral Sudeste, que se estende do sul do Esprito Santo ao
norte do litoral catarinense, caracterizado pela proximidade
com as encostas dos planaltos de sudeste e sul, que recebem
em alguns trechos o nome de Serra do Mar. Ora se afastando
da linha costeira, ora se sobrepondo a esta, os morros
costeiros do origem a um litoral extremamente recortado
com presena de baas, enseadas, costes rochosas, lagunas
e inmeras ilhas. Nas encostas rochosas do sudeste e sul
encontram-se os remanescentes mais preservados e contnuos
da Floresta Tropical Atlntica a Mata Atlntica.
248
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Da poro central do litoral catarinense at a foz do Arroio
Chu RS estende-se o Litoral Sul brasileiro. Caracteriza-se
por um litoral mais retificado com extensas praias, restingas,
plancies e o maior conjunto de lagoas e lagunas costeiras
do Brasil, das quais se destacam as lagoas dos Patos, Mirim e
Mangueira. Recobrindo as faixas litorneas encontram-se
formaes vegetais pioneiras, restingas e nas reas mais baixas
brejos salinos e banhados.
O fato de estabelecermos uma compartimentao em grandes
conjuntos no significa que o litoral brasileiro seja
rigidamente dividido, uma vez que a passagem de um
compartimento marcado pela presena da Serra do Mar para
outro caracterizado por grandes plancies litorneas se
processa de forma gradual, formando uma rea de transio.
Do mesmo modo existem aspectos comuns a todo o litoral,
mas que se concentram em um ou outro compartimento,
dando suas caractersticas especficas.
Pensar o litoral brasileiro a partir de sua compartimentao
fsico-natural permite elencar os atrativos naturais presentes
em uma ou outra poro do litoral, que iro influenciar em
parte a atividade turstica. Ilhas, recifes, dunas, entre outros
aspectos naturais so valorizadas e apropriados para a
atividade turstica. Cabe aqui um primeiro questionamento
que ser retomado no decorrer deste trabalho: quais so os
atrativos naturais das localidades costeiras? J so conhecidos
e procurados pelos turistas?
3. O litoral e a formao do territrio
brasileiro
A colonizao do territrio brasileiro representou um
processo de penetrao para o interior partindo do litoral e
abordando a costa pelo mar. Tal processo teve por base
territorial os principais recortes da orla martima que
249
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
cumpriram o papel de ancoradouros naturais, tais como as
desembocaduras dos rios e as baas, de onde partiam os
caminhos de interiorizao. Os mapas antigos retratam o
maior conhecimento do litoral em relao s reas interiores.
O povoamento inicial fixou-se em ncleos litorneos,
articulando as reas fornecedoras de gneros comercializveis
e o espao ultramarinho. Com o passar dos anos o povoamento
e a ampliao das atividades econmicas nas reas interiores
foram construindo o espao brasileiro.
Grande parte das cidades brasileiras mais antigas encontrase na faixa litornea, que abrigou a implantao das
primeiras feitorias que estabeleciam o comrcio colonial.
Os grupos indgenas habitantes da franja litornea brasileira
foram os primeiros a ter contato com os colonizadores e
grande parte destes grupos desapareceu frente ao processo
de conquista do territrio colonial ou teve seus espaos de
vida tomados.
A presena de franceses no Rio de Janeiro e no Maranho,
holandeses em Pernambuco, atesta os interesses das potncias
europias pelos territrios e recursos da colnia portuguesa
na Amrica e forjou alianas com grupos indgenas
contrrios aos portugueses.
No sul do pas a colonizao aoriana promovida por
Portugal para povoar seu territrio colonial, ainda hoje
marcante, em especial no litoral catarinense e gacho, onde
descendentes aorianos vivem nas cidades e vilas costeiras
e ainda guardam traos culturais de suas origens.
Cabe ainda destacar a presena de atividades econmicas
ao longo do litoral brasileiro no perodo colonial, realizadas
de modo complementar s atividades mais dinmicas
voltadas ao comrcio ultramarinho. Dentre elas a atividade
pesqueira, a caa de baleias, a construo de embarcaes
250
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e mesmo uma agricultura em pequena escala, foram
atividades que se desenvolveram integrando elementos e
tecnologias indgenas, europias e africanas ao longo da
histria do Brasil, revelando sua presena antiga nas paisagens
litorneas.
Nesse processo podemos encontrar a origem de inmeras
comunidades litorneas atuais. Em reas mais dinmicas tais
comunidades se integraram aos processos de urbanizao e
industrializao do espao brasileiro, ao passo que algumas
reas, dinmicas em outros perodos da histria brasileira,
adentram o sculo XX relativamente isoladas dos processos
de urbanizao e industrializao atuais. em algumas destas
reas que o turismo ao expandir-se promove alteraes
bastante fortes.
Uma discusso pode ser travada a respeito do isolamento
das comunidades costeiras. Segundo Breton e Estrada (1989)
as comunidades costeiras mantiveram contatos com os
processos de expanso econmica, antes mesmo que
comunidades mais interiores. O fato de hoje algumas reas
costeiras estarem relativamente distantes de centros
econmicos mais dinmicos no significa que estejam
isoladas de processos como a especulao imobiliria, o
mercado de terras e mesmo processos de difuso de
informaes e influncias culturais.
Frente s questes levantadas nessa seo podemos pensar
naquelas que se voltam para a atividade turstica. Quais so
as caractersticas histricas e culturais das comunidades
litorneas? Podem ser trabalhadas como atrativos tursticos?
Quando o turismo passou a ser uma atividade presente na
comunidade?
251
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
4. A zona costeira
Apesar de bastante extenso, o espao litorneo uma faixa
de largura varivel que delimita pores muito mais amplas
de terra ao interior e pores ultramarinhas.
O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, estabelecido
com a finalidade de ordenar a ocupao do litoral brasileiro
define, em sua segunda verso (1997), o conceito de Zona
Costeira a partir dos critrios poltico-administrativos dos
Municpios, onde se encontram: a) os Municpios defronte
ao mar, b) os Municpios que compem as regies
metropolitanas litorneas, c) os Municpios contguos s
grandes cidades e capitais estaduais litorneas, d) os
Municpios prximos ao litoral que aloquem atividades e
infra-estruturas de grande impacto sobre a Zona Costeira, e)
os Municpios estuarinos-lagunares que no estejam defronte
ao mar e f) os Municpios que tenham todos os seus limites
estabelecidos com os descritos anteriormente. (Moraes, 1999)
Segundo o mesmo plano, o limite externo da Zona Costeira
dado pelas 12 milhas martimas estabelecidas a partir do litoral.
Estabelece-se, assim, uma faixa litornea que se inicia em
terra, a partir de limites municipais e se finda mar adentro.
Diversos usos do espao so especficos desta faixa. As
estruturas porturias se fixam no litoral e representam elos
fundamentais na circulao de mercadorias. A extrao do
petrleo brasileiro concentra-se em guas profundas e tem
no litoral toda uma estrutura de armazenamento e transporte.
Algumas reas metropolitanas brasileiras so litorneas. A
pesca realizada de norte a sul do litoral brasileiro em
diferentes modalidades. O turismo litorneo uma atividade
em franca expanso.
Como tentativa para o ordenamento do uso do espao na
Zona Costeira, uma srie de instrumentos normativos
252
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
estabelecida, desde os mais amplos, como a Constituio
Brasileira que estabelece a Zona Costeira como patrimnio
nacional, cujo uso far-se- na forma da lei, dentro de
condies que assegurem a preservao do meio ambiente,
at legislaes municipais que normatizam padres de
edificao, arruamentos, acesso s praias, zoneamentos,
entre outros aspectos.
Dentro deste conjunto de normatizaes, podem ser
encontradas aquelas relativas ao desenvolvimento turstico,
que podem assumir caractersticas de salvaguarda de bens
naturais e culturais, como o estabelecimento de reas
protegidas, tombamento de bens e processos, destinao
de reas para fins tursticos e de lazer. Podem ainda se
caracterizar como projetos e planos de desenvolvimento da
atividade turstica, desenvolvidos em nveis federal, estaduais
e municipais.
Nesse quadro, as comunidades devem ter o conhecimento
das leis e dos projetos que contemplam a atividade turstica
na sua localidade, bem como as restries legais de uso do
espao litorneo.
5. Turismo e comunidades costeiras
5.1 As comunidades costeiras e suas terras
O turismo que se desenvolve no litoral pode ser entendido
partindo de algumas consideraes j levantadas. uma
atividade que tem como atrativos a faixa litornea e sua
especificidade, em especial a presena do mar e do sol, alm
de uma srie de atividades que podem ser realizadas nos litorais.
O uso balnerio dos litorais uma construo social
relativamente recente e o desenvolvimento do turismo
relaciona-se com a disponibilidade de tempo livre por parte
253
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
de camadas sociais urbanas. A atrao por esta faixa,
relativamente exgua, apesar da extenso do litoral brasileiro,
promove uma presso para ocupao da Zona Costeira e
conseqentemente um processo de valorizao das terras
litorneas. Pode-se mesmo afirmar, corroborando Moraes
(1999) que j est implantado um mercado de terras em
praticamente todo o litoral brasileiro, com aes de
reivindicao de propriedade.
Este um primeiro desafio para as comunidades costeiras.
Localizadas mais ou menos prximas de reas urbanas
dinmicas, as comunidades costeiras observam suas terras serem
objeto de especulao fundiria. Mesmo em reas onde as infraestruturas para viabilizar os planos de expanso urbana ou
turstica ainda no esto implantadas, o mercado imobilirio
j atua, ocasionando mudanas na propriedade fundiria.
Comunidades que possuem ttulos regulares de propriedade
enfrentam esta questo de certa forma mais bem resguardadas,
frente quelas que possuem situao fundiria precria.
Alguns exemplos podem ilustrar melhor este processo. No
municpio de Paraty-RJ a comunidade da praia de Trindade
passou por um longo processo de luta para permanecer nas
suas terras, em conflito com uma empresa multinacional. Aps
um acordo, parte das terras foi garantida para os trindadeiros.
Estes, que j recebiam turistas em seus quintais e casas,
passaram a construir pequenas pousadas, bares e restaurantes,
explorando a atividade turstica. Outros venderam suas terras
para pessoas de fora da comunidade. Em alguns outros lugares
as comunidades costeiras perdem completamente suas terras,
que do lugar a loteamentos de segunda residncia2. Nesse
caso, membros destas comunidades trabalham como caseiros,
Os loteamentos de segunda residncia so uma modalidade de
turismo especfica, que merece uma discusso mais detalhada fugindo
ao objetivo desta seo.
254
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
domsticas, marinheiros, para proprietrios que se
estabelecem nas reas que antes pertenciam a eles prprios.
Nos dois casos temos o estabelecimento de atividades
tursticas no litoral com participao das comunidades
costeiras. A meu ver o que difere a qualidade da
participao, no primeiro caso como donos de seus prprios
negcios, no segundo como assalariados de terceiros. O
prprio espao tambm se transforma de maneira diferente
em ambos os casos e as possibilidades de gesto do espao,
por parte das comunidades, visando sua incluso no
processo turstico, so diferenciadas.
Entre um e outro caso podemos ter vrias situaes
intermedirias, porm a questo que se coloca como
possibilidade das comunidades se integrarem na atividade
turstica possui uma relao estreita com a permanncia das
comunidades em suas terras. Como proprietrios do negcio
turstico, como prestadores de servios para os turistas, como
funcionrios de estabelecimentos tursticos, como loteadores
de suas terras, so vrias as possibilidades de integrao
atividade turstica relacionadas questo fundiria.
5.2 As comunidades costeiras e a organizao
espacial da atividade turstica
Como toda atividade humana, o turismo se desenvolve sobre
uma base espacial, transformando ou adaptando-se s reas
onde se implanta. Segundo RODRIGUES (1992), o espao
turstico constitudo por reas de disperso (emissoras), reas
de deslocamento e reas de atrao (receptoras). O conceito
de cadeias produtivas, buscando apreender todas as etapas
de uma atividade econmica, tais como fornecimento de
insumos, processo produtivo, distribuio e consumo, tambm
se presta para a anlise da atividade turstica, refletindo a
articulao entre diversos agentes e localidades que participam
255
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
da economia do turismo. A idia de cluster como um conjunto
de agentes produtivos relativamente prximos e que atuam
de forma complementar visando a uma maior competitividade
da atividade que desenvolvem (PEN, 2003), ou a idia de
economias de aglomerao, onde vrias atividades
beneficiam-se mutuamente ao utilizarem as mesmas formas
espaciais (CORRA, 1986), so aportes que permitem refletir
sobre as possibilidades de incluso das comunidades costeiras
no processo turstico.
As reas das comunidades costeiras podem ser consideradas,
via de regra, como reas de atrao do turismo. Em alguns
casos como os povoados de acesso precrio, ou atrativos
tursticos de difcil acesso dentro da localidade, as prprias
pessoas da comunidade so responsveis por parte do
deslocamento dos turistas. Temos a duas funes que devem
ser oferecidas aos turistas: receb-los e transport-los. Funes
que requerem estruturas espaciais e materiais para serem
cumpridas: bares, restaurantes, pousadas, atracadouros,
caminhos, entre outras.
Ao pensarmos na cadeia produtiva do turismo, alguns elos se
realizam nas localidades dispersoras, como o agendamento
de viagens, a divulgao, a publicidade. Outros so atributos
das reas receptoras: hospedagem, alimentao, passeios, que
podem ser pensados como cadeias produtivas locais, que se
interpenetram nestas cadeias mais amplas. Como exemplo, o
peixe que o restaurante vende para o turista, pode ser a etapa
final da cadeia produtiva da pesca naquela comunidade.
Novamente a teremos estruturas espaciais que so necessrias
para o desenvolvimento da atividade.
A idia da cooperao entre distintos agentes produtivos3 ,
expressa no conceito de cluster ou no de economias de
Trata-se aqui de uma cooperao para adquirir vantagens
competitivas. So uma cooperao e concorrncia conjuntas.
256
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
aglomerao, tambm envolve estruturas espaciais
relativamente prximas: a pousada onde o turista dorme,
o bar na praia, a propriedade que possui uma queda dgua,
o barco para o mergulho, o bar para a diverso noturna, o
clube para a festa e de novo a pousada.
Trata-se ento da necessidade de que as comunidades
costeiras atuem no entendimento da sua organizao espacial
e na forma como ela favorece ou no a atividade turstica.
Que estruturas esto adequadas? Quais devem ser
melhoradas? Que estratgias de cooperao podem ser
travadas entre os distintos agentes da comunidade ligados
atividade turstica? Pensar na organizao espacial da
comunidade e em seu planejamento, pode significar um
processo de incluso na atividade turstica mitigador de
impactos. Pode tambm revelar que algumas estratgias mais
simples superam investimentos mais vultosos na busca de
uma maior eqidade para o desenvolvimento do turismo
nas zonas costeiras.
5.3 As comunidades costeiras como sujeitos do
processo turstico
At aqui venho empregando indiscriminadamente o termo
comunidades. Certamente um termo que pode ter muitas
definies e trata-se de uma discusso que aponta para
conceitos da sociologia, antropologia e outros ramos do
saber. Limitar-me-ei a apontar algumas das caractersticas
que considero importantes para a discusso em pauta.
Trata de um conjunto de pessoas que habitam uma certa
localidade e que possuem laos de parentesco, amizade,
laos hierrquicos, de subordinao, vnculos profissionais,
enfim, um conjunto de relaes que fazem parte da vida e
do tecido social. Existem comunidades mais ou menos
coesas, existem comunidades que se caracterizam e se
257
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
diferem por traos tnicos ou culturais especficos4. Algumas
comunidades so bastante antigas, resguardando um acervo
de tecnologias e manifestaes culturais prprios5.
Algumas comunidades, ao longo de sua histria se
especializaram em uma ou outra atividade econmica,
algumas sofreram a influncia de vrios ciclos econmicos
em distintos perodos. Grande parte delas comporta uma
diversidade de atividades que podem ser incorporadas ao
turismo.
No caso das comunidades costeiras, o turismo uma
realidade em praticamente todo o pas. As comunidades se
diferem em relao ao nvel de urbanizao, proximidade
com reas dispersoras, maior ou menor insero no mercado
de terras e no processo de expanso turstica.
Com relao aos processos externos, como o avano turstico
sobre seus locais de vida, as comunidades se comportam de
maneira diferenciada, algumas aumentam sua coeso, outras
se fragmentam. Nesse sentido no existe uma regra geral,
advindo da a importncia da temtica do presente
Seminrio: como promover a incluso das comunidades no
processo de desenvolvimento turstico?
O compositor Tom Z possui uma cano intitulada a A
PIB do PIB, onde comenta a prostituio infantil barata
como atrativo para o turismo. Certamente no esta a
incluso desejada.
As manifestaes culturais das distintas comunidades so um dos
fatores de incremento turstico. O outro como o extico por vezes
faz parte das estratgias da indstria do turismo. (SEABRA, 1995).
5
Na discusso das questes ambientais utiliza-se o termo comunidades
tradicionais para os grupos sociais que guardam formas particulares e
ancestrais de lidar com a natureza
4
258
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O fato de as comunidades costeiras inclurem-se na atividade
turstica, como sujeitos dessa atividade relaciona-se com
acordos internos prpria comunidade e entre ela e os
demais agentes do processo turstico, tais como o Poder
Pblico, os investidores e os turistas. Cabe aqui elencar no
nvel das comunidades quais so os agentes, os grupos, os
atores da prpria comunidade e quais suas possibilidades
de acordo, de cooperao, de interlocuo.
No se espera que no litoral tenhamos uma comunidade
isenta de diferenas, uma comunidade de iguais, mais sim
uma comunidade que atente para a necessidade de pensar
nos seus espaos de vida, moradia e trabalho, incorporando
mais esta dimenso econmica.
6. Proposies e consideraes finais
Ao longo do presente texto foram apontadas algumas
questes relativas Zona Costeira e s comunidades costeiras
enquanto sujeitos do processo de expanso do turismo, que
podem ser sistematizadas sob a forma de propostas que se
seguem. Juntas, tais propostas podem ser encaradas como
um plano para a incluso da comunidade no processo de
desenvolvimento turstico de suas localidades e as estratgias
que podem ser postas em prtica para realiz-lo, ressaltando
que conforme cada caso podem ser definidas propostas mais
ou menos prioritrias.
Atrativos naturais presentes na comunidade
O conhecimento dos atrativos naturais da rea onde se insere
a comunidade um passo importante para se desenvolver o
turismo. Trata-se de um inventrio como uma etapa para o
estabelecimento de um planejamento turstico. O que, em
termos de atrativos naturais, a comunidade oferece? Mangues
259
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
para visitar, praias, recifes para mergulho, caminhadas na
mata ou nas serras costeiras, ilhas, entre outras possibilidades.
Divulgar tais atrativos, promover o uso adequado destes,
organizar as visitas, estabelecer servios de guias, so funes
que os membros das comunidades podem exercer, em uma
perspectiva de gerao de renda na localidade.
Atrativos histricos e culturais
Consiste em um outro passo do inventrio turstico. Os bens
histricos e culturais so de conhecimento do turista? Esto
preservados? Novamente a divulgao e a organizao de
visitas para bens histricos podem ser feitas pelos membros
da comunidade.
Bens e processos culturais como a confeco de peas de
artesanato, as festividades, a culinria, as manifestaes
artsticas, tambm podem se tornar atrativos tursticos,
cabendo a necessidade de divulg-los. certo que em alguns
lugares existem atraes culturais voltadas exclusivamente
para o turismo, porm algumas comunidades costeiras
podem divulgar suas manifestaes culturais de modo a
promover o conhecimento e valorizao de suas
particularidades.
Legislao e projetos para as reas costeiras
O conhecimento dos aspectos jurdicos que envolvem os
espaos de vida das comunidades, bem como dos projetos
atuais e futuros direcionados para tais espaos, condio
essencial para que as comunidades costeiras possam planejar
e se preparar para a insero nas atividades do turismo. A
rea da comunidade uma reserva ambiental? Existem
restries de uso? Projetos urbanos, porturios, industriais
esto previstos para se instalar nestas localidades ou no
260
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
entorno? Enfim, o conhecimento das condies legais de
uso dos espaos e das tendncias futuras necessrio para
que as comunidades costeiras tenham elementos para a
tomada de decises.
A questo fundiria
Esse aspecto se relaciona ao anterior na medida que a questo
fundiria pode ser um indicador de tendncias. Isto quando
j no est implantado um novo quadro fundirio das
comunidades em funo da expanso turstica ou dos
loteamentos de segunda residncia.
No segundo caso h necessidade de avaliar como a
comunidade costeira se transformou e que alternativa possui
para se inserir no processo turstico conforme colocado
anteriormente: prestando servios? Proprietrios? Loteadores?
Outras possibilidades?
Certamente a presso por terras no litoral muito grande.
Aos que permaneceram com suas terras, o uso para o turismo
com pousadas, campings, restaurantes, uma possibilidade,
se no presente, para um futuro prximo.
Organizao espacial da comunidade e o turismo
Trata-se aqui de um entendimento da comunidade a partir
de sua organizao espacial e as possibilidades que ela
apresenta para o desenvolvimento do turismo. Onde esto
os atrativos naturais, histricos e culturais? Que reas podem
ser mais utilizadas para o turismo? Que reas devem ser
resguardadas para outros usos como a pesca, a retirada de
madeiras, a proteo das nascentes de gua?
A proposta aqui a de mapear a comunidade estabelecendo
uma espcie de zoneamento das reas e planejando seu uso,
de modo a no conflitar o desenvolvimento das atividades
261
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
tursticas com as demais atividades da comunidade. Serve
ainda para identificar as necessidades de estruturas para o
atendimento ao turismo na comunidade, tais como
atracadouros, saneamento bsico, caminhos, entre outras.
A comunidade como sujeito do processo turstico
Finalmente, para a elaborao deste pequeno plano local
do turismo nas comunidades costeiras, necessrio definir
quem so os sujeitos deste processo no nvel da comunidade.
Esto dispostos a trabalhar com o turismo? Que associaes
existem? Quem desenvolve tal ou qual atividade? Quais so
os grupos culturais e comunitrios? Os artesos que vendem
sua produo? Os pescadores que fornecem o pescado para
os restaurantes? Enfim, qual o papel dos membros da
comunidade na atividade turstica e quais so as formas de
cooperao que podem ser desenvolvidas entre tais agentes.
Com a perspectiva de um projeto que parta da comunidade,
espera-se que esta busque garantir uma maior insero de
seus membros nos benefcios que um turismo com maior
participao local pode gerar.
Bibliografia
ABSABER, Aziz Nacib. Litoral do Brasil. So Paulo, Metalivros, 2003.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia, Senado
Federal, 1988.
BRETON, Yvan ; ESTRADA, Eduardo Lopes.Cincias Sociales y
Desarrollo de las Pesquerias: Modelos y Metodos Aplicados al Caso
de Mexico. Mxico-DF, Instituto Nacional de Antropologia y Histria,
1989.
BOULLN, Roberto. Planeamiento del Turismo a Nvel Local. In 1
Encontro Nacional de Turismo com Base Local Caderno de Resumos.
So Paulo, DG-USP, 1997.
CORRA, Roberto Lobato. Regio e Organizao Espacial. So Paulo,
Ed. tica, 1986.
262
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
DIEGUES, Antonio Carlos. Conservao e Desenvolvimento
Sustentado de Ecossistemas Litorneos no Brasil. So Paulo, PPCAUB/
IO-USP/F. Ford, 1987.
MORAES, Antonio Carlos Robert. Contribuies para a Gesto da
Zona Costeira do Brasil. So Paulo, Edusp/Hucitec, 1999.
PEA, Carlos Alberto. El Cluster en el Planeamiento Turistico. In X
Encontro de Gegrafos da Amrica Latina Resumos. So Paulo, DGUSP, 2005.
RODRIGUES, Adyr Balastreri. Geografia e Turismo notas introdutrias.
In Revista do Departamento de Geografia. So Paulo, DG-USP, n.6,
1992.
SEABRA, Odete Carvalho de Lima. Criando e Valorizando o Extico.
In Sol e Territrio: Congresso Internacional de Geografia e Planejamento
do Turismo Resumos. So Paulo, DG-USP, 1995.
SILVEIRA, Joo Dias. Morfologia do Litoral. In Brasil: A Terra e O
Homem. So Paulo, Cia Editora Nacional, v. 1, 1964.
263
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo em Comunidades Rurais:
incluso social por meio de
atividades no-agrcolas
Sergio Schneider*
Turismo em comunidades rurais: algumas
definies
Existem, por certo, muitas definies possveis para o que se
entende por turismo rural, a comear pela discusso mais
geral sobre o turismo em reas rurais. No se trata,
obviamente, de pretender eliminar ou encobrir as
divergncias e controvrsias acumuladas na seara das
definies conceituais e normativas. O fato que j existe
uma bibliografia considervel sobre este assunto e neste,
breve, texto no se adentrar neste debate.
A partir da leitura de alguns trabalhos1 , muitos deles recentes,
parece ser possvel acatar a definio de que quando se fala
em turismo rural se est referindo ao conjunto de
modalidades e empreendimentos que tem lugar no espao
rural tais como o agroturismo, o ecoturismo, o turismo
cultural, o turismo esportivo, o turismo ecolgico, os hotisfazenda etc. Portanto, pensando nestas formas de
*Socilogo, Mestre e Doutor em Sociologia. Professor do Programa
de Ps-graduao em Desenvolvimento Rural e do Departamento de
Sociologia da UFRGS. Pesquisador do CNPq.
1
Os trabalhos consultados so MATTEI (2004), Diretrizes (s/d);
RODRIGUES (2000), GRAZIANO,VILARINHO e DALE (1998), ICEPA
(2002 e 2003); ALMEIDA e RIEDL (2000), entre outros, todos citados
na bibliografia.
264
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
organizao econmica e produtivas que prestam servios
e/ou atividades de acolhimento, transporte, hospedagem,
alimentao, lazer, recreao e entretenimento e outros que
se estar referindo ao mencionar o turismo praticado em
reas rurais. Por conta desta definio abrangente de turismo
rural, vale salientar a que a unidade de referncia ou anlise
das atividades includas nesta definio passa a ser o prprio
espao rural, que no se restringe aos estabelecimentos
agropecurios e nem aos empreendimentos comercial (hotis,
pousadas, restaurantes etc.) que oferecem servios,
hospedagem, alimentao etc.
Esta definio genrica de turismo em reas rurais abrange
tanto as atividades que tm lugar no espao rural, assim como
aquelas que transcorrem no interior de um estabelecimento
agropecurio ou outro empreendimento turstico. claro
que os operadores de polticas e empreendedores de turismo
rural demandam maior preciso e tipificao das atividades,
o que pode ser facilmente localizado nas bibliografias e
estudos afetos a esta rea2 .
Mesmo definindo o escopo das aes e iniciativas a que se
faz referncia ao tratar do turismo, resta a preocupao com
o adjetivo de lugar referido como rural. Afinal, como definir
o que se entende por rural? Definir o rural pode ser simples
se adotada a definio oficial do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica (IBGE) que define o rural como toda
rea ou espao fsico que estiver localizado fora do permetro
urbano, cuja definio dada a partir da respectiva
legislao municipal onde estiver situada. Contudo,
Para informaes e esclarecimentos adicionais sobre este tema,
sugere-se consultar a pgina sobre a Rede TRAF (Turismo rural e
agricultura familiar), do MDA (www.pronaf.gov.br/turismorural) onde
se encontram as Diretrizes do turismo rural no Brasil e outros
documentos.
2
265
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
discusses recentes entre socilogos, economistas e gegrafos
tm mostrado divergncias substantivas em relao ao que
seja o rural tomando como referncia outras definies que
no a normativa do IBGE. Vrios estudiosos propem
redefinies do rural apoiadas desde critrios demogrficos
e ecolgicos, como a densidade populacional e o grau de
presso antrpica, at as que preconizam a atribuio de
rural a partir do sentido simblico e cultural subjetivo
baseado na identidade socialmente construda, e outros que
associam o rural ao local onde transcorre o cotidiano e a
vivncia dos indivduos.
Seja como for, para os requisitos deste documento, a
definio do turismo em reas rurais no se ater nem aos
critrios restritivos do IBGE e to pouco adentrar na
polmica sobre o carter e o contedo da ruralidade
contempornea. O que interessa aqui, precipuamente,
discutir as relaes entre as atividades de turismo e a dinmica
das comunidades rurais, particularmente daquelas que se
caracterizam pela presena majoritria de pequenos
proprietrios de terra (ou outra forma jurdica como
posseiros, parceiros, arrendatrios etc.), em geral
denominados agricultores familiares, muito embora,
conforme a regio do pas, recebam outras denominaes
tais como colonos, moradores, ribeirinhos, pequenos
produtores rurais, sitiantes etc.
Embora o termo comunidade rural seja carregado de um
sentido sociolgico ligado s perspectivas dicotmicas e
funcionalistas (representadas, em sua primeira tradio, pelo
socilogo alemo Ferdinand Tnnies e, na segunda, pelo
antroplogo norte-americano Robert Redfield), neste
trabalho o termo comunidade entendido em seu sentido
mais prtico e emprico, referindo-se a grupos sociais de
baixa densidade e distribudos de modo disperso no espao,
266
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
em geral formando pequenos povoados ou aglomeraes
humanas, poltica e administrativamente organizados na
forma de distritos ou pequenos Municpios.
Assim definido o quadro das referncias a serem utilizadas,
resta dizer que o propsito deste documento discutir
algumas repercusses e efeitos que os empreendimentos
tursticos (nas diferentes modalidades antes referidas) podem
gerar nas reas onde se encontram populaes que vivem
da agricultura e de outros tipos de atividades e se organizam
socialmente em pequenas localidades que se denominar
comunidades rurais.
Turismo e ruralidade: a globalizao, a
reestruturao da agricultura e a
revalorizao do espao rural atravs das
atividades no-agrcolas
Antes mesmo de analisar e discutir as possveis repercusses
do turismo em reas rurais, notadamente seus efeitos sobre
as comunidades rurais, preciso apresentar uma rpida e
genrica contextualizao dos fatores que esto
impulsionando este processo de expanso desta atividade
nestes espaos. Ou seja, o que est estimulando o
crescimento do turismo nas reas rurais?
Inicialmente, vale notar que o turismo pode ser
compreendido como uma das novas atividades que vm se
expandindo e ampliando no espao rural. Nos pases
desenvolvidos, sobretudo na Frana, Inglaterra e Portugal,
como j realado por CAVACCO (1999), ROQUE (2001) e
MATTEI (2004), o turismo se faz presente na paisagem rural
h muito tempo. Em outros pases, como o Brasil, o aumento
expressivo do turismo em reas rurais nas dcadas recentes
parece estar relacionado s transformaes mais gerais da
sociedade e da economia.
267
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
De um modo geral, nas ltimas trs dcadas assiste-se a um
processo de reestruturao social e econmico que vem
afetando o espao rural como um todo e a agricultura em
particular. A expanso do turismo nas reas rurais pode ser
compreendida, de um lado, como uma resposta
reestruturao da economia sob os efeitos da globalizao,
sendo o aparecimento das atividades no-agrcolas uma
destas dimenses. Por outro lado, contudo, h que se
lembrar das mudanas sociais relacionadas reduo das
jornadas de trabalho promovidas pelos incrementos
tecnolgicos crescentes e o aumento do tempo livre dos
indivduos, assim como elevao da expectativa de vida das
pessoas e das alteraes nos padres de consumo, que se
voltam crescentemente s amenidades e aos bens no
tangveis.
O processo de globalizao, que pode ser caracterizado pela
excepcional capacidade com que o capitalismo atual
promove ajustes nas condies de tempo e espao no
processo global de produo de mercadorias, possui variadas
facetas. Na agricultura e no mundo rural, os efeitos da
globalizao manifestam-se atravs de inditas formas de
reestruturao econmica, produtiva e institucional, que
podem ser percebidas atravs de mltiplas dimenses.
Primeiro, abrem-se os mercados, aceleram-se as trocas
comerciais e intensifica-se a competitividade, agora tendo
por base poderosas cadeias agroalimentares que
monopolizam a produo e o comrcio atacadista em escala
global, restringindo a participao nestas relaes de troca
de imensas regies produtoras, o que vale inclusive para
alguns pases e mesmo parcelas continentais. Segundo,
ocorrem modificaes nos processos de produo que
passam a se caracterizar pela maior flexibilidade e
descentralizao, levando diluio das diferenas setoriais
e espaciais. Setoriais porque a agricultura, a indstria e o
268
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
comrcio passam a formar o agribusiness, visto como uma
cadeia que integra partes de cada setor. Espaciais porque o
rural deixa de ser o locus especfico das atividades agrcolas
revelando-se crescentemente como um espao de residncia,
de lazer e de atividades no-agrcolas. Terceiro, modificase o papel do Estado, do poder pblico em geral e das
instituies que atuam nos espaos rurais. As novas formas
de regulao poltica fazem maior apelo s parcerias,
descentralizao e valorizao da participao dos atores
sociais. Quarto, a dimenso ambiental e as prticas de uso
sustentvel dos recursos naturais deixam de ser vistas como
secundrias e marginais. A questo ambiental passa a ser
um fator de competitividade, um elemento de estmulo
ampliao do consumo, uma vantagem comparativa e um
pr-requisito para obteno de crditos e acesso a fundos
de investimento, especialmente os de fontes pblicas.
No que se refere s mudanas sociais relacionadas ao
emprego e aos aspectos demogrficos, os efeitos sobre o meio
rural podem ser percebidos tanto em termos culturais e
simblicos como econmicos. Um interessante estudo de
HERVIEU e VIARD (1996), realizado na Frana, baseado
em entrevistas com habitantes do rural e do urbano mostrou
que enquanto o campo associado s representaes de
tranqilidade, tradio, conservadorismo, solidariedade,
liberdade, beleza e sade; a cidade associada idia de
progresso, trabalho, medo e solido. Talvez, por isso, seja
fcil entender porque a enquete mostrou que 63% dos
urbanos gostariam de viver no campo, ao passo que apenas
18% dos habitantes rurais trocariam a moradia pela cidade.
Por conta disso, os autores preconizaram que est em
andamento um processo de revalorizao do rural que passa
tanto pelo resgate de smbolos, imagens, valores e tradies
como pela busca da qualidade de vida e o contato com a
paisagem e o meio ambiente. Ainda que o Brasil seja
269
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
diferente da Frana, e que no tenhamos os dados para fazer
afirmaes categricas, parece possvel estipular que estas
transformaes socioculturais oferecem ingredientes muito
favorveis ao desenvolvimento do turismo em reas rurais.
A procura pelas amenidades rurais, a valorizao das
paisagens e do espao, o interesse crescente na preservao
ambiental e o consumo de alimentos limpos (sem
agrotxicos)3 , vo formando um novo tipo de demanda e
consumidores (BESSIRE, 1998).
Entre os vrios efeitos gerados por este conjunto de
transformaes sociais, econmicas e culturais, para os
propsitos deste texto, sero analisados em maior detalhe
aqueles que afetam o emprego, a produo e as rendas. No
caso do meio rural, notrio que as mudanas gerais em
curso reduzem cada vez mais a quantidade de famlias que
esto produzindo e trabalhando nas atividades agrcolas,
embora o volume da produo agrcola produzida seja cada
vez maior. Por isso, torna-se recorrente entre os agricultores,
os estudiosos e os agentes que operam no meio rural a
percepo de que preciso substituir o modelo de
desenvolvimento agrcola, baseado exclusivamente no
crescimento da produtividade dos fatores, por algo diferente
(no necessariamente um outro modelo a ser imitado) que
seja baseado nos pressupostos da tica, da sustentabilidade
ambiental, da eqidade social e da viabilidade econmica.
Poder-se-ia acrescentar tambm aspectos demogrficos como o
aumento da expectativa de vida e o crescimento do nmero de pessoas
aposentadas que, de um modo ou outro, ainda possuem alguma
ligao com o rural e o turismo uma forma de retomar o contato.
Outras referncias sobre estas mudanas podem ser encontradas no
recente livro de MARSDEN (2003), que caracterizou este processo de
revalorizao do rural pelo termo padro ps-produtivista.
270
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Por conta disso, a valorizao e o estmulo s formas de
ocupao, emprego e gerao de renda que promovem as
atividades no-agrcolas no meio rural ganham destaque. O
turismo rural, assim como as vrias formas de prestao de
servios, agregao de valor aos produtos agrcolas,
valorizao de atributos locais e ambientais so exemplos
destas novas formas de empreendendorismo rural.
Nos pases desenvolvidos, este tipo de iniciativas j
estimulado e faz parte do portiflio de aes dos governos e
das polticas pblicas. Em conseqncia, surgem duas
alteraes sociolgicas da mais alta relevncia. Primeiro, os
agricultores, suas famlias e os demais moradores do meio
rural passam a ter como caracterstica principal a
pluriatividade, que implica que as famlias e os indivduos
passem a combinar ocupaes em atividades agrcolas com
outras no-agrcolas, dentro e fora da propriedade. De uma
maneira geral, pode-se dizer que as famlias que residem
nos espaos rurais tornam-se sociologicamente muito
parecidas com as famlias urbanas, pois j no dependem
exclusivamente de uma nica atividade e fonte de renda (a
agricultura) para se inserir na diviso do trabalho. Em
conseqncia, sua reproduo social torna-se cada vez mais
tributria da capacidade de diversificao das formas de
produo e trabalho. A segunda alterao significativa ocorre
em nvel do espao social em que transcorre a vida e a
sociabilidade destes indivduos. A localidade ou a
comunidade onde vivem e trabalham as pessoas j no pode
mais ser identificada com a atividade econmica que era
predominante, no caso a agricultura. Em funo do processo
de diferenciao social patrocinado pela diversificao das
economias locais, a atividade agrcola passa a conviver com
outros setores de atividades como o comrcio, os servios e
a indstria da transformao e, com isso, altera-se a
271
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
tradicional concepo de que o espao rural se resume
agricultura.
Nestes termos, o espao rural passa a ter outras funes, que
no apenas aquelas relacionadas agricultura e produo
de alimentos, fibras e matrias-primas, que obviamente
continuam a ter importncia decisiva, mas no mais
exclusiva. Destas mudanas emerge uma nova concepo
da ruralidade, que passa a ser um espao em que o homem
e o ambiente se integram atravs de mltiplos usos que so
de carter produtivo, social, ldico, ambiental etc.
No Brasil, essa discusso muito recente e pode-se dizer
que ainda pouco difundida e reconhecida, sobretudo nos
meios polticos (organizaes e instituies) da sociedade
civil. Mas, no terreno acadmico, j h estudos e debates
bem encaminhados quanto s possibilidades de gerao de
emprego e renda a partir das atividades no-agrcolas que
se expandem nos espaos rurais.
Os trabalhos do Projeto Rurbano4 , baseados em informaes
sobre os domiclios extrados das PNADs (que a Pesquisa
Nacional por Amostragem de Domiclios, do IBGE), oferecem
bons indicadores sobre estas mudanas. Segundo os
pesquisadores que integram este grupo de pesquisas, no
perodo de 1981 a 1999 a populao rural brasileira de
mais de dez anos de idade parou de diminuir e iniciou-se
uma lenta reverso no padro demogrfico, sendo que
perodo 1992-1999 registrou-se inclusive um pequeno
aumento de 0,9%a.a.
O Projeto Rurbano uma pesquisa de um grupo de estudiosos
brasileiros, iniciadas em 1997 sob a coordenao do Professor Jos
Graziano da Silva, da UNICAMP, sobre o tema das atividades noagrcolas e da ruralidade brasileira. Maiores informaes esto
disponveis no site www.eco.unicamp.br/pesquisas
272
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Tabela 1. Brasil. Populao total, urbana e rural, com dez anos ou
mais, ocupada e no-ocupada, segundo o local de domiclio e o
setor de atividade, 1981-1999 (1.000 pessoas)
Populao
1981
1992
1999
Tx. Crescimento (% a.a.)
1981/92a
1992/99b
Total + de 10 anos
88.902,9 113.294,9 130.096,7
2,2***
2,0***
Urbana + de 10 anos
64.669,1
3,0***
2,3***
0,9***
89.510,7
104.693,5
Rural + de 10 anos
24.233,8
23.784,5
25.402,2
-0,2*
PEA Rural Ocupada
13.795,7
14.689,2
14.850,5
0,6***
-0,2
PEA Rural Agrcola
10.735,9
11.192,5
10.230,5
0,4***
-1,7***
ocupada
3.060,8
3.496,7
4.620,0
1,2***
3,7***
139,4
312,0
594,6
7,6***
10,8***
No-agrcola
PEA Rural Desempregados
noocupada
Aposentados
1.240,0
1.517,1
2.235,8
1,9***
5,7***
Outros
9.057,8
7.266,1
7.721,3
-2,0***
1,4***
Fonte: GRAZIANO DA SILVA, J. DEL GROSSI, M. E. e CAMPANHOLA, C.
(2005)
Os estudos mostraram que a explicao para o fenmeno
da estabilizao da PEA rural no estava relacionada
diminuio ou retrao do modelo agrcola produtivista,
que pudesse ter alterado a relao mais tecnologia menos
mo-de-obra. Ao contrrio, a populao que mora no meio
rural e trabalha em atividades agrcolas continuou a se
reduzir, passando de 11,192 milhes em 1992 para 10,230
milhes em 1999, uma reduo de quase um milho de
pessoas. No obstante, o comportamento das pessoas com
domiclio rural ocupadas em atividades no-agrcolas
registrou aumento de 3,06 milhes de pessoas em 1981 para
3,49 em 1992, chegando a 4,62 milhes de pessoas em
1999, o que representou um acrscimo de mais de 1,5
milho de postos de trabalho no perodo de duas dcadas.
Quando os dados sobre a ocupao so por famlias, verificase em que medida esta expressiva quantidade de pessoas
que est ocupada em atividades no-agrcolas traduz-se na
pluriatividade das famlias. o que permite visualizar a
273
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Tabela 2, que mostra que do total de 5,886 milhes de
famlias brasileiras que em 2003 tinham seus domiclios
localizados exclusivamente nas reas rurais no
metropolitanas 22% (1,281 milho) eram pluriativas, 53%
(3,112 milhes) estavam ocupadas em atividades agrcolas
e 15% (854 mil famlias) ocupavam-se em atividades
exclusivamente no-agrcolas. Ou seja, o meio rural
brasileiro j no mais formado apenas por famlias que
trabalham em atividades agrcolas, pois uma parcela
expressiva (22%) combina as atividades agrcolas com outras
no-agrcolas, configurando-se a pluriatividade, e outra
menor (15%) habita no meio rural mas trabalha
exclusivamente em atividades no-agrcolas.
Tabela 2. Brasil. Distribuio das famlias domiciliadas nas reas
rurais no-metropolitanas5 segundo o tipo de atividade em que
est ocupada, 2003
Tipos de Famlias
Total (em 1.000 famlias)
Agrcola
3.112
53
Pluriativa
1.281
22
854
15
No-agrcola
No-Ocupada
Total de Famlias
639
11
5.886
100
Fonte: GRAZIANO DA SILVA, J. DEL GROSSI, M. E. e CAMPANHOLA, C.
(2005)
So reas que no atendem a nenhum critrio de aglomerao,
existncia de servios ou densidade populacional, caracterizando-se,
assim, como as reas rurais propriamente ditas. Para maiores
informaes ver IBGE. Recenseamento Geral do Brasil Manual de
Atualizao Cartogrfica. Rio de Janeiro, Diretoria de Geocincias.
20p., 1988.
274
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Quando se analisa a posio na ocupao destas 5,886
milhes de famlias que tinham domiclio no meio rural em
2003, verifica-se que 5% (26 mil) eram formados por
empregadores, 34% (2,030 milhes) por assalariados, 11%
(639 mil) eram de no ocupados e 50% (2,955 milhes)
eram famlias ocupadas por conta prpria6. Considerandose que as 2,955 milhes famlias ocupadas por conta prpria
constituem a parcela que forma a agricultura familiar, em
2003 existiam no Brasil 912 mil famlias de agricultores
familiares pluriativas, o que representa 31% do total dos
ocupados por conta prpria.
O Turismo em comunidades rurais: incluso
atravs de mercados socialmente construdos
Em face deste quadro mais geral de mudanas sociais e
econmicas, a questo a saber que possibilidades ou
vantagens pode trazer o turismo rural para as comunidades
rurais formadas por pequenos agricultores ou outro tipo de
moradores identificados como produtores tradicionais tais
como os remanescentes de quilombolas, descendentes de
indgenas, coletores de produtos das florestas (quebradeiras
de coco, seringueiros etc.), pescadores, ribeirinhos etc. Mais
do que isto, deve-se indagar quais os possveis impactos ou
efeitos sobre os modos de vida destas populaes que podem
ser alterados abruptamente pela intensificao de
empreendimentos tursticos.
Para tratar destas questes de grande envergadura preciso
esboar alguns entendimentos de natureza sociolgica e
Famlia conta prpria aquela que trabalha explorando o seu prprio
empreendimento, sozinha ou com scio, sem ter empregado e
contando, ou no, com a ajuda dos membros da famlia na forma de
trabalho no remunerado.
6
275
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
antropolgica que devem informar e iluminar o tratamento
econmico que requer seu estmulo Ou seja, preciso ir
alm dos juzos valorativos que seguem inspiraes
puramente utilitaristas para se analisar em que medida uma
atividade econmica como o turismo em reas rurais pode
ser boa ou ruim para certos tipos de populaes.
Objetivamente, a resposta indagao acerca dos potenciais
efeitos e impactos do turismo, assim como das suas vantagens
e possibilidades em relao s comunidades rurais e as
populaes ali residentes, pode ser tanto positiva como
negativa. Do ponto de vista sociolgico e antropolgico,
trata-se de processos de mudana, com repercusses nas
esferas social, cultural e econmica, que de um modo ou
outro afetam a vida das pessoas e transformam a sua
condio. Compreender o curso destes processos, sua
natureza e seus impactos , por certo, um objeto de interesse
das cincias sociais que, se no deve ser escamoteado e
encoberto, precisa ser adequadamente tratado neste mbito.
Agora, do ponto de vista da interveno social, notadamente
das polticas pblicas e das aes que visam estimular e
desenvolver o turismo em reas rurais focalizando as
pequenas comunidades, a questo a saber no se haver
mudanas e impactos sobre o modo de vida das populaes
envolvidas, o que por certo ocorrer. A questo pertinente
a como dever-se-ia agir e/ou intervir para que os resultados
das transformaes inexorveis sejam desejados e
compartilhados pela coletividade (inclusive as minorias mais
fragilizadas). Trata-se, na verdade, de alterar o vetor das
relaes do sentido vertical para o horizontal, que busca
valorizar a sincronia entre o saber-fazer de quem oferece e
de quem demanda.
Portanto, o primeiro aspecto a ser levado em considerao
quando se pretende desenvolver o turismo em reas rurais
276
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
ter conscincia que se est propondo uma interveno sobre
relaes sociais e produtivas previamente existentes que
precisam ser respeitadas em sua essncia, compreendidas
em sua especificidade e atendidas em suas preocupaes e
demandas. Este o caso, por exemplo, de quando se sugere
que famlias de agricultores abram sua residncia e
propriedade para receber visitantes (estadias, pousadas etc.),
quando se propugna o acesso a recursos naturais situados
no interior da propriedade ou que a atravessem (turismo
ecolgico, trilhas etc.), quando se estimula que as
manifestaes culturais, tnicas e religiosas recebam a
participao de estranhos (festas de igreja etc.), entre outras.
Nesta esfera, os mediadores (funcionrios pblicos,
extensionistas, consultores etc.) so os que possuem um papel
central, pois deles se espera uma postura menos etnocntrica,
mais democrtica e participativa e, sobretudo, mais humilde.
Um segundo elemento a ser considerado nas aes que
pretendem estimular o turismo em comunidades rurais
refere-se ao tema dos mercados e da mercantilizao. Muito
se propugna que o turismo rural deve ser encarado e
difundido como uma atividade empresarial, concebendose o agricultor ou produtor como um agente racional que
toma decises objetivas guiadas por um esprito maximizador
de oportunidades. Em se tratando de atividades de turismo
empreendidas por famlias ou pequenos grupos situados em
comunidades rurais esta concepo geralmente no passa
de uma panacia. E as razes so muito simples: os pequenos
empreendimentos no operam em mercados plenamente
desenvolvidos onde os preos so arbitrados pela
concorrncia perfeita, as informaes so assimtricas,
errticas e freqentemente submetidas coero e a relaes
personalizadas. Ora, quem conhece uma pequena
comunidade rural reconhece facilmente que nestas
localidades as relaes sociais e econmicas esto inscritas
277
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e so fortemente mediadas pelo parentesco, reciprocidade,
amizade e proximidade. Ou seja, o contexto e as diversas
formas de coero social impedem que haja relaes
mercantis de tipo concorrencial entre ofertantes e
demandantes que no passem por estas mediaes,
altamente subjetivadas e personalizadas.
Mas isso no significa que nestes contextos no possa haver,
como de fato existem, relaes de troca entre indivduos,
empresas, organizaes e instituies. Ou seja, os mercados
existem mas, com uma diferena fundamental, pois neste
caso se est na presena de sociedades onde a economia
no existe como uma esfera institucional autnoma da vida
social, tal como definiu KARL POLANIY (1980). Ou seja,
nestes contextos sociais as relaes de troca decorrem e so
realizadas a partir de um conjunto de relaes interpessoais6.
A mercantilizao transcorre nesta esfera e a partir dela os
mercados so socialmente construdos, o que significa que
as relaes de troca no levam em conta apenas grandezas
de ordem quantitativa (preo, quantidade, valor etc.) mas
sobretudo qualitativa (quem vende/compra, confiana,
amizade etc.). Ou seja, nas comunidades rurais preciso
perceber que outros valores e regras entram em linha de
conta quando se quer determinar e conhecer os mecanismos
atravs dos quais se viabilizam as relaes econmicas e
comerciais. Conhec-los e atribuir-lhes sentido um passo
fundamental para ativar as redes que esto por detrs desta
complexa organizao social que o mercado e, por seu
intermdio, patrocinar formas de incluso daquelas famlias
e produtores que, em geral, so percebidos como pouco
profissionais ou destitudos de esprito empreendedor. Por
ARNALDO BAGNASCO e CARLO TRIGLIA (1988) coincidem com
esta perspectiva e informam que nestas situaes os mercados so
socialmente construdos.
278
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
isso, iniciativas que envolverem estmulo a empreendimentos
de turismo em comunidades rurais deveriam considerar estes
apontamentos sobre a natureza social que envolve a
construo dos mercados e como se posicionam os
indivduos nas relaes de troca em face de suas razes
socioculturais.
O terceiro aspecto a considerar que o turismo rural, apesar
de suas potencialidades geradoras de emprego, ocupao e
renda, no deixa de ser uma atividade seletiva e, portanto,
no pode ser encarado como a salvao da lavoura. Aqui
cabe um comentrio sobre trs tipos de questes que
freqentemente so relegadas a plano secundrio nas
discusses sobre o turismo em reas rurais. Primeiro, preciso
esclarecer que a referncia expresso turismo em
comunidades rurais no significa que este tipo de
empreendimento promova a incluso de todas as famlias e
unidades produtivas de uma comunidade determinada. Os
empreendimentos tursticos so inequivocamente seletivos,
requerem considerveis investimentos e, no caso de
envolverem unidades de pequena escala, fatalmente
precisam ser pensados na perspectiva das cadeias de
produo (tambm chamadas de rotas, caminhos, vias etc.)
que envolvem vrios tipos de atrativos. Segundo, o turismo
rural tambm uma atividade sujeita sazonalidade, porque
a procura pelos pontos depende de vrios fatores e no se
distribui de forma homognea ao longo do ano. Terceiro, o
turismo rural pode trazer efeitos inesperados como o
aumento da jornada de trabalho, sobretudo das mulheres, e
a reduo da privacidade da famlia, o que nem sempre
desejvel.
O quarto aspecto, em parte decorrente do anterior, referese ao fato de que as atividades de turismo nos espaos rurais
continuam a ser fortemente marcadas pelo seu carter
279
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
complementar. Neste sentido, o turismo rural deve ser
compreendido em dois sentidos: de um lado, como uma
nova forma de emprego e ocupao e ampliao de rendas
das famlias e, de outro, como um meio de diversificao
da economia local. Aqui vale retomar uma idia central de
ELLIS (2000), que mostra em seu estudo que os processos de
diversificao dos portiflios de ocupaes e fontes de renda
tm um papel estratgico na reduo da vulnerabilidade
das comunidades rurais. Quanto mais diversificadas forem
as fontes de ingressos de uma unidade produtiva, maiores
so as chances de obter proteo contra potenciais riscos
(perda de safra por estiagem, p.ex.) e choques (queda abrupta
de preos etc.). Talvez isso tambm se aplique ao turismo
em reas rurais, no sendo recomendvel sugerir a
especializao como estratgia para seu desenvolvimento,
deixando de lado outras atividades e fontes de renda que
podem ser fundamentais em pocas de baixa procura ou de
crises, por exemplo.
importante que as unidades produtivas, quer sejam de
agricultores familiares, pescadores, populaes tradicionais
ou outros, no faam uma simples troca das atividades
agrcolas, que at ento praticavam, por outras
exclusivamente no-agrcolas, tal como os servios, a
recepo e acompanhamento de turistas, o transporte etc.
mais razovel pensar o turismo rural na perspectiva da
pluriatividade das famlias e dos indivduos, permitindo que
mantenham mltiplas inseres ocupacionais e variadas
fontes de rendimentos. Em termos da economia local o
turismo rural pode contribuir para reafirmar o alargamento
e a separao entre a agricultura (que um setor econmico)
e o espao rural. Isto implica pensar na coexistncia de vrias
atividades econmicas em um mesmo territrio e no
desenvolvimento de economias de escopo como resultado
da diversificao (os economistas chamam externalidades)
280
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
do mercado de trabalho e de produtos que se gera
localmente.
Um quinto e ltimo aspecto que parece ser importante para
se pensar o turismo rural em pequenas comunidades na
perspectiva da incluso social levar em conta a promoo
da participao social e o incremento dos processos de
envolvimento e responsabilizao (embeddedness, na
acepo de MARC GRANOVETTER, 1985) das populaes
rurais. E aqui necessrio pensar para alm da categoria
social dos agricultores, pois j no so mais eles os nicos
atores sociais do meio rural. preciso envolver todos os
atores interessados nas atividades ligadas ao turismo rural e,
sobretudo, criar mecanismos de responsabilizao social e
de institucionalizao. No raro, conhecem-se iniciativas
que se tornaram dependentes e tributrias do poder pblico
ou de seus inspiradores, reproduzindo velhos padres de
clientelismo e dominao. Estimular a criao de associaes
e entidades autnomas que integrem os diferentes atores
envolvidos e que tenham uma abrangncia territorial
suficientemente ampla para dar conta da diversidade de
iniciativas que se apresentam nas comunidades rurais pode
ser de fundamental importncia.
Desafios para o turismo em reas rurais: quais
polticas?
Das consideraes at ento apresentadas depreende-se um
conjunto de desafios que levam indagao sobre a natureza
e as atribuies do poder pblico e das organizaes da
sociedade civil no estmulo ao turismo em reas rurais na
perspectiva da promoo da incluso social7.
Alguns destes desafios esto contemplados no documento Diretrizes
para o desenvolvimento do turismo rural no Brasil, da Secretaria de
Polticas de Turismo do Ministrio do Turismo.
7
281
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O primeiro desafio est em incrementar os conhecimentos
e o diagnstico acerca da abrangncia e dos impactos do
turismo em comunidades rurais. A consulta aos materiais
disponveis em forma de bibliografia acadmica (teses,
artigos, livros etc.), relatrios tcnicos (estudos e diagnsticos
encomendados pelos rgos de governo estaduais ou federais
a consultores independentes) e informaes oficiais (sites de
governo e informaes de locais para visitao) so ainda
insuficientes para uma viso geral e aprofundada a respeito
do assunto no Brasil.
O segundo desafio diz respeito a um conjunto de aes que
permitam ampliar e estimular a insero dos agricultores e
demais populaes rurais nos mercados, quer sejam os
formalmente existentes ou aqueles que precisam ser criados.
So quatro tipos de aes, basicamente: primeiro, estimular
a transformao e agregao de valor produo primria,
pois muitos produtores continuam a produzir a matriaprima mas no lhe agregam nenhum tipo de valor. Segundo,
estimular a melhoria na produo de servios, tcnicas e
atividades intermedirias que so importantes tanto para a
recepo dos turistas quanto para o aperfeioamento do
manejo e conservao dos recursos. Terceiro, promover a
melhoria na qualidade dos produtos, o que envolve tanto a
diversificao do portiflio de opes e, especialmente,
incrementos e melhorias com a sanidade. Quarto, construo
de mecanismos que possibilitem aos excludos dos mercados,
em geral as populaes mais pobres, com frgeis relaes
de sociabilidade e, no raro, at mesmo apartados destas,
desenvolver formas de intercmbio e trocas. Como exemplo,
pode-se citar o caso das comunidades de remanescentes de
quilombolas ou de outras populaes tradicionais, que ainda
vivem basicamente da explorao dos recursos naturais para
garantir a sua subsistncia. A estes grupos sociais preciso
facultar o acesso a mercados institucionais, que podem ser
282
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
as Prefeituras locais ou outras esferas de governo, ou at
mesmo espaos alternativos tais como os chamados mercados
tnicos ou justos, em que consumidores organizados buscam
contatos com produtores, no caso ONGs, organizaes civis
estrangeiras etc.
Um terceiro desafio, que se apresenta como condio sine
qua non, refere-se capacitao das populaes rurais para
o exerccio das atividades no-agrcolas, notadamente a
prestao de servios em empreendimentos de turismo rural.
A capacitao tem um papel decisivo tanto para os
agricultores e populaes rurais que passam a lidar com estas
novas atividades como para os mediadores e os agentes de
desenvolvimento rural, como os tcnicos e extensionistas,
dos quais se espera uma postura menos etnocntrica e
participacionista, tal como j ressaltado. Formados e
preparados para operar na assistncia tcnica e otimizar a
produtividade dos fatores de produo agrcola, boa parte
destes agentes sequer est convencida da importncia das
atividades no-agrcolas nos processos de desenvolvimento
rural. Mas no s o vis agrcola dos recursos humanos
disponveis para execuo das polticas governamentais que
restringe as potencialidades do turismo e das atividades noagrcolas no meio rural. Na verdade, a prpria concepo
dos programas, em geral informada por perspectivas que
no compreendem ou no levam em considerao a
especificidade e as particularidades das unidades familiares,
precisa ser alterada. Como exemplos, poder-se-iam citar os
programas de capacitao de entidades como o SENAR, o
SEBRAE e mesmo o currculo de muitas escolas de ensino
mdio tcnico-profissional (por exemplo os CEFETs).
Malgrado sua importncia como instituies de formao
profissional, que deve ser reconhecida, basta uma anlise
superficial sobre seus currculos para se perceber a ausncia
de contedos que permitam aos alunos compreender as
283
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
particularidades socioantropolgicas que regulam a
economia e a sociabilidade das comunidades rurais.
O quarto repto refere-se expanso da infra-estrutura das
comunidades rurais, comeando pela melhoria de estradas
e caminhos de acesso, disponibilizao de fontes gua
potvel, meios de comunicao como telefonia etc. Em
muitas localidades rurais onde existem recursos naturais que
oferecem atrativos, a precariedade da infra-estrutura fator
limitante para sua maior insero nos circuitos comerciais e
de servios, como os ligados ao turismo ambiental e outros.
Na realidade, este tipo de demanda no vem favorecer ou
apoiar prioritariamente as atividades no-agrcolas e o
turismo rural, mas a prpria agricultura e as atividades que
lhe so conexas. Portanto, as justificativas aqui so mltiplas
e dispensam maiores argumentos.
Um quinto desafio, que ainda pouco evidente no Brasil,
mas motivo de muitas discusses em pases em que o turismo
rural se desenvolveu de forma consistente no espao rural,
refere-se gesto de conflitos e s formas de regulao
institucionais e polticas que emergem dos usos mltiplos
do espao rural. Nas reas rurais destinadas explorao de
atividades tursticas comum haver a co-presena de vrios
atores como agricultores, ambientalistas, moradores de fim
de semana, empreendedores de turismo rural etc. Um
mesmo espao fsico, mas interesses e direitos variados e
difusos, eis o quadro. Como conseqncia, surgem os
conflitos e as divergncias sobre o uso e a finalidade do
espao. Este o caso, por exemplo, dos conflitos que surgem
entre as autoridades legais (IBAMA, rgos de fiscalizao
ambientais estaduais, polcia ambiental etc.) e as
comunidades rurais situadas nas imediaes de parques,
reas de preservao permanente, reservas legais da biosfera,
reas indgenas e outras. De um lado, os profissionais
284
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
encarregados do cumprimento da ordem legal e, de outro,
os usurios do espao que ali se encontram e vivem de sua
explorao. No so poucos os conflitos e disputas, muitos
dos quais resvalam para as esferas polticas locais, como
Prefeituras, sindicatos e outros; cuja capacidade de resoluo
sempre limitada dada ausncia de competncia legal.
Para este tipo de situao que se coloca o desafio da
constituio de mecanismos de regulao que permitam
controlar estes conflitos. Estas formas de regulao se
constituem em ordenamentos legais que esclarecem e
atribuem competncias aos respectivos nveis de governo.
Do contrrio, a legislao sanitria, ambiental e
previdenciria em vigor no Brasil poder se tornar no apenas
um entrave ao desenvolvimento de novos empreendimentos
e iniciativas nos espaos rurais como um fator de estmulo
aos conflitos, o que contradiz sua prpria razo.
Bibliografia consultada
ALMEIDA, J. A. e RIEDL. M. (Orgs.). Turismo rural: ecologia, lazer e
desenvolvimento. Bauru, So Paulo, Ed. EDUSC, 2000.
ALMEIDA, J. A. FROEHLICH, J. M. RIEDL. (Orgs.). Turismo rural e
desenvolvimento sustentvel. Santa Maria: Universidade Federal de
Santa Maria, 1998.
BAGNASCO, A., TRIGLIA, C. La Construction Sociale du Marche: Le
dfi de la Troisime Italie. Paris, Juillet/ditions de LENS-Cachan, 1993.
BESSIRE, J. Local development and heritage: tradiotional food and
cuisine as tourist attractions in rural areas. Sociologia Ruralis, V. 38, n
1, p.20-34, 1998.
CAVACCO, C. O turismo rural nas polticas de desenvolvimento do
turismo em Portugal. In: CAVACCO, C. (Coord.) Desenvolvimento
Rural: desafio e utopia. Universidade de Lisboa, p. 281-292,1999
ELLIS, F. Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford,
Oxford University Press, 2000.
EMBRATUR. Turismo Rural. Manual operacional. Braslia: (s.n), 1994.
FROEHLICH, J.M. Turismo rural e agricultura familiar: explorando
(criticamente) o cruzamento de abordagens e estratgias para o
285
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
desenvolvimento. In: ALMEIDA, J. A. e RIEDL. M. (Orgs.). Turismo
rural: ecologia, lazer e desenvolvimento. Bauru, So Paulo, Ed. EDUSC,
2000.
GOMES DA SILVA, A., BRACERAS, L.L.R. e ANDRADE, L.M. Turismo
rurla e pluriatividade no Rio Grande do Norte. . In: CAMPANHOLA, C.
e SILVA, J. G. (Eds.). O Novo rural brasileiro: novas atividades rurais.
Vol. 6. Braslia, DF, Embrapa Informao Tecnolgica, p. 146-182,
2004.
GRANOVETTER, M. Economic Action and Social Structure: the problem
of embeddedness. American Journal of Sociology, 91:481-510, 1985.
GRAZIANO DA SILVA, J. O novo rural brasileiro. Campinas, UNICAMP,
Instituto de Economia, (Coleo Pesquisas, 1), 1999.
GRAZIANO DA SILVA, J., DEL GROSSI, M. E. e CAMPANHOLA, C O
Novo rural brasileiro: uma atualizao. Ribeiro Preto, So Paulo,
Congresso da Sociedade Brasileira de Economias e Sociologia Rural,
2005.
GRAZIANO DA SILVA, J.; VILARINHO, C. e DALE, P.J. Turismo em
reas rurais: suas possibilidades e limitaes no Brasil. In: ALMEIDA,
J. A. FROEHLICH, J. M. RIEDL. (Orgs.). Turismo rural e desenvolvimento
sustentvel. So Paulo: UFSM, 1998.
HERVIEU, B. e VIARD, J. Au bonheur des campagnes (et des provinces).
Paris, ditions de LAube, 1996.
INSTITUTO CEPA/SC. Estudo do potencial do agroturismo em Santa
Catarina. Florianpolis (SC): ICEPA/PRONAF, 2002.
INSTITUTO CEPA/SC. Levantamento dos Empreendimentos de
Turismo Rural de Santa Catarina. Florianpolis (SC): ICEPA/PRONAF,
2003.
MARSDEN, T. The condition of rural sustainability. Assen, The
Netherlands, Van Gorcun, 2003.
MATTEI, L. Turismo Rural e Ocupaes No-Agrcolas: o caso de
Santa Catarina. In: CAMPANHOLA, C. e SILVA, J. G. (Eds.). O Novo
rural brasileiro: novas atividades rurais. Vol. 6. Braslia, DF, Embrapa
Informao Tecnolgica, p. 183-218, 2004.
MATTEI, L. Turismo rural: perspectivas para o Estado de Santa Catarina.
In: XXXVIII Congresso da SOBER, Rio de Janeiro, 2000.
MINISTRIO DO TURISMO. Diretrizes para o desenvolvimento do
turismo rural no Brasil, da Secretaria de Polticas de Turismo, Ministrio
286
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
do Turismo, s/d. 22 pginas (obtido no site www.pronaf.gov.br/
turismorural).
PLOEG, J. D. van der The reconstitution of locality: technology and
labour in modern agriculture. In: Marsden, T. P. e S. Whatmore (org.),
Labour and locality: uneven development and the rural labour process.
London: David Fulton, 1992.
PLOEG, J.D. van der.; VAN DIJK, G. (eds.) Beyond modernization: the
impact of endogenous rural development. Netherlands, Assen, Van
Gorcun, 1995.
POLANYI K; ARENSBERG, C.M. y PEARSON,H.W.(dir) Comercio y
mercado en los imperios antiguos. Barcelona, Labor Universitaria,
1976.
POLANYI, K. A grande transformao: as origens da nossa poca. Rio
de Janeiro. Ed. Campus, 1980.
RODRIGUES, A. B. Turismo rural no Brasil: ensaio de uma tipologia.
In: ALMEIDA, J. A., RIEDL, Mrio (Orgs.). Turismo rural: ecologia, lazer
e desenvolvimento. So Paulo: EDUSC, 2000.
ROQUE, A.M. Turismo no espao rural: Um estudo multicaso nas
regies sul e sudoeste de Minas Gerais - MG. 2001. Dissertao
(Mestrado em Administrao Rural). Universidade Federal de Lavras,
Lavras (MG).
RUSCHMANN, Van der M. O turismo rural e desenvolvimento
sustentvel. In: ALMEIDA, J. A. FROEHLICH, J. M. RIEDL. (Orgs.).
Turismo rural e desenvolvimento sustentvel. So Paulo: 1998. p. 4956.
SABOURIN, E. Organizao dos agricultores e produo de valores
humanos. In: XII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA SBS, BELO HORIZONTE,
2005.
SCHNEIDER, S. A Pluriatividade na Agricultura Familiar. Porto Alegre,
Editora da UFRGS, 2003.
SCHNEIDER, S. e FIALHO, M.A.V. Atividades no-agrcolas e turismo
rural no Rio Grande do Sul. In: ALMEIDA, J. A. e RIEDL. M. (Orgs.).
Turismo rural: ecologia, lazer e desenvolvimento. Bauru, So Paulo,
Ed. EDUSC, 2000.
TULIK, O. Do conceito s estratgias para o desenvolvimento do
turismo rural. In: Rodrigues, A.B. (Ed). Turismo e Desenvolvimento
Local. So Paulo: Hucitec, 1997.
287
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
VENTURA, F.; MILONE,P. ; SABELLI, D.; AUTIELLO, L. Agritourism in
Umbria: building linkages and synergies in local economies. In: PLOEG,
J.D. van der; LONG, A.; BANKS, J. (Eds.) Living in countrysices. Rural
development processes in Europe: the state os the art. Doentinchem,
Netherlands, 2002.
ZIMMERMANN, A. Turismo Rural: um modelo brasileiro. Florianpolis,
Ed. do autor, 1996.
288
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
GT: Comunidades Costeiras e Rurais
Frente Expanso do Turismo
Perguntas orientadoras:
1. Como promover a insero das comunidades
rurais e costeiras pela prestao de servios
tursticos?
Diante da fragilidade social, cultural, poltica, econmica e
ambiental das comunidades costeiras e rurais, o Ministrio
do Turismo, para promover a insero dessas comunidades
pela prestao de servios tursticos, no mbito de suas
competncias, dever buscar parcerias para institucionalizar
programas, projetos e aes para:
a)
identificao e caracterizao das comunidades
rurais e costeiras:
Recomendaes Operacionais
identificar e categorizar as comunidades rurais e
costeiras com potencial para turismo, criando
tipologias regionais, em articulao com o Ministrio
Desenvolvimento Agrrio/MDA, Ministrio do Meio
Ambiente/MMA,
MAPA,
Ministrio
do
Desenvolvimento Social/MDS, Secretaria Nacional da
Pesca;
desenvolver pesquisas de levantamento de oferta e
demanda em parceria com universidades e cursos de
turismo.
289
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
b)
mobilizao das comunidades nas discusses das
polticas pblicas nacionais e locais:
Recomendaes Operacionais
implementar iniciativas para sensibilizao,
conscientizao e mobilizao de comunidades rurais
e costeiras para entenderem o turismo como fonte de
renda e emprego e para a construo de uma poltica
que ajude a minimizar a sazonalidade do turismo;
provocar um novo pensar sobre o uso turstico
sustentvel da gua pelas comunidades ribeirinhas;
incentivar a formao dos conselhos municipais de turismo,
fruns de consertao e estimular a integrao destes
conselhos com os de de desenvolvimento rural e outros.
c)
fortalecimento de laos culturais locais e da autoestima das comunidades rurais e costeiras:
Recomendaes Operacionais
apoiar a valorizao das manifestaes culturais locais
e regionais, trabalhando o reconhecimento e a autovalorizao;
implementar iniciativas de educao para o turismo com
respeito aos valores culturais e identidade locais, enfocando
o valor da cultural local para a comunidade e para o turismo.
d)
estmulo e o fortalecimento do cooperativismo e do
associativismo:
Recomendaes Operacionais
290
priorizar a aprovao de projetos desenvolvidos e
implementados de forma coletiva, em parceria com
o MDA;
vincular as polticas pblicas ao atendimento prioritrio
aos grupos organizados e associativos da sociedade civil.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e)
elaborao de planos de desenvolvimento turstico
local e regional integrados aos planos de gesto
urbana e ambiental:
Recomendaes Operacionais
incentivar e introduzir o planejamento turstico
integrado nas discusses e propostas de gesto urbana
e ambiental local e regional;
orientar medidas para minimizar a especulao
imobiliria;
promover estudos de capacidade de suporte;
implementar aes contnuas e seqenciais,
assegurando a participao das comunidades
envolvidas na elaborao dos planos locais e regionais.
f)
estruturao e qualificao de produtos tursticos:
Recomendaes Operacionais
viabilizar a capacitao de tcnicos dos rgos de
turismo e de extenso rural para o apoio e assistncia
tcnica na montagem e estruturao de projetos
tursticos com as comunidades costeiras e rurais;
planejar e implementar roteiros tursticos locais e
regionais integrados;
criar rotas culinrias tpicas e com selos de origem;
incentivar o desenvolvimento de empresas de
receptivo local.
291
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
g)
qualificao dos servios tursticos:
Recomendaes Operacionais
viabilizar a capacitao de tcnicos e de pessoas da
comunidade envolvida para atuarem no turismo
costeiro e rural;
viabilizar aes e projetos de qualificao de
empregadores e empregados para atendimento,
prestao de servios aos turistas e gesto do negcio;
desenvolver projetos para informar e incentivar os
alunos de ensino bsico nas reas rurais e costeiras
para a importncia do turismo.
h)
promoo e comercializao dos produtos tursticos:
Recomendaes Operacionais
292
orientar a oferta de produtos e servios diferenciados
e representativos da cultura local, provenientes das
populaes tradicionais;
fomentar a organizao e centralizao da promoo
e comercializao dos produtos locais e regionais;
realizar minifeiras em universidades, escolas,
shopping centers, centros culturais etc.;
articular com redes locais a insero das comunidades
no mercado local e regional;
promover a roteirizao dos produtos considerando
e integrando as regies tursticas.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
i)
incentivo aos empreendimentos tursticos:
Recomendaes Operacionais
disponibilizar
linhas
de
microcrdito
desburocratizadas, para os empreendedores locais;
promover ampla discusso e reviso dos instrumentos
econmicos utilizados, com foco nas populaes
tradicionais e na cadeia produtiva do turismo;
disponibilizar ATER Assistncia Tcnica de Extenso
Rural para orientar a elaborao e implantao de
projetos tursticos;
melhorar a infra-estrutura das comunidades
envolvidas: luz, gua, telefone e outros;
desenvolver mecanismos de incentivo fiscal para
empreendimentos tursticos rurais e costeiros.
j)
reviso e atualizao dos aspectos legais relacionados
ao turismo rural e costeiro:
Recomendaes Operacionais
promover estudos visando incorporar a atividade
turstica na legislao agrria, como atividade no
agrcola;
montar grupo de trabalho para estudar e rever a
legislao existente, visando o no comprometimento
da sustentabilidade e das prerrogativas dos agricultores
e pescadores.
293
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Breves reflexes sobre as relaes
entre turismo, infncia e juventude
no Brasil
Renato Roseno*
Introduo
O presente artigo no pretende discutir os meandros da
atividade turstica e todas as suas possveis relaes com os
segmentos infncia e juventude, pois o autor, no sendo
profissional especialista em turismo, no se sente capaz de
faz-lo. Ao contrrio, nossa inteno abrir um dilogo com
os operadores e especialistas em turismo para que estes
aportem ao seu campo de saber/fazer um enfoque de direitos
humanos a partir da perspectiva tambm geracional. Sendo
assim, o presente texto intenciona mais aduzir uma
provocao na busca de um possvel modelo de turismo
sustentvel (mesmo sabendo da polissemia que cerca essa
expresso), que propriamente elaborar concluses sobre as
complexas e difceis relaes entre gerao e turismo.
Para tanto, procurou-se construir um discurso que
contemplasse duas distintas dimenses: uma acerca do
impacto negativo de um determinado modelo de turismo
sobre a populao infanto-juvenil e uma outra sobre as
potencialidades que jovens podem trazer ao
desenvolvimento de formas no-tradicionais de turismo.
* Advogado, coordenador do CEDECA Cear (Centro de Defesa da
Criana e do Adolescente do Cear) e representante da ANCED
(Associao Nacional dos Centros de Defesa da Criana e do
Adolescente) junto ao CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos
da Criana e do Adolescente).
294
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Entretanto, antes de ingressar diretamente no debate, faz-se
necessria uma breve anlise situacional da populao
brasileira compreendida na faixa etria da infncia e
juventude.
Uma anlise de contexto
O perfil demogrfico da sociedade brasileira tem se alterado
nos ltimos cinqenta anos. As mudanas socioeconmicas
e culturais do perodo resultaram na diminuio do peso
relativo do segmento abaixo de 24 anos na configurao da
populao total, bem como na diminuio do nmero de
filhos por famlia no geral. Contudo, ainda bastante
expressivo o ndice de crianas e jovens na sociedade
brasileira. Conforme dados reproduzidos a seguir, oriundos
da ltima Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios
PNAD (IBGE, 2003), aproximadamente 47% da populao
brasileira tm menos de 24 anos, sendo que, pelo menos
36%, esto entre 0 e 18 anos (definio legal de crianas e
adolescentes):
Populao brasileira entre 0 e 24 anos
Total
175 987 612
Total 0 a 24 anos
82.071.490
0 a 4 anos
14.761.137
5 a 9 anos
16.585.825
10 a 14 anos
16.475.715
15 a 19 anos
17.451.234
20 a 24 anos
16.797.579
Fonte: IBGE, PNAD 2003 (Exclusive a populao rural
de Rondnia, Acre, Amazonas, Roraima, Par e Amap)
295
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Ao contrrio dos conceitos de criana e adolescente, que
tm guarida legal (ECA Estatuto da Criana e do
Adolescente, 1990), o conceito de juventude encontra
diferentes interpretaes. Para os objetivos do presente texto,
buscaremos utilizar, alm das definies legais de criana e
adolescente, tambm a expresso adolescentes e jovens,
entendendo essa ser composta pela faixa da populao entre
15 e 24 anos. No caso brasileiro, estes somavam mais de 33
milhes em 2003 (PNAD, IBGE, 2003).
Pela simples anlise demogrfica, chegaramos concluso
de que quaisquer polticas pblicas nacionais e, em especial,
as polticas de desenvolvimento deveriam no momento de
sua elaborao e posterior execuo incorporar o enfoque
geracional, pois temos quase metade da populao brasileira
em fase peculiar de desenvolvimento, quais sejam a infncia/
adolescncia e a juventude. Entretanto, alm da questo
demogrfica, o segmento formado especificamente por
crianas e adolescentes tem a garantia constitucional da
prioridade absoluta na realizao de seus direitos
(Constituio Federal, art. 227), o que seguramente
compreende a preferncia na formulao e na execuo
das polticas sociais pblicas (ECA, art. 4, alnea e).
Portanto, imaginar possveis relaes entre a poltica pblica
de desenvolvimento do turismo e seus provveis impactos
sobre os segmentos infanto-juvenis no somente se apresenta
como um imperativo conjuntural dada a expresso desse
segmento populacional no conjunto da sociedade brasileira,
mas tambm como um imperativo poltico e legal de
reconhecer direitos fundamentais a esses, o que nos obriga
a analisar quais as repercusses da atividade turstica sobre
esse segmento populacional ou, em outra medida, como
esse segmento envolve-se com o setor turismo.
Para continuar nossa anlise seria imprescindvel acrescer
uma diversidade de outros vetores que no somente o
296
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
populacional, tais como renda, gnero, raa, etnia, local de
moradia. Entretanto, utilizaremos a diviso de renda das
famlias com filhos entre 0 e 14 anos para exemplificar o
nvel de desigualdade vigente no pas e inferir a relao dessa
desigualdade com a atividade turstica.
De acordo com a ltima Sntese de Indicadores Sociais (IBGE,
2004), o Brasil tem 38% das famlias com filhos entre 0 e 14
anos vivendo com at salrio mnimo per capita/ms. Esse
ndice, por si, representa um grande contingente de pessoas
em faixas etrias bastante jovens vivendo em condies
materiais penosas. Entretanto, a disparidade regional
apresenta-se mais preocupante ainda, conforme a tabela a
seguir:
Rendimento mdio mensal per capita de famlias com
Regio crianas eAt
Mais
1 anosMais d
adolescentes
dede0aa 14
38%
26,4%
Norte
Brasil
43,7%
27,9%
2,
1,
Nordeste
61,8%
19,4%
1,
Sudeste
26,3%
29,1%
3,
Sul
23,3%
30,6%
3,
Centro-oeste
33,1%
29,7%
3,
Fonte: IBGE, Sntese de Indicadores Sociais, 2004
Como se v, o Nordeste brasileiro tem 61,8% de famlias
com filhos entre 0 e 14 anos vivendo em condio de
pobreza, ao contrrio do Sul do pas com 23,3% na mesma
situao. O mesmo ocorre nas faixas mais abastadas
economicamente. Enquanto no Nordeste apenas 1,1% vive
com renda mdia mensal per capita acima de 5 SMs, no
Sudeste esse ndice chega a 3,9% da populao. Essa
disparidade regional no acesso riqueza influencia
diretamente as possibilidades e alternativas de vida digna
297
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
de todos. Analisar essa disparidade tarefa complexa, mas
fundamental para pensarmos como as reas mais pobres do
pas so impactadas pelo turismo, especialmente ao vermos
que a atividade turstica tradicional tem sido apresentada
para o Nordeste como uma grande redentora da situao
histrica de pobreza e iniqidade.
Portanto, devemos nos fazer os seguintes questionamentos:
de quais modelos de desenvolvimento da atividade turstica
estamos falando? Como esses diferentes modelos de turismo
impactam (negativa ou positivamente) a vida de crianas,
adolescentes e jovens? Quais as alternativas de curto, mdio
e longo prazo para a incorporao da questo gerao nas
polticas de desenvolvimento do turismo?
O turismo contra a criana e o jovem
Como qualquer atividade econmica, o turismo tambm
desenvolve repercusses (positivas ou negativas) sobre a
populao, especialmente no que concerne a sua
capacidade de realizar direitos fundamentais. Nessa seo
desejamos levantar hipteses sobre o impacto negativo que
um determinado modelo de turismo, especialmente
desenvolvido no Norte e Nordeste brasileiros, mas no
somente, tem causado sobre a populao infanto-juvenil.
Para tanto, buscamos adotar como modelo de compreenso
das relaes sociais, a existncia de uma teia de coextensividade1 entre as diferentes dimenses de classe social,
gnero, raa, etnia, local de moradia, condio fsica,
orientao sexual...e, no poderamos deixar de lado,
tambm, a dimenso gerao. Isso nos permite concluir que,
para entender as relaes existentes entre turismo e gerao,
necessrio ampliar o olhar e conjugar ainda as outras
Kergoat, 1989.
298
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
dimenses antes citadas, sob pena de cometer uma anlise
incompleta. Essa co-extensividade entre classe social,
gnero e gerao tem na explorao sexual realizada por
turistas (ou turismo sexual) uma de suas mais pungentes
expresses. No presente artigo, utilizaremos o turismo sexual
como um exemplo danoso da relao turismo e gerao.
O turismo sexual definido pela OMT Organizao
Mundial do Turismo como a realizao de viagens
organizadas dentro do setor turismo ou fora deste, porm
com o uso de suas estruturas e redes, com o propsito
primeiro de permitir relaes sexuais comerciais do turista
com os/as residentes do local de destino.
O Brasil tem sido palco de diferentes formas de turismo
sexual tanto com adolescentes do sexo feminino quanto com
mulheres jovens. Mesmo no havendo dados cientificamente
comprovveis da quantidade de vtimas dessa forma de
explorao, sabe-se que o turismo sexual encontra espao
nas grandes cidades litorneas (que acabaram por conjugar
a perversa trilogia sea, summer and sex), bem como no
interior do Brasil (onde o apelo por um esteretipo de mulher
extica o carro-chefe dessa atividade).
A adoo de Cdigos de Conduta tica contra Explorao
Sexual2 parece ter sido uma alternativa que muitos pases,
estimulados pela OMT (Organizao Mundial do Turismo),
adotaram para combater a explorao sexual no turismo ou
o turismo sexual. Com certeza, h exemplos positivos em
todo o mundo, inclusive no Brasil3 , de mudanas no padro
do setor do turismo que em alguns locais passou, mediante
Ver www.thecode.org
Nesse sentido verificar a rica experincia da organizao nogovernamental Resposta, no Estado do Rio Grande do Norte
www.resposta.org.br
2
3
299
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
o incentivo de cdigos de conduta, a adotar uma atitude
explcita e intencional de intolerncia com a explorao
sexual. No entanto, os cdigos de conduta, por serem
instrumentos de autogesto e de fora meramente simblica,
no tm a capacidade de promover mudanas estruturais (e
nem se propem a isso) ou ento se perdem por sua
banalizao ou ausncia de mecanismos sociais de controle
daqueles que os adotaram. Por isso mesmo, no devemos
desconsider-los, mas apostar todas as nossas fichas nessa
estratgia no seria sensato.
Temos defendido que a explorao sexual no turismo o
resultado de uma equao injusta que utiliza a iniqidade
das relaes de poder entre sociedades diversas. Se por um
lado, h uma demanda majoritariamente masculina por sexo
pago procura de um mito de uma mulher jovem
hipererotizada, extica (aqui na verdade o que h um
fetichismo a partir da componente raa) e acessvel s
fantasias desse personagem masculino, h tambm por outro
lado, uma adolescente ou jovem, cuja quase totalidade de
direitos sociais e polticos foi negada desde seu nascimento,
e que atrada para a explorao sexual como alternativa
de mobilidade social e superao da prpria pobreza. Nesse
territrio globalizado esse dois mundos to desiguais se
encontram mediados pela mercantilizao do sexo. Essa
para muitas a primeira porta para o trfico com fins de
explorao sexual.
O Estudo da Demanda Turstica Internacional de 2003,
publicado pelo Ministrio do Turismo/EMBRATUR informa
que 45,1%, ou seja pouco menos da metade, dos turistas
internacionais que visitaram o Brasil naquele ano viajavam
acompanhados da famlia, 25,2% viajavam com amigos e
27,1% viajavam sozinhos. Ainda de acordo com o mesmo
estudo 17,4% destes turistas tinham entre 18 e 27 anos, e a
300
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
maioria (48,8%) encontravam-se na faixa de 28 a 45 anos.
Infelizmente, o estudo no fornece a diviso de sexo entre os
pesquisados. Esses dados podem no representar
absolutamente nada, j que o fato de haver pouco mais da
metade de visitantes em grupos ou sozinhos no leva
necessariamente concluso alguma sobre o comportamento
destes turistas em nvel nacional. Contudo, no podemos
deixar de considerar que h uma urgncia na mudana do
padro de turismo que se desenvolve em determinadas regies
do pas, j que nestas desembarcam vos cuja participao
masculina jovem injustificadamente muito superior
feminina, o que nos leva a induzir o porqu que dadas regies
atraem somente aquela parcela de clientela ao turismo.
Ressalte-se: no desejamos gerar nenhum tipo de esteretipo
xenfobo, muito menos moralista, mas to-somente alertar
para a urgncia de alterarmos o modelo de desenvolvimento
de turismo exercido em algumas partes do pas, tendo em
vista a permanncia de relaes de poder injustas, ilegais e
eticamente intolerveis a partir da atividade turstica, gerando
sofrimento e negao de direitos a seres humanos que
deveriam t-los especialmente garantidos.
Nesse mesmo diapaso ganha relevncia a crtica realizada
por organizaes e movimentos4 sociais no Brasil aos grandes
projetos de infra-estrutura financiados por IFMs (Instituies
Financeiras Multilaterais), cuja justificativa o incremento
do turismo. Em ltima instncia, h de se perguntar se essa
no , no longo prazo, uma estratgia de mais do mesmo,
ou seja, um modelo que permite a degenerao dos recursos
naturais, da cultura e dos direitos humanos, resultando em
mais concentrao de riqueza, maior endividamento externo
e excluso social.
Consultar as manifestaes da Rede Brasil sobre IFMs
www.rbrasil.org.br
4
301
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
A declarao sobre turismo sexual adotada na 11 sesso da
Assemblia Geral da OMT Organizao Mundial do Turismo
(Resoluo A/RES/338 (XI)) expressa que aquela organizao
rejeita todas essas formas de atividades como exploradoras e
contrrias aos objetivos fundamentais do turismo em promover
a paz, os direitos humanos, o entendimento mtuo, o respeito
por todos os povos e culturas e o desenvolvimento sustentvel.
Entendemos, portanto, que pensar um modelo de turismo
que no permita a explorao sexual , na verdade, muito
mais envidar esforos para a promoo desses objetivos
fundamentais que adotar posturas estritamente repressivas que
no permitem superar as causas estruturais e promotoras da
desigualdade. Somente a conjugao de estratgias slidas
de promoo da cidadania de adolescentes e mulheres jovens
(mediante aes afirmativas com enfoque de gnero, gerao
e raa), bem como uma postura proativa de toda a sociedade
contra a explorao sexual de jovens no turismo, poder gerar
resultados.
O turismo do jovem: um turismo socialmente
solidrio?
Por outro lado, cabe destacar um outro campo de relaes
entre turismo e populao infanto-juvenil. Podemos, grosso
modo, resumir que o processo nominado de globalizao
capitalista diminuiu o mundo, porm ampliou as
desigualdades entre as naes. Em poucos momentos na
histria da humanidade a desigualdade foi to expressiva e
tomou extenses to impressionantes. Talvez por isso mesmo,
abra-se uma janela para uma outra alternativa de turismo
que vem sendo desenvolvida por comunidades, agncias
de cooperao e organizaes no-govenamentais.
A OMT Organizao Mundial de Turismo define como
turista as pessoas que viajam a lugares distintos do seu
entorno habitual, a permanecendo, pelo menos, 24 horas
302
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
ou um pernoite e no mximo um ano no local visitado,
com fins de lazer, negcios e outros.
H pelos menos trs dcadas vm sendo desenvolvidas
diferentes experincias de turismo socialmente solidrio, ou
seja, aquele em que o turista busca conjugar seu perodo de
lazer com alguma atividade ou atitude socialmente
responsvel, seja em uma comunidade urbana ou rural. Em
geral, os envolvidos nessa forma de turismo so jovens,
sensibilizados e motivados pelo desejo de transformao,
de responsabilidade planetria e de partilha de culturas e
saberes. Aqui temos um amplo campo de interseo entre
ecoturismo, turismo em comunidades rurais, turismo de
aventura, turismo solidrio e intercmbio jovem (turismo
jovem). Mesmo que a dimenso dessas experincias hoje
em curso seja diminuta, estas no devem ser desconsideradas,
j que produzem indiscutivelmente resultados positivos na
riqueza, no saber e no empoderamento dos envolvidos.
Nos parece que essas experincias devem servir de base para
renovao das polticas oficiais de turismo. Em vez de ajustar
o modelo de turismo a partir da lgica dos grandes
conglomerados nacionais e transnacionais do setor,
deveramos buscar nessas alternativas as estratgias que
podem efetivamente desenvolver aquilo que de mais
interessante a humanidade criou como objetivos do turismo:
a promoo dos direitos humanos e o respeito entre os povos.
As atividades de turismo solidrio ou intercmbio de jovens
no guardam seus maiores e melhores resultados nas cifras
econmicas. O impacto dessas experincias est, sobretudo,
na vida de seres humanos em fase peculiar de
desenvolvimento de suas personalidades, vindos de culturas
diversas e com experincias distintas que passam a complexar
sua existncia e resignificar suas possibilidades de ao sobre
o mundo, gerando as mais variadas formas de engajamento
303
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
pela dignidade humana, conscincia ecolgica e cidadania
planetria.
Possveis aproximaes: curto, mdio e longo
prazos
As concepes aqui levantadas, conforme dito anteriormente,
no tm a pretenso de serem mais que provocaes de um
no-especialista em turismo aos especialistas do setor.
Tampouco desejam jogar juzos negativos ou impressionistas
sobre essa atividade. Ao contrrio, a idia de cidadania
planetria pode em muito ser estimulada por uma atividade
turstica responsvel que promova a integrao soberana e
eqitativa dos povos e naes. Pelo que defendemos que o
olhar sobre essa atividade seja ampliado, para contemplar
as demandas especficas de realizao de crianas,
adolescentes e jovens.
Destarte, tomamos a liberdade de pensar, a ttulo de
concluso, algumas diretrizes a serem adotadas, sobretudo
pela esfera pblica, para esse desafio de estabelecermos um
novo modelo de desenvolvimento turstico que promova a
incluso social e a sustentabilidade ambiental.
No curto prazo:
Implementao de processos de sensibilizao e capacitao
de operadores de toda a cadeia do turismo para o enfoque
geracional, especialmente no tocante promoo dos
direitos de crianas, adolescentes e jovens. Isso implica de
imediato o desenvolvimento de estratgias de reao
explorao sexual no turismo, por exemplo, bem como de
promoo de outras alternativas de turismo: campanhas,
processos de responsabilizao de exploradores e promoo
de processos de autogesto (cdigos de conduta);
304
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
No mdio prazo:
Atividades de preveno com enfoque conjugado de gnero,
raa e gerao: incentivo ampliao de escolaridade
formal, profissionalizao e gerao de renda s famlias
potencialmente em risco de explorao;
No longo prazo:
Alterao do padro de financiamento da infra-estrutura
turstica, buscando beneficiar estratgias de desconcentrao
de riqueza, valorizao das culturas locais, respeito ao meio
ambiente e garantia dos direitos humanos de populaes e
comunidades tradicionais.
305
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo e Gerao: Jovens e Idosos
Adriana Romeiro de Almeida Prado*
O perfil da populao vem se alterando muito rapidamente,
em todo o mundo. A cada ano, a populao idosa cresce
mais, em detrimento da populao de crianas e jovens. A
populao com mais de sessenta anos, no Brasil, passou de
4%, em 1940, para 9%, em 2000, correspondendo a 15
milhes de habitantes. As projees apontam que poder
atingir 15% do total da populao em 2020.
A faixa que refora esse crescimento a dos octogenrios,
que cresce num ritmo mais acelerado ainda. Esse crescimento
da populao com idade acima de oitenta anos est
alterando a composio etria dentro do grupo de idosos,
conforme aponta CAMARO (FREITAS et al; 2002).
A taxa de crescimento da populao idosa influenciada
pela reduo das taxas de nascimento diminuio do
nmero de crianas e jovens; mudanas, no passado, na
mortalidade de pessoas de 0 a sessenta anos , declnio desse
ndice e a diminuio da mortalidade acima de sessenta anos.
(SABE; 2003) Fica o desafio de garantir ao idoso a sua
participao de forma ativa e produtiva.(IBGE; 2002). Uma
das recentes conquistas o Estatuto do Idoso por meio da
Lei 10.741/2003.
*Arquiteta, mestre e especialista em gerontologia pela Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia SBGG. Tcnica master da
Fundao Prefeito Faria Lima Cepam. Coordenadora da Comisso
de Acessibilidade a Edificaes e Meio, do Comit Brasileiro de
Acessibilidade, da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT).
306
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Tempo livre
O tempo livre aquele que nos resta aps o trmino do
trabalho, do descanso, das atividades fsicas e das obrigaes
familiares. O tempo livre varia durante nossas vidas. Quando
crianas e adolescentes, temos muito tempo livre, que se
reduz quando comeamos a trabalhar, e volta a aumentar
quando a jornada do trabalho diminui ou se acaba
(MORAGAS; 2004).
Segundo MORAGAS, h diferena entre os relgios
biolgicos da pessoa ativa e da pessoa que se aposenta. A
pessoa que se aposenta passa a ter disponveis as horas do
trabalho, alm das horas dispendidas no transporte, o que
amplia significativamente o tempo livre. Se esse no for
preenchido com atividades interessantes para a pessoa,
poder gerar um grave problema. Por outro lado, quando
bem dirigido, bastante benfico e pode promover o
desenvolvimento pessoal.
Figura 1 - Relgios biolgicos
O uso do tempo livre tem diferentes interesses, de acordo
com a idade da pessoa. Apesar da seleo de atividades ser
um processo individual, com amplas possibilidades de
escolha, alguns comportamentos so semelhantes nas
diferentes fases da vida. Quando o indivduo jovem, tem
307
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
ampla possibilidade de escolha, porm no dispe de
condio financeira. Ao ingressar no mercado de trabalho,
enquanto permanece solteiro, a ocasio em que possui
todas as possibilidades de escolha; quando casa, reduzemse essas possibilidades, que vo reaparecer no momento em
que os filhos saem de casa, quando ter tempo e dinheiro
para desfrutar seu lazer.
Condies fsicas das pessoas idosas
Para garantir a independncia das pessoas idosas, necessria
uma boa condio fsica, que envolve variveis fisiolgicas,
como fora muscular, flexibilidade, equilbrio, entre outras.
O projeto Sabe Sade, Bem-Estar e Envelhecimento uma
pesquisa aplicada aos idosos da cidade de So Paulo e
apresenta a capacidade funcional dos idosos no desempenho
de suas atividades cotidianas. Segundo DUARTE, observando
outras pesquisas desenvolvidas para analise da sade dos
idosos da cidade de So Paulo, constatou-se que 80% no
apresentam limitaes funcionais para Atividades Bsicas de
Vida Diria (ABVD) e 73% no apresentam limitaes no
desempenho das Atividades Instrumentais de Vida Diria
(AIVD)7 (DUARTE, Y in: SABE; 2003).
Algumas consideraes sobre o
desenvolvimento do turismo
Apontado como uma das principais atividades da economia
mundial, o turismo movimentou US$ 3,5 trilhes em 2003,
ou 10% do PIB mundial. Um, a cada dez postos de trabalho,
em todo o planeta, voltado para essa atividade (PRSPERO;
2005).
Essa atividade no Brasil, est atraindo um investimento de
R$ 3,5 bilhes, que gera 87 mil empregos. Dessa forma, o
308
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
setor pode e deve contribuir para o desenvolvimento
sustentvel da sociedade (PRSPERO; 2005).
O Brasil, indubitavelmente, apresenta uma crescente oferta
de produtos, tanto para o turismo interno como para o
externo, devido a todas suas belezas naturais, que atraem
muitas pessoas. Tambm a forma de acolher dos brasileiros,
conhecida por cultura brasileira da hospitalidade, um
diferencial competitivo para o pas (PRSPERO; 2005).
O Brasil est potencialmente dotado para ser um referencial
turstico mundial. Todavia, antes de se falar em
desenvolvimento do turismo necessrio buscar a definio
do que turismo.
Para DE LA TORRE (1997) o turismo um fenmeno social
que consiste no deslocamento voluntrio e temporrio de
indivduos ou grupo de pessoas que, por motivo de
recreao, descanso, cultura ou sade, saem do seu local
de residncia, para outro, no qual no exercem qualquer
atividade lucrativa nem remunerada, gerando mltiplas interrelaes de importncia social, econmica e cultural.
A proposta, hoje, desenvolver um turismo que passe o
conhecimento de valores ticos e culturais, ou seja, um
turismo para o desenvolvimento humano, com foco na
pessoa, com a proposta de incluso. Um turismo que valorize
o direito ao trabalho e ao lazer. Para desenvolver esse turismo
inclusivo necessria uma participao do poder pblico,
da iniciativa privada e da sociedade.
Turismo para idoso
As vias pblicas, palco das atividades de turismo, devem
estar adequadas s condies de acessibilidade. O poder
pblico, por fora de lei federal (Lei n 10.098/00 e Decreto
n 5.296/04), fica obrigado a investir na reforma do espao
309
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
fsico, do urbano ou dos edifcios, para garantir uma
circulao mais segura e com mais conforto aos idosos e s
pessoas com deficincia.
Em um passeio a p, as caladas devem garantir a circulao
dos turistas idosos e o tempo do semforo deve estar
dimensionado em funo da caminhada das pessoas.
Quando o passeio exigir transportes condio essencial
que eles sejam acessveis. nibus com piso baixo, sem
degrau, permitem o embarque de qualquer pessoa.
Ajustar os roteiros s condies fsicas do grupo fator
fundamental. Para tanto, importante que o agente de
viagens conhea as caractersticas desta demanda e elabore
roteiros com a participao dos idosos O dimensionamento
do tempo e as dificuldades do percurso em funo das pessoas
com mobilidade reduzida so questes que merecem ateno
quando da elaborao desses roteiros, tais como trilhas e
passeios ecolgicos, entre outros. importante lembrar que
alguns lugares podem elevar a presso das pessoas idosas,
causando dores de cabea ou at riscos maiores a sua sade.
J os hotis, devem colocar disposio dos clientes
orientaes e folhetos com informaes sobre passeios grau
de dificuldade, o tempo de durao e o tipo de transporte,
explicando se h transporte acessvel veculo que permitir
o embarque, sem degrau.
Em pesquisa realizada com o objetivo de identificar as
preferncias dos idosos, em Santa Cruz do Sul / RS, verificouse que os mesmos (amostra de setenta pessoas) preferem viajar
com os amigos, utilizam nibus para seus deslocamentos,
hospedam-se em hotis e viajam para as praias no vero,
permanecendo no local durante um perodo de quatro a
sete dias. Os principais motivos das viagens desse grupo so:
recreao e entretenimento, bailes de salo ou folclricos,
lazer ou frias, convvio social e fazer novas amizades
310
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
durante a viagem. A pesquisa tambm identificou que esse
segmento est disposto a pagar at R$ 200,00 por suas viagens
de lazer, com durao de um a trs dias. Para passeios de
oito a 15 dias, ou mais, dispem-se a pagar at R$ 2.000,00
(WAECHTER; 2005).
Por ter mais tempo livre esse grupo pode viajar em diferentes
perodos do ano buscando as vantagens oferecidas por
pacotes para viagens em perodos de baixa temporada.
Promover jogos regionais entre grupos variados de idosos,
utilizando um sistema alternativo de hospedagem (Clubes,
Albergues, SESC, SESI), tambm atrai muitos adeptos.
Capacitar o pessoal de atendimento ao pblico nos hotis,
pontos de apoio, entre outros, outro aspecto importante
para o desenvolvimento do turismo. Realizar cursos de
treinamento para guias, motoristas, recepcionistas,
camareiras, garons, entre outras funes para saber como
lidar com pessoas idosas, tambm agrega valor atividade.
Deve-se dispor de um atendimento bilnge ou trilnge
lembrar que, em situao de queda ou mal sbito, os turistas
estrangeiros, notadamente os idosos, podem ter dificuldade
em entender outra lngua que no seja a lngua ptria.
Deve-se disponibilizar a lista dos funcionrios dos hotis
que prestam atendimento aos hspedes em outras lnguas,
com seus respectivos ramais telefnicos.
Nos restaurantes indicados durante os passeios, o cardpio
deve conter opes de alimentos leves, com pouco sal, sem
acar, mais adequados s dietas das pessoas com presso
alta ou diabticas. A quebra de rotina e a localizao
geogrfica ou climtica do ambiente podem causar distrbios,
como enjos, desarranjos intestinais. Nas acolhidas com
coquetel de boas-vindas, deve-se ter a opo no-alcolica
e sem acar, para os diabticos ou para quem est de dieta.
311
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
As condies do ambiente do hotel podem ser determinantes
para a satisfao dos hspedes idosos. Ter balco de
atendimento com altura para que uma pessoa possa fazer o
check-in ou check-out sentada, e assinar um cheque ou
qualquer outro documento com conforto.
Criar, na rea social dos hotis e nos pontos de parada, um
espao mais tranqilo, no qual as pessoas possam conversar
sem muitas interferncias, fora das reas de circulao, e
que disponha de poltronas com braos para facilitar o uso
por pessoas com mobilidade reduzida.
bastante comum as pessoas ficarem desorientadas em
espaos que no conhecem direito. Deve-se sinaliz-los, para
evitar que os hspedes fiquem cansados e nervosos, ao
circular de um lado para o outro procura de informaes.
Iluminao intensa nos corredores e nas demais reas de
circulao noturna, a numerao dos apartamentos bem
visveis e em Braile , bem como formulrios e folhetos com
tipologia ampliada, complementam a sinalizao.
Turismo como fonte de trabalho para o idoso
Para criar uma identidade turstica local, resgatando a cultura
da regio, capacitar grupos de idosos para apresentarem,
aos turistas, o folclore regional, atravs de teatro, dana e
msica, e criar oficinas para que pessoas idosas talentosas
em algum artesanato ensinem os mais jovens, valorizando a
arte local e garantindo a preservao do ofcio.
Um turismo inclusivo, que proponha o aproveitamento das
pessoas idosas que vivem em regies tursticas para que
participem dessa atividade, como acontece, por exemplo,
no projeto Vov sabe tudo, desenvolvido em Santos/SP,
estncia turstica localizada no litoral paulista, onde o idoso
o contador da histria da cidade para os turistas (DUARTE;
2005).
312
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O projeto oferece trabalho s pessoas com mais de sessenta
anos; pessoas que precisam de uma renda e possuem alguma
habilidade especfica. Surgiu de parceria entre a Secretaria
de Esportes e Turismo e a Secretaria de Ao Comunitria e
Cidadania, com a proposta de resgatar a capacidade
produtiva dos idosos e a de proporcionar a interao com
outras geraes, ocasio em que os idosos vem seus
conhecimentos valorizados e reconhecidos.
Treinar idosos para trabalharem como recepcionistas em
hotis ou pontos de paradas pode facilitar a aproximao
de turistas idosos, deixando-os mais vontade para obter
alguma informao ou apresentar queixa.
Como alternativa de aumentar a renda das pessoas idosas,
montar um cadastro daquelas que queiram alugar dormitrio
de sua residncia para turistas, a exemplo do que j existe
em outros pases.
Concluso
O Brasil deve lutar pela melhoria das condies bsicas de
segurana, sade, educao, lazer para sua populao, e,
assim, poder criar, desenvolver, comercializar e manter um
turismo de melhor qualidade um turismo inclusivo. No
esquecendo de observar o potencial da populao idosa,
como usuria ou como mo-de-obra do turismo. Os turistas
necessitam dessas condies para que suas expectativas
sejam atingidas e levem uma boa imagem do local.
Bibliografia
1
FREITAS, Elizabeth . at alii. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio
de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2002. 1.187 p.
SABE SADE, BEM-ESTAR E ENVELHECIMENTO. O projeto sabe
no municpio de So Paulo: uma abordagem inicial/ Maria Lcia Lebro,
Yeda de Oliveira Duarte. Braslia: Organizao Pan-Americana da
Sade, 2003. 255p. Ilustrado.
2
313
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
IBGE. Perfil dos idosos responsveis pelos domiclios no Brasil 2000,
Departamento de Populao e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro:
IBGE, 2002. 99p.
MORAGAS, Ricardo Moragas. Gerontologia social: envelhecimento
e qualidade de vida. Prlogo de Juan J. Liniz; traduo Nara C.
Rodrigues. So Paulo: Paulinas, 1997. (Sociologia atual)
4
Atividades Bsicas de Vida Diria (ABVD) envolvem as atividades
de autocuidado, como alimentar-se, banhar-se, vestir-se, arrumar-se,
mobilizar-se, manter controle sobre suas eliminaes, deambular.
Atividades Instrumentais de Vida Diria (AIVD) indicam a capacidade
de um indivduo em levar uma vida independente dentro da
comunidade como, por exemplo, realizar compras, manipular
medicamentos e administrar as prprias finanas, utilizar meios de
transporte, etc.
DUARTE, Yeda de Oliveira. Desempenho funcional e demandas
assistenciais. In SABE Sade, Bem-estar e Envelhecimento O projeto
Sabe no municpio de So Paulo: uma abordagem inicial/ Maria Lcia
Lebro, Yeda de Oliveira Duarte. Braslia: Organizao Pan-Americana
da Sade, 2003. p.185 200.
PROSPERO, Daniele. Turismo pode ser ferramenta para o
desenvolvimento sustentvel. Disponvel em: www.ipea.gov.br/
asocial/ . Acesso em: 6 nov. 2005.
DE LA TORRE, Oscar. El turismo: fenmeno social. 2. ed. Mxico: 1
Ed. Fundo de Cultura Econmica, 1997, p.19.
WAECHTER, Darci Junior . Perfil, preferncias e motivaes da
terceira idade em relao a viagens de lazer. Disponvel em: http://
revistaturismo.cidadeinternet.com.br/artigos/pref-3idade-2.html .
Acesso em: 17 out. 2005.
10
DUARTE, Neide. Idosos (Santos / SP). Disponvel em:
www.tvcultura.com.br/caminhos/13idosos/idosos2.htm . Acesso em:
7 nov. 2005.
11
314
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
GT: Turismo e Gerao Jovens e Idosos
Perguntas orientadoras:
1. Como promover a insero de jovens e
idosos pela prestao de servio turstico?
O Ministrio do Turismo, para promover a insero de jovens
pela prestao de servio, no mbito de suas competncias
dever buscar parcerias para institucionalizar programas,
projetos e aes para:
a)
produo e difuso de informaes e conhecimentos
sobre o trabalho da juventude e do idoso no turismo:
Recomendaes Operacionais
instituir bolsas, prmios e concursos voltados para
apoio ao desenvolvimento e edio de estudos e
pesquisas sobre o trabalho do jovem e do idoso no
turismo;
incluir, nos bancos de dados do Ministrio do Turismo
e da EMBRATUR, produes sobre turismo social,
trabalho jovem e trabalho snior;
criar e fomentar um centro virtual de excelncia em
turismo social com a participao de jovens e idosos;
viabilizar parceria e cooperao do Ministrio do
Turismo e o Bureau International du Tourisme Social
BITS
315
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
b)
ordenamento, normatizao e regulao do turismo
social:
Recomendaes Operacionais
criar lei de incentivo fiscal ao turismo social;
viabilizar a reviso da legislao de cooperativismo,
de maneira a simplific-la e permitir a participao
de empreendedores jovens e de idosos;
viabilizar a reviso das normas da atividade turstica
visando incorporar os princpios da sustentabilidade,
da economia solidria e do voluntariado,
especialmente para jovens e idosos.
c)
promoo do empreendedorismo:
Recomendaes Operacionais
316
realizar campanhas para disseminao do
empreendedorismo jovem e snior e dos princpios
do turismo social;
viabilizar incentivos e apoio financeiro especfico s
iniciativas de empreendedorismo jovem e snior
(linhas de crdito, fundos no reembolsveis, feiras
de negcio, o SIMPLES para as cooperativas etc.);
incentivar e viabilizar a formao de uma rede de
empreendedores jovens e de idosos no turismo;
viabilizar apoio e suporte tcnico (legal,
administrativo e cientfico);
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
d)
ampliao das oportunidades de trabalho:
Recomendaes Operacionais
estudar, organizar e viabilizar sistema de hospedagem
do tipo aluguel de quartos para visitantes nas
residncias de idosos;
desenvolver campanhas de esclarecimento aos idosos
e aos trabalhadores em geral, sobre direitos e deveres
previdencirios, sistema de contribuio e alquotas
diferenciadas, de forma a garantir benefcios queles
que no estejam protegidos pelo sistema e no tenham
condies de contribuir;
promover o reconhecimento do tempo de trabalho
em regime de economia familiar para efeito de
aposentadoria no turismo rural;
promover a sensibilizao da sociedade civil para a
valorizao da pessoa idosa nos seus estatutos,
oportunizando-lhe a participao nos seus diferentes
espaos;
garantir a intersetorialidade e a interdisciplinaridade
na execuo dos programas, projetos e aes voltados
para a pessoa idosa, incluindo a parceria com a
sociedade civil e dando visibilidade ao papel dos
Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa.
promover e incentivar a gerao de postos de trabalho
no perodo de alta ocupao no turismo. Exemplo:
Frana, jovens na colheita da cereja;
sensibilizar empresrios e prestadores de servios
quanto ao trabalho com os jovens e idosos.
317
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e)
qualificao e capacitao para o trabalho na
atividade turstica:
Recomendaes Operacionais
promovera aes de capacitao capacitao
(legislao, administrativo, gerenciamento e tcnico);
viabilizar a qualificao e capacitao (restauro,
reforma, ampliao das instalaes e dos
equipamentos) com o estabelecimento de parcerias
com organizaes de jovens e idosos.
f)
valorizao do idoso:
Recomendaes Operacionais
318
coibir a veiculao na mdia de matrias que
estigmatizem a pessoa idosa;
criar um smbolo padro para identificao de espaos
pblicos reservados ao idoso, que no estimule o
preconceito, nos equipamentos utilizados para fins
tursticos;
promover amplas e contnuas campanhas educativas
e publicaes sobre as contribuies das pessoas idosas
para a sociedade e sobre o combate violncia contra
elas, em todas as esferas de governo;
promover amplas e contnuas campanhas e
publicaes valorizando o idoso, o seu
envelhecimento ativo, seus direitos, respeitando as
diversidades locais e regionais;
estimular e viabilizar aes para incentivar os idosos
a viajar com qualidade;
incentivar o cumprimento da legislao de proteo
ao idoso pelo setor de turismo.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
g)
adequao e valorizao dos espaos fsicos para os
idosos:
Recomendaes Operacionais
criar selo de acessibilidade da pessoa idosa para
estimular a construo de equipamentos acessveis e
a valorizao futura do imvel;
promover a garantia do acesso do idoso a prdios
pblicos e reas urbanas nos destinos tursticos de
acordo com as normas tcnicas da ABNT;
garantir que os planos tursticos contemplem a
construo, nos pontos de nibus intermunicipais e
em outros terminais de transporte coletivo, de abrigos
com assentos e proteo contra intempries;
garantir que os destinos tursticos cumpram a
legislao que trata da adequao dos dispositivos de
trnsito temporizao/sonorizao, sinalizao/
adaptao de vias e edificaes pblicas para acesso
seguro das pessoas idosas;
sensibilizar o setor de transporte de turismo e
transporte coletivo sobre os direitos da pessoa idosa e
o cumprimento da legislao pertinente.
319
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Turismo e Acessibilidade
Vernica Camiso*
1. Introduo ao turismo inclusivo
medida que a indstria do turismo se desenvolve
mundialmente, o cliente dessa atividade exige servios de
qualidade cada vez maior, e, dentre as conseqncias da
internacionalizao do mercado turstico brasileiro, est o
aumento de competncia, bem como das necessidades e
expectativas dos usurios.
Dentre as demandas em crescimento no turismo, se assinala
a busca por acessibilidade, portanto, ser importante prover
indstria turstica informaes que possam incrementar o
reconhecimento das necessidades dos clientes, nos nveis
local, nacional e internacional.
Conforme relatado no trabalho Disability & Freedom of
Movement, produzido por um conjunto de instituies
europias (ALPE, CO.IN, CNAD, CNRH, INFO-HANDICAP,
MI, MOBILITY INTERNATIONAL), um grupo de peritos
britnicos, em 1989, publicou um relatrio intitulado
Turismo para Todos, resultante de um Congresso
organizado no Reino Unido. Este relatrio produziu uma
srie de recomendaes destinadas indstria do turismo,
instando-a a ter em considerao, nos respectivos programas,
as necessidades de todas as pessoas, especialmente dos
grupos com desvantagem, para que todos fossem abrangidos
pelas polticas de turismo.
* Arquiteta, Coordenadora do Setor de Acessibilidade do Centro de
Vida Independente do Rio de Janeiro CEV-RIO; Vice Presidente do
ICTA International Commission on Technology and Accessibility da
Amrica Latina, e consultora do Banco Mundial entre outros.
320
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Conseqentemente, as organizaes europias e americanas
seguiram a tendncia manifestada pelo Reino Unido ao
trabalharem temas semelhantes. Assim, o Turismo para
Todos depressa atingiu nvel internacional: Tourism pour
Tous, Tourismus fur Alle, Turismo per Tutti and
Tourism for All. A estrutura comum a todos e a filosofia
do conceito estavam relacionadas com a Qualidade,
passando tambm a ser referido como Turismo de
Qualidade, e, a partir de campanhas de sensibilizao de
largo espectro, tomaram-se em conta as necessidades dos
clientes sempre que o fator qualidade estiver em causa. Com
o desenvolvimento dos conceitos de incluso, passamos a
nos referir ao Turismo para Todos como Turismo Inclusivo.
2. Do especial ao universal
A acessibilidade hoje considerada como um quesito a mais
na qualidade, que atende s necessidades de segurana e
conforto das pessoas em geral. A conscincia da importncia
da acessibilidade, tem crescido de forma significativa na
ltima dcada no Brasil, refletindo-se este resultado na
legislao, nas polticas pblicas e nos costumes.
Na ltima dcada, investimentos polticos e financeiros
considerveis tm sido feitos por governantes de inmeras
cidades em todo o mundo, visando a um meio urbano mais
acessvel para toda a populao. No Brasil, as iniciativas atentas
a este tema tambm tm se multiplicado, tornando-se, em
alguns casos, uma preocupao na pauta das polticas pblicas.
Ao longo das dcadas de 1980 e 1990 vimos a idia de
eliminao de barreiras arquitetnicas para atender a pessoas
com deficincia tomar um sentido mais amplo, e absorvida
ento na concepo de um Desenho Universal, passou a
somar-se a outros aspectos essenciais do direito urbano e
das polticas de incluso social.
321
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O novo conceito se fez relevante devido ao reconhecimento
de que grande parte da populao mundial no se ajusta ao
modelo para o qual estamos acostumados a projetar os
espaos pblicos e edificaes, j que estes ignoram as
necessidades das pessoas idosas, obesas, de estatura
excessivamente alta ou baixa (inclusive crianas), mulheres
ao final da gestao e pessoas com limitaes motoras ou
sensoriais.
Assim, o Desenho Universal visa atender a maior gama
possvel de pessoas, planejando espaos com dimenses
apropriadas para interao, alcance e uso de produtos em
geral, independentemente do tamanho, postura ou
mobilidade do usurio; reconhece e respeita a diversidade
fsica e sensorial entre as pessoas e as modificaes pelas
quais passa o nosso corpo, desde a infncia at a velhice.
Para se criar um bom produto, deve-se observar quem vai
utiliz-lo, a fim de realizar-se um projeto inclusivo, e melhor
ser a qualidade do turismo, ao levar-se em conta a
acessibilidade do projeto, no apenas arquitetnico, mas
das rotas, transportes, o trato apropriado, informao e
comunicao, dentre outros.
3. A demanda na Amrica Latina
Segundo estimativa da Organizao das Naes Unidas
(ONU), entre 7% e 10% da populao mundial so
constitudos por pessoas com deficincias. O informe do
ano de 2002 da Organizao Pan-americana de Sade
(PAHO/WHO) indica que a dificuldade com a
acessibilidade e mobilidade so os principais problemas que
enfrentam as pessoas com deficincia, devido s barreiras
arquitetnicas e urbansticas que intensificam a dificuldade
322
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
para integrao ao mercado de trabalho e a realizao das
atividades cotidianas.
Mas esse percentual no pode ser tratado como referente a
uma minoria, uma vez que a deficincia de uma pessoa no
afeta apenas a sua situao, mas tambm de sua famlia e
at de sua comunidade, ao longo de sua vida. O nmero de
pessoas direta ou indiretamente afetadas pelas questes que
envolvem a deficincia , portanto, bem mais amplo que
tal porcentagem.
Sob o aspecto da populao idosa, quanto mdia de vida,
estima-se que at o ano 2030, 20% da populao em termos
mundiais, ter idade superior a 65 anos (RATZKA).
Segundo esses dados, a maioria das pessoas chegar
terceira idade, e uma poro menor, mas numerosa, sofrer
limitaes fsicas ou sensoriais que comprometero sua
autonomia. O investimento em acessibilidade se reverter
em garantia de maior independncia para alguns e em
benefcio para todos. Estes nmeros indicam que engenheiros
e arquitetos devem seguir atentos ao desenho do meio
construdo, dado o seu poder facilitador ou inibidor de
incluso social.
No quadro seguinte, podemos observar dados que ilustram
a magnitude da populao com alguma deficincia na
regio:
Regio
Amrica Latina e
Caribe
Pessoas com
deficincia
(10% segundo a OMS)
Populao (em milhares)
2000
2005
2010
2030
2050
520.229
558.281
594.436
711.058
767.685
52.022
55.828
59.443
71.105
76.768
323
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
4. Turismo Inclusivo: um promotor de
desenvolvimento econmico
Em estudo em andamento no Banco Mundial a respeito do
impacto econmico e social do Turismo Inclusivo na regio
da Amrica Central e Caribe, algumas questes so
ressaltadas.
Nos Estados Unidos, estudos de mercado estimam um total
de 54 milhes de americanos com deficincia, em 2005,
que incluem o significativo aumento da populao idosa
no pas. Eles constituem importante mercado para a
sustentabilidade da indstria turstica na costa da Amrica
Central e do Caribe.
As pesquisas mostram que, a cada sete segundos, um
americano faz cinqenta anos, o que demonstra a urgncia
de incorporao dos conceitos de Desenho Inclusivo, que
busca atender s necessidades de pessoas de todas as idades
e habilidades, em relao aos diversos nveis do meio
construdo. Isso tambm o que estes e outros turistas de
pases desenvolvidos esperam encontrar quando saem em
viagem.
Pessoas com deficincia e idosos so atualmente alvos do
avano do turismo global. medida que esse
desenvolvimento cresce, torna-se grande o interesse em
como criar locaes e passeios acessveis e desenvolver
atividades tursticas acessveis, no esforo de aumentar uma
ampla participao social.
O Turismo Social um mercado em rpido crescimento na
Amrica Latina, permitindo um significativo aumento de
oportunidades para setores da populao que no possuam
possibilidade de viajar anteriormente, dentre estes os idosos.
A relao entre envelhecimento e deficincia hoje em dia
amplamente reconhecida e o enfoque do turismo social
324
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
implica automaticamente a incluso da acessibilidade e do
desenho inclusivo nos servios e na infra-estrutura, de forma
a incorporar a populao idosa.
Os seguintes benefcios so considerados como resultantes
do processo de Turismo Inclusivo:
Maiores divisas para os pases.
Melhores negcios para o setor privado.
Melhorias no desenvolvimento das comunidades
locais.
Melhora na infra-estrutura e qualidade de vida da
populao em geral.
Novas oportunidades de trabalho para as pessoas com
deficincia da regio.
Conseqente reduo da pobreza.
Aes especficas precisam ser identificadas e implementadas
para o desenvolvimento do turismo com finalidade social:
Definio de polticas sociais de turismo.
Criao de infra-estruturas.
Treinamento de pessoal para suporte ao turista com
necessidades especiais.
Incentivo a pequenas iniciativas, como parte da
estratgia global.
5. Acessibilidade de reas tombadas
Em todo o mundo, vem-se buscando assegurar o acesso de
todos aos bens de valor histrico e cultural. A acessibilidade
tem sido inserida como um item dentre os demais nestes
casos, tais como instalao de gua ou iluminao, estudada
cuidadosamente, para preservao do bem. Os edifcios
325
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
preservados pelo patrimnio histrico devem buscar atender
aos quesitos de acessibilidade, sempre em parceria com a
instituio oficial responsvel pela preservao do
patrimnio histrico local.
6. O suporte da Legislao Federal para a
acessibilidade no turismo
A partir de 02 de dezembro de 2004, o Decreto Federal n
5.296 passou a regulamentar importantes quesitos referentes
acessibilidade em todo o Brasil.
Dentre as Condies Gerais para Implementao da
Acessibilidade do decreto, ressaltamos duas que, por seu
carter amplo, nos do uma idia do quanto devemos
avanar no campo da acessibilidade no pas nos prximos
anos, e inclusive em relao ao turismo. Reproduzimos aqui
parte do texto:
A concepo e a implantao dos projetos arquitetnicos
e urbansticos devem atender aos princpios do desenho
universal, tendo como referncias bsicas as normas tcnicas
de acessibilidade da Associao Brasileira de Normas
Tcnicas ABNT ....
A construo, reforma ou ampliao de edificaes de uso
pblico ou coletivo, ou a mudana de destinao para estes
tipos de edificao, devero ser executadas de modo que
sejam ou se tornem acessveis pessoa portadora de
deficincia ou com mobilidade reduzida.
Para um melhor entendimento da abrangncia das medidas
citadas, explicitamos algumas definies sobre os termos
mencionados:
326
Acessibilidade: condio para utilizao, com
segurana e autonomia, total ou assistida, dos espaos,
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
mobilirios e equipamentos urbanos, das edificaes,
dos servios de transporte e dos dispositivos, sistemas
e meios de comunicao e informao, por pessoa
portadora de deficincia ou com mobilidade
reduzida.
Desenho universal: concepo de espaos, artefatos
e produtos que visam atender simultaneamente todas
as pessoas, com diferentes caractersticas
antropomtricas e sensoriais, de forma autnoma,
segura e confortvel, constituindo-se nos elementos
ou solues que compem a acessibilidade.
Edificaes de uso coletivo: aquelas destinadas s
atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural,
esportiva, financeira, turstica, recreativa, social,
religiosa, educacional, industrial e de sade, inclusive
as edificaes de prestao de servios de atividades
da mesma natureza.
7. Adaptando o meio existente
Claro, muito mais fcil projetar prdios acessveis do que
se adaptar um ambiente j pronto. Mas muito pode ser
realizado ou melhorado. Muitas vezes, com adaptaes
simples, conseguem-se grandes solues e, com o devido
cuidado, favorece-se inclusive a esttica do ambiente.
A qualidade das adaptaes est diretamente ligada
segurana e ao conforto que proporcionam aos usurios:
rampas com inclinaes suaves; capachos nivelados e
embutidos no piso; corrimos bem fixados; pisos tteis para
sinalizar desnveis, entre outras adaptaes. Ou seja, a criao
de rotas acessveis, que assegurem percursos sem
interrupes, interligando as reas utilizadas pelos moradores
ou visitantes.
327
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
No caso de instalaes hoteleiras, o ideal que essas rotas
levem as pessoas desde a entrada principal at seu
apartamento, ou at as demais reas de uso comum, com
autonomia.
8. Recomendaes para a Acessibilidade
No h sentido em se oferecer produtos tursticos que no
podero ser desfrutados por diversos dos clientes. A seguir,
selecionamos algumas recomendaes bastante usuais para
tornar-se um meio fsico mais acessvel. A maioria delas
citada como exigncia para acessibilidade, Decreto Federal
n 5.296:
Entradas e circulaes
328
Os caminhos e passagens nos edifcios devem ser
completamente acessveis a todas as pessoas. As
ligaes e os acessos entrada social, salas de refeio,
auditrios, estacionamentos e demais reas de
circulao no devem ser interrompidos por
degraus, desnveis, ou vos muito estreitos.
Todas as entradas devem ser acessveis, de forma a
no desviar a pessoa para um percurso que no seja o
mais adequado.
O mais adequado que as entradas das edificaes
no apresentem desnvel em relao s caladas.
Um piso rgido e homogneo de grande ajuda para
pessoas com mobilidade reduzida.
Tapetes muito grossos e fofos trazem grande
dificuldade para o deslocamento de uma cadeira de
rodas, assim como pavimentao externa irregular,
feita com areia, pedriscos ou paraleleppedos.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Capachos, tapetes e carpetes devero ter suas bordas
firmemente fixadas ao piso. Os capachos devem estar
preferencialmente embutidos e nivelados com o piso.
Pisos muito polidos e escorregadios podem causar
quedas e acidentes e devem ser evitados. O ideal o
uso de pisos antiderrapantes.
Os caminhos nos jardins, com piso de lajotas de pedras
devem ser planos, bem nivelados e com juntas bem
estreitas.
A colocao de corrimos nas escadas ajuda as pessoas
com dificuldades de caminhar, como idosos e crianas
pequenas, a utiliz-las com maior autonomia e
segurana. As escadas e rampas devem ter corrimo
por toda a extenso, nos dois lados, incluindo os
patamares.
Portas de entrada e de elevadores muito pesadas
dificultam, e s vezes impedem, que pessoas com
equilbrio debilitado (idosos) ou com pouca fora
possam abri-las. As molas de controle das portas devem
ser ajustadas de forma a torn-las mais leves.
Rampas
Em todos os desnveis deve haver rampas de acesso,
com inclinao suave, sempre de acordo com as
normas tcnicas da ABNT. Rampas muito inclinadas
se tornam escorregadias e so muito perigosas para
todos, principalmente para as pessoas que usam
muletas ou cadeiras de rodas.
Na construo de uma rampa, quanto maior for o
desnvel a ser vencido, maior ter que ser o seu
comprimento. A tabela que indica as dimenses
329
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
corretas para a construo de rampas est disponvel
na NBR 9050 Norma Brasileira de Acessibilidade
de Pessoas Portadoras de Deficincias a Edificaes,
Espao, Mobilirio e Equipamento Urbanos, da ABNT.
As rampas devem ser fixas e definitivas. O uso de peas
removveis, que precisam ser recolocadas a todo o
momento, incmodo para quem as manuseia e
constrangedor para quem necessita dessas adaptaes.
Quando h degraus no hall da entrada ou recepo
pode acontecer de faltar de espao para se fazer uma
rampa adequada. Nesse caso, deve-se utilizar a ajuda
de equipamentos eletromecnicos, pequenas
plataformas que correm verticalmente ou ao longo
da escada, como se fossem minielevadores.
O espao utilizado por uma escada nunca ser
suficiente para fazer uma rampa em seu lugar. Ficaria
muito ngreme, deslizante, e no permitiria sua
utilizao por uma pessoa em cadeira de rodas, por
exemplo. um engano comum pensar que o uso da
rea da escada para fazer um plano inclinado sobre
ela seria a soluo para o acesso.
Pisos tteis e contrastes
O que piso ttil?
A pessoa com deficincia visual costuma guiar-se com auxlio
de bengala e percebe as mudanas de ambiente atravs do
contato com o piso e paredes, por sua textura e relevos. Por
isso, necessrio o uso de sinalizao ttil no cho. So
faixas com superfcie texturizada e diferente da usada no
piso do local, para serem percebidas com mais facilidade
pelos ps e pela bengala.
330
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
O piso ttil de alerta serve para avisar s pessoas cegas
ou com pouca viso (que apenas enxergam vultos) da
existncia de desnveis, como escadas e rampas. Para
pessoas que enxergam pouco importante que o piso
ttil seja de uma cor que contraste com a cor do piso
sua volta, facilitando sua orientao.
Para alertar pessoas com pouca viso sobre a
existncia de degraus, rampas ou desnveis deve ser
instalada uma faixa de piso de material e cor diferentes
das do piso do local.
Cor de portas contrastando com a cor das paredes
proporcionam melhor orientao para pessoas com
pouca viso.
E mais
Os balces de atendimento e as bilheterias em
edificao de uso pblico ou de uso coletivo devem
dispor de, pelo menos, uma parte da superfcie
acessvel para atendimento s pessoas portadoras de
deficincia ou com mobilidade reduzida, conforme
os padres das normas tcnicas de acessibilidade da
ABNT.
Est garantida pelo Decreto Federal n 5.296, a entrada
e permanncia de ces guias que acompanham
pessoas cegas, nos edifcios de uso pblico e de uso
coletivo, mediante apresentao da carteira de vacina
atualizada do animal, inclusive nas reas sociais. Estes
ces so especialmente treinados, no sujam e no
incomodam as pessoas. Eles so uma ajuda
indispensvel aos cegos e inseparveis deles, assim
como uma bengala ou outra ajuda tcnica para quem
dela necessita.
331
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
332
Todas as portas devem ter largura mnima de 0,80m
(oitenta centmetros), permitindo a passagem de
cadeiras de rodas e de carrinhos de beb.
Maanetas do tipo alavanca so mais fceis de
manusear.
Os interruptores, comandos, interfones, botes etc.
devem estar a uma altura entre 0,80m (oitenta
centmetros) e 1,20m (um metro e vinte centmetros)
em relao ao piso.
A calada sem carros estacionados e sem plantas que
dificultem a passagem das pessoas um ideal a ser
perseguido por todos.
Muitas vezes, as portas inteiramente de vidro
transparente no so percebidas por pessoas apressadas
ou que no enxergam bem e se chocam direto com o
vidro. A instalao de uma faixa opaca e bem visvel,
em toda a extenso da largura da porta, na altura da
maaneta, diminui o risco de acidente mais grave.
As cabines dos elevadores, com dimenses mnimas
de 1,10m (um metro e dez centmetros) por 1,40m
(um metro e quarenta centmetros), devem ter um
espelho na parede oposta porta para que se possa
ver bem a indicao dos andares.
O painel interno nos elevadores deve ter sinalizao
em Braille, junto aos botes de marcao dos andares.
Nas portas de elevador, em cada pavimento, a
sinalizao indicativa do andar deve ser feita com
nmeros em relevo, para facilitar a orientao da
pessoa cega.
Junto aos botes de chamada, em cada pavimento,
deve haver o nmero do andar em relevo.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Os nmeros nas portas dos apartamentos devem ser
preferencialmente em relevo, para facilitar a
orientao da pessoa cega.
Nas reas molhadas, em torno de piscinas, e em reas
externas descobertas, o piso deve ser antiderrapante
para evitar acidentes.
Banheiros de uso comum
Nas edificaes de uso coletivo j existentes, onde haja
banheiros destinados ao uso pblico, os sanitrios preparados
para o uso por pessoa portadora de deficincia ou com
mobilidade reduzida devero estar localizados nos
pavimentos acessveis, ter entrada independente dos demais
sanitrios, se houver, e obedecer s normas tcnicas de
acessibilidade da ABNT.
Os banheiros das reas de recreao devem permitir
seu uso por todos, inclusive por pessoas em cadeira
de rodas.
As portas dos banheiros, assim como todas as outras,
devem ter largura mnima de 0,80m (oitenta
centmetros) e maanetas do tipo alavanca.
Nas portas dos banheiros deve ser instalada uma barra
horizontal, para facilitar seu fechamento por pessoas
em cadeira de rodas.
No caso de vasos sanitrios em boxes, deve haver um
espao para transferncia junto ao vaso, com rea
mnima de 1,50m por 1,70m (um metro e meio por
um metro e setenta centmetros), em um dos boxes.
Junto ao vaso sanitrio devem ser instaladas barras
horizontais de apoio e transferncia. As barras devem
estar colocadas em um dos lados e atrs do vaso
333
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
sanitrio. O outro lado deve ficar livre para permitir a
aproximao e a transferncia de uma pessoa em
cadeira de rodas.
As pias suspensas, sem colunas ou gabinetes, devem
ser fixadas a uma altura de 0,80m (oitenta centmetros)
do piso, com altura livre (embaixo) de 0,70m (setenta
centmetros). O sifo e a tubulao devem estar
situados a 0,25m (vinte e cinco centmetros) da face
externa frontal e ter dispositivo de proteo.
No caso de incndio ou emergncia, para maior
segurana de todos, quando a rota de fuga incluir
escadas de emergncia, devem ser reservadas reas
de resgate para cadeira de rodas, ventiladas e fora do
fluxo principal de circulao. As rotas devem ser
sinalizadas e iluminadas com dispositivo de guia,
instalados a 40cm (quarenta centmetros) do piso.
Unidades acessveis de alojamento
Em todo estabelecimento hoteleiro, devero estar
alocadas unidades de alojamento acessveis, em
nmero compatvel com as normas de turismo e
legislao locais.
Os quartos ou apartamentos dados como acessveis
devero incorporar todos os requisitos da NBR 9050,
da ABNT.
Banheiros nas unidades de uso privado
334
Os banheiros localizados nas unidades acessveis das
instalaes hoteleiras, devero atender a todas as
especificaes tcnicas da NBR 9050, da ABNT.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Estacionamentos
Nos estacionamentos externos ou internos das
edificaes de uso pblico ou de uso coletivo, ou
naqueles localizados nas vias pblicas, sero
reservados, pelo menos, 2% do total de vagas para
veculos que transportem pessoa portadora de
deficincia fsica ou visual definidas neste decreto,
sendo assegurada, no mnimo, uma vaga, em locais
prximos entrada principal ou ao elevador, de fcil
acesso circulao de pedestres, com especificaes
tcnicas de desenho e traado conforme o estabelecido
nas normas tcnicas de acessibilidade da ABNT.
As vagas especiais devero ser adequadamente
sinalizadas, vertical e horizontalmente, e nas
dimenses indicadas na norma NBR 9050, da ABNT.
Da acessibilidade aos bens culturais imveis
As solues destinadas eliminao, reduo ou
superao de barreiras na promoo da acessibilidade
a todos os bens culturais imveis devem estar de
acordo com o que estabelece a Instruo Normativa
no 1 do Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico
Nacional IPHAN, de 25 de novembro de 2003.
Do acesso informao e comunicao
Garantir que os telefones de uso pblico contenham
dispositivos sonoros para a identificao das unidades
existentes e consumidas dos cartes telefnicos, bem
como demais informaes exibidas no painel destes
equipamentos.
335
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Recomendao geral
Em obras novas, em construo ou por construir,
devem-se incorporar todas as recomendaes das
Normas Brasileiras de Acessibilidade, NBR 9050 da
ABNT.
9. Da acessibilidade aos servios de
transportes coletivos
Os sistemas de transporte coletivo so considerados acessveis
quando todos os seus elementos so concebidos,
organizados, implantados e adaptados segundo o conceito
de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurana
e autonomia por todas as pessoas.
A infra-estrutura de transporte coletivo a ser implantada a
partir da publicao do Decreto Federal n 5.296 dever
ser acessvel e estar disponvel para ser operada de forma a
garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficincia ou
com mobilidade reduzida.
Os responsveis pelos terminais, estaes, pontos de parada
e os veculos, no mbito de suas competncias, asseguraro
espaos para atendimento, assentos preferenciais e meios
de acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas
portadoras de deficincia ou com mobilidade reduzida.
10. Aspectos da diversidade
Algumas pessoas apresentam suas diferenas de um modo
mais concreto e visvel, revelando em seu corpo estes sinais,
como as pessoas com deficincia fsica. H os que
apresentam diferenas sensveis em relao a seus sentidos,
como as pessoas com deficincias visuais ou auditivas e
336
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
outras, que apresentam diferenas em sua capacidade de
compreender e aprender, como as pessoas com deficincias
mentais.
Muitas vezes o fator mais limitante no est nas deficincias
e, sim, nas condies desfavorveis encontradas no meio
edificado. So obstculos de todo o tipo, como as barreiras
fsicas, da comunicao e comportamentais que limitam sua
capacidade de ir e vir, de comunicar-se ou de relacionar-se
com os demais.
A deficincia no significa doena. O meio pode aumentar
o impedimento gerado por uma deficincia ou torn-la quase
sem importncia em determinado contexto. As pessoas com
deficincia devem ter asseguradas as mesmas oportunidades
das demais, a mesma possibilidade de deslocar-se e de escolha
de locais. So consumidores e esperam ser tratados com a
mesma dignidade e respeito, tendo garantido seu acesso a
edifcios, ao lazer, ao transporte, informao e ao direito
de viajar.
O conhecimento do grau de acessibilidade dos pontos
tursticos e estabelecimentos pode ajudar a indstria turstica
local a determinar que atitudes adotar para facilitar a visita
de pessoas com deficincia.
11. Facilitando a estadia do cliente atravs do
meio fsico acessvel
Esta questo diz respeito, em especial, gesto hoteleira e
ao pessoal, uma vez que so os que alojaro o visitante com
deficincia ou limitao. Portanto, da maior importncia
que proporcionem aos seus hspedes com alguma
necessidade especial o mximo de autonomia e de
independncia.
337
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Com alguns conselhos prticos e tcnicos a estadia desse
hspede poder ser consideravelmente facilitada. Caso o
hotel disponha de alguns equipamentos e tecnologia para
assistncia, o pessoal dever saber utiliz-los.
Podemos identificar algumas aes simples, mas importantes
para a recepo dos hspedes, em geral, e fundamental para
pessoas com deficincia.
Circulao
Disponibilizar estacionamento especfico perto da
entrada.
Solicitar a um funcionrio que estacione o veculo.
No utilizar carpetes nas circulaes.
Estabelecer uma entrada fcil e direta, com porta
normalizada (no usar porta giratria).
Remover os obstculos e mobilirio das circulaes.
Equipar todas as escadas com corrimos e instalar
rampas adequadas como opo do percurso.
Utilizar materiais no refletores nos pisos e nas paredes
para que se evite uma percepo falsa s pessoas com
deficincia visual.
Quartos
Esteja preparado para remover ou deslocar uma pea
de mobilirio para facilitar a circulao, caso seja
necessrio.
Portas
338
Devem ter uma largura de, pelo menos, 75cm, sendo
a medida ideal a de 90cm para os usurios de cadeiras
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
de rodas. Caso seja necessrio, a porta do banheiro
pode ser removida.
Elevadores e escadas
No elevador, os botes de sinalizao devem fornecer
a informao em Braille e devem estar em relevo.
Banheiros
O banheiro acessvel deve permitir sua utilizao por
uma pessoa em cadeira de rodas: devem ser observadas
as larguras das portas, espao para manobra, as barras
de apoio junto ao vaso e chuveiro. A situao ideal
um chuveiro sem ressalto no piso.
Contar com uma cadeira de banho, disponvel sob
solicitao do hspede.
O lavatrio deve estar a uma altura acessvel ao usurio
de cadeira de rodas e com a rea abaixo livre de
obstculos.
Segurana
Para as pessoas surdas de importncia crucial serem
informadas quando soa o alarme de fogo: caso no
haja equipamento especial, o pessoal deve saber quais
os quartos ocupados por pessoas surdas.
As pessoas com deficincia podem necessitar de ajuda
nas situaes de emergncia; portanto, torna-se
importante fornecer aos funcionrios do hotel uma
lista dos quartos ocupados por hspedes com
deficincia.
O pessoal deve ser treinado para atender a situaes
de emergncia.
339
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Restaurante
Em restaurantes self-service, o pessoal deve oferecer
ajuda para acompanhar as pessoas com deficincia,
de forma que possam servir-se adequadamente.
No caso de restaurantes com assentos fixos mesa,
deve ser reservado um espao onde a disposio dos
assentos no seja rgida, para acomodao de usurios
de cadeira de rodas.
Comunicao
340
A informao geral sobre os servios deve ser
disponibilizada em verso aumentada, em audioteipes
e em Braille.
As cabines telefnicas devem ser acessveis.
A recepo deve dispor de um telefone de texto para
pessoas surdas.
As instrues sobre segurana devem estar a uma altura
acessvel.
No dilogo com uma pessoa cega, passe-lhe as
informaes disponveis ou de que possa necessitar.
No caso de um hspede cego e desacompanhado,
faa um tour acompanhando-o ao interior de seu
apartamento, mostrando o acionamento e localizao
dos equipamentos (ar refrigerado, rdio, televisor etc.).
Ao comunicar-se com uma pessoa surda, no se esquea
de que pode escrever o que tem a comunicar-lhe.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
12. Como fornecer a informao correta ao
cliente
Para se prestar um servio de qualidade, torna-se necessrio
ter um conhecimento fundamental das necessidades geradas
por diversas das deficincias. H certos setores na indstria
turstica que, se adequadamente orientados e informados,
podero oferecer um salto de qualidade na recepo dos
turistas com deficincia.
A seguir, citamos algumas recomendaes de procedimentos
elaboradas no estudo Disability & Freedom of Movement ,
produzido em conjunto por diversas instituies europias,
e que buscam contribuir para que se ofeream informaes
corretas a esses clientes no turismo.
Para os funcionrios de atendimento de
agncias de viagens
Contatar agncias de viagens especializadas, empresas
de transportes (areas, ferrovirias), hotis, agncias
de turismo;
Proceder, em colaborao com organizaes de
pessoas com deficincia, a uma avaliao da
credibilidade e qualidade da informao.
Dirigir-se a centros de informao, verificar a data, se
est tudo em ordem e com o visto dos rgos
responsveis.
Ao marcar a viagem area para passageiros com
mobilidade reduzida, no se coibir de fazer perguntas
sobre sua necessidade, a utilizao dos sanitrios etc.
341
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Para as agncias e guias de turismo
Conhecer as atraes tursticas e as disponibilidades
existentes neste campo para pessoas com necessidades
especiais.
Adaptar itinerrios tursticos especiais que venham ao
encontro das necessidades do cliente e conhecer outras
alternativas.
Ter conhecimento de outros lugares de interesse
(museus acessveis, lugares apropriados a pessoas
cegas, jardins aromticos etc.).
Ter conhecimento de lugares acessveis e adequados
a pessoas com viso parcial etc.
Conhecer as ofertas existentes na rea do lazer:
desporto, restaurantes, praias, e possibilidade de
arrendamento de ajudas tcnicas.
Informar-se se as estruturas existentes foram localmente
vistoriadas.
Trocar informaes com as organizaes de pessoas
com deficincia.
Para o pessoal das companhias de transporte
342
Ter conhecimento sobre a respectiva companhia,
estaes, terminais, portos, companhias areas e os
servios que oferecem.
Ter conhecimento das normas que regulamentam o
transporte das pessoas com deficincia na respectiva
companhia.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Para o pessoal de hotelaria
Ter conhecimento do grau de acessibilidade do
respectivo hotel.
Manter bom contato com as agncias de turismo para
obter informao sobre pontos tursticos, museus etc.
acessveis.
13. Informaes tcnicas sobre acessibilidade
Recomendaes mais detalhadas para facilitar o acesso de
pessoas portadoras de deficincias constam das normas
tcnicas da Associao Brasileira de Normas Tcnicas
ABNT.
A NBR 9050 Norma Brasileira de Acessibilidade de Pessoas
Portadoras de Deficincias a Edificaes, Espao, Mobilirio
e Equipamentos Urbanos encontra-se venda nas agncias
regionais da ABNT.
14. Concluso
Durante o Congreso Ocio, Inclusin y Discapacidad,
celebrado em Bilbao, em julho de 2003, foi produzido pelos
participantes, um Manifesto pelo Lazer Inclusivo. Nas
concluses desse documento, esto assinaladas algumas
diretrizes, que consideramos fundamentais e que ratificamos
como a serem desenvolvidas junto aos profissionais do
turismo.
A atualizao de conceitos e enfoques sobre as pessoas
com deficincia.
A potencializao do papel do lazer no
desenvolvimento pleno das pessoas com deficincia.
343
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
A opo preferencial pelo lazer inclusivo quanto a
equipamientos, programas, servios, produtos e
atividades.
Estratgias para um turismo inclusivo
A seguir, encaminhamos sugesto de algumas aes que
consideramos adequadas ao incentivo do Turismo Inclusivo
e da acessibilidade.
No curto prazo
1.
Criar ferramentas para operacionalizao de
mecanismo de fiscalizao ao cumprimento do
Decreto Federal n 5.296 nos estabelecimentos,
edifcios e locais vinculados atividade turstica, uma
vez que o decreto vigente j condiciona o
cumprimento das normas tcnicas de acessibilidade
NBR 9050, da ABNT, para:
. a aprovao de projeto de natureza arquitetnica e
urbanstica, de comunicao e informao, bem
como a execuo de qualquer tipo de obra, quando
tenham destinao pblica ou coletiva;
. a outorga de concesso, permisso, autorizao ou
habilitao de qualquer natureza;
. a concesso de aval da Unio na obteno de
emprstimos e financiamentos internacionais por entes
pblicos ou privados.
2.
344
Organizao de eventos e cursos, com participao
de agncias governamentais, setor privado e de
deficincia, em nveis local e federal, com a finalidade
de desenvolvimento de estratgias para atrair o turismo
social e inclusivo para a regio.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
3.
Previso de assessoria tcnica ao governo e ao setor
privado na rea do Turismo Inclusivo.
No mdio prazo
1. Realizao de guia sobre turismo inclusivo
Elaborao de um guia de referncia dirigido aos profissionais
de turismo, a fim de analisar as necessidades dos turistas
com deficincia e fornecer informao sobre a forma de
receb-los e aloj-los apropriadamente no mbito das
estruturas tursticas.
Recomenda-se que a indstria turstica adote uma estratgia
de comercializao que tenha em considerao requisitos
diferenciados. A concepo de um produto turstico no
deve obedecer a um padro determinado de cliente dado
que cada indivduo tem necessidades diferentes e especficas.
Por outro lado, os profissionais do turismo no so peritos
em acessibilidade: vo vender um produto que j foi
delineado. Devero, contudo, compreender o que significa
um meio fsico acessvel e o que um cliente com deficincia
poder fazer tendo em vista oferecer-lhe a soluo mais
adequada a suas necessidades enquanto viaja.
Este guia de referncia, com base nas necessidades reais e
especficas dos turistas com deficincia, dever ser
considerado como uma recomendao, em nvel europeu,
na formao de profissionais do turismo uma formao
atravs da qual as prprias pessoas com deficincia devero
estar ativamente envolvidas no papel de formadores.
O objetivo conseguir-se uma sensibilizao geral dos
profissionais do turismo sobre as necessidades especficas
dos turistas com deficincia e favorecer sua circulao livre,
assim como a sua participao nas atividades tursticas. O
345
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
guia deve ser destinado preferencialmente s escolas de
hotelaria e indstria turstica como um todo.
2. Nos novos projetos arquitetnicos e empreendimentos
tursticos: elaborao de recomendaes especficas
Elaborar normas especficas para turismo, para os aspectos
significativos de cada projeto, extensivas ao controle na sua
execuo e manuteno.
3. Na adaptao de locais existentes sem acesso adequado:
garantia de rotas acessveis
Estabelecer prazos para a realizao de adaptaes para se
tornar uma rea urbana ou edificaes acessveis.
importante a definio de rotas acessveis que assegurem
percursos sem interrupes, interligando as reas prioritrias
utilizadas pelo pblico.
No longo prazo
1. Formao em acessibilidade e turismo inclusivo
A intimidade com a questo da deficincia, e uma reflexo
maior sobre as diferenas fsicas e sensoriais entre as pessoas,
costumam acarretar a reformulao pessoal e profissional
de uma srie de conceitos. Isso sucede em diversas atividades,
mas especialmente importante para a rea de arquitetura
e planejamento, a cujos profissionais cabe projetar os
ambientes e os espaos edificados.
Na maioria das faculdades de arquitetura no Brasil, a questo
da acessibilidade no est inserida no currculo. Na maioria
delas, os prprios acadmicos oferecem resistncia a essa
insero. Como no receberam essas informaes durante
sua prpria formao universitria, sentem-se inseguros sobre
o assunto e portanto inaptos a ensin-lo. Poucas faculdades
346
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
brasileiras oferecem a cadeira de acessibilidade e apenas
como matria optativa.
O mesmo se d em relao ao Turismo Inclusivo, ainda
pouco divulgado no mbito acadmico do turismo.
Em longo prazo, a ao que trar maior avano para que a
acessibilidade e o Turismo Inclusivo se instalem como
condutas regulares e adequadamente inseridas, ser sua
incluso nos contedos e disciplinas nas universidades,
sobretudo nos cursos de engenharia, arquitetura, informtica,
desenho industrial e turismo.
A nosso ver, a incluso deveria acontecer nos primeiros anos
de faculdade, administrada em cadeira obrigatria especfica
com um semestre de durao, enfocando os conceitos
bsicos de Desenho Universal, nos estudos de arquitetura e
design, tanto na sua aplicao terica quanto na prtica. A
partir da, nos demais perodos, os cuidados com
acessibilidade devero estar inseridos transversalmente em
todas as cadeiras: de projeto de arquitetura, comunicao
visual, urbanismo etc., uma vez que os futuros usurios a
quem os profissionais em formao devero atender com
seus projetos sero parte da ampla gama da populao com
diferentes necessidades.
Da mesma forma seriam inseridas as cadeiras referentes ao
Turismo Inclusivo desde as primeiras instncias nas
Faculdades de Turismo, ao se refletir sobre quais so os
clientes a serem atendidos.
Portanto, necessrio que se faam investimentos em cursos
especficos que provoquem a conscientizao, informao
e capacitao dos professores responsveis pela formao
nessas reas acadmicas.
347
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Bibliografia
Guia Operativa Sobre Accesibilidad BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento, Washington, 2005
Inclusive Tourism- Impacting Economic and Social Development in
Central America and the Caribbean Region, World Bank, EUA, 2005
Disability & Freedom of Movement, produzido por ALPE, CO.IN,
CNAD, CNRH, INFO-HANDICAP, MI, MOBILITY INTERNATIONAL,
2000
Manifesto por um cio Inclusivo, Congreso Ocio, Inclusin y
Discapacidad, Bilbao, Espanha, 2003
Manual de Acessibilidade aos Edifcios Residenciais do Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2003
Curso de Turismo Accesible, Real Patronato de Prevencin y de
Atencin a personas con minusvala organizado pela Alpe, Espanha,
2000
Manual de Acessibilidade a Hotis para Pessoas com Mobilidade
Reduzida, Real Patronato de Prevencin y de Atencin a personas
con minusvala organizado pela Alpe, Espanha, 1998
Accessibility in the tourism environment - Accessible Architecture,
XABIER GARCA-MIL LLOVERAS, Course on accessible tourism of
the Real Patronato de Prevencin y de Atencin a personas con
minusvala organizado pela Alpe, Espanha, 1998
Accessibility in the tourism environment - Urban and natural
environment, mobility and transport for Universal Tourism, JOS
ANTONIO JUNC UBIERNA, Course on accessible tourism of the Real
Patronato de Prevencin y de Atencin a personas con minusvala
organizado pela Alpe, Espanha, 1998
Adequate treatment to clients with reduced mobility, JOS FLIZ SANZ
JUEZ, Course on accessible tourism of the Real Patronato de
Prevencin y de Atencin a personas con minusvala organizado
pela Alpe, 1998
Curso Bsico sobre Accesibilidad al Medio Fsico, Real Patronato de
Prevencin y de Atencin a Personas con Minusvala, Espanha, 1996
European Concept for Accessibility, CCPT, MAARTEN WIJK, EGM
onderzoek bv, Pases Baixos, Maro 1996
Formation pour enquteurs en accessibilit - Htels, restaurants,
maisons de vacances, Info-Handicap, Luxemburgo, Maro 1998
348
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
Making Europe Accessible for Tourists with Disabilities - Handbook
for the Tourism Industry, European Commission, DG XXIII - Tourism
Unit, Luxemburgo, 1996
Organisation of accessible tourism activities, Jos Fliz Sanz Juez,
Course on accessible tourism of the Real Patronato de Prevencin y
de Atentin a personas com minusvala, organizado pela Alpe,
espanha, 1998
Tourism for All, NIEVES SANCHIZ PONS, Alpe, Espanha, 1998
Tourism for All - Providing Accessible Accommodation, JOHN H.
PENTON, The Holiday Care Service - The English Tourist Board, UK,
1990
Tourism for All - Providing service for all - The training Guide, MAUNDY
TODD, CAROL TOMLINSON, MARY BAKER, The National Tourist
Boards of England, Scotland, Wales and Northern Ireland, Edimburgo,
1997
349
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
GT: Turismo e Acessibilidade
Perguntas orientadoras:
1. Como incentivar uma boa viagem para as
pessoas com deficincia ou com mobilidade
reduzida?
O Ministrio do Turismo, para promover a insero do grupo
GLBTT pela prestao de servios tursticos, no mbito de
suas competncias, dever buscar parcerias para
institucionalizar programas, projetos e aes para:
a)
incorporao da incluso pela acessibilidade em sua
prtica:
Recomendaes Operacionais
350
cumprir e incentivar o cumprimento da legislao
sobre acessibilidade e promover a aplicao das
normas tcnicas da ABNT no setor de turismo;
definir e divulgar graus de acessibilidade dos atrativos
e estabelecimentos tursticos;
inserir estudo da acessibilidade nos roteiros em
construo;
promover a acessibilidade na propaganda institucional
inclusiva por meio de cartazes, folders e stios
eletrnicos de promoo turstica;
assegurar eventos acessveis;
assegurar que recursos pblicos aplicados pelo MTur
para apoio e financiamento de eventos, equipamentos,
servios e outras aes sejam utilizados para promover
promover a acessibilidade e no criar barreiras para as
pessoas com deficincia e com mobilidade reduzida.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
b)
produo de informaes e conhecimentos referentes
acessibilidade:
Recomendaes Operacionais
viabilizar incentivos a pesquisas para desenvolvimento
de novas tecnologias para atender as pessoas
portadoras de deficincia ou mobilidade reduzida nos
equipamentos e servios tursticos;
viabilizar a padronizao da simbologia que indica
nveis de acesso aos equipamentos tursticos. Exemplo:
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Projeto
PrAcesso;
buscar parcerias. Exemplo: Ministrio de Cincia e
Tecnologia Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientfico e Tecnolgico CNPq e outros organismos
de apoio pesquisa tecnolgica;
c)
sensibilizao da sociedade:
Recomendaes Operacionais
desenvolver campanhas orientadoras e educativas que
ajudem a disseminar o conceito de acessibilidade junto
aos setores da sociedade civil para a formao de uma
sociedade mais solidria, educada e vigilante do
desenvolvimento com incluso;
viabilizar a insero do tema Acessibilidade no
ensino (prioritariamente nos cursos de engenharia,
arquitetura, design e turismo) e na pesquisa
universitria, para formao de profissionais capazes
de utilizar o espao com competncia dentro do
conceito de acessibilidade;
estabelecer parcerias. Exemplo:Ministrio da
Educao para a realizao desse trabalho.
351
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
d)
sensibilizao dos gestores pblicos e do arranjo
produtivo do turismo:
Recomendaes Operacionais
352
viabilizar estratgias de sensibilizao sobre
acessibilidade cumprimento das normas e leis
pertinentes ao assunto para os atores do setor pblico
e privado que atuam no turismo;
organizar e difundir experincias de trabalhos de
acessibilidade. Exemplos: Semana de Valorizao da
Pessoa com Deficincia do Senado Federal, Projeto
de Acessibilidade Fsica, de Comunicao, de
Informao e Ajudas Tcnicas do Senado Federal,
Hotel Vila Bela de Gramado;
organizar e disponibilizar informaes sobre as
necessidades das diferentes deficincias e as
tecnologias existentes para atende-las divulgando-as
para toda a cadeia produtiva do turismo e rgos
pblicos;
buscar parceria com as instituies que tratam dos
interesses das pessoascom deficincia e mobilidade
reduzida e com entidades pblicas e privadas do setor
turstico.
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
e)
incentivo ao arranjo produtivo do turismo:
Recomendaes Operacionais
viabilizar qualificao profissional, com oferta de
cursos que contenham contedos especficos a esse
fim;
realizar premiao para equipamentos e servios
tursticos que contemplem os requisitos da
acessibilidade. Uma idia: Prmio Acessibilidade,
vinculado a um programa de premiao nacional, a
ser definido pelo Ministrio do Turismo;
estabelecer parcerias. Exemplo: Sistema S;
f)
acompanhamento das condies de acessibilidade nos
equipamentos e servios tursticos:
Recomendaes Operacionais
criar grupos interdisciplinares de vistoria em
equipamentos e servios tursticos;
viabilizar a fiscalizao integrada pelos rgos
competentes;
criar um nmero de telefone 0800 Uma idia:
INFOTUR INCLUSIVO.
buscar parceria com instituies e conselhos afins
(CONFEA, CREAS e outros Ministrios);
353
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
2. Como promover a insero das pessoas com
deficincia ou com mobilidade reduzida pela
prestao de servios tursticos?
O Ministrio do Turismo, para promover a insero das
pessoas com deficincia e com mobilidade reduzida por
meio da prestao de servios tursticos, no mbito de suas
competncias, dever buscar parcerias para institucionalizar
programas, projetos e aes para:
a)
garantia das condies adequadas de circulao, de
comunicao e de relacionamento com as pessoas
para o desempenho de atividades rotineiras de
trabalho com autonomia e segurana;
b)
conhecimento e divulgao do mercado de trabalho
do turismo:
Recomendaes Operacionais
levantar, organizar e difundir os tipos e potencial de
trabalhos gerados pela atividade de turismo que
podem ser exercidos e oferecidos s pessoas
portadoras de deficincia e mobilidade reduzida.
c)
sensibilizao e incentivo do arranjo produtivo do
turismo para a insero de pessoas portadoras de
deficincia e mobilidade reduzida no mercado de
trabalho:
Recomendaes Operacionais
354
realizar campanhas publicitrias utilizando imagem inclusiva
dos portadores de deficincia e mobilidade reduzida
realizando trabalhos e servios da atividade turstica;
intermediar a colocao de pessoas com deficincia
e mobilidade reduzida no mercado de trabalho do
turismo;
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
viabilizar financiamento para a criao de associaes
de empresas;
organizar e disponibilizar informaes sobre o
Decreto 3.298/99 e Lei 7.853/89 que tratam da
insero das pessoas deficientes no mercado de
trabalho;
promover palestras, seminrios sobre o tema. Exemplo:
Encontros dos Fruns e Conselhos de Turismo;
realizar premiaes vinculadas a um programa de
premiao nacional. Uma idia: Selo de Incluso
Laboral para Pessoas com Deficincia; Prmio
Turismo Receptivo Inclusivo;
incentivar as empresas de turismo para participao
no
Programa
Primeiro
Emprego,
com
acompanhamento do desenvolvimento nas
oportunidades de estgio;
estabelecer parcerias. Exemplo: Ministrio do
Trabalho e Ministrio do Desenvolvimento Social;
d)
incentivo qualificao para o trabalho:
Recomendaes Operacionais
viabilizar cursos para formao de professores e
instrutores qualificados para treinar pessoas com
deficincia para prestao de servios de turismo;
viabilizar iniciativas de desenvolvimento,
aperfeioamento e valorizao de talentos e
habilidades das pessoas com deficincia ou
mobilidade reduzida para atuao em eventos
artsticos e culturais e para participao na produo
associada ao turismo;
355
Dilogos do Turismo uma viagem de incluso
viabilizar bolsas de estudos;
viabilizar cursos para desenvolvimento de habilidades
especficas, necessrias ao mercado turstico;
estabelecer parcerias. Exemplo: Ministrio da
Educao e Instituies de Ensino.
.
e)
intermediao e colocao de pessoas portadoras de
deficincia e mobilidade reduzida no mercado de
trabalho do turismo:
Recomendaes Operacionais
acompanhar a colocao da pessoa com deficincia,
em parceria com os Conselhos que cuidam das pessoas
portadoras de deficincia.
f)
viabilizao de oportunidades de negcios para
pessoas portadoras de deficincia e mobilidade
reduzida:
Recomendaes Operacionais
356
viabilizar financiamento de microcrdito para a
criao de associaes de pessoas portadoras de
deficincia.
Você também pode gostar
- PGR 2 R Construtora - IconhaDocumento41 páginasPGR 2 R Construtora - IconhaGiovani Lapa100% (6)
- Educação e sustentabilidade: Princípios e valores para a formação de educadoresNo EverandEducação e sustentabilidade: Princípios e valores para a formação de educadoresNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Protocolo Gestacao GemelarDocumento9 páginasProtocolo Gestacao GemelarMicheleWerneckAinda não há avaliações
- Jean-Claude Bernardet ( ) O Que É CinemaDocumento59 páginasJean-Claude Bernardet ( ) O Que É CinemaMatheus Gomes da Costa100% (1)
- AULA 00 - BiossegurançaDocumento54 páginasAULA 00 - BiossegurançaAntonio3940Ainda não há avaliações
- Ebook-Turismo Gastronômico para Gestores de TuDocumento206 páginasEbook-Turismo Gastronômico para Gestores de TuGiliard SousaAinda não há avaliações
- Turismo CulturalDocumento103 páginasTurismo CulturalNatália Silva100% (5)
- Artrose Na Medicina Tradicional Chinesa e Terapias ComplementaresDocumento198 páginasArtrose Na Medicina Tradicional Chinesa e Terapias Complementareselizabetepeixoto75% (4)
- Calendario AgrícolaDocumento3 páginasCalendario AgrícolaRui MorêdaAinda não há avaliações
- Turismo RuralDocumento72 páginasTurismo RuralPaulo PoftAinda não há avaliações
- Livro - Turismo Cultural PDFDocumento49 páginasLivro - Turismo Cultural PDFKamila Brant de Araújo100% (1)
- Serviço Social: Agendas Educacionais E ProfissionaisNo EverandServiço Social: Agendas Educacionais E ProfissionaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Introducao A Regionalizacao Do Turismo 1Documento76 páginasIntroducao A Regionalizacao Do Turismo 1FRANCISCO FELIXAinda não há avaliações
- Museus e TurismoDocumento80 páginasMuseus e TurismoRonaldo AndréAinda não há avaliações
- Turismo de Base ComunitariaDocumento508 páginasTurismo de Base ComunitariaAmav100% (2)
- Territorialidades Do TurismoNo EverandTerritorialidades Do TurismoAinda não há avaliações
- Livro Turismo de Base ComunitáriaDocumento508 páginasLivro Turismo de Base ComunitáriaThatiana Carvalho100% (1)
- Sistema de Monitoria e Avaliacao Do ProgramaDocumento116 páginasSistema de Monitoria e Avaliacao Do ProgramaBelem Vasco100% (1)
- Turismo de Aventura Versxo Final IMPRESSxODocumento80 páginasTurismo de Aventura Versxo Final IMPRESSxOMarielly NobreAinda não há avaliações
- Diálogos sociais em turismo: elementos hegemônicos e contra hegemônicosNo EverandDiálogos sociais em turismo: elementos hegemônicos e contra hegemônicosAinda não há avaliações
- Turismo e SustentabilidadeDocumento132 páginasTurismo e SustentabilidadeLysmar FreitasAinda não há avaliações
- Turismo, Território E Patrimônio Histórico-culturalNo EverandTurismo, Território E Patrimônio Histórico-culturalAinda não há avaliações
- Manual Da Canon EOS 80DDocumento526 páginasManual Da Canon EOS 80DVinicius Correa100% (1)
- Geografia 5° AnoDocumento3 páginasGeografia 5° AnoMaely PethOvick75% (4)
- Geografia e Cartografia para o TurismoDocumento78 páginasGeografia e Cartografia para o TurismoTalita Vieira100% (1)
- VOLUME I Introducao A Uma Viagem de InclusaoDocumento48 páginasVOLUME I Introducao A Uma Viagem de InclusaorlbogoAinda não há avaliações
- Turismo Accesible BrasilDocumento50 páginasTurismo Accesible BrasilCeciliaAinda não há avaliações
- MTur - Turismo CulturalDocumento64 páginasMTur - Turismo CulturalCharly_2009Ainda não há avaliações
- Turismodeaventuraorientaesbsicasmtur2008 110916204820 Phpapp02Documento80 páginasTurismodeaventuraorientaesbsicasmtur2008 110916204820 Phpapp02Sérgio CarvalhoAinda não há avaliações
- Turismo Accesible Brasil Aventura PDFDocumento90 páginasTurismo Accesible Brasil Aventura PDFCeciliaAinda não há avaliações
- 2024 Ebook Turismo-Responsavel VFDocumento202 páginas2024 Ebook Turismo-Responsavel VFmauriane dos santos costaAinda não há avaliações
- Turismo e CulturalDocumento62 páginasTurismo e CulturalAgustina Daniela PorrozAinda não há avaliações
- Cartilha Bem - Atender - No - Turismo - Acessivel IIIDocumento60 páginasCartilha Bem - Atender - No - Turismo - Acessivel IIIDylson Ramos Bessa JuniorAinda não há avaliações
- Implementacao - Do - Plano - Estrategico - Turismo RegionalDocumento68 páginasImplementacao - Do - Plano - Estrategico - Turismo RegionalisabellavargasAinda não há avaliações
- Ecoturismo Versxo Final IMPRESSxODocumento96 páginasEcoturismo Versxo Final IMPRESSxOFabiana FaxinaAinda não há avaliações
- ManualMetodolgicoExperinciasdoBrasilOriginal MTur e UFFDocumento78 páginasManualMetodolgicoExperinciasdoBrasilOriginal MTur e UFFcaveracovardeAinda não há avaliações
- MINISTÉRIO DO TURISMO - Turismo e Sustentabilidade PDFDocumento128 páginasMINISTÉRIO DO TURISMO - Turismo e Sustentabilidade PDFbritaturAinda não há avaliações
- Turismo Rural Versxo Final IMPRESSxODocumento72 páginasTurismo Rural Versxo Final IMPRESSxOChi AraAinda não há avaliações
- Ecoturismo - Orientacoes Basicas MturDocumento96 páginasEcoturismo - Orientacoes Basicas MturExdras FilhoAinda não há avaliações
- Manual de Producao Associada Ao TurismoDocumento116 páginasManual de Producao Associada Ao TurismoAntonio LucianoAinda não há avaliações
- Mini GlossárioDocumento17 páginasMini Glossáriojacques_anapaulaAinda não há avaliações
- Turismo NáuticoDocumento70 páginasTurismo NáuticoNatália SilvaAinda não há avaliações
- Garupa Livro Turismo Indigena Modos de FazerDocumento139 páginasGarupa Livro Turismo Indigena Modos de FazerAlessandro PiazzaAinda não há avaliações
- Nota de Aula 11 Turismo ERU 380Documento12 páginasNota de Aula 11 Turismo ERU 380Marcelo RomarcoAinda não há avaliações
- A Natureza E O Patrimônio Na Produção Do Lugar TurísticoNo EverandA Natureza E O Patrimônio Na Produção Do Lugar TurísticoAinda não há avaliações
- Melhores Práticas para Os Serviços TurísticosDocumento70 páginasMelhores Práticas para Os Serviços TurísticosFernanda Costa da SilvaAinda não há avaliações
- Turismo de AventuraDocumento80 páginasTurismo de AventuraNatália SilvaAinda não há avaliações
- Urupema Fic Roteiros PPC 773Documento9 páginasUrupema Fic Roteiros PPC 773Andre Gustavo da SilvaAinda não há avaliações
- 48-Manuscrito Do Livro-1244-2-10-20220215Documento247 páginas48-Manuscrito Do Livro-1244-2-10-20220215Eva MacarioAinda não há avaliações
- Fundamento Geografico 08Documento6 páginasFundamento Geografico 08Maria EdesiaAinda não há avaliações
- Sociologia Do Turismo ResumoDocumento79 páginasSociologia Do Turismo ResumoRenataAinda não há avaliações
- Psicologia Do Turismo - LivroDocumento49 páginasPsicologia Do Turismo - LivroLeonardo Finelli100% (1)
- Manual de Guia de TurismoDocumento14 páginasManual de Guia de Turismodennys0111Ainda não há avaliações
- TurismoDocumento508 páginasTurismoJuan Warley83% (6)
- MANUAL MOD ANIMAÇÃO CULTURALfinalDocumento24 páginasMANUAL MOD ANIMAÇÃO CULTURALfinalJoão Ferraz CunhaAinda não há avaliações
- Turismo Internacional: Fluxos, Destinos E Integração RegionalNo EverandTurismo Internacional: Fluxos, Destinos E Integração RegionalAinda não há avaliações
- Turismo Em Salvador No Século Xxi: Gestão Integrada Público/privadaNo EverandTurismo Em Salvador No Século Xxi: Gestão Integrada Público/privadaAinda não há avaliações
- É fazendo que se aprende: Um estudo sobre os oficineiros engajados nas políticas de cultura e assistência da Prefeitura Municipal de Porto AlegreNo EverandÉ fazendo que se aprende: Um estudo sobre os oficineiros engajados nas políticas de cultura e assistência da Prefeitura Municipal de Porto AlegreAinda não há avaliações
- Turismo Em Salvador No Século Xxi - Gestão Publico/privadaNo EverandTurismo Em Salvador No Século Xxi - Gestão Publico/privadaAinda não há avaliações
- Serviço social e política social:: debates contemporâneosNo EverandServiço social e política social:: debates contemporâneosAinda não há avaliações
- Administração, Turismo E DesenvolvimentoNo EverandAdministração, Turismo E DesenvolvimentoAinda não há avaliações
- Políticas Públicas: Agendas SetoriaisNo EverandPolíticas Públicas: Agendas SetoriaisAinda não há avaliações
- Olhares Sobre O Território Fluminense: Cultura, Educação, Meio Ambiente E EconomiaNo EverandOlhares Sobre O Território Fluminense: Cultura, Educação, Meio Ambiente E EconomiaAinda não há avaliações
- Blue and Grey Illustrative Creative Mind MapDocumento1 páginaBlue and Grey Illustrative Creative Mind MapMaria BeatrizAinda não há avaliações
- Ação de CobrançaDocumento4 páginasAção de CobrançaFlávia FurlanAinda não há avaliações
- Curso 191428 Aula 09 0b0a SimplificadoDocumento100 páginasCurso 191428 Aula 09 0b0a SimplificadoSerei ServidorAinda não há avaliações
- Cidades Hostis - Lucia Leitão - A Terra É RedondaDocumento10 páginasCidades Hostis - Lucia Leitão - A Terra É RedondaPaulo SoaresAinda não há avaliações
- Norisk 23Documento40 páginasNorisk 23Ivan CarlosAinda não há avaliações
- Estudo para Casais - PerdoarDocumento2 páginasEstudo para Casais - PerdoarfranciscamenesesAinda não há avaliações
- Arquitetura Oficial No Brasil ColonialDocumento2 páginasArquitetura Oficial No Brasil ColonialUsieli RodriguesAinda não há avaliações
- Penguard TopcoatDocumento5 páginasPenguard TopcoatDatabook GaleaoAinda não há avaliações
- 9-NORMALIZAÇÃO - ImobiliáriaDocumento2 páginas9-NORMALIZAÇÃO - ImobiliáriaBruna CoelhoAinda não há avaliações
- Gologia Na Região de BarueDocumento6 páginasGologia Na Região de BarueVercinio Teodoro VtbAinda não há avaliações
- ImpressaoDocumento24 páginasImpressaogedivan santanaAinda não há avaliações
- Vocabulario Ortografico Da Lingua Portuguesa 1943Documento9 páginasVocabulario Ortografico Da Lingua Portuguesa 1943LILIAN NOLASCO HOFFMANN IRALAAinda não há avaliações
- Manual FujitsuDocumento36 páginasManual FujitsuMiguel OliveiraAinda não há avaliações
- Apresentação TDM J.CarvalhoDocumento63 páginasApresentação TDM J.CarvalhoElidio MunliaAinda não há avaliações
- Pilar-Parede IE Novembro 2006Documento27 páginasPilar-Parede IE Novembro 2006civ08145Ainda não há avaliações
- Questao Objetiva PCP - 20220919-1036Documento2 páginasQuestao Objetiva PCP - 20220919-1036Pagamentos NataliaAinda não há avaliações
- Como Fazer A Obra de Deus - EDIR MACEDODocumento78 páginasComo Fazer A Obra de Deus - EDIR MACEDOHudson RodriguesAinda não há avaliações
- Soldado: Secretaria de Estado de Polícia Militar - Sepm - Qpmp-0Documento15 páginasSoldado: Secretaria de Estado de Polícia Militar - Sepm - Qpmp-0Ebilly PimentaAinda não há avaliações
- Portaria IPHAN Nº 135 - 20.nov.2023 - DOUDocumento10 páginasPortaria IPHAN Nº 135 - 20.nov.2023 - DOUJuscelino Alves de OliveiraAinda não há avaliações
- Materiais de Construção - Materiais CerâmicosDocumento35 páginasMateriais de Construção - Materiais CerâmicosEngenharia CivilAinda não há avaliações
- Determinação Organoclorado em AlimentoDocumento7 páginasDeterminação Organoclorado em AlimentoLetícia MenezesAinda não há avaliações
- Setor Comercial Subsetores:: - Gerencia Comercial - Expedição - Atendimento - TesourariaDocumento1 páginaSetor Comercial Subsetores:: - Gerencia Comercial - Expedição - Atendimento - TesourariaBeatrizAinda não há avaliações