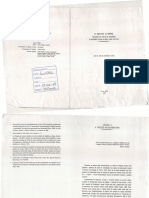Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Querem Matar Os Ultimos Charruas
Querem Matar Os Ultimos Charruas
Enviado por
ritablDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Querem Matar Os Ultimos Charruas
Querem Matar Os Ultimos Charruas
Enviado por
ritablDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol.
22(1): 37-59 (2011)
Querem matar
os ltimos Charruas:
Sofrimento social e luta
dos indgenas que vivem nas cidades
Ceres Gomes Vctora1
Antonio Leite Ruas-Neto2
Resumo
Partindo da Antropologia do Corpo e da Sade, este artigo debate
o sofrimento social corporificado nas experincias de um grupo
de indgenas que vive em Porto Alegre, Brasil. Tomamos dados de
pesquisa etnogrfica desenvolvida entre indgenas da etnia
Charrua, que, em busca dos seus direitos constitucionais, tm se
envolvido numa rede burocrtica de polticas e instituies governamentais as quais, por um lado, deveriam amenizar as suas dificuldades, por outro, significam um permanente foco de tenses
causadoras de enorme sofrimento. Conclumos, atravs da anlise
1
Antroploga, professora do Departamento Antropologia e do Sul e do Programa de
Ps-Graduao em Antropologia Social da UFRGS. Bolsista CAPES, processo n
5043/9-3 (Estgio de Ps-Doutorado no Departamento de Antropologia da Johns
Hopkins University).
Sanitarista da Escola de Sade Pblica do Rio Grande do Sul e professor de Gesto
Ambiental na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
do que chamamos de paradoxo da gua como vida e morte, que o
sofrimento social um fenmeno amplo que implica numa sobreposio de tempos e no colapso das esferas individual e coletiva e
das dimenses pblica e privada da vida.
Palavras-chave: Antropologia da Sade; sofrimento social; povos
indgenas; indgenas nas cidades; Porto Alegre.
Abstract
This study uses a Medical Anthropological approach to discuss
the social suffering embodied in the experiences of a group of
indigenous people living in Porto Alegre, Brazil. We draw on data
from ethnographic research carried out among the Charruas, who
have become entangled in a bureaucratic web of politics and
governmental institutions in the pursuit of constitutional rights.
We argue that, on one hand, contact with these institutions is an
important resource to alleviate their difficulties, while on the other
hand, it is a permanent source of intensified suffering. We conclude that social suffering is a wide phenomenon that brings
together past, present and future. The expression they want to
kill the last Charruas implies the confluence of those times, of
individual and social spheres and of public and private dimensions
of life.
Keywords: Medical Anthropology; social suffering; indigenous
peoples; indigenous peoples in cities; Porto Alegre.
38
Querem matar os ltimos Charruas
Introduo3
Partindo da perspectiva da Antropologia do Corpo e da Sade,
este artigo visa a debater o sofrimento social relacionado situao dos
indgenas que vivem nas cidades (Green 1998). Para realizar essa reflexo, tomamos dados de pesquisa etnogrfica desenvolvida entre indgenas da etnia Charrua, enfocando o seu contato com instituies e com
agentes sociais e polticos implicados na relao especfica desses indgenas com a vida em Porto Alegre.
Em um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul em 2008, foram contabilizados e pesquisados 609 indgenas das
etnias Kaingang, Guarani e Charrua em Porto Alegre. Este estudo apresenta, entre outras coisas, dados sobre as relaes dos indgenas com a
sociedade mais ampla, enfocando tambm as instituies com as quais
eles tm contato. Entre elas, esto: a Fundao Nacional de Sade
(FUNASA); Organizaes Religiosas; a Associao Sulina de Crdito e
Assistncia Rural (EMATER); o Governo Federal; a Fundao Nacional
do ndio (FUNAI); o Conselho Estadual dos Povos Indgenas (CEPI); o
Ministrio Pblico; e as Universidades (Batista da Silva et al. 2008:111116). Mesmo que o foco do estudo no seja, especificamente, as instituies, podem-se perceber a importncia e o carter ambguo da relao
dos indgenas com as mesmas.
O que pretendemos argumentar no presente artigo que, se por
um lado essas instituies se apresentam como recursos importantes na
busca pelo cumprimento das leis que protegem os direitos indgenas
terra, sade e ao bem estar, o que em princpio deveria amenizar as
dificuldades dos indgenas, por outro, significam um permanente foco de
tenses e dilemas, eles prprios causadores de enorme sofrimento. Estamos nos referindo aqui quilo que Das e Kleinman apontaram como os
efeitos das respostas burocrticas aos problemas humanos e como as
3
Agradecemos comunidade Charrua do Porto Alegre pelas contribuies para realizao dessa pesquisa, ao Departamento de Antropologia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e CAPES, que atravs de concesso de bolsa para estgio
ps-doutoral (processo 5043/09-3) no Departamento de Antropologia da Johns
Hopkins University, possibilitou a anlise de dados de pesquisa e a escrita deste
artigo.
39
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
aes institucionais podem aprofundar e tornar mais intratveis os problemas que eles procuram amenizar (Das & Kleinman 2001:2)
Nesse sentido, o estudo do sofrimento complexo e requer olhar
para alm do indivduo que sofre. De acordo com Kleinman e Kleinman,
temos que evitar essencializar, naturalizar ou sentimentalizar o sofrimento, para no corrermos o risco e diluir e despolitizar um problema
que tem suas origens e repercusses na relao indivduo-sociedade
(Kleinman & Kleinman 1997:2). Trata-se, na condio de pesquisadores,
de no simplific-lo, no banaliz-lo, nem perder de vista a sua multiplicidade. Desde as suas formas mais particulares4 como as doenas individuais at as mais coletivas5 como a sobrevivncia a catstrofes
polticas, sociais e/ou ambientais; das mais breves como males agudos
s mais prolongadas6 como traumas ou pobreza crnica o sofrimento, como uma categoria genrica, resiste a definies precisas (Farmer 1997). Nesse caso, a contribuio dos antroplogos tem sido, antes
que definir, adentrar os contextos do sofrimento e explicitar, da forma
mais abrangente possvel, as dinmicas da vida encompassadas pelas
situaes que causam sofrimento.
Assim, o estudo antropolgico do sofrimento social direcionado a
indgenas vai, no somente, enfocar a sade, a doena, a dor, o desamparo, a partir de seus significados culturais, mas dar uma nfase com4
Para um exemplo de forma particular de sofrimento, ver Bihel (2005), que acompanha a histria especfica de uma pessoa diagnosticada como portadora de distrbios psquicos e a sua dramtica trajetria por entre os servios psiquitricos do
SUS.
Refiro-me aqui a casos como os dos sobreviventes do Holocausto, refletidos por
Langer (1977), como o sofrimento coletivo de uma gerao de mulheres hibakusha
que vivem os efeitos tardios da radiao da bomba atmica sobre a procriao,
descrito por Todeschini (2001), entre outros.
Um caso de sofrimento prolongado relacionado pobreza crnica no Brasil pode
ser encontrado em Scheper-Hughes (1992), que toma a Zona da Mata Pernambucana como cenrio de confluncia de fatores polticos, sociais e econmicos e
suas implicaes sobre a subjetividade feminina. Talvez uma das formas mais reconhecidas de sofrimento prolongado seja o das doenas crnicas, mas em vez de
pensar isso como uma obviedade, Hay (2010) enfrenta o desafio de refletir sobre as
expectativas culturais e suas implicaes sobre a experincia de doenas mais ou
menos visveis na sociedade norte-americana.
40
Querem matar os ltimos Charruas
preenso das suas mltiplas inter-relaes com o mundo social, com
aquilo que estamos denominando como as polticas e economias da vida.
Isso pressupe a recusa da dissociao entre os domnios polticos e econmicos na prpria constituio cultural do sofrimento e condizente
com a proposta terica e metodolgica de implicar o estudo da sade, da
doena e da cura, culturalmente construdos e corporificados, com o
contexto social e poltico abrangente, utilizando a etnografia como uma
forma de adentrar essa complexidade. Essa proposta se justifica diante da
abrangncia das formas de sofrimento que se incorporam vida social e
so corporificadas em contato com ela e da inabilidade das instituies
polticas e sociais de lidarem com este fenmeno. Tambm porque o
sofrimento, em certo sentido, desafia as abordagens tradicionais de
conhecimento as quais, muitas vezes, acabam por fragmentar a experincia humana e dilu-la em uma srie de aspectos isolados que lhe destituem de significado e poder.
a partir desse quadro de referncia que debateremos o caso dos
Charruas que vivem em Porto Alegre. Tomaremos como exemplo o que
chamamos de paradoxo da gua como vida e morte para contextualizar
o sofrimento social e as categorias micas de discriminao e luta forjadas por essa experincia de ser indgena na urbanidade nos dias de hoje.
Metodologia
A pesquisa que deu origem a esse artigo foi realizada em Porto
Alegre, dentro dos princpios daquilo que tem sido conhecido como
etnografia da experincia (Bruner 1986). Essa modalidade de pesquisa
requer, alm do convvio prolongado com o contexto, o estabelecimento
de relaes prximas com os sujeitos da investigao e uma srie de processos de aproximao e distanciamento (fsico, afetivo e intelectual). A
ateno especial experincia no apenas um enfoque que desloca o
olhar das estruturas mais invisveis do pensamento e significao para o
cotidiano dos sujeitos e suas aes, mas uma tentativa de reter a complexidade, a incerteza e a ordinariedade do mundo da experincia
(Kleinman & Kleinman 1991:276). Um dos pontos principais da etnografia da experincia para esses autores est em atentar ao que est em
jogo (Kleinman & Kleinman 1991:2) no contexto etnogrfico, ao que
41
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
tem de mais relevante para as pessoas envolvidas em situaes especficas; compreender e trabalhar com as categorias da experincia-prxima
que advm de concepes nativas, sem nunca deixar de lado o que as
orienta e as produz.
Com isso, pretendemos nos empenhar em no cometer o mesmo
erro que ns, antroplogos, frequentemente acusamos os profissionais
de sade quando esses, em certas situaes profissionais, transformam
dramas sociais e polticos corporificados em indivduos, em categorias
diagnsticas, num processo de reconstruo do sofrimento contextual e
especfico em termos de uma doena que tem forma universal e descontextualizada. Essa ateno fundamental porque, como acadmicos,
tambm camos na armadilha da transformao profissional do sofrimento humano, seja na forma da exotizao dos sujeitos ou na negligncia em relao s suas vozes. A eticidade de um trabalho de pesquisa,
nesse caso, est vinculada ao expressar o que importante para os participantes e a traz-los para dentro do processo de pesquisa. No s falarmos sobre eles, mas falarmos em conjunto com eles.
Foi quando nos demos conta dos riscos da apropriao profissional do sofrimento que conseguimos compreender a relutncia da comunidade Charrua quanto aproximao de certos profissionais de sade,
antroplogos, historiadores, produtores de filmes que, mais cedo ou mais
tarde, so invariavelmente vistos como pessoas que no conseguem
compreender ou expressar as suas maneiras de se representar. Existe por
parte deles uma permanente desconfiana e total descontentamento com
as interpretaes que so feitas sobre o seu grupo, o que agora compreendemos como sendo o incmodo que sentem com a apropriao e
transformao profissional da sua experincia. No estamos certos se no
presente artigo conseguiremos escapar dessa armadilha, mas esse o
grande desafio nesse momento.
O trabalho desenvolvido junto aos Charruas, desde o seu incio,
teve caractersticas de pesquisa e extenso. No apenas nos aproximamos
deles para compreender as suas formas de vida, como acompanhamos o
processo de construo da sua aldeia nas mais diversas instncias. Entre
abril de 2009 e maro de 2010, convivemos intensiva e cotidianamente
com eles. Realizamos aproximadamente trinta e cinco visitas Aldeia
Polidoro; conversamos diariamente por telefone com membros do
grupo; realizamos oito visitas aos Ministrios Pblicos Federal e Esta42
Querem matar os ltimos Charruas
dual; quatro visitas Caixa Econmica Federal; oito visitas ao Departamento Municipal de Habitao; sete visitas Cmara de Vereadores;
tivemos vrios encontros em seus locais de comrcio de artesanato e
fomos presena regular em eventos em que eles estavam representados.
Em muitas dessas ocasies, fomos chamados a falar em seu favor, sendo
acionada nossa condio de professores universitrios que conheciam a
sua histria e sua causa poltica.
Em alguns desses contextos etnogrficos, foram realizadas entrevistas gravadas em udio ou em vdeo com a Cacique e outros membros
do grupo e foram feitos registros fotogrficos de muitas situaes, como
festas de aniversrio, eventos e cenas do cotidiano. Todo esse material
em forma digital foi entregue ao grupo, armazenado e classificado no
computador da aldeia. Ns tambm mantivemos cpia desse material
com a autorizao do grupo. Alm disso, foram feitos registros de dados
em dirio de campo, gravao de voz das reunies e audincias em
rgos pblicos e recolhidos documentos referentes aos processos do
grupo, aps consentimento dos participantes.
Os procedimentos ticos que acompanham essa pesquisa merecem
uma reflexo, tendo em vista a preocupao particular dos pesquisadores
com a adequao cultural dos modelos de consentimento. Nesse ponto,
importa referir que um dos primeiros contatos com o grupo se deu a
partir da solicitao dos Charruas para que comparecssemos a uma
audincia no Ministrio Pblico Federal na qual eles iniciaram um
processo judicial contra a circulao e comercializao de um filme que
havia sido feito sobre eles, contestando uma srie de apropriaes culturais e de imagem que eles consideraram indevidas. Um dos pontos crticos dessa polmica estava materializado num termo de consentimento
assinado pela Cacique do grupo, que, na verdade, analfabeta. Constatamos, assim, aquilo que muitos antroplogos vm chamando a ateno
sobre a complexidade das questes de tica no desenvolvimento de pesquisa em grupos indgenas e/ou no escolarizados, ao sermos chamados
a ajud-los a deslegitimar um termo de consentimento supostamente
livre e esclarecido (Victora et al. 2004). A partir da, ficou clara a necessidade de produzirmos uma forma mais culturalmente adequada no que se
refere s garantias de procedimentos ticos da pesquisa realizada. Divisamos, ento, um modelo de construo coletiva de um processo de consentimento que durou o ano inteiro do trabalho de campo para ser
43
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
produzido entre o grupo e os pesquisadores. Ao final do perodo do trabalho de campo, foram registrados em vdeo os consentimentos dos
membros adultos e autnomos do grupo, os quais se encontram arquivados tanto com os pesquisadores como com os participantes da pesquisa.
Os Charruas na Histria e a histria dos Charruas
luta e discriminao7
Os ndios Charruas, grupo tnico que at o sculo XIX habitava
em grande nmero o Uruguai, partes da Argentina e do Rio Grande do
Sul (Brasil), ficou conhecido na Histria por sua presena guerreira,
brava e altiva, adjetivos no raramente utilizados para descrever indgenas nos (poucos) livros didticos em que aparecem. Entretanto, talvez
o que tenha de mais particular na histria dos Charruas no seja tanto a
sua presena, mas as condies do seu suposto desaparecimento como
povo. Referimo-nos aqui a dois episdios dramticos, primeiramente o
assassinato de quarenta Charruas e o aprisionamento de tantos outros
por parte do governo uruguaio, que se encontrava sob o comando de
Barnab Rivera, na sangrenta Batalha de Salsipuedes, em 1831 (Becker
2002).
O segundo episdio, ocorrido pouco tempo depois, o caso de
quatro ndios Charrua Senaque, Tacuab, Vaymaca Peru e Guyanusa
que, capturados na Batalha de Salsipuedes, foram levados a Paris, para
exposio num zoolgico humano, em 1833, onde trs teriam morrido
e um eventualmente escapado, levando consigo um beb que nascera de
44
Ao longo deste artigo, a palavra histria ser empregada com inicial maiscula
quando se tratar da Histria registrada livros didticos sobre o caso dos Charruas,
ou a disciplina de Histria. O uso da mesma palavra com inicial minscula se dar
nas referncias tambm ao que relatado a respeito deles ou por eles, mas no
constam necessariamente de uma Historiografia Oficial. Este esclarecimento se faz
necessrio apenas na medida em que est para alm do escopo desse trabalho discutir as vrias maneiras que o termo histria vem sendo utilizado dentro da
disciplina especfica.
Querem matar os ltimos Charruas
Guyanusa em condies subumanas, em praa pblica. Estes ficaram
conhecidos na Histria como os ltimos Charruas.
Nos ltimos anos, o episdio dos assim chamados ltimos
Charruas tem sido tambm reproduzido em documentrios, artigos de
jornal e vdeo para a televiso, que embora no se comprometam com a
totalidade do evento histrico, remetam-se ao extermnio dessa etnia8.
Mas, se por um lado isso materializa de forma exemplar a extino de
grupos indgenas no trgico encontro do Velho e do Novo Mundo, por
outro, coloca o problema de como conjugar o extermnio dos Charruas
na Histria com a histria dos seus descendentes. No caso particular
dessa comunidade que vive em Porto Alegre, observamos o desafio cotidiano de se comprovarem indgenas na contramo da Histria de extermnio do povo Charrua.
Cremos ser por esse motivo que Acuab, a Cacique Charrua do Rio
Grande do Sul, sempre demonstrou profundo interesse de que a histria
do seu povo fosse contada por eles mesmos. Ela apresenta grande insatisfao quando v algum acadmico falar dos Charruas e protesta veementemente contra aquilo que considera impropriedades dos relatos. As
vezes que perguntamos como ela prpria contaria essa histria, ela fala
sobre o tempo que sua famlia vivia em ocas, na regio das Misses;
sobre seus parentes que ainda moram l; sobre xamanismo e o uso de
plantas medicinais que aprendera com seus pais. Reconta pacientemente
o que j tem relatado para outros antroplogos como Batista da Silva
(2008) e, na sua incrvel perseverana, deixa registrado no nosso gravador:
Quem t falando Acuab, a primeira mulher Cacica dos Charrua
do Rio Grande do Sul [...] Quando eu sa de So Miguel eu tinha
oito anos. L a gente vivia em duas ocas, Tinha a oca grande e a
oca menor, onde ia o fogo. Conhecemos a cidade de Santo ngelo
quando ns viemos para os armazns trocar mel de abelha por
alguma coisa de comer nos armazm de So Miguel das Misses.
Era muito longe o nosso mato onde ficava a nossa oca. [No
caminho] a gente ficava embaixo da carroa. Mas no cabia todos,
8
Refiro-me aqui, entre outros, ao episdio Os ltimos Charruas, da srie Histrias
Extraordinrias, produzida pela RBS/TV (RBS 2010), e reportagem Los zoolgicos
humanos de la Repblica colonial francesa (Bancel et al 2000).
45
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
a a gente armava uns galhos assim de folha e botava assim do
lado. Tu bota bastante desse lado e desse outro, tanto desse lado e
tanto do outro. E ns comia milho cru pra sobreviver.
dessa maneira que ela inicia o relato sobre a vida desse grupo de
descendentes dos Charruas que, em nove de novembro de 2007, obteve
reconhecimento como povo indgena brasileiro em ato solene na Cmara
Municipal de Porto Alegre. Segundo o arquelogo Srgio Leite, que produziu o laudo que possibilitou o posterior processo de reconhecimento
oficial a esse grupo indgena, a origem Charrua dos exemplares de cultura
material que eles possuam e lhe apresentaram indiscutvel (Leite 2008).
Essas pessoas, que tm uma mesma origem familiar, vivem atualmente
em Porto Alegre, em uma extenso de terra concedida pelo governo
municipal para a construo da primeira aldeia Charrua do Rio Grande
do Sul, a Aldeia Polidoro.
Mas a conquista da terra, para eles, foi apenas uma etapa da luta
por uma vida que consideram digna. Embora reconheam o salto qualitativo que a obteno dessa terra indgena significou para sobrevivncia
fsica e cultural do grupo, eles apelam incansavelmente junto aos rgos
governamentais federal, estadual e municipal, pela melhoria da infraestrutura do local, onde existia originalmente apenas uma casa de tijolos, sem
gua encanada nem eletricidade regular para abrigar o que, na sua conta,
somavam-se 40 indivduos aparentados entre si. Nos ltimos dois anos,
pequenos melhoramentos foram realizados para acomodar melhor os
seis ncleos familiares que vivem atualmente no espao da aldeia.
Vale ressaltar que, antes de se mudarem para essa propriedade,
esse grupo viveu por quarenta anos em dois outros locais em Porto
Alegre. fazendo referncia a esse tempo da vida que a Cacique Acuab
refora o argumento de que a espera pela melhoria das condies de vida
na Aldeia Polidoro no pode mais se prolongar. Nas suas palavras:
Quem no sabe, acha que a nossa luta comeou no Campo
Grande. Mas isso no verdade. A nossa luta comeou h
quarenta anos no Morro da Cruz com uma irm desaparecida.
Meus pais mortos l. A luta comeou de anos...
A luta , sem dvida, uma das questes mais importantes para
eles, o que est em jogo o tempo todo e, nesse sentido, uma etno46
Querem matar os ltimos Charruas
grafia da experincia no poderia deixar de atentar para ela. Compreendemos isso mais claramente desde uma situao etnogrfica, na qual fizemos um exerccio enfocando as conquistas que a comunidade j havia
alcanado e projetamos coletivamente os desafios ainda por vir para a
melhoria da vida na aldeia. Vimos que, para eles, as conquistas so de
fato as lutas. Por exemplo, a conquista no foi apenas o reconhecimento
deles como povo indgena, e sim a luta pelo reconhecimento; no foi a
terra indgena recebida do Governo Municipal, e sim a luta pela terra; e
assim por diante: a luta pela horta, a luta pelos animais foram referidas
como as conquistas maiores. Ao mesmo tempo, compreendemos que ela
era tambm o meio atravs do qual se conquistavam esses bens, o que
geraria novas lutas por novas conquistas, num processo vital infinito,
prprio do modo de ser Charrua. Na gramtica do grupo, portanto, luta
ao mesmo tempo sujeito, verbo e objeto direto; incio, meio e fim.
Trata-se assim de uma luta que est claramente vinculada a sua
autopercepo como grupo e que aparece muitas vezes relacionada, de
formas diversas, discriminao, outro termo que define em grande
parte a relao deles com o resto do mundo. Os relatos a seguir tm
como objetivo expressar a dimenso da luta e da discriminao histrica
que so, no nosso entendimento, componentes fundamentais do sofrimento social do grupo. Num depoimento sobre perseguies por motivao tnica no seu passado, a Cacique comentou:
[...] Como s vezes tinha que correr e esperar eles [os fazendeiros]
revistar a nossa oca e depois que eles saam, a gente voltava. E
ficava meu pai sempre de guarda. Cuidando ns enquanto
dormamos. Teve uma vez, nas Misses, na oca, que ns todos
corremos. Eles estavam vindo at com tocha de fogo para
incendiar. [A gente] at viu eles gritando que iam matar os
Charrua. A meus pais pegaram os menores, a gente teve que
correr. Eles treinaram ns, desde bebezinhos pequeninhos...
treinaram ns a correr e subir as rvores. Eles ficaram de guarda
em baixo e viram quando eles [os fazendeiros] entraram com
fogo, com tocha de fogo acesa, eles ficaram brabos... queriam
matar ns, incendiados e ficaram brabos, como no [nos] acharam
ali. Eles saram para a estrada, com a tocha acesa, porque queriam
queimar ns junto com a oca... Meus pais tiravam guarda em
baixo da rvore. Se em ltimo caso matassem meus pais, eles iam
47
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
morrer em baixo da rvore. E os que estavam l em cima no era
pra gritar, nem chorar, nem nada. Era pra ficar quieto. Esse era o
treinamento deles para ns.
Importa ressaltar que o relato de perseguio de grupos indgenas
no exclusividade da histria dos Charruas, mas ao mesmo tempo
relevante notar como as perseguies so evocadas por eles em relao a
situaes de tenso com outros grupos e instituies, como a escola, a
vizinhana, a prpria FUNAI, a RBS/TV, Prefeitura, entre outros. Uma
das situaes mais ilustrativas dessa relao aparece no relato a seguir da
Cacique Acuab sobre o tempo que moraram no Morro da Cruz:
Que ns fomos muito discriminados tanto no Morro da Cruz. A
minha irm era bem escurinha, cabelo comprido, cara de ndia.
Eles chamavam ela ndia Charrua feia. Apedrejaram muito ela e
consumiram com ela, at nos dias de hoje no sabemos notcias.
J procuramos o Morro da Cruz inteiro. J acabou ela ficando
louca. De tanta discriminao ela parou no Hospcio. Ela ficou
muito doente, ela ficou internada no So Pedro... muito triste, a
discriminao. Ns somos Charrua muito discriminados pela
FUNAI, que se juntou com a RBS, que fez laudo dizendo que no
existe Charrua no Rio Grande do Sul; somos discriminados por
alguns Kaingangs, alguns Guaranis. Isso ai no d. Ns lutamos
quarenta anos, perdemos minha me no Morro da Cruz por
discriminao, nem deram assistncia. Tivemos acampados no
Campo Novo, por discriminao, mentiram que iam dar terra em
quinze dias, um ms, s deram porque ns lutamos com sangue...
a experincia de ocupar esse lugar no mundo, marcado por uma
discriminao histrica, que d forma e sentido ao sofrimento social do
grupo. Alguns autores, como Farmer, apontam que o sofrimento social
pode levar ao silncio e imobilidade (Farmer 1997). Outros enfocam as
alternativas de agenciamento utilizadas e sugerem como Das e Kleinman
que:
[...] Encontrar a sua voz na produo da sua histria, o refazer de
um mundo [...] [...] uma questo de ter condies de recontextualizar as narrativas de devastao e gerar novos contextos atra-
48
Querem matar os ltimos Charruas
vs dos quais a vida do dia-a-dia pode se tornar possvel (Das &
Kleinman 2001:6).
Em que pese a ressalva de que nem sempre as comunidades formadas por sofrimento, ou que viveram em sofrimento, consigam ter
sucesso na construo de novos contextos, nosso trabalho tem mostrado
que os Charruas que conhecemos recriam-se na luta. Nesse sentido, a
persistncia em contar a histria dos Charruas nas suas prprias vozes e,
mais do que tudo, recusar as verses acadmicas, cinematogrficas, mercadolgicas e estatais, fundamental na reconstruo do seu mundo ao
mesmo tempo simblico e material.
Sofrimento social, o contato com as instituies e os
efeitos das respostas burocrticas aos problemas
humanos
A ideia de polticas e economias da vida, como j referido anteriormente, parte do pressuposto de que as questes polticas e econmicas esto interligadas inexoravelmente e no podem ser dissociadas da
sade, da doena e do sofrimento, sugerindo assim a impossibilidade de
dissociao das dimenses pblicas e privadas da experincia. Um dos
dilemas importantes nesse contexto est muito claramente relacionado
com as instituies que devem dar apoio aos grupos indgenas. Estas
que, ao serem acionadas para solucionar problemas do dia a dia deles,
muitas vezes estabelecem uma relao burocrtica com os mesmos, em
direta oposio a uma relao direcionada e pessoalizada, como a
forma atravs da qual os Charruas parecem se conectar com tudo que os
cerca. Uma das situaes ilustrativas desse processo foi a demanda de
instalao de rede de gua na aldeia.
Na terra da Aldeia Polidoro, passa um crrego que desce pela
fora da gravidade de cerca de 200m de declive pela mata. a gua desse
crrego que chega at a aldeia por mangueiras e serve diretamente para
irrigar as plantas e consumo dos animais, bem como para abastecer a
caixa dgua funcional da aldeia. esta gua que utilizada para lavar
roupa e tambm para consumo humano. No sendo uma gua tratada,
49
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
sua colorao escura e seu gosto terroso, possuindo partculas visveis
e, eventualmente, invertebrados, como minhocas e insetos, o que a faz
inadequada para o consumo. Muitos relatos do grupo coletados ao longo
do trabalho de campo referem-se a esse problema da gua, o qual foi
denunciado em diferentes instncias, desde a Fundao Nacional de
Sade (FUNASA), rgo do Ministrio da Sade que naquela poca dava
ateno aos problemas de sade e saneamento indgena9, at os Ministrios Pblicos, Estadual e Federal, que acolhem e encaminham denncias
de violao de direitos humanos dos indgenas, entre outros. Entre as
atribuies da FUNASA, encontram-se aes de saneamento para o
atendimento a municpios com populao inferior a 50.000 habitantes e
em comunidades indgenas, quilombolas e especiais (Brasil, Ministrio
da Sade/Fundao Nacional da Sade).
Outros agentes pblicos estiveram ainda envolvidos numa trama
burocrtica que envolveu no s a FUNASA, mas tambm o Departamento Municipal de guas e Esgoto (DEMAE), a Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN), o Departamento Municipal de Direitos Humanos (DMDH), a Cmara de Vereadores do Porto Alegre, o
Ministrio Pblico Estadual (MPE) e Federal (MPF), alm de outros
agentes civis e religiosos. No se trata aqui de atribuir responsabilidades,
mas de mostrar a complexidade do sofrimento social em relao s diferentes instituies.
Ao longo do trabalho de campo, participamos junto com os
Charruas de pelo menos duas dezenas de reunies com funcionrios de
todos esses rgos pblicos em busca de uma soluo. Numa primeira
etapa desse processo, houve uma srie de tentativas de abordagem direta
FUNASA para soluo do problema da gua, que seria, na viso dos
9
50
Est fora do escopo desse artigo analisar as polticas de sade indgena que comearam a ser articuladas pelo Ministrio da Sade a partir de meados da dcada de
2000. A esse respeito sugiro a consulta de estudiosos do tema como Garnelo et al.
2003; Coimbra Jr. et al. 2003; Langdon & Dihel 2007; Langdon et al. 2006. Nesse
momento chamo a ateno apenas para o fato de que esse um problema complexo e que no momento da escrita deste artigo est se processando uma reorganizao nos rgos federais aos quais eram atribudas responsabilidades sobre as
questes indgenas, mais especificamente a FUNAI e a FUNASA. Como se trata de
um processo extremamente recente ainda no encontrei bibliografia disponvel
sobre as implicaes de tais mudanas.
Querem matar os ltimos Charruas
Charruas, a extenso da rede de gua at a aldeia. A FUNASA, por sua
vez, apegava-se ao fato de que no lhe cabia construir a rede de gua, e
props inicialmente o tratamento da gua da caixa com pastilhas de
hipoclorito de sdio, colocadas em recipientes de plstico antes de serem
disponibilizadas para ingesto. Esse processo, se sob a perspectiva
tcnica se apresentava como uma boa soluo, foi considerado incompatvel com a dinmica do dia-a-dia da aldeia, uma vez que envolve trabalhos sucessivos de colocao do produto no recipiente de gua j separada e a espera de 2 horas para que tenha efeito de descontaminao
antes de poder ser ingerida. Alm disso, a descontaminao no diminui
a colorao escura da gua, e altera ainda mais o gosto j distintivo da
mesma. Os procedimentos foram rapidamente abandonados pelos Membros da comunidade que, entre outras coisas, reclamavam da acidez da
gua e nos relatavam a piora dos sintomas da lcera de um dos Membros do grupo.
Novas reunies se sucederam para que novas solues fossem encontradas. A FUNASA props trs outras alternativas que no tiveram
sucesso. Uma delas foi a implantao de tratamento qumico da gua do
riacho, construindo uma miniestao de tratamento com mais de um
reservatrio e adio de produtos diretamente nos mesmos. Consistia, no
entanto, em obra demorada e incerta. A outra foi a de substituir a caixa
dgua antiga por duas outras novas, nas quais haveria a dispensa automtica de hipoclorito, a partir de pastilhas dissolvveis colocadas num
dispensador. Isto visava diminuir o problema da colocao das pastilhas
de hipoclorito no recipiente plstico domstico e eliminaria o perodo de
espera para ingesto da gua. Esta foi eventualmente adotada, mas no
resolveu o problema da aparncia barrenta e da ojeriza da comunidade
pela gua. A terceira foi a tentativa da FUNASA de enviar caminhes
pipa para aldeia, rejeitada enfaticamente pelo grupo, que referia uma srie
de problemas j conhecidos pela experincia de outras aldeias de Porto
Alegre, entre eles, a dificuldade de conduo da gua at um ponto de
fcil acesso comunidade e o desabastecimento peridico por problemas
de ordens diversas.
Aps vrios meses de negociaes, muitas vezes mediadas pelos
pesquisadores, e de tentativas frustradas de solues, os Charruas tomaram a deciso de somente aceitar a nica soluo que achavam adequada,
que era a extenso da rede at a aldeia, o que no parecia possvel at o
51
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
momento. Ocorre que o local onde se encontra a aldeia, nas proximidades da divisa de Porto Alegre com a cidade vizinha de Viamo, fica a
uma distncia de 1 km da rede de gua da CORSAN e 5 km daquela do
DEMAE. A FUNASA, assim, atribua a funo ao DEMAE, que embora reconhecesse sua competncia para a obra, alegava a maior distncia
da sua rede e sugeria que a extenso da rede fosse feita pela CORSAN.
Este rgo, por sua vez, contestava, pois mesmo reconhecendo a maior
proximidade da sua rede, trata-se de um rgo estadual que estaria legalmente desobrigado de atender demandas de competncia do Municpio
de Porto Alegre. Essa segunda etapa, portanto, ficou marcada por um
esforo evidente de autodesresponsabilizao dos rgos governamentais,
aumentando a dimenso de desamparo ao grupo.
Nesse momento crtico, no calor do fim do ano de 2009 e incio
do ano eleitoral de 2010, todos os membros da comunidade adoeceram,
um aps o outro, com sintomas de nusea, dores no corpo, vmitos e
diarreia. Recorreram vrias vezes a mdicos, foram receitados e ingeriram
muitos medicamentos, o que, segundo seus relatos, confirmava a sua suspeita de que a causa do adoecimento era de fato a gua. Muitas vezes
retornaram FUNASA para solicitar a compra dos remdios receitados
em novos encontros tensos, com funcionrios daquela instituio que
forneciam, alm dos remdios, comentrios maliciosos do tipo: mas
vocs gostam de remdio, hein?
Esse vazio, produzido paradoxalmente pelo excesso de agentes envolvidos na busca por uma soluo, naquele momento, abriu espao para
agentes religiosos que, imbudos da misso de fazer o bem, encontraram a comunidade literal e figurativamente sedenta e, literal e figurativamente, ofereceram gua. Num dos dias mais quentes de janeiro em Porto
Alegre, levaram trs bombonas da gua fresca e limpa. Nas nossas conversas e visitas, nos dias que se sucederam, os Charruas falavam-nos
entusiasmados da satisfao de beber uma gua de to boa qualidade.
Algo que lhes parecia simples e um direito humano bsico: gua pura
para beber. Alm dessa primeira doao de gua, os religiosos prometeram continuar substituindo as bombonas vazias, bastando uma ligao
a cobrar para o telefone celular deles, para que fossem levadas novas
cheias. Poucos dias depois, as primeiras foram consumidas, mas, apesar
dos repetidos telefonemas para os agentes religiosos, a gua no foi
novamente entregue, para imensa desiluso do grupo. Eles comentaram,
52
Querem matar os ltimos Charruas
naqueles dias, que os agentes religiosos acharam que a gua levada por
eles havia sido consumida muito rapidamente pelos Charruas. No
nosso objetivo adentrar na complexidade das relaes de grupos religiosos com os indgenas, apenas chamar a ateno para o fato de que o descumprimento do papel das instituies governamentais, nesse caso da
gua, abriu espao para a insero de outros agentes que fizeram aumentar ainda mais o sofrimento do grupo.
Embora no seja totalmente apropriado descrever os eventos
numa sequncia evolutiva, na medida em que muitas dessas situaes se
deram de forma simultnea, embora com temporalidades diferentes,
possvel divisar uma terceira etapa do processo ainda no incio de 2010.
Devido a apelos e presso dos Charruas e seu grupo de apoio feitos a
polticos do mbito municipal e estadual de diferentes partidos, funcionrios do Departamento Municipal de Direitos Humano (DMDH), o
Conselho Estadual dos Povos Indgenas (CEPI), entre outros rgos,
foram realizadas reunies conjuntas com representantes dos rgos citados, a fim de solucionar coletivamente o problema da gua da aldeia.
Nessas reunies, invariavelmente, eram feitas declaraes de compromisso com os indgenas, propostas de encaminhamentos de possveis
projetos e promessas de financiamento da FUNASA. Da autodesresponsabilizao, os rgos passaram para a ideia de responsabilidade de todos. Se
isso significou um progresso, difcil responder, pois agora alegavam a
natural morosidade de um processo como esse, que envolvia recursos
de um rgo, projeto de engenharia de outro, compra de material e execuo da obra de um terceiro, alm do fato de se tratar de um ano eleitoral, o que parecia servir de justificativa para tudo, mesmo muitos
meses antes dos prazos legais estabelecidos. Enquanto isso, vrios episdios de adoecimento continuavam acontecendo, um processo de corporificao do sofrimento que, ao ser atribudo a problema da gua, eram
recorrentemente relatados por membros da comunidade nas mesmas reunies, como vemos no exemplo abaixo:
[...] Enquanto isso tem uma criana gravssima, a Gabriela, pegou
infeco na bexiga daquela gua, pegou infeco no estmago,
acelerou muito o corao e ela parou no hospital entre a vida e a
morte. Depois ela deu alta. Depois baixou o Ianga - que o nome
Charrua dele Ianga - uma criana Charrua de cinco aninhos
53
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
parou em estado gravssimo, por causa da gua. Umas trs
semanas. Ns temos laudo, temos documento, temos como
provar para autoridades... O gurizinho botando fezes. At no dia
de hoje ele botando sangue... fezes com sangue. Mas o pior no
sangue nas fezes que vem pouquinho. O pior e depois que ele se
limpa. A que vem o sangue vivo no papel higinico, tipo cortado
por dentro. A gente t nervoso porque a gente no tem como ver
que tipo de ferimento porque por dentro...
Como se evidencia nessa fala, as crianas merecem sempre um
lugar de destaque nas referncias de sade, adoecimento e sobrevivncia
do grupo. A meno a rgos e fluidos vitais (estmago, corao, sangue), bem como o tempo de hospitalizao e a gravidade da condio,
atestam a dramaticidade que envolve o problema da gua. A referncia
ao nome Charrua do menino ele que , na verdade, o j definido prximo Cacique pode tambm atestar a relao do adoecimento individual com uma dimenso do sofrimento social do grupo, demonstrando a
interconexo das esferas individual e coletiva do grupo. Trata-se, em
certo sentido, de um paradoxo, pois se a gua vital por um lado, ela
tambm vista como potencialmente letal. uma ameaa invisvel, que no
relato acima adquire a forma abstrata de uma infeco, mas que possui
duas materialidades inquestionveis: o sangue do papel higinico e o
laudo mdico. Eles entendem ser uma doena que corta por dentro e
se angustiam por que no tem como ver.
Esse paradoxo da gua como vida e morte d sentido luta dos
Charruas naquele momento. A luta para serem reconhecidos como tendo
direito gua tratada passa pela luta para tornar visvel aquilo que no
est disponvel aos olhos. Numa entrevista, a Cacique comentou a contaminao da gua por elementos diversos e o empreendimento de tornlos visveis e, nesse sentido, crveis:
Ns registramos o que passou pela gua: uma ovelhinha; um
fazendeiro contou tambm que passou o rio da gua pegou um
chiqueiro inteiro do porco e levou tudo pra aquela gua que
estamos tomando; merda de gente; mijo de macaco em cima da
gua, que est viscoso...
54
Querem matar os ltimos Charruas
Nesse relato, observamos uma srie de elementos que so recorrentemente mencionados por eles, sejam os animais que circulam nas
redondezas, ovelhas, porcos ou bugios (primatas Alouatta presentes na
regio, muitas vezes referidos por eles como macacos), sejam humanos,
cujas presenas eles percebem atravs de vestgios, do tipo pegadas e
fezes depositadas nas proximidades do crrego, ou urina denunciada pela
aparncia viscosa da gua. Os vizinhos (fazendeiro) desempenham um
papel importante na disponibilizao de provas, na medida em que observam e relatam tudo o que lhes parece movimentos estranhos nas proximidades do crrego, alertando para possveis fontes de contaminao.
O caso dos dejetos do chiqueiro de porcos que adentraram a gua da
aldeia ilustrativo dessa situao, mas no o nico. Durante o trabalho
de campo observamos vrios outros agentes considerados perigosos.
Certa ocasio, um dos vizinhos alertou para o fato de que outro morador
dos arredores estava usando pesticidas na sua plantao e assegurou que
os produtos txicos teriam como destino desaguar no crrego que abastece a terra indgena. Nesse dia, no qual o grupo ficou muito abalado por
essa possibilidade, foi a primeira das muitas vezes que ouvimos a expresso que deu ttulo a esse artigo. Trata-se, para eles, que atribuem para si a
responsabilidade de serem, eles sim, os ltimos Charruas, de viver cotidianamente o paradoxo da vida e da morte. Como uma ameaa invisvel,
a gua contaminada tem o potencial de eliminar no apenas os indivduos, mas de exterminar, desta vez sim, uma etnia. Dessa maneira a invisibilidade e a potencial toxidade do produto, juntamente com a ameaa
histrica de extermnio, acrescenta grande dramaticidade ao problema da
gua. nesse sentido que o sofrimento social ganha maior significado.
Concluso
A ttulo de concluso, pode-se ressaltar que o sofrimento social,
embora seja originado precisamente no entrelaamento de relaes sociais e polticas de desfavorecimento histrico, ele vivido pelo grupo de
55
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
forma corporificada, por exemplo, as doenas causadas pela gua 10 em
um grande nmero de situaes prticas do dia-a-dia. E embora a frequncia e a intensidade dos infortnios lhes atinjam diretamente produzindo sofrimento, isso no significa que seja a soma dos infortnios que
d forma e sentido ao sofrimento social ao qual nos referimos. O sofrimento social um fenmeno mais amplo, que perpassa o tempo e
carrega consigo a histria para dentro do presente. Assim, a expresso
frequentemente usada por eles, querem matar os ltimos Charruas,
implica nessa condensao dos tempos passado, presente e futuro, das
esferas individual e coletiva, das dimenses pblica e privada da vida.
Nesse sentido, a conquista da gua que se deu finalmente em
meados de 2010, quando a CORSAN estendeu a rede de gua at a
aldeia foi saldada com alegria pelos Charruas num primeiro instante.
Mas logo a seguir, eles perceberam que essa gua encanada tambm tinha
algum gosto, algum cheiro e, por vezes, alguma colorao desagradvel, e
atualmente eles lutam para melhorar a qualidade da gua que foi instalada. Resta para ns, diante disso, voltar reflexo sobre a ideia de que
conquista, na verdade, a luta, como se essa fosse a nica forma de
lidar com a permanente ameaa que sentem, que recaia sobre a vida daqueles que tomaram para si a responsabilidade de serem os ltimos
Charruas.
Bibliografia
BANCEL, Nicolas; BLANCHARD, Pascal; LEMAIRE, Sandrine. 2000. Los
zoolgicos humanos de la repblica colonial francesa. Edicin Cono Sur,
14: 22-4. (www.insumisos.com/diplo/NODE/2444.HTM; acesso em
11/03/2011).
10
56
Algumas semelhanas com o caso de descrito podem ser encontradas no estudo de
Ennis-McMillan (2001) sobre uma forma de adoecimento descrito como sofrer da
gua em uma comunidade no Mxico.
Querem matar os ltimos Charruas
BATISTA DA SILVA, Sergio. 2008. Sociocosmologias indgenas no espao
metropolitano de Porto Alegre. In GEHLEN, Ivaldo; SILVA, Marta
Borba; SANTOS, Simone Ritta dos (eds.): Diversidade e Proteo Social:
estudos quanti-qualitativos das populaes de Porto Alegre, pp. 93-109. Porto
Alegre: Century.
__________; TEMPAS. Mrtin Csar; MACHADO, Maria Paula et al. 2008.
Coletivos Indgenas em Porto Alegre e Regies Limtrofes. In GEHLEN, Ivaldo; SILVA, Marta Borba; SANTOS, Simone Ritta dos (eds.):
Diversidade e Proteo Social: estudos quanti-qualitativos das populaes de Porto
Alegre, pp.111-66. Porto Alegre: Century.
BECKER, tala Irene Basile. 2002. Os ndios Charrua e Minuano na Antiga Banda
Oriental do Uruguai. So Leopoldo: Editora Unisinos.
BIEHL, Joo. 2005. Vita: Life in a Zone of Social Abandonment. Berkeley: University of California Press.
BRASIL. 2011. Ministrio da Sade. Fundao Nacional da Sade.
(www.funasa.gov.br/internet/SanPromSau.asp; acesso em 11/03/2011).
BRUNER, Edward. 1986. Experience and Its Expressions. In TURNER,
Victor; BRUNER, Edward (eds.): The Anthropology of Experience. Illinois:
Illini Books.
COIMBRA JR, Carlos; SANTOS, Ricardo Ventura; ESCOBAR, Ana Lcia
(eds.). 2003. Epidemiologia e Sade dos Povos Indgenas no Brasil. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ.
DAS, Veena; KLEINMAN, Arthur. 2001. Introduction. In DAS, Veena;
KLEINMAN, Arthur; LOCK, Margareth et al. (eds.): Remaking the World:
violence, social suffering and recovery, pp. 1-30. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
ENNIS-MCMILLAN, Michael. 2001. Suffering from Water: Social Origins of
Bodily Distress in a Mexican Community. Medical Anthropology Quarterly,
15(3):368-90.
FARMER, Paul. 1997. On Suffering and Structural Violence: A View from
below. In KLEINMAN, Arthur; DAS, Veena; LOCK, Margareth (eds.):
Social Suffering, pp. 261-84. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
57
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
GARNELO, Luiza; MACEDO, Guilherme; BRANDO, Luis Carlos. 2003.
Os Povos Indgenas e a Construo das Polticas de Sade no Brasil. Braslia:
Organizao Pan-Americana da Sade.
GREEN, Linda. 1998. Lived Lives and Social Suffering: Problems and Concerns in Medical Anthropology. Medical Anthropology Quarterly, 12(1): 3-7.
HAY, Cameron. 2010. Suffering in a Productive World: Chronic Illness, Visibility, and the Space beyond Agency. American Ethnologist, 37(2):259-74.
KLEINMAN, Arthur & KLEINMAN, Joan. 1991. Suffering and its Professional Transformation: Toward and Ethnography of Interpersonal Experience. Culture, Medicine and Psychiatry, 15(3):275-301.
__________. 1997. The Appeal of Experience: The Dismay of Images. Cultural Appropriations of Suffering in Our Times. In KLEINMAN,
Arthur; DAS, Veena; LOCK, Margareth (eds.): Social Suffering, pp.1-24.
Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
LANGDON, Esther Jean & DIHEL, Eliana. 2007. Participao e autonomia
nos espaos interculturais de sade indgena: reflexes a partir do sul do
Brasil. Revista Sade e Sociedade, 16(2):19-36.
LANGDON, Esther Jean; DIHEL, Eliana; WIIK, Flvio; DIAS-SCOPEL,
Raquel. 2006. A participao dos Agentes Indgenas de Sade nos servios de ateno sade: a experincia em Santa Catarina, Brasil. Cadernos
de Sade Pblica, 22(12): 2637-46.
LANGER, Lawrence. 1977. The Alarmed Vision: Social Suffering and the
Holocaust Atrocity. In KLEINMAN, Arthur; DAS, Veena; LOCK, Margareth (eds.): Social Suffering, pp. 47-66. Berkeley, Los Angeles: University
of California Press.
LEITE, Srgio. 2008. Relatrio Charrua: cada vez mais vivos. Porto Alegre:
Museu Antropolgico do Rio Grande do Sul.
RAMPHELE, Mamphele. 1997. The Political Widowhood in South Africa: The
Embodiment of Ambiguity. In KLEINMAN, Arthur; DAS, Veena;
LOCK, Margareth (eds.): Social Suffering, pp. 99-118. Berkeley, Los
Angeles: University of California Press.
RBS/TV. 2010. Histrias Extraordinrias. Episdio: Os ltimos Charruas.
(www.youtube.com/watch?v=Z0bonoBzask; acesso em 10/03/2011).
SCHEPER-HUGHES, Nancy. 1992. Death Without Weeping. Berkeley: University of California Press.
58
Querem matar os ltimos Charruas
TODESCHINI, Maya. 2001. The Bombs Womb? Women and the Atom
Bomb. In DAS, Veena; KLEINMAN, Arthur; LOCK, Margareth; et alli.
(eds.): Remaking the World: violence, social suffering and recovery, pp. 102-156.
Berkeley, Los Angeles e London: University of California Press.
VICTORA, Ceres; OLIVEN, Ruben; ORO, Ari; MACIEL, Maria Eunice
(eds.). 2004. Antropologia e tica: o debate atual no Brasil. Niteri: EDUFF.
Recebido em maro de 2011
Aprovado para publicao em junho de 2011
59
Revista ANTHROPOLGICAS, ano 15, vol. 22(1), 2011
60
Você também pode gostar
- CHUVA Marcia Regina Romeiro Os Arquitetos Da Memoria Sociogenese Das Praticas de Preservacao Do Patrimonio Cultural No Brasil Libre PDFDocumento53 páginasCHUVA Marcia Regina Romeiro Os Arquitetos Da Memoria Sociogenese Das Praticas de Preservacao Do Patrimonio Cultural No Brasil Libre PDFElinildo Marinho Lima100% (2)
- Mediação E Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) : Entre Pensamentos E Práticas DocentesDocumento13 páginasMediação E Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) : Entre Pensamentos E Práticas DocentesAdjokè MatosAinda não há avaliações
- Apostila de Processo ColetivoDocumento79 páginasApostila de Processo ColetivoBloodeathAinda não há avaliações
- Teoria Geral Dos Recursos - Resumo para A ProvaDocumento11 páginasTeoria Geral Dos Recursos - Resumo para A ProvaSonia SousaAinda não há avaliações
- Mutatio Libelli e Emendatio LibelliDocumento3 páginasMutatio Libelli e Emendatio LibelliVitorHug0Ainda não há avaliações
- GRINOVER Ada Pellegrini. Arbitragem e Litisconsórcio NecessárioDocumento63 páginasGRINOVER Ada Pellegrini. Arbitragem e Litisconsórcio NecessárioMarcus Paulo RöderAinda não há avaliações
- Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito DaDocumento5 páginasExcelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito DaOtávio LimaAinda não há avaliações
- Impugnação À Penhora e AvaliaçãoDocumento4 páginasImpugnação À Penhora e AvaliaçãoJamesDalton3910Ainda não há avaliações
- Direito Economico e Estado Como Produtor de Bens e ServicosDocumento17 páginasDireito Economico e Estado Como Produtor de Bens e ServicosSergio Alfredo Macore100% (1)
- 100 Questões - Regimento Interno TRT 23Documento26 páginas100 Questões - Regimento Interno TRT 23Ana Caroline WichmannAinda não há avaliações
- Juris TrabalhoDocumento10 páginasJuris TrabalhoJhonatan Figueiredo CardosoAinda não há avaliações
- Impugnação A Contestação - AymorreeDocumento9 páginasImpugnação A Contestação - AymorreeAnonymous T1R768f6aAinda não há avaliações
- Reconsideração de Despacho - David Musse SantosDocumento8 páginasReconsideração de Despacho - David Musse SantosThiago DamascenoAinda não há avaliações
- Cultura e Ethos PolicialDocumento3 páginasCultura e Ethos PolicialRafael MarquesAinda não há avaliações
- Tcu Ata 0 N 2016 5 PDFDocumento725 páginasTcu Ata 0 N 2016 5 PDFMarceloVardanegaAinda não há avaliações
- BERNARDES (2010) - O Método de Pesquisa Na Psicologia Histórico-CulturalDocumento17 páginasBERNARDES (2010) - O Método de Pesquisa Na Psicologia Histórico-CulturalJoão HorrAinda não há avaliações
- Quadro Legal Constituicao Sociedades Mocambique PDFDocumento63 páginasQuadro Legal Constituicao Sociedades Mocambique PDFAmojee Hassan SidatAinda não há avaliações
- ARTIGO - Gisele Citadino - Poder Judiciário, Ativismo Judiciário e DemocraciaDocumento9 páginasARTIGO - Gisele Citadino - Poder Judiciário, Ativismo Judiciário e DemocraciaCristian WittmannAinda não há avaliações
- Contestação - Fraude Desconto de Valores Do Benef-Sem Contrato - EdivaldoDocumento38 páginasContestação - Fraude Desconto de Valores Do Benef-Sem Contrato - EdivaldoGilmar NúnsAinda não há avaliações
- Regimento Jefferson Péres 25-11Documento77 páginasRegimento Jefferson Péres 25-11Fabricio Mota CamposAinda não há avaliações
- JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - Uma - Abordagem - CriticaDocumento19 páginasJUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - Uma - Abordagem - Criticaclaytonmcastro100% (1)
- Apostila - Prática Processual Penal - CARLOS BARROSDocumento41 páginasApostila - Prática Processual Penal - CARLOS BARROSJuliandresonPimentelAinda não há avaliações
- A Certidão Negativa de Débitos TrabalhistasDocumento5 páginasA Certidão Negativa de Débitos Trabalhistasantoniomarcos_wm803Ainda não há avaliações
- Educação Da Formação Humana À Construção Do Sujeito ÉticoDocumento27 páginasEducação Da Formação Humana À Construção Do Sujeito ÉticoÍtalo LimaAinda não há avaliações
- Acao Revisional Regulamentacao VisitasDocumento24 páginasAcao Revisional Regulamentacao Visitasedsonmortari3063Ainda não há avaliações
- Edital PGE - GO - EsquematizadoDocumento9 páginasEdital PGE - GO - EsquematizadonadiaAinda não há avaliações
- 159 Questões Sobre Ação Penal Com GabaritoDocumento63 páginas159 Questões Sobre Ação Penal Com GabaritoAlames Fabian75% (8)
- Modelo de APELAÇÃO para MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS Fixados de Forma IrrisóriaDocumento5 páginasModelo de APELAÇÃO para MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS Fixados de Forma Irrisóriaviviane.alvesAinda não há avaliações
- Resposta A AcusacaoDocumento5 páginasResposta A AcusacaoFrancion FerreiraAinda não há avaliações