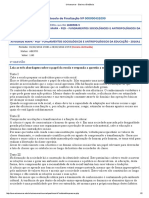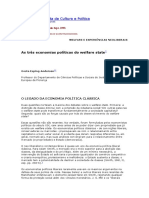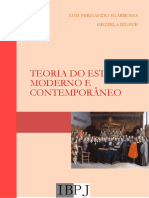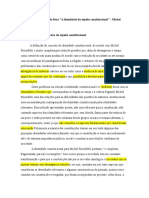Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Estética e Política
Estética e Política
Enviado por
LaripunkDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Estética e Política
Estética e Política
Enviado por
LaripunkDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
Interrelaes entre esttica e poltica:1
o papel das emoes, da experincia e da narrativa ficcional
ngela Cristina Salgueiro Marques2
Resumo: Partindo das consideraes feitas pelo filsofo Jacques Rancire acerca
da existncia de uma base esttica na atividade poltica, o objetivo deste artigo
mostrar como a poltica deve ser vista como prtica que no est unicamente
associada a um tipo de racionalidade cognitivo-instrumental, ou que desconsidera
outros regimes expressivos como a emoo, a experincia esttica e a narrativa
ficcional. O esttico coloca em relao, sempre conflitual, diferentes tipos de
formas comunicativas e modos de perceber o mundo. Pretende-se verificar como tal
atividade questionadora-mediadora da esttica pode articular-se ao mbito das
atividades polticas (mais informais e cotidianas, do que formais e administrativas)
de modo a questionar uma ordem injusta de distribuio de visibilidades e de vozes
entre os sujeitos sociais, permitindo que desigualdades que hoje so apagadas sob
um regime de invisibilidade consentida sejam descoladas do pano de fundo das
certezas inquestionveis do mundo da vida e desafiadas publicamente.
Palavras-Chave: Esttica. Poltica. Experincia. Mundo da Vida. Fico. Emoes.
1. Introduo
Em algumas de suas obras, o filsofo Jacques Rancire tenta estabelecer uma
articulao entre os conceitos de poltica e esttica por meio da descrio de uma
configurao sensvel da ordem poltica que define aquilo que visvel, dizvel e digno de
valor. Em La Msentente, ele afirma a existncia de uma lgica que distribui os corpos no
espao de sua invisibilidade ou visibilidade e coloca em concordncia os modos de ser, do
fazer e do dizer que convm a cada um (1995, p.50). Nessa lgica de adequao de funes,
espaos e maneiras de ser no haveria espao para o vazio. Por sua vez, uma outra lgica est
em constante desacordo com essa primeira: a poltica teria como funo primeira perturbar
esse arranjo, intervindo sobre o que definido como visvel e enuncivel. A esttica estaria
na base desse questionamento, uma vez que ela configura os espaos e fronteiras entre o
visvel e o invisvel, o enuncivel e o silencivel, o rudo e o discurso inteligvel. Ela seria,
1
Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho <Estticas da Comunicao>, do XIX Encontro da Comps, na
PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, em junho de 2010.
2
Professora do Programa de Ps-Graduao em Comunicao Social da Faculdade Csper Lbero (SP). E-mail:
angelasalgueiro@gmail.com.
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
em primeiro lugar, a libertao em relao s normas de representao e, em segundo lugar,
a constituio de um tipo de comunidade do sensvel que inclui aqueles que no so
includos, dando a ver um modo de existncia do sensvel deduzida da diviso entre partes
(1995, p.88).
Nesse sentido, Rancire no deseja ressaltar o processo de esteticizao da poltica
ligado s novas formas de apresentao de candidatos proporcionadas pelos meios de
comunicao, mas, ao invs disso, sua pretenso mostrar que a esttica o que coloca em
comunicao regimes separados de expresso (1995, p.88). Por isso, no existiria uma
separao radical entre formas argumentativas e poticas de comunicao. A poltica,
enquanto atividade que d a ver aquilo que no encontrava um lugar para ser visto e que
permite escutar como discurso aquilo que s era percebido como rudo (1995, p.53),
necessita de momentos poticos nos quais se formam novas linguagens que permitem a
redescrio da experincia comum, por meio de novas metforas que, mais tarde, podem
fazer parte do domnio das ferramentas lingusticas comuns e da racionalidade consensual
(Rancire, 1995, p.91).
Ao retomar, no livro Le Partage du Sensible, suas primeiras reflexes a respeito das
relaes entre esttica e poltica, Rancire tenta esclarecer melhor seu argumento por meio da
utilizao do conceito de partilha do sensvel. A poltica ento descrita como uma forma
de experincia problematizante que abrange, em seu cerne, uma relao conflituosa com um
sistema de evidncias sensveis que d a ver, ao mesmo tempo, a existncia de um comum e
as divises que nele definem os lugares e partes respectivas. (Rancire, 2000, p.12). Uma
diviso entre espaos, tempos e formas de atividade desempenhadas pelos sujeitos tem a
capacidade de definir como eles tomam parte no processo de repartio do visvel, do audvel
e do reconhecvel.
A partilha do sensvel d a ver quem pode tomar parte do comum em funo do que faz, do
tempo e do espao nas quais essa atividade exercida. Ter esta ou aquela ocupao define,
assim, as competncias ou incompetncias para o comum. Isso define o fato de ser ou no
visvel em um espao comum, dotado de palavra comum, etc. Existe, portanto, na base da
poltica, uma esttica que a define como forma de experincia (2000, p.13).
Entre as vrias consideraes feitas por Rancire, duas delas, especificamente, so
importantes para este artigo. A primeira associa-se a um entendimento da poltica como
atividade baseada no dissenso no entre opinies e interesses, mas no desentendimento entre
duas ordens sensveis distintas uma que prev espaos, ocupaes, papis e discursos para
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
os indivduos e grupos, e outra que pretende suspender essa pretensa harmonia que se
esconde sob a igualdade, revelando suas contingncias e permitindo a recriao das
linguagens e cdigos sensveis que a sustentam. E, a segunda, diz de uma compreenso da
esttica muito prxima daquela desenvolvida por Iser (2001), que define o esttico como algo
que possibilita, de um lado, a decomposio de um material dado, fazendo emergir algo que
at ento no podia ser visto. O papel possibilitador da esttica deriva de sua capacidade de
revirar distines e de imprimir coerncia quilo que discrepante (Iser, 2001, p.45). A
atividade modeladora-possibilitadora da esttica no pode ser processada nem por cognio,
emoo, percepo ou ideao sozinhos, mas somente pela interfuso de todos eles. (idem).
Assim, a interseo entre esttica e poltica d a ver a necessidade de uma passagem
entre as valoraes estticas e morais, caso contrrio, os sujeitos correm o risco de ficarem
cegos conexo abrangente da vida e do agir social no (Seel, 1990, p.14). Dito de outro
modo, discursos prticos que tm em vista a soluo de problemas de ordem moral no
podem abrir mo da potencialidade crtica e desafiadora da esttica, pois a forma
argumentativa desses discursos s se torna realmente lcida e transformadora quando se
mantm aberta a formas expressivas que abrigam o afeto e pathos (Guimares, 2002). Nesse
sentido, tanto o poltico quanto o esttico teriam entre suas funes importantes o
questionamento de lgicas, ordens, regras implcitas e a abertura de passagens nas fronteiras
existentes entre regimes expressivos distintos. Uma tarefa instigante consiste em identificar
alguns dos pontos que marcam essa interseo.
O propsito deste artigo verificar como tal atividade questionadora-mediadora da
esttica pode articular-se ao mbito das atividades polticas (mais informais e cotidianas, do
que formais e administrativas) de modo a nos fornecer outros entendimentos a respeito do
papel desempenhado a) pelas emoes na estruturao de perspectivas e argumentos; b) pela
experincia na atualizao dos pr-entendimentos compartilhados no mundo da vida; c) pela
narrativa ficcional na promoo de modos alternativos de comunicao poltica.
2. Emoes, sentimentos e racionalidades
Modos mais poticos, emotivos e sentimentais de expresso poderiam contribuir para
uma nova ressignificao dos discursos polticos e dos argumentos utilizados em debates
pblicos ou seriam eles prejudiciais formao racional das opinies e pontos de vista?
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
Crticos de Habermas vm insistentemente destacando seu posicionamento quanto ao
papel dos sentimentos e das emoes na esfera pblica de debate (Lunt; Pantti, 2007; Ingram,
1994). Determinadas afirmaes de Habermas do a entender que a dimenso emocional
tende a ser prejudicial deliberao e reflexo. A idia de colonizao da esfera pblica
pelos produtos da indstria cultural ancora-se no argumento de que produtos da cultura
popular so imprprios, e at nocivos, racionalidade, uma vez que as emoes promovidas
por tais produtos interferem negativamente na possibilidade da construo de argumentos
adequados justificao critica de pontos de vista em um debate coletivo (Habermas, 1987,
p.389).
Contudo, nessa mesma obra ele reconhece a simplificao de sua abordagem dos
meios de comunicao e de seus contedos, apontando-os como formas de mediao que
podem aliviar o fardo (risco e demanda) do mecanismo de coordenao da busca por
entendimento, uma vez que so formas generalizadas de comunicao, que no substituem o
alcance de entendimento atravs da linguagem mas os condensam, e restam atados aos
contextos do mundo da vida (1987, p.390).
Ainda que Habermas tenha revisto seu posicionamento a respeito do papel da mdia
na configurao de esferas pblicas de debate (ver Marques, 2008), as relaes entre
cognio e sentimentos permanecem marcadas por dicotomias e ambiguidades. Muitas de
suas afirmaes parecem sempre exaltar uma comunicao racional em detrimento de formas
alternativas de comunicao: Os atos de fala servem, em geral, coordenao, tornando
possvel um acordo racionalmente motivado entre vrios atores (Habermas, 2002, p.95).
Uma interpretao corrente para esse tipo de acordo a de que ele exclui os sentimentos e a
afetividade de processos de busca de entendimento acerca de algo no mundo, ainda que esse
algo sejam as prprias experincias dos sujeitos e no um objeto ou problema que diz da
coletividade e pede soluo concreta. (Barbosa, 2006, p.31).
Contudo, afirmaes feitas por Habermas em outros de seus textos desafiam as
crticas de que seu modelo deliberativo excluiria a priori formas mais expressivas de
comunicao. Nesse momentos, possvel verificar que Habermas no destitui a deliberao
das emoes e dos sentimentos. Seu receio contra a imposio de poder de uns sujeitos
sobre os outros, do uso da coero e da intimidao em processos dialgicos. Contra as
suposies mais arraigadas, ele assume a centralidade dos sentimentos em um debate pblico
a respeito de questes morais:
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
No iremos perseguir certos conflitos de ao como moralmente relevantes se no percebermos
que a integridade de uma pessoa est sendo ameaada ou violada. Os sentimentos formam a base
de nossa prpria percepo de que algo moral. Aquele que cego para o fenmeno moral no
possui o sensor para o sofrimento de uma criatura vulnervel que tem o direito de proteo para a
sua integridade fsica e sua identidade. E esse sensor est claramente relacionado com a simpatia e
a empatia (Habermas, 1990, p.112).
Por trs das crticas ao pensamento habermasiano, esconde-se uma dicotomizao
tradicional entre razo e emoo, que tem sido fortemente questionada por estudos recentes
acerca do papel desempenhado pelas emoes nas cincias sociais e polticas (Pagano e Huo,
2007; Marcus, 2000). Tais estudos questionam duas abordagens tericas do estudo das
emoes: a primeira derivada dos estudos sobre as massas e as multides, na qual as emoes
seriam respostas instintivas aos acontecimentos que se desdobram ao redor dos indivduos. A
segunda abordagem, de vertente psicolgica, ressalta que as emoes derivam de conflitos
individuais de personalidade e no de respostas automticas ao ambiente externo (Goodwin,
Jasper, Polletta, 2001). Calhoun (2001) argumenta que as emoes no obscurecem o
entendimento, no so restries razo, mas sim dinmicas que especificam os domnios da
ao nos quais nos movemos e nos posicionamos. Nesse sentido, as emoes no devem ser
vistas como meros fenmenos psicolgicos internos, mas como o resultado das interaes
sociais e entendimentos culturais.
Autores como Marcus (2000) e Jasper (1998) argumentam a favor de uma abordagem
sociolgica e cultural das emoes, alertando para o fato de que elas no podem ser
automaticamente contrapostas s dinmicas cognitivas, aos interesses racionais e s
atividades crtico-argumentativas. Segundo eles, as pessoas tm modos caractersticos de
relacionar as emoes cognio e percepo. Ao trazerem para os discursos as marcas de
subjetividade, os desejos, as histrias de vida, os testemunhos, elas tm maior chance de criar
conexes com os outros e com o mundo que as cerca. Criar conexes com os outros e se
imaginar no lugar deles (ideal role taking) algo que est relacionado a trs fatores
interligados: i) empatia; ii) uso de recursos persuasivos como a retrica; e iii) a ativao de
sentimentos morais.
A empatia relaciona-se habilidade de experimentar uma resposta emocional
congruente com o estado percebido em que se encontra a outra pessoa. Geralmente
considerada no contexto do sofrimento alheio, ela se expressa por meios de sentimentos de
simpatia, compaixo e solidariedade.
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
A empatia - que a habilidade de perceber um caminho que cruza as distncias culturais para
chegar at modos de vida ( primeira vista, estranhos e incompreensveis), predisposies para
reagir e interpretar perspectivas um pr-requisito emocional para assumir a perspectiva do
outro que requer que todos assumam o ponto de vista de todos os outros. (...) A empatia abre
os olhos de algum para a diferena, ou seja, a alteridade peculiar e inalienvel de uma
segunda pessoa. (Habermas, 1990, p.112).
O uso de formas persuasivas como a retrica tende a fazer com que sejamos capazes
de transcender nossas prprias experincias, para que possamos imaginar as situaes dos
outros:
A emoo pode e deve ter um papel respeitvel na esfera pblica (...). Um debate pblico
vibrante sobre questes importantes tambm requer a mobilizao de um grande nmero de
cidados. (...) Se a deliberao e a busca de razes pblicas requerem uma tentativa de ver as
coisas do ponto de vista do outro, ento as habilidades associadas com a retrica, por
exemplo, parecem ter uma grande parte no sucesso da deliberao. Uma retrica de sucesso
conhece verdadeiramente sua audincia, seus desejos, preocupaes, medos e interesses, e usa
esse conhecimento a fim de falar para o corao (Chambers, 2004, p.402 e 403).
De modo semelhante, os sentimentos morais auxiliam os sujeitos em interao a no
utilizar padres ticos (aqueles estruturados e seguidos nas experincias individuais ou de
grupos especficos) para avaliar e julgar questes que dizem da coletividade.
Sentimentos morais so uma reao a problemas que surgem no respeito mtuo entre sujeitos
ou em relaes interpessoais nas quais atores esto envolvidos. (...) Olhar para algo do ponto
de vista moral envolve no olhar para nosso prprio entendimento de ns mesmos e do mundo
como o padro por meio do qual podemos universalizar um modo de ao. Ao invs disso, o
ponto de vista moral envolve checar sua generabilidade do ponto de vista de todos os outros
(Habermas, 1990, p.112).
Assim como outros aspectos da cultura, como os princpios morais, as emoes so
moldadas pelas expectativas sociais, ao mesmo tempo em que emanam de personalidades
individuais. Elas dependem de tradies, de materiais culturais e de cognies e, justamente
por isso, permitem o aprendizado e a adaptao ao mundo no qual os sujeitos esto inseridos
o que no deixa de ser um tipo particular de racionalidade (Jasper, 1998). Por exemplo,
emoes especficas podem ser despertadas por enquadramentos, cdigos, narrativas e
discursos, oferecendo motivaes para a participao em debates, para a busca de outros
pontos de vista e de esclarecimentos e para a expresso das premissas que sustentam quadros
compartilhados de sentido.
Podemos afirmar, nesse sentido, que as emoes ajudam a eleger informaes
relevantes para a discusso de uma questo de interesse coletivo. Como acentuam Wolak at
al. (2003), as emoes no s regulam a ateno que as pessoas do ao mundo poltico como
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
tambm podem facilitar o engajamento dos indivduos em conversaes e debates polticos,
levando-os a abandonarem hbitos de desateno e encorajando consideraes racionais. Nas
palavras de Dewey (1980, p.94), a emoo seleciona aquilo que congruente e tinge com
seu matiz aquilo que selecionado, proporcionando unidade a materiais externamente
dspares e dessemelhantes, e s partes variadas da experinca. Sob esse vis, possvel
afirmar que as emoes apresentam o potencial de fazer surgir diferentes formas de
racionalidade, associadas a diferentes formas de justificao e legitimao das convices
dos sujeitos e de utilizao pragmtica dos saberes (Seel, 1990).
3. Diferentes formas de experincia e o mundo da vida
Por que o mundo da vida, espao privilegiado das experimentaes estticas e da
ecloso de seus potenciais subversivos seria apontado por Habermas como algo que levanta
um muro contra surpresas que provm da experincia (2002, p.93)?
Habermas conceitua o mundo da vida como sendo um conjunto de tradies,
embebidas em formas de vida culturais, entrelaadas com histrias de vida individuais
(1982, p.250). E ainda, como um conhecimento de fundo culturalmente transmitido, prreflexivamente garantido, intutitivamente disponvel a partir do qual os participantes da
comunicao elaboram suas interpretaes (1982, p.271). Assim, ele proporciona elementos
que auxiliam a demarcar a posio dos agentes, bem a definir as questes em debate. Essas s
se tornam problemticas quando as certezas do mundo da vida no aparecem mais como
algo com o que os interlocutores tem uma familiaridade intuitiva (Habermas, 1987, p.124).
Em sntese, Habermas atribui trs importantes funes ao mundo da vida. A primeira
diz respeito sua capacidade de proporcionar aos indivduos um horizonte para suas
interaes comunicativas. A segunda funo a de ser um reservatrio comum de recursos
interpretativos para que os atores possam tornar claros seus proferimentos acerca de algo no
mundo. E a terceira funo esclarece a ligao entre o mundo da vida e a ao comunicativa,
isto , de acordo com Habermas, o mundo da vida s pode se reproduzir atravs de aes
comunicativas em constante andamento. Ao mesmo tempo, o mundo da vida protege a ao
comunicativa contra os riscos de desentendimento entre os agentes.
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
Mas por que se busca evitar o desentendimento se ele o cerne mesmo da ao
comunicativa e dos debates pblicos? Quais so os riscos proporcionados pela experincia
que colocam em perigo a busca por entendimento entre sujeitos em comunicao?
H a percepo de que o mundo da vida seria, para esse autor, uma forma de proteger
os sujeitos contra os perigos da expresso emotiva. Mas, na verdade, Habermas no repudia
os sentimentos, uma vez que, se explicitados em termos lingusticos, podem assumir o papel
de razes, que entram nos discursos prticos para melhor esclarecer os termos e nuances do
tema em debate. Contudo, cabe perguntar que tipo de experincia seria prejudicial interao
crtico-racional entre os sujeitos. Habermas (2002, p.94) distingue entre duas formas de
experincia: a experincia externa com o mundo das coisas (abordagem direta das coisas e
acontecimentos) e a experincia intersubjetiva no mundo solidrio (relao interativa entre
pessoas de referncia em comunidades de cooperao ou de linguagem). A experincia
esttica seria externa, um tipo de experincia que, ao utilizar a linguagem potica, ganha o
status de experincia de descobrimento ou criao de mundos:
As experincias com nossa prpria natureza interior, com nosso corpo, necessidades e
sentimentos, so de tipo indireto; elas esto refletidas contra nossas experincias do mundo
exterior. E quando essas experincias ganham independncia como experincias estticas, os
consequentes trabalhos de uma arte autnoma assumem o papel de objetos que abrem nossos
olhos, provocam novas maneiras de ver as coisas, novas atitudes e novos modos de
comportamento. As experincias estticas no so formas da prtica cotidiana; elas no se
referem a habilidades cognitivo-instrumentais e a representaes morais, que se desenvolvem
no interior de processos intra-mundanos de aprendizagem; ao invs disso, elas esto
entrelaadas com a funo da linguagem que constitui e que descobre o mundo.(2002, p.94).
De acordo com Guimares (2006, p.22), Habermas quer erguer um muro contra a
esteticizao exacerbada da linguagem e, para isso, reivindica que as linguagens estticas de
abertura para o mundo (e criadoras de mundos) se legitimem no interior das regras da
atividade comunicacional. Assim, uma comunicao sem surpresas ou entraves deveria ser
aquela que pressupe e antecipa cada lance da interao trazido pela experincia. Assim,
medida que sentimentos so transpostos para obras de arte e que esta ganha autonomia, ela
tende a escapar aos fins prticos que regem a racionalidade das outras esferas no concerto da
racionalizao geral; ela se autonomiza na falta de e contra, e no com e a favor, e essas
esferas (economia, direito, Estado, moral), ao longo da histria, cada uma a seu modo,
empenharam-se para sufocar suas inclinaes desviantes na ordem de interesses normativos.
(Amey, 1991, p.133).
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
Essas inclinaes devem ser contidas pelo muro do mundo da vida responsvel pela
absoro dos riscos e pela proteo da retaguarda de um consenso de fundo (Habermas,
2002, p.86). O mundo da vida zela pela familiaridade dos fenmenos e acontecimentos, pois
s ela permite que os sujeitos em comunicao falem a mesma linguagem e compartilhem
uma comunidade lingustica. Para Rancire, essa concepo pressupe parceiros j
constitudos como tais, e formas discursivas de troca que implicam uma comunidade do
discurso. Mas o dissenso poltico no comporta parceiros j constitudos, nem mesmo uma
cena de discusso existente a priori. Um zelo exacerbado por aquilo que imediatamente
familiar e inquestionavelmente certo elimina o conflito e o desentendimento da comunicao,
fazendo com que a poisis, a capacidade metafrica de discernir pontos de semelhana entre
experincias heterogneas, de reunir uma diversidade de particulares sob idias unitrias, ou
ainda, de gerar novas aplicaes de uma unidade prvia (Ingram, 1994, p.65) seja
desprivilegiada em favor de condensaes e sedimentaes dos processos de entendimento,
de coordenao da ao e da socializao (Habermas, 2002, p.98).
O mundo da vida ergue-se como barreira de conteno ao surpreendente, s
contingncias, ao estranho. A inquietao atravs da experincia e da crtica parece que se
rompe de encontro a uma rocha profunda, ampla e inamovvel de modelos consentidos de
interpretao, de lealdades e prticas (Habermas, 2002, p.86). Experincias que no passam
pelo filtro de uma racionalizao que procura a justificao argumentativa de prticas luz
de procedimentos formais, no poderiam contribuir, na perspectiva habermasiana, para a
renovao social. Em primeiro lugar, porque elas no esto registradas em numa camada
mais profunda de auto-evidncias, certezas e familiaridade. Em segundo lugar, porque os
sujeitos em comunicao no partem sempre de um entendimento preliminar daquilo que est
em questo. Uma surpresa e suas contingncias adicionais bagunam os marcos
compartilhados de uma comunidade de linguagem pr-existente. Uma comunicao sem
entraves seria aquela na qual o risco de dissenso do entendimento lingustico, que est
espreita em todo lugar, recolhido, regulado e represado na prtica cotidiana(Habermas,
2002, p.86).
Parece, na maioria das vezes, que Habermas est em busca de um mecanismo capaz
de impedir que o inesperado e as emoes aflorem no processo discursivo intersubjetivo.
Lunt e Pantti (2007) asseveram que as armadilhas presentes na ordem expressiva da vida
cotidiana tenderiam a inibir a formao de condies necessrias para uma discusso racional
www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
crtica, levando Habermas a defender a lgica da conteno e da excluso de formas emotivas
de comunicao. Contudo, existem vrias ambiguidades no discurso habermasiano. Ao
mesmo tempo em que ele afirma que a experincia, sobretudo a experincia esttica, se
contrapem confiana estabelecida de antemo entre os membros de uma comunidade
lingustica vinculada pelo pano de fundo das certezas do mundo da vida, ele tambm ressalta
o carter subversivo, provocador de mudanas e atualizaes, que caracteriza a experincia:
que o risco de dissenso alimentado sempre a cada passo atravs de experincias. E
experincias quebram a rotina daquilo que auto-evidente, construindo uma fonte de
contingncias. Elas atravessam expectativas, correm contra os modos costumeiros de
percepo, desencadeiam surpresas, trazem coisas novas conscincia. Experincias so
sempre novas experincias e constituem um contrapeso confiana. (Habermas, 2002, p.85).
O mundo da vida rocha embarreirante e terreno no qual afloram as contingencies de
interaes que no podem ser inteiramente controladas e filtradas. Ele garante os marcos para
uma interao comunicativa a partir de convices de fundo no-problemticas e comuns.
Tais marcos tm origem num estoque de conhecimento vindo de experincias passadas e
presentes, e que pode antecipar as coisas que viro. Essa sedimentao do significado no
pode estar apartada da constante definio de situaes problemticas, nas quais os sujeitos,
ao experimentarem fenmenos at ento no-familiares, negociam, questionam, reiventam e
produzem novos significados. O mundo da vida , como diz Habermas, um emaranhado:
Nele os componentes se encontram liquefeitos, os quais so depois desdobrados em diferentes
categorias do saber, atravs de experincias problematizadoras. (...) Somente o ricochetear
desse olhar diferenciado permite ao pesquisador concluir que, no mbito do saber que serve de
pano de fundo, as convices acerca de algo esto ligadas com o entregar-se a algo, com o ser
tocado por algo, com o poder exercitar algo.(Habermas, 2002, p.93).
No seria a experincia esttica tambm da ordem da problematizao? As aes de
entregar-se a algo, ser tocado por algo e exercitar algo no deixam transparecer uma
experincia da ordem da fruio, da transformao e da produo de algo novo? A
experincia age, assim, como uma mediao que auxilia os sujeitos a terem acesso a um
entendimento produzido sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o mundo em que vivem.
Essa experincia pode ser chamada de esttica porque oferece ao sujeito uma forma de
experenciar uma conscincia de si e dos horizontes da sua sua prpria experincia do mundo
(Cruz, 1990, p.63). O que Habermas parece desconsiderar que o esttico no um intruso
na experincia, mas o desenvolvimento clarificado e intensificado de traos que pertencem
a toda experincia normalmente completa (Dewey, 1980, p.97). Nas palavras de Ingram, se
www.compos.org.br
10
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
a ao de cultivar esteticamente o carter, como parte mais substancial de nossa vida prtica,
merece a dignidade da razo, ento a anlise provisria da racionalidade feita por Habermas
ter de incorporar um momento compensatrio de reflexo esttica.(1994, p.65).
4. Fico, narrativa e poltica
Podem as narrativas ficcionais auxiliar os sujeitos a no s compreenderem as
questes de natureza poltica que os afetam, como tambm a melhor entenderem a si mesmos
e a estimul-los a considerar as perspectivas sustentadas por seus parceiros de interao?
Para Benjamin, a narrativa pode aprimorar nossa faculdade de intercambiar
experincias (1985, p.198), ampliando os horizontes de nosso entendimento daquilo que nos
cerca. A fico participa desse processo a partir do momento em que fornece aos sujeitos em
comunicao algumas representaes e narrativas que, ao serem interpretadas, auxiliam na
produo de novos sentidos e significados, alm de possibilitarem aos interlocutores maior
conhecimento de si mesmos e dos outros. Em outras palavras, elementos culturais e ficcionais
podem ser teis aos processos polticos na medida em que proporcionam entendimentos de
regras, normas e valores que atuam em nossas escolhas, julgamentos, aes e, sobretudo, em
nossas maneiras de ver, representar e reconhecer nossos semelhantes. Histrias no s
relatam as experincias dos protagonistas, mas tambm apresentam uma interpretao
particular de suas relaes com os outros (Young, 2000, p.76).
O real deve ser ficcionalizado para ser pensado. (...) Isso no significa dizer que tudo fico,
mas de constatar que a fico da idade esttica definiu modelos de conexo entre a
apresentao de fatos e formas de inteligibilidade que destrem a fronteira entre a razo dos
fatos e a razo da fico, e que esses modelos de conexo foram retomados pelos historiadores
e pelos analistas da realidade social (Rancire, 2000, p.61).
Whitebrook (1996) afirma que a narrativa ficcional proveniente de diferentes media
particularmente til aos sujeitos quando apresenta situaes nas quais o que est em jogo so:
i) as necessidades de se fazer escolhas; ii) as presses psicolgicas sobre indivduos
confrontados por estas situaes; iii) os dilemas morais envolvidos e as conseqncias da
escolha; e, finalmente, iv) os efeitos polticos das reaes a estes problemas.
Lunt e Pantti (2007) enfatizam que o modo como as mensagens de programas da
cultura popular so elaboradas pode ativar sentimentos capazes de motivar as pessoas a
aprender mais sobre os assuntos em pauta, a procurar e contrapor perspectivas diferentes das
suas e a conectar preocupaes pessoais com valores e crenas socialmente partilhadas.
www.compos.org.br
11
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
Gneros ficcionais populares podem promover um importante caminho para a competncia
cvica e para uma forma mais deliberativa de uso pragmtico dos conhecimentos experenciais
dos sujeitos, na medida em que promovem estmulos provocativos que os motivam a
considerar argumentos em competio e a agir de modo diferente de suas disposies e
modos ordinrios de julgar questes e problemas (Wolak et al., 2003; Marcus, 2000).
Vrios so os temas abordados em programas mediticos com potencial para despertar
um envolvimento da audincia para alm da mera empatia. No raro, possvel constatar a
emergncia de uma solidariedade com os no-iguais. Porm, muitas vezes a
superficialidade do tratamento narrativo impede um maior grau de envolvimento e
responsabilidade dos indivduos que ultrapassem a fina pelcula do entretenimento
individualista. Somado a isso, imagens dramticas podem ser manipuladas e exploradas com
a finalidade de mobilizar a simpatia ou a antipatia, a perpetuao ou o questionamento de
estigmas por meio da desconstruo de representaes criatalizadas (Marques, 2009).
Contudo, podemos pensar nos recursos discursivos e ficcionais dos media como elementos
integrantes de uma espcie de reabilitao da experincia ordinria, na medida em que
auxiliam a fazer com que questes ticas se ampliem para abranger outros distantes que,
embora remotos no espao e no tempo, podem fazer parte de uma sequncia interligada de
aes e suas consequncias (Thompson, 1998, p.226).
Uma das principais contribuies da fico para a atividade poltica a transposio
de sua estrutura narrativa para a organizao e estruturao de fenmenos sociais e
identitrios. A narrativa a forma que as pessoas encontram de ordenar suas histrias de
modo express-las relacionalmente diante dos outros, marcando assim, o pertencimento a
uma dada coletividade (Habermas, 1987, p.136). A vida social construda por meio do
exerccio incessante de produo de um enredo que conecta o privado ao pblico, o
particular ao coletivo. A narrativa tambm contribui para o entendimento de processos sociais
coletivos que envolvem a relao entre grupos e segmentos.
As narrativas fornecem elementos e entendimentos compartilhados para delinear um
conjunto de argumentos com premissas compartilhadas ou apelos para partilhar experincias
e valores. Frequentemente, nessas situaes, as pressuposies, experincias e valores de
alguns grupos dominam o discurso e aquele dos outros mal interpretado, desvalorizado ou
reconstrudo para se adequar aos paradigmas dominantes. Nessas situaes, argumentos e o
uso racional da linguagem faro pouco para conferir uma voz queles excludos do discurso
www.compos.org.br
12
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
(Young, 2000, p.71). Nesses casos, a narrativa assume funes polticas tais como: i)
alimentar o entendimento entre membros de uma comunidade poltica com diferentes
experincias ou pressuposies sobre o que importante; ii) dar voz a tipos de experincia e
suas particularidades, desafiando a viso hegemnica e propondo uma nova partilha do
sensvel; iii) fornecer esquemas de linguagem para expressar o sofrimento como injustia;
iv) estabelecer vnculos para que se possa compreender as experincias daqueles em
situaes sociais particulares, no compartilhadas por aqueles situados diferentemente
(Young, 2000, p.73); v) auxiliar a corrigir pr-entendimentos desvalorizantes e preconceitos.
5. Consideraes finais
Partindo das consideraes feitas por Rancire acerca da existncia de uma base
esttica na atividade poltica, a pretenso deste artigo era mostrar como a poltica deve ser
vista como prtica que no est unicamente associada a um tipo de racionalidade cognitivoinstrumental, ou que desconsidera outros regimes expressivos como a emoo, a experincia
esttica e a narrativa ficcional. prprio do esttico colocar em relao, sempre tensa e
conflitual, diferentes tipos de racionalidade e modos de perceber o mundo. Uma partilha do
sensvel que procura questionar uma ordem desigual de distribuio de visibilidades e de
vozes entre os sujeitos precisa considerar tambm como formas alternativas de comunicao
e expresso podem ser combinadas com os argumentos crtico-racionais de modo a permitir
que as desigualdades que hoje so apagadas sob um regime de invisibilidade consentida
sejam descoladas do pano de fundo das certezas inquestionveis do mundo da vida e
desafiadas publicamente. Alm disso, esse descolamento e a incorporao de formas estticas
de expresso comunicao intersubjetiva podem tambm permitir que vozes abafadas pelos
interesses daqueles que esto bem localizados no regime do sensvel, e que se manifestam
percepo sob a forma de um rudo ininteligvel, se transformem em discursos coerentes e
capazes de mobilizar empatia e sentimentos morais.
O efeito mais significativo dessa mistura entre os aspectos emotivos e cognitivos da
experincia deve-se capacidade da experincia esttica de renovar a linguagem com a qual
interpretamos nossos carecimentos, desejos, escolhas, valores, padres de percepo e de
orientao do mundo (Barbosa, 2006, p.34). A experincia esttica, vinculada a uma
situao e baseada em um conjunto de pressuposies compartilhadas, permite alargar e
www.compos.org.br
13
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
corrigir uma pr-compreenso dada, ou ainda, introduzir, de maneira provocadora, um ponto
de vista desviante (Guimares, 2006, p.16).
Algumas das perspectivas sustentadas por Habermas destoam dessa abordagem de
articulao entre a esttica e a poltica construda por Rancire. Para Habermas, formas de
interao determinadas expressivamente no formam estruturas que sejam racionalizveis.
Sob esse aspecto, a excluso de um domnio de aprendizado esttico por meio do qual as
pessoas podem desenvolver vises mais sofisticadas de seu bem-coletivo, sade e felicidade,
priva tambm a sociedade de um meio capaz de comunicar descobertas estticas adquiridas
no discurso racional (Ingram, 1994).
Referncias
AMEY, Claude. Experincia esttica e agir comunicativo: em torno de Habermas e a esttica, Novos Estudos
Cebrap, n.29, 1991, pp.131-147.
BARBOSA, Ricardo. Experincia Esttica e racionalidade comunicativa. In: GUIMARES, C.; LEAL, B.;
MENDONA, C. (orgs). Comunicao e Experincia Esttica. BH: UFMG, pp.27-49, 2006.
BENJAMIN, Walter. O narrador: consideraes sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Obras escolhidas.
Magia e tcnica, arte e poltica. So Paulo, Brasiliense, 1985, pp. 197-221.
CALHOUN, C. Putting emotions in their place. In: GOODWIN, Jeff; JASPER, James; POLLETTA,
Francesca (eds.). Passionate Politics: emotions and social movements. Chicago: University of Chicago Press,
2001, pp.45-57.
CHAMBERS, Simone. Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Deliberation, The
Journal of Political Philosophy, v.12, n.4, 2004, pp.389-410.
CRUZ, Maria Tereza. Experincia esttica e esteticizao da experincia, Revista de Comunicao e
Linguagens, 1990, pp.57-65.
DEWEY, John. A arte como experincia. In: Vida e obra. So Paulo: Abril Cultural (Os Pensadores), 1980.
GUIMARENS, Csar. O que ainda podemos esperar da experincia esttica?. In: GUIMARES, C.; LEAL,
B.; MENDONA, C. (orgs). Comunicao e Experincia Esttica. BH: UFMG, pp.117-150, 2006.
GUIMARES, Csar. A campo da comunicao e a experincia esttica. In:WEBER, M.; BENTZ, I.;
HOHLFELDT, A. (orgs.). Tenses e objetos da comunicao. Porto Alegre: Sulina, 2002, pp.83-100.
GOODWIN, J.; JASPER, J.; POLLETTA, F. (eds.). Passionate Politics: emotions and social movements.
Chicago: University of Chicago Press, 2001.
HABERMAS, J. The Theory of communicative action: vol.II Lifeworld and system: a critique of
functionalism reason. Boston: Beacon Press,1987.
HABERMAS, Jrgen. A Reply to my Critics. In: THOMPSON, John B.; HELD, David (eds.). Habermas:
critical debates. Cambridge: MIT Press, 1982, pp.219-283.
www.compos.org.br
14
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
HABERMAS, Jrgen (2002). Aes, atos de fala, interaes mediadas pela linguagem e mundo da vida. In:
Pensamento Ps-Metafsico: estudos filosficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
Jrgen Habermas: Morality, Society and Ethics an interview with Torben Hviid Nielsen, Acta Sociologica,
n.33, v.2, 1990, pp.93-114.
INGRAM, David. Habermas e a Dialtica da Razo. Trad. Srgio Bath. Braslia: Editora UnB, 1994.
ISER, Wolfgang. O ressurgimento da esttica. In: ROSENFIELD, Denis (org.). tica e Esttica. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2001, pp.35-49.
JASPER, James. The emotions of protest: affective and reactive emotions in and around social movements,
Sociological Forum, v.13, n.3, 1998, pp.397-424.
LUNT, Peter; PANTTI, Mervi. Popular culture and the pubic sphere: currents of feeling and social control in
talk shows and reality TV. In: BUTSCH, Richard. Media and public spheres. New York: Palgrave
Macmillan, 2007, pp.162-174.
MARCUS, George. Emotions in politics, Annual Review of Political Science, v.3, 2000, pp.221-250.
MARQUES, ngela. Os meios de comunicao na esfera pblica: novas perspectivas para as articulaes entre
diferentes arenas e atores, Lbero, v. 21, p. 23-36, 2008.
MARQUES, ngela. As relaes entre tica, moral e comunicao em trs mbitos da experincia
intersubjetiva, Logos, 31, 2009, p.51-63.
PAGANO, Sabrina; HUO, Yuen. The role of moral emotions in predicting support for political actions in postwar Iraq, Political Psychology, v.28, n.2, 2007, pp.227-255.
RANCIRE, Jacques. A Partilha do Sensvel: esttica e poltica. So Paulo: Ed.34, 2000.
RANCIRE, Jacques. La Msentente politique et philosophie. Paris: Galile,1995.
SEEL, Martin. Razo e Esttica, Revista de Comunicao e Linguagens, 1990, pp.9-24.
THOMPSON, John. A Mdia e a Modernidade: uma teoria social da mdia. Petrpolis: Vozes, 1998.
WHITEBROOK, Maureen. Taking the narrative turn: what the novel has to offer political theory. In:
HORTON, J.; BAUMEISTER, A. (eds). Literature and the Political Imagination. London: Routledge, 1996.
WOLAK, J.; MacKUEN, M.; KEELE, L.; MARCUS, G.; NEUMAN, W. R. How the emotions of public
policy affect citizen engagement, public deliberation, and the quality of electoral choice. Paper presented at the
Annual Meetings of the American Political Science Association, August, Philadelphia Pennsylvania, 2003.
YOUNG, Iris. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000.
www.compos.org.br
15
Você também pode gostar
- Resumo Meyer Rowan19771Documento6 páginasResumo Meyer Rowan19771Eufrásio VieiraAinda não há avaliações
- Pacno Nacional Caderno 10Documento122 páginasPacno Nacional Caderno 10Willian GonçalvesAinda não há avaliações
- ELIAS, N. Escritos e Ensaios (Capítulo 7)Documento25 páginasELIAS, N. Escritos e Ensaios (Capítulo 7)Laura PereiraAinda não há avaliações
- Metodologia de Ensino Das Ciências Sociais - Unid - IDocumento50 páginasMetodologia de Ensino Das Ciências Sociais - Unid - IAknaton Toczek SouzaAinda não há avaliações
- Breves Consideracoes Sobre o FuncionalisDocumento6 páginasBreves Consideracoes Sobre o FuncionalisMariana LoureiroAinda não há avaliações
- Avaliação Relações de Poder No Cotidiano Escolar InspeçãoDocumento9 páginasAvaliação Relações de Poder No Cotidiano Escolar InspeçãoJussara Dos ReisAinda não há avaliações
- Livro de LutasDocumento231 páginasLivro de LutasValdecir VenciguerraAinda não há avaliações
- AD 1 ED 09 Ciencia Tecnologia e SociedadeDocumento5 páginasAD 1 ED 09 Ciencia Tecnologia e SociedadeNorval SantosAinda não há avaliações
- Gestao Dos Sistemas e Servicos de Saude GS LIVRO Miolo Grafica 11-08-10-1Documento180 páginasGestao Dos Sistemas e Servicos de Saude GS LIVRO Miolo Grafica 11-08-10-1Lucia Araújo JorgeAinda não há avaliações
- Segurança Humana: Avanços e Desafios Na Política InternacionalDocumento164 páginasSegurança Humana: Avanços e Desafios Na Política InternacionalAriana BazzanoAinda não há avaliações
- Mapa 2 - Fundamentos ...Documento2 páginasMapa 2 - Fundamentos ...claudia100% (1)
- Roteiro Podcast Famílias e TradiçõesDocumento2 páginasRoteiro Podcast Famílias e Tradiçõescláudia leandroAinda não há avaliações
- Economia Feminista - Cristina CarrascoDocumento23 páginasEconomia Feminista - Cristina CarrascojalvezAinda não há avaliações
- ESPING-ANDERSEN, Gosta. As Três Economias Políticas Do Welfare State, Revista Lua NovaDocumento21 páginasESPING-ANDERSEN, Gosta. As Três Economias Políticas Do Welfare State, Revista Lua NovaLorena LimaAinda não há avaliações
- Nomade - Ayaan Hirsi Ali PDFDocumento206 páginasNomade - Ayaan Hirsi Ali PDFLuziaAinda não há avaliações
- R - D - Ester Dias BezerraDocumento66 páginasR - D - Ester Dias BezerrapretagogarteAinda não há avaliações
- Teoria Estado Sgarbossa Iensue 2018Documento617 páginasTeoria Estado Sgarbossa Iensue 2018Lídia XavierAinda não há avaliações
- A - Controvérsia - Feminismo X Marxismo - Loreta ValadaresDocumento10 páginasA - Controvérsia - Feminismo X Marxismo - Loreta ValadaresMeirivam BatistaAinda não há avaliações
- Trabalho História SimoneDocumento11 páginasTrabalho História SimoneCristiana FreireAinda não há avaliações
- As 3 EcologiasDocumento5 páginasAs 3 Ecologiaskelly_bioAinda não há avaliações
- CitaçõesDocumento2 páginasCitaçõesMATHEUS BATISTAAinda não há avaliações
- Materia de Familia 1 Fs Capítulo PDFDocumento17 páginasMateria de Familia 1 Fs Capítulo PDFElídio Ferraz IntrospectivoAinda não há avaliações
- Livro - Paulo R. M. Thompson Flores PDFDocumento503 páginasLivro - Paulo R. M. Thompson Flores PDFjordannyfilipi75% (4)
- 44-Texto Do Artigo-157-1-10-20200221Documento32 páginas44-Texto Do Artigo-157-1-10-20200221Ithala OliveiraAinda não há avaliações
- TAVOLARO, Sergio - para Além de Uma 'Cidadania À Brasileira' - Uma Consideração Crítica Da Produção Sociológica Nacional PDFDocumento28 páginasTAVOLARO, Sergio - para Além de Uma 'Cidadania À Brasileira' - Uma Consideração Crítica Da Produção Sociológica Nacional PDFDouglas ZaidanAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro "A Identidade Do Sujeito Constitucional" - Michel RosenfeldDocumento20 páginasResenha Do Livro "A Identidade Do Sujeito Constitucional" - Michel RosenfeldAlessandra QueirogaAinda não há avaliações
- 1 - Velloso, M. - Os Intelectuais e A Política Cultural No Estado NovoDocumento18 páginas1 - Velloso, M. - Os Intelectuais e A Política Cultural No Estado NovoAlessandra TostaAinda não há avaliações
- PIMENTA, Melissa Mattos. Diferença e DesigualdadeDocumento24 páginasPIMENTA, Melissa Mattos. Diferença e DesigualdadeHua ChengAinda não há avaliações
- Saidy Karolin Maciel 2002 Pericia Psicologica e Resolucao de Conflitos FamiliaresDocumento106 páginasSaidy Karolin Maciel 2002 Pericia Psicologica e Resolucao de Conflitos FamiliaresPsicólogo Jeimeson JoaquimAinda não há avaliações
- Autopoiese Cultura e SociedadeDocumento15 páginasAutopoiese Cultura e SociedadeMJROSAS100% (1)