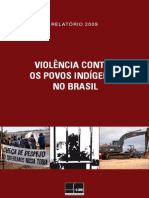Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resenha Adam Kuper
Resenha Adam Kuper
Enviado por
Keros MileskiDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resenha Adam Kuper
Resenha Adam Kuper
Enviado por
Keros MileskiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RESENHAS
KUPER, Adam. 2002. Cultura, a viso
dos antroplogos. Bauru, SP: EDUSC.
Roberta Bivar C. Campos
PPGA /UFPE
A EDUSC mais uma vez oferece aos leitores de lngua portuguesa uma publicao relativamente recente no cenrio
internacional: Culture: the anthropologists account. Em portugus, o mais recente livro de Adam Kuper publicado
no Brasil tem como ttulo Cultura, a viso dos antroplogos. Adam Kuper
nosso conhecido no tanto por seus trabalhos etnogrficos baseados em pesquisa de campo na frica e na Jamaica,
mas por conta de seus trabalhos sobre a
antropologia britnica, mais especificamente, pelo seu livro Antroplogos e antropologia (originalmente publicado em
1973). Tal qual este ltimo, Cultura, a viso dos antroplogos uma histria crtica da produo antropolgica, e no
dispensa ironias. Em verdade, trata-se
de um desdobramento do ltimo captulo do primeiro livro onde j esto colocadas suas idias sobre o desenvolvimento recente da antropologia a partir
de 1970, quando os antroplogos, em
face do processo de descolonizao, se
viram forados a repensar a natureza
de seu objeto de estudo. Se o primeiro
livro obra de sua juventude e tem por
objeto de anlise a antropologia britnica, em especial os antroplogos de
orientao estrutural e cultural-funcionalista, o segundo, obra da maturidade
do autor, trata da antropologia americana, em especial de David Schneider,
Clifford Geertz e Marshall Sahlins, herdeiros intelectuais, segundo Kuper, de
Talcott Parsons.
O livro est organizado em torno do
desenvolvimento e dos usos da idia
de cultura, particularmente na antro-
pologia norte-americana. A primeira
parte contm dois bons captulos dedicados genealogia do conceito de cultura. No primeiro, passamos pelos intelectuais franceses, alemes e ingleses,
como de praxe em toda genealogia
do conceito. O segundo, mais original,
fornece-nos o desdobramento mais recente do conceito via a tradio parsoniana que influenciou vrios antroplogos. A segunda parte, dedicada ao
que Kuper chama de experimentos, elege Clifford Geertz, David Schneider e
Marshall Sahlins como os herdeiros de
Talcott Parsons, e a cada um desses tericos dedica um captulo (captulos 3, 4
e 5) onde descreve suas carreiras, idias
e contribuies no contexto intelectual
e institucional em que trabalharam. Essa parte oferece ao leitor um certo desconforto. Ao contrrio dos captulos dedicados a Geertz e Sahlins, em que Kuper nos oferece uma anlise crtica sria e por vezes at minuciosa da trajetria intelectual desses tericos, aquele
consagrado a David Schneider parece
ter sido escrito s pressas, para dizer o
mnimo. Seu contedo desrespeitoso
pessoa de David Schneider. Kuper
decepciona e infelizmente no nos oferece uma anlise crtica das idias de
Schneider, mas uma biografia com comentrios psicanalticos de profundidade questionvel, fazendo sugestes
sobre a personalidade de Schneider
que no vejo como possam contribuir
para a compreenso do impacto de
suas idias nos estudos sobre parentesco, que Kuper faz questo de omitir.
A introduo e os captulos 6 e 7 esto organicamente ligados e situam
Cultura, a viso dos antroplogos em
um debate maior sobre os limites e impasses que a teoria antropolgica enfrenta na atualidade, e que tem como
foco a crtica ao conceito de cultura.
Tal crtica tem como alvo as vertentes
427
428
RESENHAS
tericas que privilegiam a funo cognitiva, mental e representacional da
cultura. Kuper, em particular, parece
mais preocupado com a banalizao e
vulgarizao do conceito, e culpa em
grande medida os estudos culturais e o
multiculturalismo por tal efeito perverso. A cultura por estar em toda parte teria perdido seu potencial analtico e explicativo. Ao mesmo tempo, o prprio
potencial liberal que se pensa existir no
conceito de cultura, em especial se
comparado ao conceito de raa, no
mais garantido, podendo o conceito, inclusive, servir para oprimir e subjugar.
A cultura tal qual a raa, por mecanismos distintos, fixa a diferena. Kuper,
na verdade, fiel tradio britnica,
privilegiando as relaes sociais, o jogo
de interesses econmicos e polticos. O
forte sociologismo de Adam Kuper o
faz jogar fora a criana (cultura) junto
com a gua do banho. Ao final da leitura no temos uma simples genealogia do conceito, com suas aventuras
acadmicas e transformaes, mas um
ataque consciente ao movimento psmoderno em favor de uma antropologia sociolgica, comparativa.
MARQUES, Ana Cludia. 2002. Intrigas e questes: vingana de famlia e
tramas sociais no serto de Pernambuco. Rio de Janeiro: Relume-Dumar.
352 pp.
Christine de Alencar Chaves
UFPR
Originalmente uma tese de doutorado
defendida no PPGAS/MN/UFRJ, o livro de Ana Cludia Marques apresenta um tratamento inovador do fenmeno das brigas de famlia no serto
nordestino. Contrariando a perspectiva
usual que as entende sob a tica bipolar do conflito entre familismo e ordem
pblica, como remanescente arcaico do
poder privado em face da suposta fragilidade do poder do Estado, Marques
expe ao leitor um complexo painel
formado por fluxos de relaes de diferentes ordens familiar, poltica, jurdica, moral que se sobrepem, colaboram, opem. Seguindo com segurana o tema pico sertanejo e objeto clssico do nosso pensamento social
das lutas de famlia, o livro oferece
uma compreenso abrangente dos
meios de produo e reproduo de um
universo social localizado que, no entanto, se articula com a sociedade nacional e a operacionalizao de suas
modernas instituies.
A pesquisa realizada no serto de
Pernambuco resultou em uma etnografia minuciosa, traada atravs da intricada trama de diferentes episdios, das
sutis mas significativas variaes de interpretao dos atos e motivaes expostas nas narrativas, das ambigidades expressas em intervenes inusitadas de agentes estatais e no modo de
apropriao do conflito pelos poderes
do Estado resultante do recurso que
os prprios intervenientes locais fazem
do seu aparato jurdico-administrativo.
Assim, a autora faz uma opo inequvoca pelo deslindamento do fenmeno
das brigas de famlia por meio da lgica dos atores, o que lhe permite revelar a dinmica de funcionamento dos
conflitos e, resultado apenas aparentemente paradoxal, iluminar as interconexes com a sociedade abrangente
permanentemente em jogo na constituio de comunidades locais.
O texto expe as complexidades do
tema e a labilidade das categorias por
via de uma sucesso de casos paradigmticos que, no intrincamento concreto
dos atos e significados, vo paulatina-
Você também pode gostar
- Livro GEOMETRIA DESCRITIVA PDFDocumento139 páginasLivro GEOMETRIA DESCRITIVA PDFLuisfãnyo Styfler100% (1)
- Lógica de Programação e Algoritimos APOL 01Documento3 páginasLógica de Programação e Algoritimos APOL 01Dimas GuerreiroAinda não há avaliações
- Exercício Numbers em InglêsDocumento3 páginasExercício Numbers em InglêsGuilherme Brambila100% (2)
- Plano de Leitura Bíblica Anual - Versão FemininaDocumento1 páginaPlano de Leitura Bíblica Anual - Versão FemininaIzamara Gonçalves100% (1)
- Atividade Avaliativa Sobre ConjunçõesDocumento2 páginasAtividade Avaliativa Sobre Conjunçõeslaio50% (2)
- Indicadores de ViolenciaDocumento85 páginasIndicadores de ViolenciaThays FelipeAinda não há avaliações
- Alopecia Androgenetica e A SOPDocumento4 páginasAlopecia Androgenetica e A SOPThays FelipeAinda não há avaliações
- Cuidado e EducaçãoDocumento16 páginasCuidado e EducaçãoThays FelipeAinda não há avaliações
- Relatorio de Violencia Contra Os Povos Indigenas No Brasil - 2009Documento148 páginasRelatorio de Violencia Contra Os Povos Indigenas No Brasil - 2009Pablo CardozoAinda não há avaliações
- As Regras Do Metodo SociologicoDocumento12 páginasAs Regras Do Metodo SociologicoEliana Moura MattosAinda não há avaliações
- 07 Apêndice Vii Programa e Bibliografia SMV of 2023 Area TecnicaDocumento5 páginas07 Apêndice Vii Programa e Bibliografia SMV of 2023 Area TecnicaMarcelo RochaAinda não há avaliações
- Resumos para FilosofiaDocumento3 páginasResumos para FilosofiaAna LeãoAinda não há avaliações
- Mocreia - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaMocreia - Pesquisa GoogleSALADA FFAinda não há avaliações
- Aula 01 - Conceito de CosmovisãoDocumento9 páginasAula 01 - Conceito de CosmovisãoElton Roney CarvalhoAinda não há avaliações
- Santo Rozario, Terço Do Combate e Dos Santoas AnjosDocumento3 páginasSanto Rozario, Terço Do Combate e Dos Santoas AnjosNilma MiyaharaAinda não há avaliações
- Sem Forma e Vazia - Quantos Anos Tem A TerraDocumento6 páginasSem Forma e Vazia - Quantos Anos Tem A TerraMauro SobrinhoAinda não há avaliações
- 11-AUTOATIVIDADE - DiscipuladoDocumento8 páginas11-AUTOATIVIDADE - DiscipuladoGlauber ReisAinda não há avaliações
- Autómatos ProgramáveisDocumento29 páginasAutómatos Programáveiscmmateus2836Ainda não há avaliações
- A Oração de JabezDocumento3 páginasA Oração de JabezNilton MeloAinda não há avaliações
- Banner Orações Coordenadas - 9º Ano - 18 Cópias - 12 - 09 (Favor Não Fazer Frente e Verso)Documento5 páginasBanner Orações Coordenadas - 9º Ano - 18 Cópias - 12 - 09 (Favor Não Fazer Frente e Verso)VitóriaAinda não há avaliações
- Fernando Pessoa, Poesia Do OrtónimoDocumento34 páginasFernando Pessoa, Poesia Do OrtónimoandrechicoAinda não há avaliações
- Edital ESA MateriasDocumento4 páginasEdital ESA MateriasMykael Gonçalves MoreiraAinda não há avaliações
- RevuzDocumento176 páginasRevuzMarcia ReisAinda não há avaliações
- Delphi 4 Apostila RevisadaDocumento179 páginasDelphi 4 Apostila RevisadaPaulo ErnestoAinda não há avaliações
- Hinário O Anjo de Deus - Nilton CaparelliDocumento14 páginasHinário O Anjo de Deus - Nilton CaparelliFábio SouzaAinda não há avaliações
- Estudos LiterariosDocumento11 páginasEstudos LiterariosValige Pedro Valige FariaAinda não há avaliações
- Development of Didactic Game For The Teaching of Eukaryotic Cells: Ludic Resource in Student LearningDocumento13 páginasDevelopment of Didactic Game For The Teaching of Eukaryotic Cells: Ludic Resource in Student LearningLeonny SantosAinda não há avaliações
- Soroban Exam 6G4rmsDocumento1 páginaSoroban Exam 6G4rmsgilapil506Ainda não há avaliações
- Comentário Ao Capítulo 08 de MarcosDocumento8 páginasComentário Ao Capítulo 08 de MarcosJosé MárioAinda não há avaliações
- Estudo Rudolf - Steiner - A IMITAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESUAS IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO SEGUNDO ASCONCEPÇÕES ANTROPOSÓFICA E WALLONIANADocumento211 páginasEstudo Rudolf - Steiner - A IMITAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESUAS IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO SEGUNDO ASCONCEPÇÕES ANTROPOSÓFICA E WALLONIANALeonardo PolckAinda não há avaliações
- Retiro de Pais, Mãe e ResponsáveisDocumento2 páginasRetiro de Pais, Mãe e ResponsáveisJamilson CastroAinda não há avaliações
- Colaborar - Av1 - Gerenciamento de RedesDocumento4 páginasColaborar - Av1 - Gerenciamento de RedesTecnologia FotovoltaicaAinda não há avaliações
- 10ano Sintese Educacao LiterariaDocumento17 páginas10ano Sintese Educacao LiterariaMarianaAinda não há avaliações
- Exercícios Semântica ConjunçõesDocumento3 páginasExercícios Semântica ConjunçõesErem AlfredoAinda não há avaliações
- 120 Anos Da Vida Do HomemDocumento5 páginas120 Anos Da Vida Do HomemCarlos PereiraAinda não há avaliações