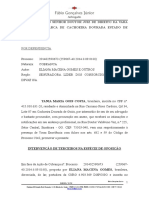Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Epele María Sobre o Cuidado de Outros
Epele María Sobre o Cuidado de Outros
Enviado por
Martin IguiniDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Epele María Sobre o Cuidado de Outros
Epele María Sobre o Cuidado de Outros
Enviado por
Martin IguiniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MANA 18(2): 247-268, 2012
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS
EM CONTEXTOS DE POBREZA,
USO DE DROGAS E MARGINALIZAO*
Mara Epele
O presente trabalho sobre o Cuidado. A proposta consiste na abordagem de cuidado como um conjunto de tecnologias corporais, vinculares,
subjetivas e polticas. Especificamente h anos venho documentando a
problemtica nos bairros marginalizados da rea metropolitana de Buenos
Aires: quais so os modos adequados de cuidar de outros, no s em
relao aos novos problemas, mas tambm aos que, como dizem os prprios atores sociais, no se sabe como cuidar , no se deixam cuidar ,
ou aos que no se ajustam ao conjunto disponvel de sujeitos e prticas
das tradies locais de cuidado. Outros e problemas sobre os quais,
alm disso, h o registro de uma longa histria de interveno por parte
de diversas instituies (polticas, justia, sade, policiais, religiosas, no
governamentais etc.).
Com a generalizao do consumo de PB/Paco (PB: Pasta Base de
Cocana, tambm chamada de Paco) nos setores populares durante a crise
de 2001-2002, extremaram-se e evidenciaram-se como novos certos problemas sociais, vinculares e de sade que tinham um complicado e longo
processo de produo (Sedronar 2007; Touz 2006; Epele 2011). Entre esses
problemas, o rpido emagrecimento dos jovens consumidores intensivos de
PB/Paco surgiu como algo indito nas j complicadas topologias corporais
produzidas pelas mutaes das relaes entre pobreza, magreza, desnutrio,
obesidade e fome nos setores populares durante as ltimas dcadas (Aguirre
2004; Ortale 2005; Miguez 2007).
Atravs da avaliao das particularidades de algumas prticas, de
saberes e estratgias com que os familiares de usurios/as de drogas e
residentes em geral respondem diante do rpido emagrecimento desses
jovens, o objetivo do presente trabalho expor a problemtica das prticas
e dos processos envolvidos e categorizados como de Cuidado para outros
especificamente, para usurios/as de drogas em contextos sociais marginalizados da rea metropolitana de Buenos Aires. Neste caso, esses outros
248
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
so sujeitos que realizam aes autorreferenciais que envolvem graus variveis de prazer e de dano e que, por sua vez, so socialmente punidas e
criminalizadas.
Diversos estudos em cincias sociais e antropologia assinalaram os
modos com que o cuidado tem sido desvalorizado nas sociedades ocidentais
por estar associado s emoes, intimidade e aos setores sociais subordinados: mulheres, pobres, minorias tnicas etc. (Held 2006; Tronto 1994). Ao
questionar esta naturalizao, o cuidado entendido como um complicado
processo que consome energia, tempo, recursos financeiros, no qual intervm saberes, redes sociais, tecnologias, tarefas e corpos, e que deixa lugar
fragilidade, incerteza e incorporao da experincia prpria e dos outros
em seu desenvolvimento (Mol 2007; Kleinman & Hanna 2008).
Partindo dessas perspectivas e integrando os desenvolvimentos de
Foucault (1989), no presente trabalho analiso as prticas e os saberes
categorizados como cuidado pelos prprios atores sociais em termos de
tecnologias. Desta perspectiva, o cuidado em sua diversidade e pluralidade pode ser considerado em termos de produo, quer dizer, como um
conjunto de tcnicas e tticas que se transformam no tempo, integrando
tanto as redes sociais e as lgicas de poder quanto os processos de subjetivao, incorporando, ajustando e desenvolvendo saberes e prticas de
diferentes procedncias (Foucault 2006; Pita 2010). Alm disso, e seguindo
os desenvolvimentos de Ulloa (1995), algumas das tcnicas participam de
certos encerramentos trgicos que h dcadas foram se constituindo
em relao problemtica do consumo de drogas e atravs dos quais os
processos macrossociais se traduzem em e promovem dinmicas de
maus-tratos e/ou descaso nos vnculos entre as instituies e as populaes
marginalizadas (Aureano 1999; Altschul & Taber 2005). Diferentemente da
racionalidade tcnica da biomedicina, os saberes e as prticas referidos ao
cuidado so produzidos social e historicamente a respeito das reas especficas de experincia (Kleinman 2009). Alm disso, essas prticas integram
na mesma trama da vida cotidiana experincias crnicas na maneira
de tratar diversas polticas e instituies e incluem diversos modelos de
subjetividade e de cidadania.
Finalmente, promover o questionamento sobre o cuidado, no que diz
respeito ao uso problemtico de drogas, uma das reas mais complexas
da vida cotidiana dos setores populares, envolve a produo de uma nova
viso baseada na pesquisa e no debate sobre problemas de longa data, com
genealogias complexas e futuros incertos. Tambm abre a possibilidade de
produzir novos e mltiplos canais, institucionais e informais, geradores de
novos laos sociais e subjetividades.
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
Sobre o cuidado
Nas ltimas dcadas, o cuidado em geral e a sade em particular tm se
convertido em um problema a ser pesquisado tanto na sade pblica quanto
nas cincias sociais e na antropologia. Esses desenvolvimentos puseram em
evidncia um domnio de atividades, saberes e lgicas que tinham ficado
invisveis e marginalizados nas sociedades ocidentais (Kleinman 2009; Ayres
2000). Como certos autores assinalaram, esta marginalizao se deve ao fato
de que a indagao sobre o cuidado comove os pressupostos epistemolgicos,
polticos e morais envolvidos na produo de bem-estar, sade e cidadania
em nossas sociedades (Mol 2007; Tronto 1994).
Em primeiro lugar, falar em cuidado significa questionar os dualismos
que suportaram a racionalidade iluminista instrumental e, portanto, a ideologia do sujeito liberal. Alm dos dualismos clssicos que atravessam a epistemologia ocidental (corpo/mente, natureza/cultura, indivduo/sociedade etc.),
a noo de cuidado interpela diretamente as oposies e as tenses entre
autonomia/dependncia, controle/ateno, saber/prtica, fatos e valores (Mol
2008). Em segundo lugar, as atividades e as prticas de cuidado e aqueles que
as realizam so marginalizados, devido associao que esta noo tem com
o emocional, o particular, o lar, as mulheres e as necessidades. Isto mostra
que a maioria das pessoas que realizam as atividades, na geografia social,
principalmente de classe baixa, mulheres, membros de minorias migrantes
ou tnicas (Kleinman & Hanna 2008). Atravs de quem cuida de quem, ficam
ento em evidncia os modelos de subordinao social. Enquanto as classes
privilegiadas contam com recursos para pagar outros que deles cuidem, os
setores populares deixam de cuidar dos seus para trabalharem no cuidado
dos membros de outras classes sociais (Tronto 1994).
Essas perspectivas, por sua vez, tm uma relevncia central para a
pesquisa socioantropolgica sobre sade-doena. Seguindo Mol (2008),
focalizar a anlise do cuidado em geral e da sade em particular envolve a
tarefa de questionar o monoplio da escolha que progressivamente colonizou como ideal exclusivo os cenrios dos tratamentos. Enquanto a escolha
uma ao racional que hierarquiza alternativas e responsabiliza o sujeito
individual por suas consequncias, o cuidado um processo complexo em
desenvolvimento, no qual intervm saberes, redes sociais, tecnologias,
tarefas e corpos.
Questionando a dissociao entre a biomedicina e o dar cuidado,
Kleinman (2009) caracteriza esta ltima como uma atividade complexa que
consome energia, tempo e recursos financeiros, e que integra e produtora
de angstia, conflitos e incertezas. A diviso de trabalho entre mdicos e
249
250
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
cuidadores (assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, membros da famlia, amigos etc.) relaciona-se, por um lado, com a dissociao e o privilgio
da racionalidade tcnica do saber biomdico e, por outro, com a ateno, o
compromisso dirio e a assistncia.
Por sua vez, a noo de cuidado foi incorporada aos estudos que examinam os modos com que as lgicas de poder normalizam e controlam a
vida das populaes e participam dos processos de produo de sujeitos.
possvel reconhecer diversas formas de cuidado: institucionais, vinculares
e autorreferenciais (Bonet & Gomes Tavares 2007). Atravs dessas prticas e
desses saberes so modelados os corpos sociais e individuais, convertendo
a sade em paradigma da moral (Crawford 1994). Seguindo Foucault e colocando nfase nas prticas autorreferenciais, as tcnicas de cuidado de si
mesmo, ou o autocuidado, referem-se a modos com que o poder, apoiando-se
nos sujeitos individuais, delega a outros o desenvolvimento de atividades
de controle e normalizao (Foucault 2006). Essa delegao no campo das
doenas e dos padecimentos, por sua vez, torna responsveis os prprios
sujeitos por seus resultados, ou seja, por sua sade e suas doenas.
Embora no campo da sade pblica a noo de tecnologia esteja
estreitamente associada medicina baseada na evidncia, esta noo de
Foucault (1989) permitiu reconhecer e categorizar como tcnicas em
termos produtivos os diversos conjuntos de prticas e saberes que participam de redes difusas de poder, e que so suscetveis de serem apropriados
e readaptados em diferentes contextos por diferentes conjuntos sociais,
alm de suas condies de origem (Ayres 2000, 2004; Pinheiro & Gomes da
Silva Jr. 2010).1
Com base em Foucault e nesses desenvolvimentos, no presente trabalho, analiso o conjunto de prticas e saberes, em termos de tcnicas e tticas,
como uma tecnologia social categorizada como cuidado nesses contextos
locais. Por sua vez, esta tecnologia com foco no cuidado dos/as usurios/as
de drogas formada por prticas e saberes heterclitos, isto , com diferentes
genealogias e condies sociais de formao e, portanto, distintos efeitos produtivos. Por essa razo, as prticas e os saberes desta tecnologia respondem
a modelos diversos de subjetividades, noes de autonomia-dependncia e
variadas orientaes sobre o bem-estar e a sade.
As prticas e os saberes que formam esta tecnologia voltada para a
resoluo de problemas associados ao consumo de drogas em condies de
crise so suscetveis de serem agrupados em trs fontes principais. Algumas
dessas prticas eram extenses, adaptaes e redefinies daquelas disponveis nas tradies de cuidado dessas populaes (Jelin 2010). Outras foram
produzidas no que concerne ao que denominei de privatizao do cuidado,
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
quer dizer, com os deslocamentos e as delegaes de diversas instituies
estatais ou particulares (trabalho, assistncia social, sade, educao etc.)
para as redes sociais locais e vnculos prximos (Escudero 2003; Epele
2010). Por ltimo, possvel reconhecer outras prticas que produzem certa
estranheza e que se referem tanto s prticas e s estratgias disponveis
no dispositivo judicirio-policial-sanitrio quanto quelas das quais estas
populaes so objeto h dcadas.
Sobre encerramentos e (maus) tratos
diferena de outras tecnologias, as prticas e os saberes com foco no
cuidado dos jovens usurios/as de drogas ou que ao menos so categorizados desse modo nos contextos locais apresentam desafios particulares.
Enquanto algumas delas no oferecem, em um primeiro momento, problemas
diretos em sua categorizao como cuidado, outras produzem estranheza,
incerteza e crticas no s em alguns residentes desses bairros, como tambm,
e especialmente, em outros setores sociais, como, por exemplo, em certos
profissionais e especialistas. Para incluir na anlise esta singularidade entre
as prticas e as categorias locais, necessrio considerar que o cuidado
construdo social e historicamente em sociedades particulares, em relao
aos domnios especficos da vida cotidiana, sendo, portanto, atravessado
pelos processos econmicos, polticos, institucionais e normativos.
Para incluir esta singularidade na anlise, acrescento a perspectiva que
Ulloa (1995) definiu sobre as particularidades dos maus-tratos em diversos
contextos sociais na histria argentina das ltimas dcadas. Partindo do
estudo da tortura durante a ditadura militar argentina (1976-1983), Ulloa
desenvolveu a noo de encerramento trgico como ncleo central do que
denominou o dispositivo da crueldade. Este encerramento cruel uma situao com duas posies, sem uma terceira para apelar, s a vtima e o algoz,
na qual a vtima depende do algoz para deixar de sofrer e/ou sobreviver.
Longe de limitar esta situao ditadura, Ulloa identifica diversos
encerramentos, situaes sem sada, na histria argentina das ltimas dcadas. O hospital psiquitrico e outras instituies totais podem ser reconhecidos como a expresso paradigmtica e tradicional desses encerramentos.
Porm, as transformaes econmicas e sociais neoliberais multiplicaram
as condies de produo de tais encerramentos e suas estruturaes. Eles
se configuram cada vez que algum, para deixar de sofrer, para satisfazer
suas necessidades elementares, trabalhar, viver, educar-se, inclusive morrer, depende de algum ou de algo que o maltrata, ou que no o assiste, ou
251
252
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
seja, que no o reconhece como sujeito (Ulloa 1995; Altschul & Taber 2005).
A institucionalizao crnica, as condies trabalhistas arbitrrias e/ou de
coao, a violncia crnica no bairro e/ou no mbito domstico, os diferentes
maus-tratos existentes em medidas tcnico-administrativas da burocracia
estatal configuram novos encerramentos que evidenciam diversas tragdias
sociais e subjetivas. Em oposio aos maus-tratos, o bom trato refere-se a
todo tratamento e relacionamento social que inclua a singularidade subjetiva e
a escuta baseada na legitimidade e no reconhecimento da demanda da pessoa
que dele padece. Em oposio crueldade, a noo de ternura para Ulloa a
base do bom trato, como defesa e escudo protetor contra a violncia social.
A transformao neoliberal que teve lugar na Argentina nas ltimas
dcadas envolveu no s o aumento da pobreza, o desemprego e a marginalizao, mas tambm um incremento do consumo de drogas em populaes marginalizadas e a precarizao (privatizao, terceirizao e falta
de investimento) do sistema pblico na ateno sade destinada a esses
conjuntos sociais (Escudero 2003; Zeballos 2003). Alm disso, na dcada de
90, aprofundaram-se e complicaram-se as estratgias complexas e combinadas de criminalizao da pobreza e do consumo de drogas, que tiveram
essas populaes como objeto, ao mesmo tempo em que o incremento da
pobreza, o desemprego e a marginalizao e a montagem do dispositivo
judicirio-policial-sanitrio fizeram do encerramento, da internao, da
abstinncia, das dificuldades no acesso ao sistema de sade, da responsabilidade individual por seus padecimentos, da culpabilidade da famlia e
da transformao punitiva e obrigatria da subjetividade os pilares centrais
e habituais dos modos experientes e institucionais de tratar o consumo intensivo de drogas (Aureano 1999).
Embora existissem sistemas ambulatrios em determinadas regies e
uma extenso progressiva dos programas de reduo de danos cada vez em
mais reas, este dispositivo priorizou a disponibilidade daquelas prticas
e estratgias de cuidar e tratar em detrimento de outras possveis (Touz
2006). Por sua vez, tal disponibilidade promoveu, por parte dessas populaes, a naturalizao de sua existncia e a apropriao de algumas delas em
diversos tipos de situaes de emergncia, como a resistncia, a denncia
e a rejeio de outras.
Com base nessas perspectivas, o conjunto heterogneo de prticas
e saberes, que constituem a tecnologia localmente categorizada como de
cuidado de outros, inclui no apenas aquelas prticas que podem ser consideradas como adaptaes e ajustes das que j pertenciam ao acervo das
tradies locais de cuidado, mas tambm integram e modificam alguns
saberes, prticas e demandas ligados ao costume, disponibilidade
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
inclusive, em certos casos, apropriao de alguns modos de tratar dos
quais essas populaes marginalizadas foram objeto em relao ao consumo
problemtico de drogas no passado.
Apesar de no presente trabalho serem considerados diversos problemas
ligados sade e sobrevivncia dos/as jovens usurios/as de drogas, o foco
na anlise das prticas e dos saberes relativos ao rpido emagrecimento
e/ou extrema magreza tem diferentes razes. Em primeiro lugar, no acelerado dano corporal, combinam-se e condensam-se as condies extremas
de vida e o uso intensivo de drogas (Touz 2006; Epele 2010). Em segundo
lugar, a magreza extrema torna visvel no s as complicadas relaes entre
o bem-estar e a sade dos jovens, como tambm as estratgias informais e
institucionais disponveis para resolv-las. Igualmente pe em evidncia
a maneira com que um problema de sade se converte em sintoma e, em
certas ocasies, justificativa para mltiplas urgncias e emergncias a respeito do bem-estar e da sobrevivncia desses jovens em contexto de bairro,
promovendo o uso das estratgias disponveis.
Sobre a magreza extrema em pocas de crise
Est muito magro. Voc viu o Pedro, agora? Tem a pele escura e a boca queimada. Era robusto e agora no sei quanto pesa, 50 quilos? Olha que falo com
ele, eu lhe digo para que fique aqui, que coma. Fao que coma, mas a comida
lhe faz mal. J deve ter algo ruim por dentro. No sei o que fazer, no se deixa
cuidar
Pedro desaparece por dias e quando volta est cada vez pior.
Levou coisas de casa e trocou-as por Paco, at a roupa que usa, e custa
muito para eu conseguir as coisas. No sei o que fazer! [...]
Uma vez, Pedro voltou com uma ferida, toda suja, muito infectada, at pus
tinha. Perguntei-lhe o que aconteceu? E ele no sabia
No queria ir ao mdico e se zangava quando lhe dizia que amos ao
hospital. Depois de tanta luta, consegui cur-lo. Demorou, a ferida ficou aberta
por muito tempo (Patrcia, me de usurio de PB/Paco).
Quando conheci Patrcia, em novembro de 2003, a generalizao do
consumo de Pasta Base/Paco tinha comeado a modificar a j complicada
topologia corporal definida pela magreza, fome, desnutrio, gordura, fortaleza, curvas marcadas, fraqueza, resistncia e fragilidade entre os jovens
de setores populares.2 Enquanto a magreza extrema teve lugar principalmente nas primeiras pocas da expanso de PB/Paco no contexto da crise de
253
254
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
2001-2002, na atualidade ficou mais desvanecida e/ou circunscrita queles
que permaneceram margem das redes sociais, seus familiares e tambm
aos consumidores em determinados bairros ou reas geogrficas. Na poca
da crise, quando a pobreza e a indigncia chegaram aos seus nveis mais
altos, esta particular e extrema magreza j assinalava, no dizer dos prprios
atores, a complexidade dessas experincias:
No estou com fome porque fumo Paco, e fumo Paco para no estar com
fome.3
E... voc deixa de comer vai deixando. Tudo para comprar Paco, tudo
Voc no tem dinheiro para comer e, se tiver, compra Paco ou o vende para
comprar. Estou o dia todo enrolando, enrolando.
E vai sua casa?
Sim vou, mas, quando estou, minha me me enche a pacincia e terminamos aos socos, e vou embora de novo.
O que que voc come, quando come?
pouco, qualquer coisa, no estou com fome
A perda de 10, 20, 30 quilos de peso, ou at mais, em um curto perodo
de tempo, foi considerada desde o princpio e pelos prprios atores sociais
como algo mais do que simplesmente emagrecer ou perder peso. O sentimento de estranheza, no s a respeito de si mesmo, mas especificamente
das prprias experincias, imagens e dos sentidos corporais, introduziu, alm
de mal-estares e doenas, distncias, separaes e rupturas nos processos
de reconhecimento e sociabilidade. Esta estranheza tambm atravessava
as palavras tanto dos prprios jovens quanto de seus familiares: d para
ver minhas costelas, tenho a cara afundada, minhas pernas so paus,
meus olhos ficaram grandes, estou sem fora, um esqueleto, est
magra demais. Esse repentino emagrecimento produziu uma ruptura na
histria pessoal e uma homogeneidade progressiva dos corpos dos jovens
que experimentavam tal processo.
O Paco lhe faz mais dano quando voc chega a um estado de desnutrio, a
um estado de no ter alimentos e tambm porque, bom, voc fuma Paco e
no fica com fome. Eh, pode afetar seu corao e depois as desordens que
tiver podem terminar mal, depois, isto de fumar Paco e cair na depresso voc
pensa, sei l.
Alm disso, outros tm cibras estomacais se no consumirem. Voc tem
umas cibras terrveis. O que j vi, mas ficam com convulses (Daniel,
ex-usurio de PB/Paco).
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
Entre as mltiplas modificaes corporais, subjetivas, vinculares e de
bairros associadas ao uso intensivo de PB/Paco nos contextos locais, a extrema
magreza instalou um estado de urgncia que gerou um conjunto de prticas
e saberes, e se converteu em um indicador, no s pelo dano corporal visvel, mas tambm em funo da rpida transformao da imagem corporal,
dos possveis e vrios perigos para a sade e a sobrevivncia desses jovens
(Santis et al. 2006, 2007).
Prticas, saberes e tcnicas
O repentino emagrecimento, que se transformava na magreza extrema,
daqueles jovens que fumavam PB/Paco de modo intensivo nos primeiros
anos da generalizao do consumo desta droga chamou a ateno por
ser algo indito. Diante desse rpido emagrecimento, essas populaes
foram gerando, reciclando, adotando e ajustando novas e velhas tcnicas
e tticas para tratar dos problemas relacionados PB/Paco (Santis et al.
2006, 2007).
Em um primeiro momento, o rpido emagrecimento dos/as usurios/
as foi considerado pelos residentes dos bairros pobres como um efeito
exclusivo da PB/Paco. Desta maneira, os movimentos iniciais para evitar
este tipo de dano, que geralmente estava associado a outros mal-estares
e problemas nas j complicadas relaes no bairro e nos vnculos locais,
foram orientados no sentido de deter o avano desta nova droga. Atravs
do traado de novas vias de informao e de comunicao, os moradores
potencializaram o vnculo social (familiar, escolar etc.) entre moradores de
diferentes bairros. Em alguns casos, falavam com os transas (transas:
indivduos que vendem droga) para pedir a eles que no deixassem entrar essa droga nos bairros ou, no outro extremo, tentavam denunci-los.
Essas tentativas visavam, basicamente, pr barreiras entre os jovens e a
PB/Paco como uma estratgia de cuidado dos adolescentes e jovens desta
rea geogrfica.
J instalada a convivncia com a PB/Paco, uma das aes em que
os familiares e os vizinhos concentraram esforos para enfrentar a magreza
extrema consistia em identificar e reconhecer se os jovens consumiam drogas
e o tipo de consumo, especificamente, se eram viciados ou no. De acordo
com os familiares, o uso intensivo de PB/Paco podia ser reconhecido pelos
seguintes sinais heterogneos: rpido emagrecimento, ms companhias,
mudanas de atitude, ausncias do lar durante dias, agressividade,
desaparecimento de coisas nas casas, entre os principais. Porm, a maio-
255
256
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
ria dos familiares manifestava que reconheciam o consumo entre os jovens
quando ele j era problemtico, portanto, quando era difcil de parar e no
se sabe o que fazer, ou quando tem que pedir ajuda, tomar medidas.
O rpido emagrecimento era considerado um dos sinais mais evidentes de
que algo andava mal. Porm, e em certas ocasies, a percepo e o reconhecimento da perda repentina de peso passavam despercebidos, sendo
vinculados a outras razes, ou ento o emagrecimento era um fato que no
podia ser privilegiado como problema devido a outras urgncias da vida
cotidiana.
s vezes as mes no querem ver. Infelizmente temos que ver, temos que
tirar esses culos escuros que temos nos olhos, n? E ver o que que est
acontecendo com os meninos.
Como isso de no querer ver?
E que s vezes as mes, talvez, digam no, meu filho, no. Aconteceu isso
comigo, que dizia no, meu filho, no. Mas no, no, no, no.
E depois, como voc percebeu?
E depois j percebi a mudana de personalidade, todas essas coisas, que
j no era a mesma pessoa que eu conhecia. Ento, comecei a perceber que o
que me diziam era verdade. Muitas mes no querem ver isso e algumas esto
vendo que assim, mas fazem de conta que no , esto adormecidas, esto...
no sei... no reagiram ainda. Tristeza, angstia e pena, porque as pessoas os
veem ou, s vezes, batem neles, machucam-nos e voc os v a no cho, abandonados. E isso di muito (Larisa, 45 anos).
Quando e como o uso problemtico nesses bairros? O intervalo entre
o incio do consumo e o consumo problemtico, quer dizer, as dificuldades
em categorizar e medir esse processo produziram diversos saberes e prticas individuais e sociais. Esta incerteza provocava, em certas ocasies, a
procura precipitada de ajuda profissional e experiente. No era raro que
familiares considerassem como viciado um filho ou uma filha quando o/a
encontrava com um cigarro de maconha, ou com algum amigo que sabiam
ser consumidor de alguma outra substncia. Outros, porm, diziam que,
quando os jovens estavam fumando PB/Paco de modo intensivo, inclusive
em suas prprias casas, e outros familiares ou vizinhos avisavam aos familiares responsveis por eles sobre esta situao, eles/as no percebiam e
s tomavam conhecimento quando era muito tarde.
Alguns perguntavam aos/s seus/suas filhos/as ou falavam com eles/
elas. Porm, para a maioria, a palavra e a comunicao no prestam, porque se contrapem ao no escutar dos jovens. Por esta razo, algumas
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
mulheres pediam a conhecidas ou a vizinhas que revistassem as coisas de
seus filhos, que os cheirassem, ou que perguntassem a seus amigos sobre
o vcio. Nas conversas, no entanto, surge o questionamento daqueles outros
familiares que simplesmente no se importam, que os deixam a, que os
mandam embora, porque eles mesmos tomam drogas ou vendem.
diferena de outras drogas, na maioria das descries e das narrativas dos bairros, a PB/Paco era localizada e entendida em termos dos
cenrios domsticos. De acordo com os prprios atores sociais, os jovens
deixavam de comer ou pulavam refeies porque vo dar voltas por a
por alguns dias. Como tambm, quando estavam em casa, dormiam ou
evitavam comer, j que isto os expunha ou os obrigava a entrar em contato,
escutar ou falar com algum adulto prximo. s vezes, em poca de crise,
no havia comida, sempre era a mesma coisa: ou se dependia de buscar
a marmita para a alimentao cotidiana ou de ir comer no refeitrio comunitrio. Alm disso, a maioria das unidades domsticas nesses bairros
recebia algum tipo de alimento de um programa de assistncia, que era
denominado em termos locais de mercadoria. Porm, no caso da PB/Paco,
acrescentavam-se outros fluxos. Como algo indito nas transaes que
envolvem drogas, os alimentos comearam a circular como algo direta
ou indiretamente intercambivel por drogas, ou seja, em alguns casos,
poucos, os jovens levavam at a comida de suas casas para troc-la por
drogas. Miranda relata:
Ou seja, a primeira afetada a famlia e depois o vizinho. Os meninos consumidores do Paco no vo roubar na rua. Porque perdem a fora, o dano fsico
rouba em seu territrio, digamos, para poder consumir. diferente de outras
drogas, talvez, a cocana ou as plulas, que nesses casos saem para roubar fora
do seu territrio. Mas parece que j feito de propsito para que o menino ou
as pessoas consumidoras vivam e morram ou consumam dentro de seu lugar.
Como parte de um desencontro permanente, as mulheres e os familiares
em geral (avs responsveis, irmos mais velhos, tios etc.) faziam surgir e
potencializavam aqueles recursos domsticos j conhecidos para fazer com
que seus filhos, entre muitas outras coisas, comessem: digo-lhe que coma,
no o deixo sair, fecho-o dentro de casa, chamo meu irmo para lhe
falar, quando acordado, lhe dou de comer, digo-lhe que lhe dou algo
se comer, fao-lhe a comida que gosta. A situao se complicava quando
havia mais escassez, porque os jovens s vezes no queriam marmitas dos
refeitrios ou percebiam a ida ao refeitrio como algo impraticvel para a
sua dignidade.
257
258
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
Como uma total novidade, a alternativa foi, e s em certos bairros,
que algumas mulheres, especificamente mes, se organizassem para levar
comida aos fumadouros ou s ranchadas (locais abandonados da cidade
nos quais se juntam grupos de jovens viciados para viver, proteger-se e
consumir drogas), a fim de evitar que os jovens perdessem peso to rapidamente. Alm de impedir o rpido emagrecimento, ench-los de comida era uma prtica que, de acordo com essas mesmas mulheres e os/as
usurios/as, tambm diminua a ansiedade de ter de consumir de forma
imediata. Integrando-se ao acervo de saberes locais, os alimentos doces
em geral, e alguns alimentos determinados (como o doce de marmelo, as
guloseimas etc.) foram sendo includos nas dietas como os melhores
para esta finalidade.
Alm disso, esse deslocamento para os lugares onde estavam os jovens
foi se convertendo progressivamente em uma nova orientao das prticas
diante da tradicional necessidade de lev-los para lugares onde pudessem ser atendidos. No entanto, devido complexidade da vida cotidiana,
principalmente no que diz respeito ao trabalho e proviso dos recursos
necessrios para a subsistncia, era difcil sustentar ao longo do tempo este
tipo de prticas e atividades. Tambm o rpido emagrecimento e o dano
fsico eram, em geral, acompanhados de outros problemas, de mal-estares
e perigos tanto para os jovens usurios/as de drogas quanto para outros.
Esses problemas promoveram, por parte dos familiares, o desenvolvimento
de outras prticas e tcnicas na tentativa de resolv-los.
No tinha mais jeito
No momento em que o PB/Paco assumiu suas caractersticas idiossincrticas
nos bairros, as redes sociais j tinham uma longa experincia a respeito das
alternativas disponveis, ou ao menos dominantes, no sistema de sade para
usurios/as de drogas. A maioria destas experincias, vinculadas AIDS,
criminalizao do consumo, internao para reabilitao e ao tratamento
compulsivo, que dominaram o cenrio a partir da dcada de 90, convertia
essas populaes em objeto de diversas instituies (judicirias, de sade,
teraputicas, religiosas etc.), que acionavam uma combinao frequentemente imprecisa entre represso, modificao de sujeito, procura da sade
e sobrevivncia.
Diante do rpido dano apresentado pelos jovens, a internao em diversas instituies (comunidades teraputicas, hospitais psiquitricos, de
reabilitao e at mesmo penais) emergiu e se generalizou como demanda
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
e expectativa, embora, em menor medida, como prtica real, devido aos
mltiplos obstculos que tinham de ser levados a cabo. Se as estratgias
de institucionalizao j eram criticadas por familiares e usurios/as com
experincias prolongadas de consumo, quais teriam sido as condies que
converteram a internao em soluo de mltiplos problemas, inclusive
daqueles que incluam o dano corporal e da sade dos/as jovens usurios/as
de drogas?
Sim, ele se internou, porque essa manh eu sa de casa e lhe disse [que] j no
quero v-lo assim, j no vida. Porque eu, de qualquer forma, fiquei sozinha,
estou sozinha, s com ele. E quando me separei do seu pai, ele ficou pior, a sim
que j no voltava, vivia diretamente na rua, ficava at o outro dia de manh
e quebrava tudo o que tinha na casa. E, ento, nesse dia ele se sentiu muito
mal, sentiu todo um ardor no estmago, ele j no tinha vida, ele foi embora e
pediu... foi numa tera-feira, quando ele pediu ajuda sua irm, e a ela veio
e me disse: agora vou lhe dar uma boa notcia. E eu pensei, o que ser? E
depois me deram a notcia, mas ele se entregou porque, como disse, eu j no
posso mais. Estava no, se ele continuasse assim, eu ficaria louca (Juana,
me de usurio de PB/Paco).
A construo da internao como modelo paradigmtico para resolver
os problemas associados direta ou indiretamente ao consumo de drogas
pode ser vinculada a trs diferentes processos. Em primeiro lugar, a transformao do conhecido, disponvel e oferecido nos sentidos teraputicos,
por meio do costume e da naturalizao, ao que adequado, normal e
necessrio. H dcadas, no que se refere ao consumo de drogas, as aes
das instituies estiveram claramente ligadas relao entre abstinncia/proibio de consumo e internao e, de modo mais geral, resoluo
de problemas associados ao consumo de drogas e internao. Alm disso,
esta associao na vida cotidiana foi produzida pela modalidade policialjudicirio-sanitria dominante para os jovens pobres. Em segundo lugar,
os mltiplos obstculos (pedidos de consultas, distncia geogrfica, falta
de dinheiro para o transporte, rejeio dos jovens a irem aos centros de
sade e hospitais, dificuldades no atendimento de usurios/as no sistema
de sade etc.) tornavam outras alternativas disponveis praticamente no
relevantes para essas populaes. Em terceiro lugar, podem ser citadas a
modificao dos territrios marginalizados e a produo progressiva do
encerramento do bairro.
A importncia do acesso e da disponibilidade de alternativas de ateno, da resoluo de problemas e de teraputicas nestes contextos mostra-se
259
260
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
claramente quando algum se v obrigado a chamar a polcia para resolver conflitos domsticos e vicinais, associados direta ou indiretamente ao
uso de drogas.
Depois de dias, chegou e comeou a gritar, a bater nas coisas. Cludio, meu
filho mais velho, disse que parasse, gritou-lhe, agarraram-se aos empurres,
socos. Pato no parava, e continuava, as crianas mais novas meteram-se no
meio. Pato no era ele, estava irreconhecvel, todo nervoso, eu no podia faz-lo
parar. Tinha medo e chamei a polcia.
E?
No tinha mais jeito. No que tenha amizade com eles, nem que goste de
cham-los.
E o que fizeram?
Acalmaram-no, separaram a briga deles, conversaram com eles, no tinha
outra soluo a quem podia chamar?... (Mariana, me de usurio de PB/
Paco).
Este chamado polcia entrava claramente em conflito com os modos com que essas populaes experimentavam e expressavam as relaes
entre polcia e adolescentes/jovens de setores populares. Os moradores no
s falavam sobre a participao de alguns membros desta instituio em
atividades delituosas, mas tambm da generalizao de prticas abusivas
e at letais com as quais submetem e reprimem os jovens desses bairros
(Pita 2010). Embora houvesse a rejeio local e as denncias pblicas
que provocavam essas estratgias, de acordo com os familiares, havia um
conjunto de situaes extremas de urgncia e emergncia nas quais se
fazia necessria a interveno da polcia: conflitos e agresses, fuga do lar,
ameaas e possveis vinganas, autoagresses e tentativas de suicdios, e
tambm o acelerado dano corporal e os diversos problemas de sade dos
jovens.
Nossa viso crtica sobre a internao tornou-se cega em face das tentativas de capturar algo que era uma contnua referncia para os moradores:
no decurso das ltimas dcadas, a experincia de encerramento mais prxima para eles consistia no bairro. Com as modificaes da mobilidade social
e territorial durante as reformas neoliberais, a fragmentao territorial foi
tomando forma progressivamente em um encerramento no bairro. A partir
das perspectivas e das experincias locais, esse encerramento era percebido atravs dos modos com que os/as jovens usurios/as de drogas ficavam
sujeitos/as a determinados circuitos locais de violncia, o que, por sua vez,
os expunha a mltiplos riscos e perigos, de sade e sobrevivncia.
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
Devido ao fato de a maioria dos residentes desses bairros pertencer
primeira, segunda ou terceira gerao desde a migrao do interior do
pas ou de pases vizinhos para esses locais, diante dos problemas direta
ou indiretamente associados s drogas, j se havia estabelecido a prtica
de enviar os adolescentes ou jovens queles lugares nos quais se estendiam as redes familiares e de conhecidos, para outros bairros, provncias
e at mesmo pases limtrofes. Antes da chegada da PB/Paco, quando os
jovens estavam em perigo, a alternativa era tir-los do bairro, em lugar
de institucionaliz-los. Porm, com a generalizao do consumo da droga
durante e depois da crise de 2001-2002, esta estratgia ficou ainda mais
restrita. De acordo com os prprios familiares, alm da falta de recursos
econmicos para desloc-los, o dano corporal acelerado, a maior frequncia de agresses no mbito domstico, o costume por parte dos jovens de
levar coisas das casas para troc-las por PB/Paco, e a urgncia imposta
por diversos perigos nas economias locais tornaram mais complicado mand-los para outro lugar, mas impunham, simultaneamente, a urgncia
de se fazer algo.
Com o acmulo das experincias, a internao como forma de
resolver as consequncias para a sade em funo do uso intensivo da
PB/Paco especificamente naqueles casos de magreza extrema foi
questionada por causa dos mltiplos obstculos de lev-la a cabo da forma
premente que alguns casos requeriam. Alm das crticas s condies de
acesso, os prprios atores sociais questionavam a internao, apontando
a maneira de usar a medicao, as regras e os maus-tratos infringidos em
alguns centros de internao, a chamada recada, a volta ao bairro, e
a continuao dos sintomas que, antes, se relacionavam exclusivamente
com a PB/Paco. Conjuntamente com este questionamento, comearam a
ser demandados e, em alguns casos, implementados outros tipos de servios de carter ambulatorial, baseados na resoluo de problemas no
s de sade, mas tambm dos bairros e dos familiares envolvidos com o
consumo de drogas. E, s vezes, a gente confia, porque eu vi meninos
que saram, que esto muito bem, gordinhos. E voc v que voltam a cair
novamente. Por qu?
Como Graciela afirma acima, a ideia de que o aumento de peso era
indicador da melhora da sade dos/as usurios/as da PB/Paco comeou a
se dissipar. Esta constatao acompanhou o reconhecimento por parte dos
prprios atores sociais de diversos e complexos processos relacionados com
o consumo da PB/Paco nessas populaes: o carter cclico do aumento e da
perda de peso; a existncia de perodos de consumo intensivo e outros de
uso mais ocasional; a ampla gama de ameaas e perigos para a sobrevivn-
261
262
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
cia que atinge os jovens para alm das drogas ou que fazem das drogas s
um componente de sua justificao; as dificuldades e os limites dos saberes
experientes no que concerne s dinmicas sociais dos setores populares; a
modificao permanente das prticas de consumo a partir de certa aprendizagem do uso de substncias; e, por ltimo a minimizao, por parte dos/as
mesmos/as usurios/as ou de seus familiares, dos mltiplos danos associados
direta ou indiretamente ao consumo intensivo.4
Palavras finais
Centrando nosso olhar no rpido emagrecimento dos/as usurios/as da
PB/Paco em pocas de crise, foi possvel analisar algumas das condies de
emergncia de prticas, tcnicas e saberes que localmente eram categorizadas como de cuidado dos jovens usurios de drogas. Entre certas prticas que
formam parte desta tecnologia, encontramos: o traado ou o fortalecimento
das redes e das vias de informao e comunicao; falar com os transas,
at mesmo denunci-los; as formas de reconhecimento da existncia de
consumo por parte dos jovens; falar com os jovens e fazer perguntas a eles;
revistar os pertences dos filhos; desenvolver atividades a respeito da alimentao (faz-los comer, levar-lhes comida, ench-los de comida,
dar-lhes alimentos especficos etc.); envi-los a outros bairros, ao interior ou
a outros pases onde haja parentes; chamar a polcia; intern-los.
Salvo algumas excees, a maioria destas tcnicas e tticas no tem um
vnculo natural ou bvio com o problema que aparentemente procura
abordar, nem tampouco com a ideia de que os outros setores sociais urbanos,
especializados ou leigos, tenham relao com o cuidado. Por um lado, as
prticas que resistem a ser imediatamente includas na categoria de cuidado
promovem a desnaturalizao do conjunto e o questionamento sobre o que
se entende por cuidado nesses contextos sociais, por outro lado transformam
o modo de se intervir nessas populaes. Alm disso, o carter heterogneo
dos elementos desta tecnologia converte-se em um indicador de que tais prticas tm diferentes genealogias, ou seja, procedem de distintos mbitos da
experincia cotidiana, das tradies de cuidado locais, das prticas judiciriopoliciais de que foram objeto essas populaes, das estratgias das instituies
de sade ou das organizaes religiosas, entre as principais.
Algumas delas (como enviar os jovens para o interior onde vivem familiares, falar, encerrar etc.) j pertenciam ao conjunto de prticas produzidas
h alguns anos para resolver problemas com os adolescentes e os jovens
desses bairros. Outras, porm (interrogar, revistar, internar etc.), guardam
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
similitudes com as prticas, os saberes e os modos de tratar os/as usurios/
as adotados por agentes e profissionais de diversas instituies que tm
participado do dispositivo judicirio-policial-sanitrio durante as ltimas
dcadas. Finalmente, outras (ench-los de comida, falar com os transas
etc.) so consideradas pelos prprios atores sociais como prticas e saberes
desenvolvidos com o fim de enfrentar os novos problemas referentes aos
jovens consumidores da PB/Paco em contexto de extrema pobreza e marginalizao. Alm disso, estas tcnicas e tticas so alteradas no tempo:
algumas so abandonadas, outras modificadas e ainda outras submetidas a
contnuas revises, crticas e questionamentos para capturar o grau de dano,
os maus-tratos ou a sua falta de eficcia.
No entanto, algumas delas (especificamente chamar a polcia, revistar
e internar), embora tenham sido questionadas h dcadas atrs, foram realizadas ou ao menos demandadas no s por serem as dominantes e/ou as
nicas disponveis, mas tambm pela normalizao da relao entre encerramento e efeito teraputico. Levando em conta esses processos, podemos
falar, seguindo Ulloa, de encerramentos trgicos, ou seja, a dependncia para
aliviar o sofrimento, a luta pela sade e a garantia da sobrevivncia em face
daqueles que infringem maus-tratos e no os reconhecem como sujeitos.
Assim, esta tecnologia orientada, ou ao menos categorizada, como de
cuidado de outros, impe que se estabelea um questionamento a respeito
desses outros: os/as jovens usurios/as de drogas das populaes pobres
e marginalizadas. O consumo de drogas uma prtica autorreferente, ou
seja, levada a cabo pelo sujeito que tem o domnio do prprio corpo, e
envolve graus variveis de prazer e dano, os quais, por sua vez, so socialmente punidos e criminalizados. necessrio considerar as particularidades
relacionadas ao consumo de drogas que fazem do cuidado de outros uma
atividade complexa e especfica.
O cuidar de outros, aquele que no se sabe como cuidar e/ou est
voltado para os que no se deixam cuidar, segundo afirmao de familiares de usurios e de vizinhos, promoveu a multiplicao de tcnicas e
de tticas e deu forma s suas caractersticas. Considerando as complexas
e heterogneas genealogias de tais prticas, tcnicas e saberes, possvel
reconhecer diferentes modelos de subjetividade e cidadania. As tradies
locais de cuidado de outros mostraram-se insuficientes e, em certas ocasies, inadequadas para enfrentar os novos problemas. Em geral, os desafios
confluem em fazer com que o outro faa ou deixe de fazer algo, perceba e
aja em relao ao perigo e dor, deixe que os outros o atendam ou curem em
relao aos problemas de sade e sobrevivncia, e muito frequentemente,
numa temporalidade marcada pela urgncia e pela emergncia.
263
264
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
As estratgias utilizadas durante as ltimas dcadas tm feito de
distintos modos de interveno em certos casos, sobre diversas formas
de maus-tratos (culpabilidade, encerramentos, castigos punitivos etc.)
a base das prticas e das aes consideradas teraputicas. O costume, a
normalizao e a reapropriao de algumas dessas prticas e tcnicas por
parte das populaes atingidas abrangem os modos e os modelos com que
os/as usurios/as de drogas como sujeitos/objetos so abordados e tratados,
e indicam as maneiras com que os macroprocessos polticos, econmicos
e institucionais se traduzem em microdinmicas sociais. Por sua vez, em
funo da experincia acumulada e das tentativas sem xito, foram surgindo
novas prticas com diferentes formas de aproximao: novos olhares dirigidos aos outros, mudanas nesses indivduos e nos sujeitos que procuram
cuidar de outros.
Finalmente, esta anlise sobre o cuidado explica os modos como os
processos de marginalizao, criminalizao, institucionalizao e punies
sociais participam da produo da tecnologia categorizada como orientada
para o cuidado de outros. Esta anlise ps em evidncia as mltiplas consequncias que ocorrem a mdio e longo prazos, produtoras das maneiras de
tratar essas populaes. Especificamente, abre a possibilidade de haver
um deslocamento da forte energia despendida na preocupao, na ocupao,
na impotncia e no sofrimento, reorientada produo de novos e mltiplos
canais, prticas e saberes institucionais e informais, fazendo com que o bom
trato gere novos laos sociais e subjetividades.
Recebido em 07 de maio de 2012
Aprovado em 20 de setembro de 2012
Mara Epele pesquisadora do CONICET, professora da Universidad Nacional
de Buenos Aires (UBA) e da FLACSO. E-mail: <mariaepele33@gmail.com>
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
Notas
* A argumentao deste trabalho se baseou nos resultados da pesquisa etnogrfica feita em trs bairros e favelas da Gran Buenos Aires, com usurios/as de
drogas, familiares, vizinhos e profissionais (2001-2007). O processo de documentao
e a anlise dos dados documentados durante o trabalho de campo foram ajustados
s normas do mtodo etnogrfico. As tcnicas de trabalho de campo so entrevistas
semiestruturadas e a observao-participante. Foram realizadas 60 entrevistas entre
usurios/as de drogas (34 com homens e 26 com mulheres). As idades variam entre
18 e 55 anos, sendo a idade mdia 24 anos. Com aproximadamente 15 deles/as, o
relacionamento continuou durante todo o perodo de trabalho de campo. Tambm
foram entrevistados 13 ex-usurios/as de drogas, 20 familiares, cinco lderes locais e 10
profissionais da sade (mdicos e psiclogos). As conversas informais com a maioria
deles e com outros usurios/as de drogas e residentes em geral foram documentadas
em anotaes de campo. A pesquisa se ajustou s normas ticas dos estudos sobre
esta problemtica, especificamente com a observncia do protocolo de Helsinki, o
consentimento informado dos participantes, a confidencialidade dos mesmos e dos
lugares onde ela foi realizada. Os nomes utilizados neste trabalho foram, portanto,
modificados.
A noo de tecnologia de Foucault, como um conjunto de saberes e tcnicas
que participam de redes difusas de poder, teve valor heurstico para dar conta de
protestos, manifestaes, denncias, ou seja, para alm dos contextos em que foram
produzidos (Foucault 1989; Pita 2010; Manzano & Triuguff 2010).
1
A noo de segurana alimentar refere-se ao direito de todas as pessoas terem
uma alimentao cultural e nutricionalmente adequada e suficiente (Aguirre 2004:1).
A discusso histrica e crtica desta noo a partir da perspectiva antropolgica foi
realizada por Aguirre (2004).
2
3
Estas expresses, que assinalam a complexidade da combinao entre a
pobreza, o consumo de drogas e o dano corporal, tambm foram documentadas em
outros estudos sobre o tema (vide Touz 2006).
Por exemplo, na etapa inicial da PB/Paco reproduziu-se uma srie de prticas
que foram rapidamente abandonadas: as reprimendas aos transas, as denncias a
policiais/juzes, e tambm passeatas, denncias e demandas pblicas nos meios de
comunicao tampouco tiveram os resultados esperados. Pelo contrrio, em alguns
casos foram contraproducentes. A maioria, porm, j conhecendo na prpria carne
as caractersticas da lgica da violncia, evitou essas prticas devido aos efeitos
secundrios da exposio (ameaas, mudanas para outros bairros, desconfiana e
tenses internas aos bairros etc.).
4
265
266
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
Referncias bibliogrficas
AGUIRRE, Patricia. 2004. Ricos flacos,
FOUCAULT, Michel. 1989. Vigilar y castigar.
gordos pobres. Buenos Aires: Capital
Intelectual.
ALTSCHUL , Carlos & TABER, Beatriz.
2005. Pensando Ulloa. Buenos Aires:
Libros del Zorzal.
AUREANO, Guillermo. 1999. La construction politique du toxicomane
dans lArgentine post-autoritaire. Un
cas de citoyennet basse intensit.
Montreal: Les Presses de lUniversit
de Montral.
AYRES, Jos Ricardo de Carvalho Mesquita. 2000. Cuidado. Tecnologia ou
sabedoria prtica. Interface, Comunicao, Sade, Educao, 6:117-120.
___. 2004. Cuidado e reconstruo das
prticas de sade. Interface, Comunicao, Sade, Educao, 8(14):73-92.
BONET, Octavio & TAVARES, Ftima Gomes. 2007. O cuidado como metfora
nas redes das prticas teraputicas.
In: R. Pinheiro & R. Araujo de Matos (orgs.), Razes pblicas para a
integralidade em sade: o cuidado
como valor. Rio de Janeiro: Editorial
do Centro de Estudos e Pesquisa em
Sade Colectiva. pp. 262-276.
CRAWFORD, Robert. 1994. Boundaries
on the self and the unhealthy other:
reflections on health, culture and
AIDS. Social Science and Medicine,
38(10):1347-65.
EPELE, Mara. 2010. Sujetar por la herida.
Una etnografa sobre drogas, pobreza
y salud. Buenos Aires: Paids.
___. 2011. New toxics, new poverty. A social
understanding of freebase cocaine/
Paco in Argentina. Substance, Use
& Misuse, 46(12):1468-1476.
ESCUDERO, Jos. 2003. The health crisis
in Argentina. International Journal
of Health Services, 33(1):129-136.
El nacimiento de la prisin. Buenos
Aires: S. XXI.
___. 2006. La hermenutica del sujeto. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica.
JELIN, Elizabeth. 2010. Pan y afectos. La
transformacin de las familias. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Econmica.
KLEINMAN, Arthur. 2009. Caregiving.
The odyssey of becoming more human. The Lancet, 373:292-293.
___. & HANNA, Briget. 2008. Catastrophe, caregiving and todays biomedicine. Biosocieties, 3:287-301.
HELD, Virginia. 2006. The ethic of care:
personal, political and global. New
York: Oxford University Press.
MANZANO, Virginia & TRIUGUFF, Matas.
2010. Las ocupaciones de espacios
pblicos y privados lideradas por organizaciones de desocupados y asambleas: procesos, tramas y significaciones. In: A. Massetti; E. Villanueva
& M. Gmez (orgs.), Movilizaciones,
protestas e identidades colectivas en
la Argentina del bicentenario. Buenos
Aires: Nueva Trilce. 173-196.
MIGUEZ, Hugo. 2007. El uso de PB/
Paco y la segunda exclusin. Acta
Psiquiatrica y Psicolgica de America
Latina, 53(1):18-22.
MOL, Annemarie. 2008. The logic of care.
Health and the problem of patient
choice. London: Routledge.
ORTALE, Susana. 2005. La comida de
los hogares: estrategias e inseguridad
alimentaria. In: S. Ortale & A. Eguia
(orgs.), Los significados de la pobreza.
Buenos Aires: Ed. Biblos. pp. 87-98.
PINHEIRO, Roseni & SILVA JR., Aluisio
Gomes da (orgs.). 2010. Por uma
sociedade cuidadora. Rio de Janeiro:
Cepesc-IMS/UERJ-Abrasco.
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
PITA, Mara. 2010. Formas populares de
protesta. Violencia policial y familiares del gatillo fcil. In: A. Massetti;
E. Villanueva & M. Gmez (orgs.),
Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del
bicentenario. Buenos Aires: Nueva
Trilce. pp. 323-342.
SANTIS, Rodrigo; HIDALGO, Carmen;
HAYDEN, Virginia & ANSELMO, Esteban. 2007. Consumo de sustancias y
conductas de riesgo en consumidores
de pasta base de cocana y clorhidrato
de cocana no consultantes a servicios de rehabilitacin. Rev. Med.
Chile, 135:45-53.
SANTIS, Rodrigo et al. 2006. Patrones
de consumo de sustancias de una
muestra no consultante de consumidores de pasta base de cocana. Revista Chilena de Neuro-psiquiatra,
44(1):15-22.
SEDRONAR / Secretara de Prevencin y
Lucha contra el Narcotrfico. 2007.
Aspectos cualitativos del consumo de
PBC/paco. Buenos Aires: Sedronar.
SVAMPA, Maristella. 2005. La sociedad
excluyente. La Argentina bajo el
signo del neoliberalismo. Buenos
Aires: Taurus.
TOUZ, Graciela (ed.). 2006. Saberes y
prcticas sobre drogas. El caso de la
pasta base de cocana. Buenos Aires:
Intercambios Asociacin Civil.
TRONTO, Joan. 1994. Moral boundaries.
A political argument for an ethic of
care. London: Routledge.
ULLOA, Fernando. 1995. La novela cl
nica psicoanaltica. Buenos Aires:
Paids.
ZEBALLOS, Jos. 2003. Efectos sociosanitarios de la crisis del 2001-2003.
Disponvel em: www.ops.org.ar/publicaciones.
267
268
SOBRE O CUIDADO DE OUTROS EM CONTEXTOS DE POBREZA, USO DE DROGAS E MARGINALIZAO
Resumo
Abstract
A coordenao temporria entre a rpida
extenso do consumo de Pasta Base/Paco
(PB/Paco) e a extrema crise econmicopoltica (2001-2002) na Argentina promoveu profundas modificaes nas redes
sociais, nas caractersticas corporais e
nos problemas de sade das populaes
marginalizadas. Partindo dos resultados
da pesquisa etnogrfica em trs bairros e favelas da rea metropolitana de
Buenos Aires, analiso neste trabalho as
caractersticas e as tenses das prticas
e dos saberes localmente categorizados
como cuidado de outros, sendo estes
outros, usurios/as de drogas em geral
e de PB/Paco. Atravs da anlise dos
desenvolvimentos em cincias sociais
e antropologia sobre a temtica do cuidado nas ltimas dcadas, neste artigo
examino os modos com que tais prticas
e saberes expressam os conflitos e os
encerramentos gerados pelas tenses
entre as tradies locais de cuidado e
os modos institucionais de abordar o
uso problemtico de drogas e de tratar
seus/suas usurios/as.
Palavras-chave Cuidado, Tcnicas, Marginalizao, Uso de drogas.
The temporary relationship between the
rapid spread of freebase cocaine/paco
(PB/paco) and the extreme political-economic crisis (2001-2002) in Argentina
engendered deep changes to the social
networks, bodily characteristics and
health issues of marginalized populations. The present article is based on
ethnographic research that I carried out
in three neighborhoods (villas) located in
the Metropolitan Area of Buenos Aires.
Here, I analyze the characteristics of
practices and knowledge locally categorized as care towards others, specifically drug users and, most specifically,
PB/paco users. Taking as my point of
departure the problematization of care in
the social sciences and anthropology during the last decades, this paper examines
the ways in which these practices and
knowledge express conflicts and entrapments generated by the tensions between
local traditions of care, on the one hand,
and institutional strategies orientated to
intensive drug use and modes of treating
drug users, on the other.
Key words Paco, Argentina, Margi
nalized Populations, Care.
Você também pode gostar
- O Livro de Enoque - ApócrifoDocumento101 páginasO Livro de Enoque - ApócrifoAntonio Júnior100% (1)
- O Amor Entre o Homem e A MulherDocumento65 páginasO Amor Entre o Homem e A MulherBruna Ferreira100% (3)
- Os Dez Mandamentos de MaquiavelDocumento1 páginaOs Dez Mandamentos de Maquiavelxenasilva0% (2)
- Carta de Intenção de Compra (Nova)Documento2 páginasCarta de Intenção de Compra (Nova)NILSON GRIMALDI BREVES100% (1)
- Metáfora e Finitude - ArtigoDocumento8 páginasMetáfora e Finitude - ArtigovieiradarosaAinda não há avaliações
- Caso 4 NOTA DIDÁTICA Atenção Nutricional Obesidade FinalDocumento8 páginasCaso 4 NOTA DIDÁTICA Atenção Nutricional Obesidade FinalMayna de ÁvilaAinda não há avaliações
- Evgen Bavcar Corpo PerformaticoDocumento6 páginasEvgen Bavcar Corpo PerformaticoMayna de ÁvilaAinda não há avaliações
- A Produção de Sentidos Na Arte Fotográfica de Evgen BavcarDocumento6 páginasA Produção de Sentidos Na Arte Fotográfica de Evgen BavcarMayna de ÁvilaAinda não há avaliações
- BIRMAN, J. Marques Seixas, Cristiane - O Peso Do Patológico - Biopolítica e Vida NuaDocumento14 páginasBIRMAN, J. Marques Seixas, Cristiane - O Peso Do Patológico - Biopolítica e Vida NuaMayna de ÁvilaAinda não há avaliações
- Check List Act Mrosc Sem Compartilhamento Patrimonial Versao Final 1212Documento9 páginasCheck List Act Mrosc Sem Compartilhamento Patrimonial Versao Final 1212Amon SalesAinda não há avaliações
- 3 Mestres Budistas Foram Perguntados Sobre A Homossexualidade... o Que Responderam - BudaDocumento13 páginas3 Mestres Budistas Foram Perguntados Sobre A Homossexualidade... o Que Responderam - BudaJoão SuzartAinda não há avaliações
- Farmacologia AntidepressivosDocumento4 páginasFarmacologia AntidepressivosLari RibeiroAinda não há avaliações
- Liderança Democrática e Manipulação de MassasDocumento11 páginasLiderança Democrática e Manipulação de MassasMarcus de Marchi0% (1)
- Penas Privativas de LiberdadeDocumento5 páginasPenas Privativas de Liberdadeapi-20006972Ainda não há avaliações
- Simulado FilosofiaDocumento4 páginasSimulado FilosofiaAlbertino MartinsAinda não há avaliações
- Plano de Aula Direito Digital e ComplianceDocumento2 páginasPlano de Aula Direito Digital e ComplianceThábata Filizola100% (1)
- SaegDocumento14 páginasSaegJonathan HodesAinda não há avaliações
- Questões Sobre o Pagador de Promessas e Feliz Ano NovoDocumento9 páginasQuestões Sobre o Pagador de Promessas e Feliz Ano NovoLéia Gandra0% (1)
- Atividade 6 - Padrões Abertos para A Prática de ConservaçãoDocumento3 páginasAtividade 6 - Padrões Abertos para A Prática de ConservaçãoTessia SantosAinda não há avaliações
- Requerimento - A.D.CDocumento1 páginaRequerimento - A.D.Cestacao00000003Ainda não há avaliações
- Assistente SocialDocumento11 páginasAssistente Socialmateus cunaAinda não há avaliações
- Trabalho 2 Vida e TranscendenciaDocumento2 páginasTrabalho 2 Vida e TranscendenciaDenise SamuelAinda não há avaliações
- Contrato de Prestação de Serviços PauloDocumento3 páginasContrato de Prestação de Serviços PauloMarcus LivrieriAinda não há avaliações
- Teoria 2Documento28 páginasTeoria 2Alex JunioAinda não há avaliações
- Justiça Equidade - AristotelesDocumento11 páginasJustiça Equidade - AristotelesDavi FleglerAinda não há avaliações
- Institucionalismo Da Escolha Racional e Institucionalismo HistóricoDocumento12 páginasInstitucionalismo Da Escolha Racional e Institucionalismo HistóricoegmourayahoocombrAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Psicossocial No Início Da Vida Adulta e No Adulto JovemDocumento2 páginasDesenvolvimento Psicossocial No Início Da Vida Adulta e No Adulto JovemGabriel JuniorAinda não há avaliações
- Habeas Corpus - Paulo Maluf STFDocumento16 páginasHabeas Corpus - Paulo Maluf STFMetropolesAinda não há avaliações
- A Importância Da UniãoDocumento8 páginasA Importância Da UniãoCarlos RickAinda não há avaliações
- Vésperas BEATa Maria Celeste CrostarosaDocumento5 páginasVésperas BEATa Maria Celeste CrostarosaNelson Hugo CarvalhoAinda não há avaliações
- OposiçãoDocumento8 páginasOposiçãoFábio Gonçalves JúniorAinda não há avaliações
- Prov ConcDocumento16 páginasProv Concgabao123Ainda não há avaliações
- Minuta de Escritura Pública Declaratória e de Cessão de DireitosDocumento6 páginasMinuta de Escritura Pública Declaratória e de Cessão de DireitosJaqueline Taís Kumm WinckAinda não há avaliações
- Auto de QueixaDocumento29 páginasAuto de QueixaMamado ricobertoAinda não há avaliações