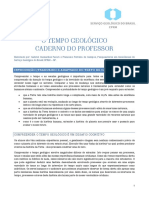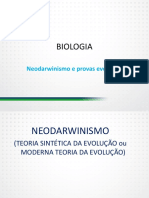Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Disp Protecao PDF
Disp Protecao PDF
Enviado por
Pedro CostaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Disp Protecao PDF
Disp Protecao PDF
Enviado por
Pedro CostaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Dispositivos de Segurana e Proteco
INTRODUO
A funo de qualquer sistema de segurana a de detectar a tentativa de um roubo, o
incio de um sinistro ou as anormalidades nos parmetros normais de funcionamento de
um processo industrial, pondo em risco vidas humanas ou perdas de bens materiais. Para
o efeito, dever proceder sob a forma de aviso ou actuando de forma automtica, aces
e maneira a diminuir ou at eliminar os efeitos negativos da resultantes.
CONSTITUINTES FUNDAMENTAIS DE UM SISTEMA DE SEGURANA
Todo e qualquer sistema de segurana constitudo basicamente pelos seguintes
elementos:
detectores
central de comando
elementos de sinalizao e auxiliares
redes de comando
a)
b)
Fig.1- Os Elementos de Segurana
a) instalao de segurana
b) instalao contra incndios
Prof. Jorge Rodrigues
1/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Quebra de
Vidros
Sistemas de Segurana
Detector
magntico
Dispositivo
de alarme
acstico
Repetidor
Central
Detector
magntico
Detector de
infravermelhos
Telecomando
Teclado
Fig.2 Sistema de intruso
DETECTORES
Os detectores destinam-se a observar a zona onde se pode produzir o sinistro, ou o que
se pretende proteger e cuja segurana se quer aumentar.
Os detectores podem ser manuais ou automticos, segundo necessitem ou no para o
seu accionamento da aco de um operador. Enquanto o detector manual pode ser
accionado por um vigilante (por ex. num grande armazm), logo que detecte uma
tentativa de roubo ou princpio de incndio, o detector automtico f-lo quando o seu
funcionamento fica alterado pela aco de um elemento estranho (ladro, fumo, chamas,
calor, etc.), produzindo um aviso e actuando o alarme.
Os detectores exercem a sua funo de aviso mediante a modificao das suas
caractersticas elctricas, isto , produzindo abertura, fecho ou modificao da resistncia
do circuito a que se encontra ligado.
Prof. Jorge Rodrigues
2/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
CENTRAIS
A funo de uma central a de recepo e tratamento dos avisos vindos dos detectores,
sinalizando a zona afectada e transmitindo o alarme ao lugar adequado (polcia,
bombeiros, etc.)e, por ltimo, o incio de medidas para atacar o sinistro (disparando o
circuito de extino automtica, fechando hermeticamente o local, por ex. onde se
encontre o ladro, etc.).
Fig.3 Diagrama de blocos de uma central
Para que o sistema seja autnomo fundamental que a central incorpore, para alm dos
mdulos capazes de realizarem o processamento do sinal elctrico produzido pelos
detectores, outro mdulo com a alimentao de emergncia do sistema. A figura 2
representa o diagrama de blocos de uma central.
As linhas de aviso que ligam os detectores s centrais so controladas por esta, mediante
a sua corrente de repouso (alimentao da central), dependendo de cada central e do tipo
de detector utilizado. A diminuio desta corrente produz a abertura de um contacto de
aviso e a actuao do alarme.
Fig.4 Diagrama bsico de um sistema de alarme
Prof. Jorge Rodrigues
3/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
ELEMENTOS DE SINALIZAO E AUXILIARES
Alm da sinalizao que se produz na prpria central, em muitas situaes esta faz actuar
nos exteriores dos locais outros dispositivos, tais como sirenes e sinais luminosos.
Quando a importncia dos estabelecimentos assim o justifica, a central encontra-se
ligada polcia ou bombeiros, encarregando-se ela prpria de activar e ligar os circuitos
de sinalizao externa.
Existem situaes em que se adicionam outros dispositivos, comandados pelas centrais,
como, por exemplo, cmaras de vdeo, elementos registadores, pilotos indicadores do
detector que produz o alarme, etc.
REDES DE COMANDO
Tanto os detectores como os elementos de sinalizao e auxiliares so ligados central
atravs de linhas, (ou sem fios, por rdio comando), que necessitam de estar
devidamente dimensionadas para que possam transmitir adequadamente as informaes.
Cada linha de aviso ou ordem transmitida necessita de dois, trs, quatro ou mais fios,
segundo o tipo de detector ou elemento a ela ligado. No ser o mesmo ligar um
detector manual ou um detector automtico, j que este necessita de alimentao para
funcionar.
Entende-se por malha fechada o circuito formado pela totalidade da linha, podendo as
centrais normais apresentar como resistncia normal da malha 100 . Este valor pode
atingir 900 , se for electrnica.
(km)
Centrais normais (100 )
Centrais electrnicas (900 )
Compri- CompriSeco
mento
mento
Cu
do anel da linha
(mm2)
0,5
1
0,1785
Seco
Al
(mm2)
0,2857
Seco
Cu
Cu
Al
(mm2)
(mm) (mm)
0,4768 0,6031 0,0198
Seco
Al
(mm2)
0,0317
Cu
Al
(mm) (mm)
0,1589 0,2010
1
1,4
1,5
2
2,25
2,5
0,5714
0,8
0,8571
1,1428
1,2857
1,4285
0,6743
0,7978
0,8258
0,9538
1,0115
1,0662
0,0634
0,0888
0,0952
0,1269
0,1428
0,1587
0,2247
0,2659
0,2752
0,3178
0,3371
0,3554
2
2,8
3
4
4,5
5
0,35714
0,5
0,53257
0,7142
0,8035
0,8928
0,8529
1,0092
1,0446
1,2062
1,2794
1,3486
0,0396
0,0555
0,0595
0,0793
0,0892
0,0992
0,2843
0,3364
0,3482
0,4020
0,4264
0,4495
Fig. 5 - Caractersticas das linhas
Prof. Jorge Rodrigues
4/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Para outros comprimentos de linhas, a seco e o dimetro podem obter-se atravs das
expresses:
cobre:
s=
l
5600
d = 4.s.
alumnio:
s=
l
3500
Em que:
s = seco recta em mm2
d = dimetro em mm
l = comprimento em m
Quando a central electrnica, a linha pode ser calculada atravs das expresses
anteriores, sendo no entanto a seco reduzida para 1/9 da calculada e o dimetro para
1/3.
CLASSES DE SISTEMAS DE ALARMES
Os sistemas de vigilncia realizados atravs de alarmes e de acordo com a sua funo
podem ser do seguinte tipo:
- incndios
- intruso e assalto
- vigilncia de processos industriais
PROTECO CONTRA INCNDIOS
Um sistema que detecte automaticamente a existncia de um incndio ser tanto mais
eficaz quanto mais rpido for capaz de detectar a existncia deste na sua fase inicial, e da
a necessidade do conhecimento do desenvolvimento dos fenmenos relacionados com o
incndio, relativamente ao tempo de propagao, de forma a permitir a utilizao de
detectores adequados.
A central de comando, por sua vez, dever dar uma ideia das propores do incndio, de
acordo com o nmero e o tipo de detectores activados.
O fogo um processo qumico de combusto entre duas substncias (combustvel e
comburente), respectivamente a substncia que arde e o oxignio, dando-se a reaco em
presena de uma fonte de ignio.
Prof. Jorge Rodrigues
5/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Na deteco de incndios, podem ser utilizados quatro tipos de detectores, que reagem
aos diferentes fenmenos que se podem produzir num incndio, como atrs foi referido,
tais como: detectores inicos, pticos, trmicos e de chamas.
O estado latente compreende a fase em que ainda no existe fumo visvel, chama ou
calor, no entanto j se desenvolve uma importante quantidade de partculas invisveis
que sobem rapidamente at ao tecto (se for numa habitao). A durao desta fase pode
estar compreendida entre alguns minutos e vrias horas, podendo ser detectada atravs
de detectores inicos.
O fumo visvel corresponde a uma fase de rpida gerao das partculas que se
acumulam e por isso se tornam visveis ao olho humano sob a forma de fumo. Esta fase
pode ser detectada por detectores pticos de fumos ou gases de combusto.
A fase da chama verifica-se quando se atinge o designado ponto de ignio,
produzindo-se as primeiras chamas acompanhadas de calor. A sua deteco pode ser
realizada atravs de detectores de infravermelhos.
O desenvolvimento de calor corresponde ltima etapa do processo evolutivo do fogo,
verificando-se agora um grande desprendimento de calor, com a produo de chamas,
fumos e gases txicos. A sua deteco feita atravs de detectores
termovelocimtricos.
DETECTORES de INTRUSO
Nos sistemas de deteco de intruso, os detectores mais utilizados so os seguintes:
Detectores magnticos
Detectores de infravermelhos
Detectores de quebra de vidros
Detectores Magnticos
So detectores que apresentam como principais atributos a simplicidade e fiabilidade.
Estes detectores so constitudos por duas lminas magnticas com contactos nas
extremidades, sendo o conjunto encerrado num invlucro cilndrico de vidro (reed)
cheio de gs inerte. O contacto pode ser actuado (ligado) por um man colocado
prximo.
Fig. 6 Detectores Magnticos
Prof. Jorge Rodrigues
6/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Os detectores magnticos so normalmente utilizados em portas e janelas, o invlucro
que contm o reed fixado na moldura da porta e o invlucro que contm o man
fixado na prpria porta, de modo que, com esta fechada, fiquem defronte um do outro.
Assim, com a porta fechada, o contacto do reed est fechado e com a porta ligeiramente
aberta, o contacto est aberto.
Detectores de Infravermelhos (IR)
So detectores sensveis radiao infravermelha (calor) emitido por animais de sangue
quente e, portanto, por seres humanos.
Na realidade so sensveis a uma variao de temperatura no seu campo de deteco, o
que lhes permite detectar, com uma preciso muito boa, a aproximao de qualquer
pessoa.
Fig. 7 Detectores de Infravermelhos
Estes detectores possuem um ou mais sensores piroelctricos e os mais evoludos
fabricam-se com dupla tecnologia: infravermelhos (PIR) e microondas (MW). A
tecnologia de infravermelhos detecta as variaes de temperatura no raio de aco do
detector e a tecnologia de microondas detecta o movimento nesse mesmo raio de aco.
O resultado final so detectores com elevada capacidade de deteco e excelente
imunidade a falsos alarmes, uma vez que s so activados quando as duas tecnologias
fornecem a informao para tal.
Tambm se fabricam detectores imunes a animais (Pet) at um determinado peso. Estes
detectores no devem ser montados perto de fontes de calor ou virados para o sol. Por
exemplo, em janelas, portas ou montras com vidros em que o sol entre directamente, os
detectores PIR devem ser montados de costas para estes elementos. PIR significa
"Passive Infrared".
Detectores de Quebra de Vidros
Os modernos detectores de quebra de vidros possuem um pequeno microfone que capta
o som da pancada no vidro, a que correspondem baixas frequncias e de seguida o som
do mesmo a partir (estilhaar), a que correspondem altas frequncias. A anlise das
frequncias dos sons captadas pelo microfone feita com extraordinrio detalhe, com
processamento digital dos sinais, o que permite reconhecer rapidamente as frequncias
dos sons produzidas pela quebra de um vidro, possibilitando uma grande sensibilidade
Prof. Jorge Rodrigues
7/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
de deteco e imunidade a falsos alarmes. O seu analisador de sinais ignora "distrbios"
ambientais e rudos externos aleatrios, mas responde rapidamente aos sons da quebra
de vidros. Estes detectores podem ser utilizados na proteco de todos os tipos de
vidros, incluindo vidros aramados, temperados e laminados. No necessitam de ser
fixados s janelas, eles fazem uma proteco volumtrica, o que permite proteger vrias
janelas com apenas um detector. Possuem ajuste de sensibilidade e so montados em
tectos e paredes.
Fig. 8 Detector de quebra de vidros
DETECTORES de INCNDIO
Os detectores de incndios so constitudos por um sensor sensvel aos elementos que se
libertam durante as fases de evoluo do incndio e que so: o gs, o fumo, a luz
proveniente da chama e o calor.
Sendo o sensor o "nariz" e os "olhos" do dispositivo, ele ter de ser capaz de alertar
para o perigo. O sensor, na maioria dos casos, converte uma grandeza fsica ou qumica,
que se pretende controlar ou conhecer, numa grandeza elctrica, normalmente, tenso
ou corrente.
O objectivo de um sistema de deteco de incndio permitir a emisso de um alarme
o mais precocemente possvel, uma vez que os danos provocados por um incndio so
tanto menores quanto mais rapidamente for detectado. Contudo, na escolha dos
detectores devemos ter em considerao as condies circundantes de modo a
evitarem-se falsos alarmes. Nos sistemas de deteco de incndios, os detectores mais
utilizados so os seguintes:
Detectores pticos
Detectores termovelocimtricos
Detectores trmicos
Detectores pticos
sensvel ao fumo visvel e muito indicado nos tipos de fogo precedidos por um
prolongado perodo de fumo, como por exemplo os sobreaquecimentos dos cabos
elctricos isolados a PVC.
Tambm designado por detectores de fumo, possuem como sensor uma clula
fotoelctrica (LDR, fotododo ou fototransstor) e uma fonte luminosa (LED).
Estes elementos esto alojados no interior de uma cmara com acesso ao fumo. Este
princpio bsico permite que a luz, recebida na clula receptora, seja influenciada pelo
fumo tornando assim possvel, atravs de um circuito electrnico, sinalizar a sua
existncia.
Prof. Jorge Rodrigues
8/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Esta deteco, de acordo com a verso mais moderna, trabalha segundo o princpio do
efeito da difraco da luz. A figura 9 representa o esquema de princpio de
funcionamento de um detector ptico, assim como a caracterstica de funcionamento.
a) esquema de funcionamento
b) caractersticas de funcionamento
Fig. 9 Detector ptico
Os primeiros indicadores de incndio, so normalmente gases de incndio e de fumo
formados por pequenas partculas, com dimetros da ordem de 0,001 m, que so
transportadas at ao tecto pelas correntes ascendentes de ar aquecido,
combinando-se com outras partculas de ar formando os denominados
aerossis de fumo, com dimetro compreendido entre 0,001 m e l0 m.
Os detectores pticos so sensveis a partculas de fumo com dimetros da ordem dos
0,5 a l0 m (fumos visveis), pelo que este tipo de detector capaz de provocar um
alarme precoce, uma vez que detecta o incndio muito antes da formao da chama.
Nestes detectores, a sensibilidade por vezes tambm pode ajustada, permitindo, por
exemplo, a sua utilizao numa sala de reunies ou numa sala de computadores. Com a
evoluo da tcnica, fabricam-se detectores pticos cada vez mais sensveis e os
mesmos tm vindo a destronar os detectores inicos que tambm so usados na
deteco de fumo.
Fig.10 Detector ptico
Prof. Jorge Rodrigues
9/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Detectores Trmicos
Aps o fumo num incndio, a fase seguinte normalmente o calor libertado durante o
processo de combusto. Dependendo dos materiais em reaco, este calor propaga-se ao
ar ambiente e o aumento da temperatura ser "sentido" pelo sensor. Este informa o
circuito electrnico do detector e o mesmo dar o sinal de alarme. Note-se que este tipo
de deteco, comparativamente ao detector ptico, acontece em estgios mais tardios
do incndio.
Fabricam-se dois tipos de detectores que funcionam com base no princpio atrs
exposto: detectores termovelocimtncos e detectores trmicos.
Os detectores termovelocimtricos reagem modificao anormal da temperatura,
dando o sinal de alarme normalmente antes que se atinjam os 70 C, j que estes
detectores esto preparados para quando esta elevao de temperatura se efectue a uma
velocidade superior a 10 por minuto.
Os detectores termovelocimtricos funcionam pela alterao da resistncia de um
termistor em funo da temperatura ambiente, utilizando um segundo termistor como
referncia, o que permite uma medio precisa da temperatura na vizinhana do
detector.
So normalmente utilizados em locais onde, em condies normais, possam existir
fumos ocasionais mas que seja aconselhvel detectar elevaes rpidas de temperatura.
So utilizados onde o uso de detectores de fumo no praticvel, tal como cozinhas e
salas onde exista alta ebulio, locais fechados de estacionamento, etc
Existem tambm detectores que somente reagem por temperatura, isto , ao atingir-se
um determinado valor (no geral 70 C). Estes ltimos designam-se por detectores
trmicos ou termoestticos.
DETECTORES DE CHAMAS
So tambm designados por detectores de infravermelhos ou pticos de chamas, sendo
de grande sensibilidade e de amplo campo de aco. Somente um detector pode vigiar
at 1000 m2, podendo por isso ser utilizado em locais, como por exemplo hangares,
onde a grande altura do tecto provoca uma maior demora na chegada de fumos, ou no
aumento da temperatura.
Nota: A utilizao deste detector deve ser estudada cuidadosamente, atendendo aos
factores que podem provocar falsos alarmes.
DETECTOR IONICO DE FUMOS OU GASES DE COMBUSTO
Este tipo de detector reage perante a presena de gases procedentes da combusto,
embora esta possa ainda estar a processar-se de forma muito lenta e portanto sem o
desprendimento de fumos visveis. Funciona como o nariz humano, razo pelo que
tambm conhecido por nariz electrnico.
Prof. Jorge Rodrigues
10/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
No detector, o ar est ionizado e convertido de certo modo em condutor da
electricidade. Os gases procedentes de uma combusto so partculas maiores e mais
pesadas que as partculas de ar ionizadas. Quando os produtos da combusto penetram
na cmara de medida do detector, a condutividade do ar ionizado modifica-se e esta
alterao elctrica produz o disparo do alarme na central de sinalizao (fig. 8).
Fig.11 Princpio de funcionamento do detector inico
BOTONEIRAS DE ALARME
So dispositivos que possuem um interruptor cujo contacto actuado quando se
pressiona um boto ou se parte um vidro.
No caso das botoneiras com boto, as mesmas so rearmadas por meio de uma chave de
teste.
Fig.12 Botoneiras de alarme
Estes dispositivos so de utilizao interior, com montagem saliente ou embebida, e
devem ser instalados perto das sadas, nos caminhos de fuga, em escadas e onde
requerido pela legislao.
Prof. Jorge Rodrigues
11/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
SISTEMAS AUTOMTICOS DE DETECO DE INCNDIOS (SADI)
Fig. 13 Estrutura de um sistema automtico de deteco de incndios (SADI)
Um sistema automtico de deteco de incndios, como j se referiu anteriormente, tem
como finalidade essencial a deteco dos fenmenos caractersticos do fogo, tais como
produtos de combusto invisveis, fumos, chamas e calor, de forma a permitir uma
rpida actuao de combate ao fogo, atravs da activao de meios automticos, aps os
sinais dos detectores terem sido identificados na central, a qual coloca em
funcionamento os circuitos programados previamente, para conseguir a extino do
incndio.
A deteco do incndio na fase inicial permite s equipas de socorro interiores da
empresa tomar rapidamente as medidas de extino necessrias, razo pela qual os
sistemas de extino esto temporizados.
Estes sistemas contribuem de forma decisiva para reduzir as consequncias do incndio,
uma vez que iniciam a sua extino com rapidez.
Na figura 13, representa-se o diagrama de blocos de uma instalao automtica de
deteco e extino de incndios.
Prof. Jorge Rodrigues
12/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Este tipo de instalao o mais apropriado para salvar possveis danos pessoais e bens
materiais que se encontrem em perigo. Para cada caso necessrio determinar o plano
de alarme, j que dele que depender uma pronta e eficaz extino do incndio e
consequentemente a sua eficcia de aco, conforme se esquematiza na figura 14.
Fig. 14 Plano de alarme
CONCEPO DA INSTALAODE UM SADI
Um SADI deve aplicar-se totalidade da rea da unidade em risco que se pretende
proteger, incluindo certos locais especficos, nomeadamente:
- casa das mquinas de ascensor, as condutas verticais de elementos de transporte e de
transmisso, bem como ptios interiores cobertos;
- condutas horizontais e verticais de cabos elctricos;
- instalaes de climatizao e de ventilao;
- condutas horizontais e verticais de matrias-primas e de desperdcios, incluindo os seus
colectores;
Prof. Jorge Rodrigues
13/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
- espaos escondidos acima dos tectos falsos e abaixo dos pavimentos falsos;
-zonas criadas em locais, por anteparos ou painis, distantes pelo menos 300 mm entre
si.
reas vizinhas, zonas de deteco e circuitos de proteco
A rea de vigilncia protegida pode ser dividida em zonas de deteco, entendendo-se
por zona de deteco o conjunto da superfcie vigiada plos detectores ligados ao
mesmo circuito de deteco.
As zonas de deteco devem ser delimitadas e sinalizadas de tal forma que seja possvel
localizar rapidamente e com segurana um incndio, podendo ser do tipo:
a) srie - com condutores em srie e elementos em paralelo com fecho do circuito
executado por dispositivo de fim de linha;
b) paralelo - com condutores em paralelo e elementos em paralelo, com fecho do
circuito executado por dispositivo de fim de linha - neste caso s ser aceite o sistema
cujas bases dos elementos detectores sejam endereveis;
c) anel - com condutores em srie no circuito principal, os quais regressam central de
comando, podendo ter ou no condutores secundrios em paralelo e/ou em srie,
devendo pelo menos cada um dos circuitos secundrios possuir dispositivo enderevel.
- As zonas de deteco no devem vigiar simultaneamente mais que um andar e/ou
compartimento prova de fogo, excepo feita s caixas de escadas, ptios interiores
cobertos, caixas de ascensores, e/ou outros vos verticais, assim como pequenas
construes de vrios andares, que podem constituir, cada uma, uma zona distinta,
sendo contudo de 30 o mximo de elementos por zona em srie ou em paralelo, e 60
para a zona em anel, desde que a vigilncia se faa nos dois sentidos;
Fig. 15 Princpio de ligao externa dos detectores MS7 (Siemens)
Prof. Jorge Rodrigues
14/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Fig. 16 Princpio de ligao de detectores KM 150 (Kilsen)
- vrios compartimentos vizinhos no podem pertencer ao mesmo sector, a no ser que
tenham avisadores pticos de alarme.
- a superfcie do solo de uma zona em srie ou em paralelo no pode exceder 1600 m2.
No caso de uma zona em anel, a rea no pode exceder 2800 m2.
- os detectores de incndio implantados por baixo dos pavimentos sobrelevados, por
cima dos tectos falsos, nas condutas de cabos, nas instalaes de climatizao e de
ventilao devem pertencer a zonas distintas;
- os detectores automticos de incndio devem estar agrupados em circuitos de deteco;
- as botoneiras de alarme de incndio no devem ser ligadas s zonas de detectores
automticos de incndio, excepto nas zonas de deteco do tipo paralelo e anel;
Escolha dos detectores
Para a escolha de detectores a instalar, devem ter-se em conta o desenvolvimento
provvel de incndio na sua fase inicial, a altura do local, as condies circundantes e as
fontes possveis de falso alarme nas zonas a vigiar.
Ento, logo que a actividade exercida na zona a vigiar possa prever um incndio de
progresso lenta, dever-se- escolher detectores de fumos ou gases de combusto.
Se, pelo contrrio, se prever um incndio de progresso rpida, ento poder-se- utilizar
detectores de fumo, de calor e de chamas ou associaes de diferentes tipos de
detectores.
Prof. Jorge Rodrigues
15/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Altura do local (m)
1.5
1.5 e < 6
> 6 e < 7.5
> 7.5 e < 9
> 9 e < 12
> 12 e < 20
> 20
Trmicos
a
a
p.a.
m.p.a.
m.p.a.
m.p.a.
m.p.a.
Sistemas de Segurana
Fumos
m.a.
m.a.
m.a.
m.a.
a
p.a.
p.a.
Chamas
a
m.a.
m.a.
m.a.
m.a.
a
m.p.a.
Fig.17 Relao de vrios tipos de detectores com a altura
A entrada em funo dos detectores directamente proporcional altura do local, com
algumas restries sua utilizao em locais de grande altura (fig. 17).
No se dever considerar a altura das partes do tecto onde a superfcie seja inferior a
10% da superfcie total do tecto e interior ou igual superfcie mxima vigiada por
detector.
Os detectores de fumos e de chamas podem ser utilizados para uma temperatura
ambiente 50 C, a no ser que outros valores sejam exigidos.
A temperatura esttica de funcionamento da parte termoesttica dos detectores trmicos
deve ser superior a 10 C e at 50 C, temperatura mais elevada susceptvel de ser
produzida na vizinhana do detector.
No devem ser utilizados detectores termoestticos sempre que a temperatura seja
inferior a 0 C.
Os detectores trmicos que incluem a componente velocimtrica no devem ser
utilizados em locais onde as temperaturas oscilem muito ou sejam permanentemente
altas.
conveniente utilizarem-se detectores trmicos em locais em que hajam fumos, poeiras
ou aerossis, para se evitarem alarmes falsos.
possvel a utilizao de detectores de fumos em locais sujeitos a poeiras, desde que se
apliquem filtros especiais nos detectores.
Os detectores de chamas devero ser substitudos por outros detectores, sempre que
emitam alarmes intempestivos provocados pela aco directa ou indirecta de raios
solares ou de outras fontes luminosas, ou ento outra radiao modulada.
Prof. Jorge Rodrigues
16/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Determinao do nmero de detectores e sua implantao
Detectores automticos de incndio: a sua determinao e localizao funo do tipo
de detector a utilizar e das opes que conduziram sua escolha, devendo no entanto a
sua colocao ser feita de forma a evitar accionamentos intempestivos.
No entanto, seja qual for o detector a utilizar, dever-se-o ter sempre em considerao as
caractersticas e o raio de aco de cada detector, incluindo as regras de arte.
Detectores de calor: o nmero de detectores de calor deve ser determinado de tal forma
que no sejam ultrapassados os valores seguintes da superfcie vigiada por detector (A
mx.):
40 m2 nos locais onde a superfcie do pavimento for < 40 m2.
30 m2 nos locais onde a superfcie do pavimento comportando tecto ou cobertura
horizontal for > 40 m2, se a face interior da cobertura constituir simultaneamente o
tecto.
40 m2 nos locais onde a superfcie do pavimento comportando tecto ou uma
cobertura inclinada (cobertura inclinada superior a 20) for > 40 m2;
- 50 m2 nos locais onde a superfcie do pavimento e que comporta um tecto ou uma
cobertura inclinada (cobertura inclinada superior a 45) for > 40 m2.
Os detectores de calor devem ser distribudos de tal modo que nenhuma parte do tecto
ou cobertura se situe, em relao a um detector, a uma distncia horizontal superior s
indicadas no quadro (fig. 18).
Superfcie do solo ao local a vigiar
40 m
> 40 m2
2
Distncias mximas em funo da linha de gua do telhado
at 20
5.1 m
4.4 m
> 20
5.7 m
5.7 m
> 45
6.3 m
7.1 m
Fig. 18 Distribuio de detectores
Os detectores trmicos devem ser sempre instalados directamente debaixo da cobertura,
no devendo as distncias que separam os detectores das paredes ser inferiores a 0,5 m,
com excepo:
-nos corredores, condutas tcnicas e partes da construo similares, com menos de l m
de largura;
Prof. Jorge Rodrigues
17/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
- existindo barrotes, vigas ou condutas de climatizao correndo no vo do tecto, e se a
altura for inferior a 15 cm, a distncia lateral entre detectores e estes elementos de
construo deve tambm ser pelo menos de 0,5 m.
A distncia dos detectores de calor ao solo no deve exceder os 6 m, devendo a zona de
0,5 m volta dos detectores (dos lados e por baixo) estar livre de qualquer instalao
e/ou armazenamento.
Detectores de fumos: os detectores de fumos devem ser determinados de tal forma que
no sejam ultrapassados os seguintes valores da superfcie vigiada (A mx.):
- 80 m2 nos locais de altura e superfcie do pavimento, respectivamente 6 m e 80 m2;
- 60 m2 nos locais de altura e superfcie do pavimento, respectivamente 6 m e > 60 m2;
- 80 m2 nos locais de altura > 6 m e que comportem um tecto ou cobertura horizontal
(caso da superfcie interior do telhado e tecto);
- 100 m2 nos locais de altura > 6 m e que comportem um tecto ou telhado inclinado (no
caso da superfcie interior do telhado e tecto), se a inclinao for superior a 20;
- 120 m2 nos locais de altura > 6 m e que comportem um tecto inclinado, se a inclinao
for superior a 45.
Superfcie do solo a vigiar Altura do local (m)
(m2)
80
80
> 80
12
6
6 - 12
Distncia mxima em funo da
inclinao do telhado
20
> 20
> 45
6,7
7,2
8
5,8
7,2
9
6,7
8
9,9
Fig. 19 Distribuio de detectores
Os detectores de fumo devem ser distribudos de forma que qualquer ponto do tecto ou
da cobertura no esteja distanciado horizontalmente de um detector mais do que os
valores indicados no quadro (fig. 19).
As distncias necessrias entre detectores e tectos ou cobertura dependem da forma do
tecto ou da cobertura e da altura do local a vigiar. No caso de detectores de fumo, esses
valores so indicados no quadro (fig. 20).
Prof. Jorge Rodrigues
18/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Distncia x do detector de fumo ao tecto ou cobertura (mm)
Inclinao < 15
Inclinao 15-30
Inclinao > 30
Mn.
Mx
Mn.
Mx
Mn.
Mx.
30
200
200
300
300
500
70
250
250
400
400
600
100
300
300
500
500
700
150
350
350
600
600
800
Altura do local (m)
6
>6-8
> 8 - 10
> 10 - 12
Fig. 20 Distribuio de detectores
Na figura 21 representa-se uma rede automtica de deteco de incndios, incluindo
zonas de deteco, indicando a forma de ligar os detectores (em srie).
Fig. 21 Rede automtica de deteco de incndios
Central de comando
A instalao da central de comando do SADI deve cumprir determinados princpios, dos
quais se salientam alguns:
- dever ser instalada em locais resistentes ao fogo e tanto quanto possvel nas
proximidades dos acessos principais ou daquele que normalmente utilizado pelos
bombeiros, preferencialmente no piso trreo e acessvel a qualquer momento;
Prof. Jorge Rodrigues
19/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
-vigiada por detectores automticos de incndio;
- protegida contra as eventuais consequncias da actividade exercida no local (vibraes,
fumos, poeiras, gases ou vapores, etc.).
Alimentao do SADI
A sua alimentao deve ser efectuada pelo menos atravs de duas fontes de alimentao
independentes, sendo uma a rede elctrica pblica ou privada e outra um acumulador. O
seu funcionamento deve ser tal que uma interrupo de energia na rede no dever
afectar o normal funcionamento do sistema, processando-se a sua alimentao
automtica sem qualquer interrupo, atravs da outra fonte de energia, com capacidade
para alimentar o SADI durante pelo menos 72 horas, e em qualquer momento todos os
sistemas de alarme, durante pelo menos 1/2 hora. A recarga do acumulador dever ser
automtica, aps o restabelecimento da fonte de energia principal.
A central dever ser provida de uma indicao (visual ou sonora) da falha de energia da
rede pblica ou dos acumuladores.
PROTECES CONTRA ROUBOS E ASSALTOS
Parece primeira vista que os termos roubo e assalto so sinnimos no sentido
objectivo do facto, mas na verdade os especialistas em questes de segurana fazem uma
grande distino entre eles: assalto considerado como o conjunto de aces selectivas
encaminhadas para o lucro e que pem em perigo as pessoas; enquanto roubo, ainda que
tenha tambm como objectivo o lucro para a pessoa que o efectua, no atenta em
princpio contra a integridade fsica das pessoas.
Na tcnica da segurana prtica, os roubos supem-se nas horas em que a actividade
nula no estabelecimento protegido, enquanto os assaltos se efectuam em pleno
funcionamento.
Para a preveno destes delitos, podem tomar-se quatro medidas:
- proteco mecnica ou construtiva;
- proteco imediata da inteno do delito;
- sinalizao e transmisso do alarme;
- interveno para evitar a consumao do delito.
A proteco mecnica ou construtiva tem como objectivo principal a preveno directa
da aco, conseguindo-se atravs do recurso utilizao de materiais apropriados
(cristais antibala, blindagens, fechos de segurana, etc.).
Prof. Jorge Rodrigues
20/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
O objectivo da proteco preventiva da inteno do delito ganhar tempo na aco,
isto , iniciar o processo de sinalizao e alarme quando se suspeita da aco iminente de
um acto delituoso. Nesta classe de proteco h que fazer duas distines:
- proteco contra assalto ou agresso;
- proteco contra roubo e sabotagem.
Proteco contra assalto e agresso
So as pessoas que lidam com pblico nas mais diversas situaes profissionais e que
diariamente esto em contacto com objectos de valor ou dinheiro, as mais sujeitas a este
tipo de delito. Para a sua proteco, necessrio um conjunto de medidas que passam
por meios estruturais (proteces mecnicas), passando por detectores de agresso
(.pedais de alarme), de forma a avisarem discretamente as situaes de emergncia,
devendo tambm accionar meios auxiliares para a recolha de informaes sobre a
identidade dos autores do acto (.cmaras fotogrficas, cinematogrficas ou de TV em
circuito fechado, etc).
Os alarmes contra assaltos ficam temporizados durante um curto espao de tempo, de
forma a permitir a sua anulao pelo pessoal responsvel para o efeito, na eventualidade
de acto ser improcedente. Decorrido o tempo de temporizao, dever sinalizar a zona
de conflito.
Proteco contra roubo e sabotagem
As zonas susceptveis de roubo e sabotagem e em que no haja o elemento humano para
accionar o alarme devem ser sujeitas a sistemas automticos. A proteco destas zonas
dever detectar a aco do roubo ou sabotagem de forma imediata. A deteco do roubo
poder ser de trs tipos:
a) perifrica;
b) perimtrica;
c) proteco do objecto.
a) Perifrica
Normalmente a deteco perifrica realizada por recurso a redes de arame, que no caso
de serem cortadas daro origem a um alarme, ou ainda pela utilizao de feixes de
infravermelhos activos (emissor e receptor) que quando interceptados tambm daro
origem a um alarme.
b) Perimtrica
Prof. Jorge Rodrigues
21/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
Este tipo de deteco usado em residncias e destina-se essencialmente a emitir um
alarme assim que h uma violao de uma janela ou porta.
Para esse efeito so normalmente utilizados detectores do tipo infravermelhos passivos
ou ultra-snicos ou ainda contactos magnticos de alarme.
Frequentemente estes equipamentos esto ligados a uma central de deteco que no caso
de deteco ir provocar o accionamento das sirenes de alarme exterior.
c) Proteco do objecto
Esta proteco destina-se normalmente a locais especficos dentro de uma instalao
como, por exemplo, caixas-fortes (nestas as paredes e portas devem estar equipadas para
accionar o alarme).
A proteco do objecto pode ser efectuada atravs de detectores de rudo ou ssmicos,
que se desactivam em momentos preestabelecidos, de forma que o objecto possa ser
manipulado sem accionar o alarme.
VIGILNCIA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
Em determinadas instalaes ou equipamentos industriais, necessrio fazer o seu
controlo distncia, a partir de uma sala de controlo remoto, sem a necessidade da
presena local de pessoal para o efeito. Este tipo de vigilncia justifica-se por exemplo
em processos industriais especiais, tal o caso de uma central nuclear, em que o
processo est imerso numa atmosfera perigosa para os operrios e tcnicos. Verificandose uma situao de alarme, estabelece-se de forma automtica comunicao entre a
instalao e o centro de comando remoto, de forma a permitir a tomada das aces mais
oportunas.
ILUMINAO DE SEGURANA
Existem locais que pelas suas caractersticas prprias, como sejam edifcios comerciais,
escolas, hospitais, etc., necessitam de aparelhos de emergncia e sinalizao, com a
preocupao de garantir segurana das pessoas.
Estes aparelhos autnomos funcionam instantaneamente no caso de falta de energia da
rede elctrica, permitindo a sada at ao exterior das pessoas em condies de
normalidade. Dentro destas iluminaes de segurana, destacam-se as instalaes de
emergncia e de sinalizao.
Iluminao de emergncia
a que deve permitir, em caso de falta de energia elctrica da rede, a evacuao segura e
fcil das pessoas. Somente poder ser alimentada por fontes prprias de energia, sejam
ou no exclusivas para esse fim, excluindo fonte externa. Quando a fonte prpria de
Prof. Jorge Rodrigues
22/23
Escola Secundria Manuel da Fonseca
Sistemas de Segurana
energia constituda por baterias de acumuladores ou por aparelhos automticos
autnomos, pode utilizar-se um fornecimento externo para se proceder sua recarga
(fig. 22).
Fig. 22 Iluminao de emergncia
A iluminao de emergncia deve garantir um funcionamento mnimo de l hora,
proporcionando uma iluminao apropriada nos corredores principais.
Deve estar prevista para entrar em funcionamento automaticamente no momento em
que falta a energia elctrica que alimenta a iluminao geral, e instalada em locais e
dependncias que se indiquem em cada caso, no entanto sempre nas sadas e nos sinais
indicadores da direco das mesmas. Havendo um quadro principal de distribuio no
local, este e seus acessos devem ser providos de iluminao de emergncia.
Iluminao de sinalizao
uma instalao concebida para funcionar de modo contnuo durante determinados
perodos de tempo, devendo sinalizar de forma permanente a localizao de portas,
corredores, escadas e sadas dos locais durante o perodo em que permanecem com
pblico (fig. 23). Dever ser alimentada pelo menos por duas fontes de alimentao,
sejam normais, complementares ou procedentes de fonte prpria de energia elctrica
(baterias de acumuladores, aparelhos automticos autnomos ou grupos electrogneos).
Este tipo de iluminao instala-se em locais ou dependncias a indicar para cada caso,
mas sempre nas sadas e nos sinais indicadores da direco das mesmas.
Fig. 23 Iluminao de sinalizao permanente
Texto e imagens obtidos do livro de Prticas Oficinais e Laboratoriais do 11 ano, da Porto Editora, e
de vrias pginas na Internet.
Prof. Jorge Rodrigues
23/23
Você também pode gostar
- 1º Teste-Notícia e Texto Expositivo - 6º AnoDocumento8 páginas1º Teste-Notícia e Texto Expositivo - 6º AnoSalomé Mendes100% (4)
- Atividade 9 3o Ano CN Tema Caracteristicas Dos Animais - Morfologia e Habitos Dos AnimaisDocumento5 páginasAtividade 9 3o Ano CN Tema Caracteristicas Dos Animais - Morfologia e Habitos Dos AnimaisAndréa matias100% (5)
- 3 P.D - 2019 (3 ADA) - Port. 5º Ano - BPWDocumento4 páginas3 P.D - 2019 (3 ADA) - Port. 5º Ano - BPWAdelia De Oliveira Rodrigues Santos100% (1)
- Avaliação de Portugues 3º Ano 2019Documento6 páginasAvaliação de Portugues 3º Ano 2019Angela Maria100% (1)
- 2017 Biologia Ecologia e Conservacao de Tartarugas MarinhasDocumento27 páginas2017 Biologia Ecologia e Conservacao de Tartarugas Marinhasgonçalo monteiroAinda não há avaliações
- Avaliação Diagnóstica para Sophis e Vitória Raimunda LP PalitoDocumento20 páginasAvaliação Diagnóstica para Sophis e Vitória Raimunda LP PalitoMarli OliveiraAinda não há avaliações
- Lagoa Santa Nossa OrigemDocumento25 páginasLagoa Santa Nossa OrigemDenise DamarisAinda não há avaliações
- Tempo Geologico CadernoprofessorDocumento13 páginasTempo Geologico CadernoprofessorEurico filho m santos mendesAinda não há avaliações
- Ciências Naturais 8º Ano - Interações Seres Vivos-AmbienteDocumento22 páginasCiências Naturais 8º Ano - Interações Seres Vivos-AmbienteImirene RibeiroAinda não há avaliações
- Poster Golfinhos em CativeiroDocumento1 páginaPoster Golfinhos em CativeirocatarinadeloliAinda não há avaliações
- Areias Do AlbardãoDocumento110 páginasAreias Do AlbardãoJuliano CordeiroAinda não há avaliações
- Neodarwinismo e Provas EvolucaoDocumento42 páginasNeodarwinismo e Provas EvolucaoCleiton OliveiraAinda não há avaliações
- Acusol 445 NDocumento8 páginasAcusol 445 NMiller MoraisAinda não há avaliações
- Fauna Do Pampa e HidrografiaDocumento4 páginasFauna Do Pampa e HidrografiaiilvmyemmsAinda não há avaliações
- 2018 12 04 Livro-Leticia-CacauDocumento36 páginas2018 12 04 Livro-Leticia-CacaugggreiciAinda não há avaliações
- A Utilização Da Hipnose Na Prática ForenseDocumento29 páginasA Utilização Da Hipnose Na Prática ForenseIcaro DavidAinda não há avaliações
- 03 Ce 0218 07 Conservacao de Especies Florestais Ameacadas de Extincao em Belo HorizonteDocumento10 páginas03 Ce 0218 07 Conservacao de Especies Florestais Ameacadas de Extincao em Belo HorizonteMaria Tereza Faria FariaAinda não há avaliações
- Karoliny de OliveiraDocumento66 páginasKaroliny de OliveiraVydia SaeraAinda não há avaliações
- cn7 Ficha Trabalho 3Documento4 páginascn7 Ficha Trabalho 3MiguelAinda não há avaliações
- Aula - 01 - LP - TE - PCERJDocumento39 páginasAula - 01 - LP - TE - PCERJAna Cristina C Benavente Dos ReisAinda não há avaliações
- Atlas MorcegosDocumento100 páginasAtlas MorcegosNuno FerreiraAinda não há avaliações
- 1 - Subsistemas TerrestresDocumento54 páginas1 - Subsistemas TerrestresDD VitoldasAinda não há avaliações
- Momento Num CaféDocumento8 páginasMomento Num CaféCaroline FascianaAinda não há avaliações
- Biologia Na UerjDocumento9 páginasBiologia Na UerjAnonymous 2sjYi8TS2QAinda não há avaliações
- Resumos de GeologiaDocumento10 páginasResumos de GeologiaMargarida SilvaAinda não há avaliações
- Revisão 6série - 2ºtri - ParcialDocumento2 páginasRevisão 6série - 2ºtri - ParcialfrafathAinda não há avaliações
- 4º Ano-Sequência 03 ImprimirDocumento63 páginas4º Ano-Sequência 03 ImprimirMatheus GabrielAinda não há avaliações
- Resumo - ECOLOGIADocumento20 páginasResumo - ECOLOGIALucasBruxelAinda não há avaliações
- Contingências MatriciaisDocumento56 páginasContingências MatriciaisFilipe VasconcelosAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - 17 - 03 - 2020 PDFDocumento2 páginasFicha de Trabalho - 17 - 03 - 2020 PDFSONIA OLIVEIRA100% (1)