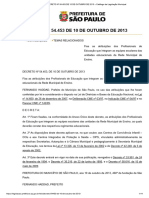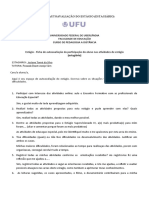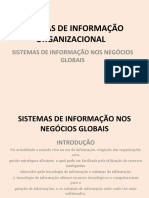Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Da Educação Segregada À Educação Inclusiva
Da Educação Segregada À Educação Inclusiva
Enviado por
FlavioTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Da Educação Segregada À Educação Inclusiva
Da Educação Segregada À Educação Inclusiva
Enviado por
FlavioDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Da Educao Segregada Educao Inclusiva: uma Breve Reflexo sobre os
Paradigmas Educacionais no Contexto da Educao Especial Brasileira1
Rosana Glat e Edicla Mascarenhas Fernandes
Faculdade de Educao / Universidade do Estado do Rio de Janeiro
A educao
de
alunos
com
necessidades
educativas
especiais
que,
tradicionalmente se pautava num modelo de atendimento segregado, tem se voltado nas
ltimas duas dcadas para a Educao Inclusiva. Esta proposta ganhou fora, sobretudo
a partir da segunda metade da dcada de 90 com a difuso da conhecida Declarao de
Salamanca (UNESCO, 1994), que entre outros pontos, prope que as crianas e
jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso s escolas regulares,
que a elas devem se adequar..., pois tais escolas constituem os meios mais capazes
para combater as atitudes discriminatrias, construindo uma sociedade inclusiva e
atingindo a educao para todos... (p. 8-9, grifo nosso).
Sob este enfoque, a Educao Especial que por muito tempo configurou-se como
um sistema paralelo de ensino, vem redimensionando o seu papel, antes restrito ao
atendimento direto dos educandos com necessidades especiais, para atuar,
prioritariamente como suporte escola regular no recebimento deste alunado. De forma
suc inta, esse artigo pretende acompanhar a trajetria da rea no Brasil, considerando os
paradigmas tericos vigentes, bem como a poltica educacional da poca. Ressaltando,
porm, que um paradigma no se esgota com a introduo de uma nova proposta, e
que, na prtica, todos esses modelos co-existem, em diferentes configuraes, nas redes
educacionais de nosso pas.
A Educao Especial se constituiu originalmente como campo de saber e rea de
atuao a partir de um modelo mdico ou clnico. Embora hoje basta nte criticado,
preciso resgatar que, como lembra Fernandes (1999), os mdicos foram os primeiros
que despertaram para a necessidade de escolarizao dessa clientela que se encontrava
misturada nos hospitais psiquitricos, sem distino de idade, principalmente no caso
da deficincia mental. Sob esse enfoque, a deficincia era entendida como uma doena
crnica, e todo o atendimento prestado a essa clientela, mesmo quando envolvia a rea
educacional era considerado pelo vis teraputico. A avaliao e identificao eram
Artigo publicado na Revista Incluso n 1, 2005, MEC/ SEESP.
pautadas em exames mdicos e psicolgicos com nfase nos testes projetivos e de
inteligncia, e rgida classificao etiolgica.
Nas instituies especializadas o trabalho era organizado com base em um
conjunto
de
terapias
individuais
(fis ioterapia,
fonoaudiologia,
psicologia,
psicopedagogia , etc) e pouca nfase era dada atividade acadmica, que no ocupa va
mais do que uma pequena frao do horrio dos alunos (GLAT, 1989). A educao
escolar no era considerada como necessria, ou mesmo possvel, principalmente para
aqueles com deficincias cognitivas e / ou sensoriais severas. O trabalho educacional
era relegado a um interminvel processo de prontido para a alfabetizao, sem
maiores perspectivas j que no havia expectativas quanto capacidade desses
indivduos desenvolverem-se academicamente e ingressarem na cultura formal.
Os anos 70 representa ram a institucionalizao da Educao Especial em nosso
pas, com a preocupao do sistema educacional pblico em garantir o acesso escola
aos portadores de deficincias2. Em sua progressiva afirmao prtico-terica, a
Educao Especial absorveu os avanos da Pedagogia e da Psicologia da
Aprendizagem, sobretudo de enfoque comportamental. O desenvolvimento de novos
mtodos e tcnicas de ensino baseados nos princpios de
modificao de
comportamento e controle de estmulos permitiu a aprendizagem e o desenvolvimento
acadmico desses sujeitos , at ento alijados do processo educacional. O deficiente
pode aprender, tornou-se a palavra de ordem, resultando numa mudana de paradigma
do modelo mdico , predominante at ento, para o modelo educacional. A nfase
no era mais a deficincia intrnseca do indivduo, mas sim a falha do meio em
proporcionar
condies
adequadas
que
promovessem
aprendizagem
desenvolvimento (GLAT, 1985; 1995; KADLEC & GLAT, 1984).
A metodologia de pesquisa privilegiada era da anlise aplicada do
comportamento, com nfase nos estudos de natureza experimental e semi-experimental,
com controle de variveis e observao direta do comportamento. Esse foi o momento
dos mtodos e tcnicas e das especificidades da Educao Especial (metodologias de
ensino para alunos com deficincia visual, auditiva, mental, superdotao, etc) 3.
2
A Lei de Diretrizes e Bases da Educao 5692/71 no artigo 9o recomendava que alunos com deficincias fsicas ou mentais, os que
se encontrassem em atraso considervel quanto idade regular de matrcula e os superdotados deveriam receber tratamento especial,
de acordo com as normas fixadas pelos Conselhos de Educao. E, em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educao Especial
(CENESP) que introduziu a Educao Especial no planejamento de polticas pblicas, ao mesmo tempo em que iniciou a
implantao de subsistemas de Educao Especial nas diversas redes pblicas de ensino, atravs da criao de escolas e classes
especiais, e projetos de formao de recursos humanos especializados, inclusive no exterior (FERREIRA & GLAT, 2003).
3
Em 1978 o ME C props o Projeto Prioritrio de Reformulao de Currculos para a Educao Especial para cada rea de
deficincia e superdotao. Neste contexto a oferta do atendimento ao excepcional poderia ocorrer em escolas regulares, clnicas ou
centros de reabilitao.
Porm, apesar dos avanos, este modelo no representou a garantia de ingresso
de alunos com deficincias no sistema de ensino. A Educao Especial funcionava
como um servio paralelo, com mtodos ainda de forte nfase clnica e currculos
prprios. As classes especiais implantadas nas dca das de 70 e 80 serviram mais como
espaos de segregao para aqueles que no se enquadravam no sistema regular de
ensino, do que uma possibilidade para ingresso na rede pblic a de alunos com
deficincias, cuja maioria ainda cont inuava em instituies privadas (BUENO, 1993;
FERNANDES, 1999).
Recursos e mtodos de ensino mais eficazes proporcionaram s pessoas com
deficincias maiores condies de adaptao social, superando, pelo menos em parte,
suas dificuldades e possibilitando sua integrao e participao mais ativa na vida
social. Acompanhando a tendncia mundial da luta contra a marginalizao das
minorias, comeou a se consolidar em nosso pas, no inicio da dcada de 80, a filosofia
da Integrao e Normalizao. A premissa bsica desse conceito que pessoas com
deficincias tm o direito de usufruir as condies de vida o mais comuns ou normais
possveis na comunidade onde vivem, participando das mesmas atividades sociais,
educacionais e de lazer que os demais (GLAT, 1989; 1995; PEREIRA, 1990).
O modelo segregado de Educao Especial passou a ser severamente
questionado, desencadeando a busca por alternativas pedaggicas para a insero de
todos os alunos, mesmo os portadores de deficincias severas, preferencialmente no
sistema rede regular de ensino (como recomendado no artigo 208 da Constituio
Federal de 1988). Foi assim instituda, no mbito das polticas educacionais, a
Integrao4. Este modelo, que at hoje ainda o mais prevalente em nossos sistemas
escolares, visa preparar alunos oriundos da s classes e escolas especiais para serem
integrados em classes regulares recebendo, na medida de suas necessidades,
atendimento paralelo em salas de recursos ou outras modalidades especializadas.
O deficiente pode se integrar na sociedade tornou-se, assim, a matriz poltica,
filosfica e cientfica da Educao Especial. Este novo pensar sobre o espao social das
pessoas com deficincias, que tomou fora em nosso pas com o processo de
redemocratizao, resultou em uma transformao radical nas polticas pblicas, nos
objetivos e na qualidade dos servios de atendimento a esta clientela.
Neste perodo o CENESP publicou os Subsdios para Organizao e Funcionamento de Servios de Educao Especial (1984),
apoiado nos princpios filosficos da normalizao, integrao e individualizao, propondo as modalidades de atendimento: classes
especiais, salas de recursos, ensino itinerante, escolas e centros especiais.
Em termos de conceituao terica, sentiu-se, nesse momento, as lacunas do
modelo comportamental / instrumentalista em preparar adequadamente as pessoas com
deficincias para sua plena integrao social e educacional. Nesse sentido, dois campos
de investigao comearam a se desenvolver. O primeiro voltado para Psicologia da
Aprendizagem, atravs do estudo e aplicao para Educao Especial do construtivismo
de Jean Pia get e Emilia Ferrero e do scio-interacionismo de Vigotsky. Estas pesquisas
mostraram que possvel para pessoas com deficincia construir conhecimento e se
apropriar da leitura e escrita em situaes de interao social (MOUSSATCH, 1992;
FERNANDES, 1993; FERNANDES, 1994; e outros).
A outra vertente terica mais voltada para os aspectos psicossociais
(AMARAL, 1995; GLAT, 1989; 1995; OMOTE, 1994; e outros), teve o interesse
investigativo dirigido para as condies de interao social, marginalizao,
socializao, estigma que promovem e mantm a segregao das pessoas com
deficincias. Este enfoque buscava entender o significado ou representaes que as
pessoas tm sobre o deficiente, e como esse significado determina o tipo de relao que
se estabelece com ele.
Recapitulando, no Brasil a tendncia para insero de alunos com necessidades
especiais na rede regular de ensino j anunciada desde o final dos anos 70, tomou vulto
na dcada de 80 com as discusses sobre os direitos sociais, que precederam a
Constituinte, as quais enfatiza vam reivindicaes populares e demandas de grupos ou
categorias at ento excludos dos espaos sociais. Neste movimento, a luta pela
ampliao do acesso e da qualidade da educao das pessoas portadoras de deficincia
culminou, no inicio dos anos 90, com a proposta de Educao Inclusiva, hoje amparada
e fomentada pela legislao em vigor, e determinante das polticas pblicas
educacionais a nvel federal, estadual e municipal (FERREIRA & GLAT, 2003).
O conceito de escola inclusiva, de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educao Especial (MEC-SEESP, 1998), implica em uma nova
postura da escola regular que deve propor no projeto poltico-pedaggico, no currculo,
na metodologia , na avaliao e nas estratgias de ensino, aes que favoream a
incluso social e prticas educativas diferenciadas que atendam a todos os alunos. Pois,
numa escola inclusiva a diversidade valorizada em detrimento da homogeneidade.
Porm, para oferecer uma educao de qualidade para todos os educandos,
inclusive os portadores de necessidades especiais, a escola precisa capacitar seus
professores, preparar-se, organizar-se, enfim, adaptar-se. Incluso no significa,
simplesmente, matricular os educandos com necessidades especiais na classe comum,
ignorando suas necessidades especificas, mas significa dar ao professor e escola o
suporte necessrio sua ao pedaggica (MEC-SEESP, 1998).
Conforme mostram Ferreira e Glat (2003), o movimento em prol da Educao
Inclusiva, trouxe em sua gnese uma discusso sobre a finalidade da Educao Especial,
mormente no seu excesso de especializao. A classificao de diferentes tipos de
deficincias comeou a ser colocada em segundo plano na definio geral de portadores
de necessidades educativ as especiais, ampliando-se a o leque de alunos que deveriam
receber algum tipo de suporte, j que agora considera-se, tambm, qualquer dificuldade
escolar permanente ou temporria .
Neste contexto que se descortina o novo campo de atuao da Educao
Especial. No visando importar mtodos e tcnicas especializados para a classe regular,
mas sim, tornando-se um sistema de suporte permanente e efetivo para os alunos
especiais includos, bem como para seus professores. Como mencionado, a Educao
Especial no mais concebida como um sistema educacional paralelo ou segregado,
mas como um conjunto de recursos que a escola regular dever dispor para atender
diversidade de seus alunos.
No entanto, em que pese o crescente reconhecimento da Educao Inclusiva
como forma prioritria de atendimento a alunos com necessidades educativas especiais,
na prtica este modelo ainda no se configura em nosso pas como uma proposta
educacional amplamente difundida e compartilhada. Embora nos ltimos anos tenham
sido desenvolvidas experincias promissoras, a grande maioria das redes de ensino
carece das condies institucionais necessrias para sua viabilizao.
No que tange produo de conhecimento, na ltima dcada tem sido
acumulado um significativo acervo de pesquisas no Brasil, que oferecem dados
importantes sobre o processo de incluso e as dificuldades enfrentadas pelo sistema
educacional brasileiro para sua implementao. No entanto, ainda so poucas as
pesquisas, experincias e prticas educacionais validadas cientificamente que mostrem
como fazer para incluir no cotidiano de uma classe regular alunos que apresentem
diferentes tipos de necessidades educativas especiais. Segundo estudo de Glat, Ferreira,
Oliveira e Senna (2003):
Os atuais desafios da Educao Inclusiva brasileira centram-se na
necessidade de desenvolver instrumentos de monitoramento
sistemticos (indicadores dos programas implantados), realizao de
pesquisas qualitativas e quantitativas que possam evidenciar os
resultados dos programas implantados e identificao de experincias
de sucesso; implantao de programas de capacitao de recursos
humanos que incluam a formao de professores dentro da realidade
das escolas e na sala de aula regular do sistema de ensino ( p.35).
Esses autores apontam tambm para o fomento de formas de participao das
comunidades escolares na construo dos planos estratgicos de ao para tornar as
suas escolas mais inclusivas, valorizando e utilizando os recursos j existentes,
levando-se em conta as particularidades contextuais e locais.
Referncias Bibliogrficas:
AMARAL, L. A. Conhecendo a deficincia (em companhia de Hrcules). So Paulo: Robel, 1995.
BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educao Especial, 1998.
BUENO, J. G. S. Educao Especial brasileira: integrao / segregao do aluno diferente. So Paulo:
EDUC/PUCSP, 1993.
FERNANDES, E. M. Construtivismo e Educao Especial. Revista Integrao. M EC /SEESP, 5 (11), pg
22-23, 1994
________________.Educao para todos -- Sade para todos: a urgncia da adoo de um paradigma
multidisciplinar nas polticas pblicas de ateno pessoas portadoras de deficincias. Revista do
Benjamim Constant, 5 (14), pg. 3-19, 1999.
FERNANDES, S. M. M. A educao do deficiente auditivo: um espao dialgico de produo de
conhecimento. Dissertao de Mestrado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1993.
FERREIRA, J. R. e GLAT, R. Reformas educacionais ps-LDB: a incluso do aluno com necessidades
especiais no contexto da municipalizao. In: Souza, D. B. & Faria, L. C. M. (Orgs.)
Descentralizao, municipalizao e financiamento da Educao no Brasil ps -LDB, pg. 372-390.
Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
GLAT, R. Um enforque educacional para a Educao Especial. Frum Educacional, 9 (1), pg. 88-100,
1985.
_______. Somos Iguais a vocs: depoimentos de mulheres com deficincia mental. Rio de Janeiro: Agir
Editora, 1989.
________. A integrao social do portador de deficincia: uma reflexo. Rio de Janeiro: Editora Sette
Letras, 1995.
KADLEC, V. P. S. e GLAT, R. A criana e suas deficincias: mtodos e tcnicas de atuao
psicopedaggica. Rio de Janeiro: Editora Agir, 1984.
MOUSSATCH, A. H. A. Aquisio de linguagem escrita em crianas portadoras de Sndrome de
Down. Dissertao de Mestrado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1992.
OMOTE, S. Deficincia e no-deficincia: recortes do mesmo tecido. Revista Brasileira de
Educao Especial, 1(2), pg. 65-74, 1994.
PEREIRA, O. S. Educao integrada: somos todos responsveis. Revista Integrao, 3 (6), 1617, 1990.
UNESCO. Declarao de Salamanca e Linha de Ao sobre Necessidades Educativas Especiais.
Braslia: CORDE, 1994.
Você também pode gostar
- Alimentos Transgênicos X Alimentos OrgânicosDocumento4 páginasAlimentos Transgênicos X Alimentos OrgânicosEtevaldo LimaAinda não há avaliações
- Gestão Da Qualidade em ServiçosDocumento349 páginasGestão Da Qualidade em ServiçosLUIZA100% (1)
- As Regras de Nomenclatura BinomialDocumento28 páginasAs Regras de Nomenclatura BinomialRafaelabiologia0% (1)
- Atividade de GeografiaDocumento5 páginasAtividade de GeografiaEzequiel Santos100% (2)
- Rubia FormatadoDocumento24 páginasRubia FormatadoAlex Souza MoraesAinda não há avaliações
- XP-30 PT PDFDocumento148 páginasXP-30 PT PDFKleyton Leite100% (1)
- DECRETO #54.453 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 Catálogo de Legislação MunicipalDocumento14 páginasDECRETO #54.453 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 Catálogo de Legislação MunicipalStefanie SaccomamAinda não há avaliações
- Catalogo Nicholson 2017Documento44 páginasCatalogo Nicholson 2017RODRIGO DIEGO GUERRERO JORDANAinda não há avaliações
- HD 13-14 Pepsi PDFDocumento62 páginasHD 13-14 Pepsi PDFIara ZorzalAinda não há avaliações
- 00-Laudo de HabitabilidadeDocumento8 páginas00-Laudo de HabitabilidadeMAQSS TREINAMENTOS100% (2)
- Avaliação de Português Do 8º Ano 1º BimestreDocumento5 páginasAvaliação de Português Do 8º Ano 1º BimestreALDEMIR DUARTEAinda não há avaliações
- Atividade 15 - Ficha de Autoavaliacao Do Estagio (Estagiario) Estágio Supervisionado IV - Pedagogia - 2021-2Documento4 páginasAtividade 15 - Ficha de Autoavaliacao Do Estagio (Estagiario) Estágio Supervisionado IV - Pedagogia - 2021-2josiane toméAinda não há avaliações
- RJ Ge Mat ResolDocumento10 páginasRJ Ge Mat ResolNikolas PadilhaAinda não há avaliações
- Enunciação e SemióticaDocumento208 páginasEnunciação e SemióticaJosé Ricardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Faraco - o Autor e AutoriaDocumento3 páginasFaraco - o Autor e AutoriaRaquel Zanini100% (2)
- Super AlunoDocumento5 páginasSuper AlunoRicardo Julio Jatahy Laub JuniorAinda não há avaliações
- História em Rco+Aulas 2ºtrimestre 2023Documento21 páginasHistória em Rco+Aulas 2ºtrimestre 2023Trunks LunáticoAinda não há avaliações
- Aula 00 - Sequências - AFA 2024Documento121 páginasAula 00 - Sequências - AFA 2024João Gabriel Ferreira Calixto100% (1)
- Gestão de StocksDocumento23 páginasGestão de StocksAnabelaTavaresAinda não há avaliações
- S.I Nos NegociosDocumento20 páginasS.I Nos NegociosElidio MunliaAinda não há avaliações
- Regimento Interno EbserhDocumento23 páginasRegimento Interno EbserhLF BorgesAinda não há avaliações
- Lixiviação PDFDocumento36 páginasLixiviação PDFThiago Almeida100% (1)
- Aula 01Documento9 páginasAula 01Izabela Luvizotto Dias de AbreuAinda não há avaliações
- 1 Questão: Atividade - Semana de Conhecimentos Gerais - 2019BDocumento10 páginas1 Questão: Atividade - Semana de Conhecimentos Gerais - 2019BJaspion JaspionAinda não há avaliações
- Microsoft PowerPoint - POWER POINT DO PROJETO DE MONOGRAFIADocumento29 páginasMicrosoft PowerPoint - POWER POINT DO PROJETO DE MONOGRAFIAapi-370460775% (4)
- Aula 3 BC LeilaDocumento31 páginasAula 3 BC LeilaPaulo Costa SilvaAinda não há avaliações
- Ficha Técnica Cola SupercianoDocumento2 páginasFicha Técnica Cola SupercianoVanessa DuzAinda não há avaliações
- Lab6 Testea3Documento7 páginasLab6 Testea3marta martinsAinda não há avaliações
- Prova 1 Vest 2008Documento16 páginasProva 1 Vest 2008Fernando FNAinda não há avaliações
- Aula 9 - Moda e Mediana - Medidas de Tendência CentralDocumento22 páginasAula 9 - Moda e Mediana - Medidas de Tendência CentralSayuria IakemyAinda não há avaliações