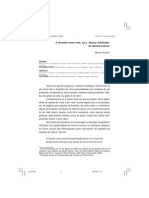Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Constitucional 2 - Cpia
Apostila Constitucional 2 - Cpia
Enviado por
Thiago QueirozTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Constitucional 2 - Cpia
Apostila Constitucional 2 - Cpia
Enviado por
Thiago QueirozDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D.
CONSTITUCIONAL 2
DIREITO CONSTITUCIONAL 2
PROF MS. NURIA CABRAL
ROTEIRO E RESUMO DAS AULAS
Material de apoio pedaggico, formulado como Roteiro / estrutura das aulas e
resumo das informaes que sero trabalhadas. Este resumo usou a metodologia
de sntese e compilao dos autores / obras abaixo listadas:
REFERNCIAS UTILIZADAS NO MATERIAL DE APOIO PEDAGGICO:
BRASIL, Constituio da Repblica Federativa do Brasil promulgada em 1988.
AGRA, Walber de Moura. Aspectos Controvertidos do Controle de Constitucionalidade. Salvador:
JusPODIVM, 2008.
______ . Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
______. Manual de Direito Constitucional. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
APPIO, Eduardo Fernando. Interpretao Conforme a Constituio: instrumentos da tutela
jurisdicional dos direitos fundamentais. Curitiba: Juru, 2002.
ARAJO, Luiz Alberto David, NUNES JNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9
ed. - So Paulo: Saraiva, 2005.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22 ed. - So Paulo: Saraiva, 2001.
BERNARDES, Juliano Taveira. Controle Abstrato de Constitucionais: elementos materiais e
princpios constitucionais. So Paulo: Saraiva, 2004.
BONIFCIO, Artur Cortez. Direito de Petio: garantia constitucional. So Paulo: Mtodo, 2004.
BULOS, Uadi Lamgo. Curso de Direito Constitucional. So Paulo: Saraiva, 2007.
CAPEZ, Fernando e outros. Curso de Direito Constitucional. So Paulo: Saraiva, 2004.
CARVALHO, Kildare Gonalves. Direito Constitucional. 12 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
CENEVIVA, Walter. Direito Constitucional Brasileiro. 3 ed. So Paulo: Saraiva, 2003.
COELHO, Inocncio Mrtires. Interpretao Constitucional. 2 ed. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris Editor, 2003.
CORREIA, Marcus Orione Gonalves. Direito Processual Constitucional. So Paulo: Saraiva,
2002.
CUNHA JNIOR, Dirley da. Controle de Constitucionalidade: teoria e prtica. Salvador:
JusPODIVM, 2006.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25 ed. - Curso de Direito
Constitucional. So Paulo: Saraiva, 2005.
DANTAS, Ivo. Constituio & Processo.- 2 ed. rev. atual. ampl. Curitiba: Juru, 2007.
DELFIM, Ricardo Alessi. Ao Declaratria de Constitucionalidade e os Princpios Constitucionais
do Processo. So Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da Declarao de Inconstitucionalidade. 5 ed.
So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonalves. Curso de Direito Constitucional. 29 ed. - So Paulo:
Saraiva, 2002.
GOUVA MEDINA, Paulo Roberto de. Direito Processual Constitucional. Rio de Janeiro: Forense,
2003.
HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 4 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 10 ed. So Paulo: Mtodo, 2006.
MAGALHES, Jos Luiz Quadros de. Direito Constitucional Tomo I. 2 ed. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocncio Mrtires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso
de Direito Constitucional. So Paulo: Saraiva, 2007.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19 ed. So Paulo: Atlas, 2006.
MOTTA, Sylvio, DOUGLAS, Willian. Controle de Constitucionalidade: uma abordagem terica e
jurisprudencial. 3 ed. Rio de Janeiro: Impetus. 2004.
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
______ . Direito Constitucional. 13 ed. - Rio de Janeiro: Impetus, 2003.
PALU, Oswaldo Luiz. Controle de Constitucionalidade: conceitos, sistemas, efeitos. 2 ed. So
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Rio de
Janeiro: Impetus, 2007.
______ . Controle de Constitucionalidade. Rio de Janeiro: Impetus, 2006.
______ . Remdios Constitucionais. Rio de Janeiro, 2005.
PIOVESAN, Flvia. Proteo Judicial contra Omisses Legislativas: ao direta de
inconstitucionalidade por omisso e mandado de injuno. 2 ed. So Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2003.
RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relaes Internacionais. 7 ed. So Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2002.
RIBEIRO, Ricardo Silveira. Omisses Normativas.- Rio de Janeiro: Impetus, 2003.
SILVA, Jos Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23 ed. So Paulo: Malheiros,
2004.
SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Controle de Constitucionalidade. So Paulo: Juarez de Oliveira,
2001.
SOARES, Mrio Lcio Quinto. Teoria do Estado. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
TAVARES, Andr Ramos. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. So Paulo: Saraiva, 2006.
ORGANIZAO DO ESTADO
A organizao e estrutura do Estado podem ser analisadas sob 03 aspectos:
a) Forma de Governo Repblica ou Monarquia
b) Sistema de Governo Presidencialismo ou Parlamentarismo
c) Forma de Estado Estado Unitrio ou Federao.
CARACTERSTICAS COMUNS A TODA FEDERAO:
a) Descentralizao poltica;
b) Constituio como base jurdica;
c) Inexistncia do direito de secesso art. 60, 4, I;
d) Soberania do Estado Federal (Repblica Federativa do Brasil);
e) Auto-organizao dos Estados-Membros art. 25;
f) rgo representativo dos Estados-Membros art. 46: Senado Federal;
g) Guardio da CF: no Brasil o STF.
FUNDAMENTOS DA REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: ART. 1, CF
a) Soberania;
b) Cidadania;
c) Dignidade da pessoa humana;
d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
e) O pluralismo poltico.
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Art. 3.
PRINCPIOS QUE REGEM A REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL NAS
RELAES INTERNACIONAIS: Art. 4, CF.
ORGANIZAO DO ESTADO BRASILEIRO
FEDERALISMO BRASILEIRO
REPBLICA FEDERATIVA
ORGANIZAO POLTICO-ADMINISTRATIVA
ART. 18
UNIO
ESTADOS-MEMBROS
DF
MUNICPIOS
ART. 19
Poder Pblico
Laico
F Nos Documentos
Pblicos
Igualdade entre os
Brasileiros
COMPONENTES DO ESTADO FEDERAL
A organizao poltico-administrativa compreende, como se v no art. 18, a Unio,
os Estados, o Distrito Federal e os Municpios.
BRASLIA: Art. 32, CF/88
a capital federal; assume uma posio jurdica especfica no conceito brasileiro
de cidade; o plo irradiante, de onde partem, aos governados, as decises mais graves,
e onde acontecem os fatos decisivos para os destinos do Pas.
A POSIO DOS TERRITRIOS
No so mais considerados componentes da federao; a CF lhes d posio
correta, de acordo com sua natureza de mera-autarquia, simples descentralizao
administrativo-territorial da Unio, quando os declara integrantes desta (art. 18, 2).
FORMAO DOS ESTADOS
No h como formar novos Estados, seno por diviso de outro ou outros; a
Constituio prev a possibilidade de transformao deles por incorporao entre si, por
subdiviso ou desmembramento quer para se anexarem a outros, quer para formarem
novos Estados, quer, ainda, para formarem Territrios Federais, mediante aprovao da
populao diretamente interessada, atravs de plebiscito, e do Congresso Nacional, por
lei complementar, ouvidas as respectivas Assemblias Legislativas (art. 18, 3,
combinado com o art. 48, VI).
OS MUNICPIOS NA FEDERAO
A interveno neles da competncia dos Estados, o que mostra serem
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
vinculados a estes, tanto que sua criao, incorporao, fuso e desmembramento, farse-o por lei estadual, dentro do perodo determinado por lei complementar federal (EC15/96), e dependero de plebiscito.
VEDAES CONSTITUCIONAIS DE NATUREZA FEDERATIVA
O art. 19 contm vedaes gerais dirigidas Unio, Estados, Distrito Federal e
Municpios; visam o equilbrio federativo; a vedao de criar distines entre brasileiros
coliga-se com o princpio da igualdade; a paridade federativa encontra apoio na vedao
de criar preferncia entre os Estados federados, ou entre os Municpios de um Estado e
os de outro ou do mesmo Estado, ou entre um Estado e DF.
DA REPARTIO DE COMPETNCIAS (Paulo Verd, apud, Raul Machado Horta):
A CF a responsvel pela repartio de competncias, que demarca os domnios da
Federao e dos Estados-membros;
atravs dessa repartio que se conhece o modelo daquele Estado;
A repartio de competncia exigncia da estrutura federal para assegurar o
convvio dos ordenamentos que compem o Estado Federal;
A repartio de competncia vista como a chave da estrutura do poder federal, o
elemento essencial da construo federal, a grande questo do federalismo, o
problema tpico do Estado Federal.
O PROBLEMA DA REPARTIO DE COMPETNCIAS FEDERATIVAS: A autonomia
das entidades federativas pressupe repartio de competncias para o exerccio e
desenvolvimento de sua atividade normativa; a CF/88 estruturou um sistema que combina
competncias exclusivas, privativas e principiolgicas com competncias comuns e
concorrentes.
O PRINCPIO DA PREDOMINNCIA DO INTERESSE
Segundo ele, Unio cabero aquelas matrias e questes de predominante
interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocaro as matrias e assuntos de
predominante interesse regional, e aos Municpios concernem os assuntos de interesse
local.
SISTEMA DA CONSTITUIO DE 1988: Busca realizar o equilbrio federativo, por meio
de uma repartio de competncias que se fundamenta na tcnica da enumerao dos
poderes da Unio (21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (25, 1) e
poderes definidos indicativamente aos Municpios (30), mas combina possibilidades de
delegao (22, par. nico), reas comuns em que se prevem atuaes paralelas da
Unio, Estados, DF e Municpios (art. 23) e setores concorrentes entre Unio e Estados
em que a competncia para estabelecer polticas gerais, diretrizes gerais ou normas
gerais cabe Unio, enquanto se difere aos Estados e at aos Municpios a competncia
suplementar (conforme o art. 24, 2 e 3, e art. 30, II).
CLASSIFICAO DAS COMPETNCIAS
a) Privativas competncia delegvel, pertencente Unio, que pode deleg-la por
inteiro ou em pontos especficos ao outro ente;
b) Exclusiva competncia indelegvel. Obs: a CF traz estas duas competncias
como sinnimas, mas faz-se necessrio diferenci-las.
c) Concorrente h uma diviso quanto ao objeto de regulamentao: a primeira
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
parte cabe Unio e a segunda ao Estado ou DF (art. 24 e incisos da CF);
d) Comum competncia de colaborao, onde qualquer ente pode dispor sobre o
assunto, prevalecendo hierarquia federativa: as normas do Estado no podero
contrariar as da Unio; as normas do Municpio no podero chocar-se com as do
Estado.
e) Residual competncia dos Estados. Aquilo que no for expresso na CF, como
sendo competncia da Unio ou dos Municpios, pertence aos Estados.
f) Complementar, Supletiva ou Suplementar giram em torno da competncia
concorrente. Ex.: art. 24 competncia concorrente da Unio, 3 e 4 so de
competncia supletiva do Estado.
COMPETNCIA DA UNIO FEDERAL:
Competncia administrativa ou material:
a) Exclusiva: marcada pela particularidade da indelegabilidade art. 21, CF;
b) Comum: tambm chamada de cumulativa ou paralela aos entes federativos art.
23. CF.
Competncia Legislativa:
a) Privativa: art. 22. No pargrafo nico, a Unio, por lei complementar, autoriza os
Estados a legislar sobre assuntos especficos do art. 22. Essa possibilidade se
estende ao DF, por fora do art. 32, 1, CF.
b) Concorrente: art. 24 normas gerais.
c) Competncia tributria expressa: art. 153
d) Competncia tributria residual: art. 154, I;
e) Competncia tributria extraordinria: art. 154, II.
COMPETNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS:
Competncia Administrativa ou Material:
a) Exclusiva: arts. 18, 4; 25, 2 e 3; 27, 2 e 4; 128, 4 e 5; 145; 149;
155; 169 e 195, CF, e arts. 24; 39; 41, ADCT.
b) Comum (cumulativa ou paralela): art. 23;
c) Residual (remanescente ou reservada): so aquelas competncias administrativas
que no lhe sejam vedadas, ou a competncia que sobrar (eventual resduo), aps
a enumerao dos outros entes federativos (art. 25, 1), ou seja, as competncias
que no sejam da Unio (art. 21), do DF (art. 32), dos Municpios (art. 30) e
comum (art. 23).
Competncia Legislativa:
a) Expressa: art. 25, caput;
b) Residual (remanescente ou reservada): art. 25, 1;
c) Delegada pela Unio: art. 22, pargrafo nico;
d) Concorrente: art. 24;
e) Suplementar (complementar ou supletiva): art. 24, 1 ao 4;
f) Tributria Expressa: art. 155.
COMPETNCIA DOS MUNICPIOS:
Competncia Administrativa ou Material:
a) Comum (cumulativa ou paralela): art. 23, CF;
b) Privativa (enumerada): art. 30, III ao IX.
Competncia Legislativa:
a) Expressa: art. 29, caput;
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
b) Interesse local: art. 30, I;
c) Suplementar: art. 30, II;
d) Plano diretor: art. 182, 1.
COMPETNCIA DO DISTRITO FEDERAL:
Competncia Administrativa ou Material:
a) Comum (cumulativa ou paralela): art. 23
Competncia Legislativa:
a) Expressa: art. 32, caput;
b) Residual: art. 25, 1;
c) Delegada: art. 22, pargrafo nico;
d) Concorrente: art. 24;
e) Suplementar: art. 24, 1 ao 4;
f) Interesse local: arts. 30, I, c/c 32, 1;
g) Tributria expressa: art. 155.
DO GOVERNO DA UNIO - DA UNIO COMO ENTIDADE FEDERATIVA
CONCEITO DE UNIO: a entidade federal formada pela reunio das partes
componentes, constituindo pessoa jurdica de Direito Pblico interno,
autnoma em relao s unidades federadas e a cabe exercer as
prerrogativas da soberania do Estado brasileiro.
A Unio, na ordem jurdica, s preside os fatos sobre que incide sua competncia;
o Estado federal, juridicamente, rege toda a vida no interior do Pas, porque abrange a
competncia da Unio e a das demais unidades autnomas referidas no art. 18.
UNIO E PESSOA JURDICA DE DIREITO INTERNACIONAL: O Estado federal que
a pessoa jurdica de Direito Internacional; quando se diz que a Unio pessoa jurdica de
Direito Internacional, refere-se a duas coisas: as relaes internacionais do Estado
realizam-se por intermdio de rgos da Unio, integram a competncia deste (art. 21, I a
IV), e os Estados federados no tem representao nem competncia em matria
internacional.
UNIO COMO PESSOA JURDICA DE DIREITO INTERNO: Nessa qualidade, titular de
direitos e sujeitos de obrigaes; est sujeita responsabilidade pelos atos que pratica,
podendo ser submetida aos Tribunais; como tal, tem domiclio na Capital Federal (18,
1); para fins processuais, conforme o caso (109, 1 a 4).
BENS DA UNIO: Ela titular de direito real, e pode ser titular de direitos pessoais; o art.
66, III, do CC. declara que os bens pblicos so os que constituem o patrimnio da Unio,
dos Estados ou Municpios, como objeto de direito pessoal, ou real de cada uma dessas
entidades; o art. 20 da CF estatui quais so esses bens.
COMPETNCIA INTERNACIONAL E COMPETNCIA POLTICA: Internacional a que
est indicada no art. 21, atendendo os princpios consignados no art. 4; de natureza
poltica de competncia exclusiva so as seguintes: poder de decretar estado de stio, de
defesa e a interveno; poder de conceder anistia; poder de legislar sobre direito eleitoral.
COMPETNCIA ECONMICA: a) elaborar e executar planos nacionais e regionais de
desenvolvimento econmico; b) estabelecer reas e as condies para o exerccio de
garimpagem; c) intervir no domnio econmico, explorar atividade econmica e reprimir
abusos do poder econmico; d) explorar a pesquisa e a lavra de recursos minerais; e)
monoplio de pesquisa, lavra e refinao do petrleo; f) monoplio da pesquisa e lavra de
gs natural; g) monoplio do transporte martimo do petrleo bruto; h) da pesquisa, lavra,
enriquecimento, reprocessamento, industrializao e comrcio de minrios nucleares; i) a
desapropriao por interesse social, nos termos dos art. 184 a 186; j) planejar e executar,
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
na forma da lei, a poltica agrcola; k) legislar sobre produo e consumo.
COMPETNCIA SOCIAL: a) elaborar e executar planos nacionais de regionais de
desenvolvimento social; b) a defesa permanente contra calamidades pblicas; c)
organizar a seguridade social; d) estabelecer polticas sociais e econmicas, visando a
sade; e) regular o SUS; f) regulamentar as aes e servios de sade; g) estabelecer a
previdncia social; h) manter servios de assistncia social; i) legislar sobre direito social
em suas vrias manifestaes.
COMPETNCIA FINANCEIRA E MONETRIA: A administrao financeira continuar
sob o comando geral da Unio, j que a ela cabe legislar sobre normas gerais de Direito
tributrio e financeiro e sobre oramento, restando as outras entidades a legislao
suplementar.
COMPETNCIA MATERIAL COMUM: Muitos assuntos do setor social, referidos antes,
no lhe cabem com exclusividade; foi aberta a possibilidade das outras entidades
compartilharem com ela da prestao de servios nessas matrias, mas, principalmente,
destacou um dispositivo (art. 23) onde arrola temas de competncia comum.
COMPETNCIA LEGISLATIVA:Toda matria de competncia da Unio suscetvel de
regulamentao mediante lei (ressalvado o disposto nos arts. 49, 51 e 52), conforme o art.
48; mas os arts. 22 e 24 especificam seu campo de competncia legislativa, que
considerada em 2 grupos: privativa e concorrente.
SISTEMA DE EXECUO DE SERVIOS
O sistema brasileiro o de execuo imediata; cada entidade mantm seu corpo
de servidores pblicos destinados a executar os servios das respectivas administraes
(37 e 39); incumbe lei complementar fixar normas para a cooperao entre essas
entidades, tendo em vista o equilbrio do desenvolvimento e do bem-estar em mbito
nacional (23, par. nico).
ESTUDO DIRIGIDO:
1) O Brasil um Estado Federal?
2) Qual a forma do governo brasileiro?
3) Como se organiza poltica e administrativamente a Federao Brasileira?
4) De que forma descentralizado o poder, no Estado Brasileiro?
5) Em que sentido goza o Estado-Membro de autonomia, no Estado Federal?
6) Quais so as proibies impostas pela CF aos entes federativos?
7) Como so repartidas as competncias dos entes federativos na CF?
8) Explique cada uma das competncias constitucionalmente repartidas:
Unidade III MECANISMOS DE ESTABILIZAO CONSTITUCIONAL
DA INTERVENO NOS ESTADOS E NOS MUNICPIOS
AUTONOMIA E EQUILBRIO FEDERATIVO: Autonomia a capacidade de agir dentro de
crculo preestabelecido (25, 29 e 32); nisso que se verifica o equilbrio da federao;
esse equilbrio realiza-se por mecanismos institudos na constituio rgida, entre os quais
sobreleva o da interveno federal nos Estados e dos Estados nos municpios (34 a 36).
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
NATUREZA DA INTERVENO: Interveno ato poltico que consiste na incurso da
entidade interventora nos negcios da entidade que a suporta; anttese da autonomia;
medida excepcional, e s h de ocorrer nos casos nela taxativamente e indicados como
exceo no princpio da no interveno (art. 34). A interveno clusula de defesa da
federao, objetivando garantir o equilbrio federativo contra situaes que, pela sua
gravidade, possam comprometer a integridade ou a unidade do Estado Federal.
So materiais ou de fundo as hipteses de interveno previstas na Constituio
para:
a) Manter a integridade nacional Sendo federativa a forma do Estado brasileiro (art.
1), vedado o direito de secesso a qualquer das entidades componentes da
unio indissolvel. Havendo, portanto, ameaa coeso nacional, mediante
propsitos separatistas, vivel a interveno federal;
b) Repelir invaso estrangeira ou de uma unidade da federao em outra Na
caracterizao de invaso estrangeira no necessrio que o governo estadual
seja conivente com ela, bastando que importe em sacrifcio da autonomia do
Estado Federado a ao do governo federal, a fim de afastar a apontada invaso.
No caso de invaso de um Estado em outro, h ruptura da coeso nacional e do
equilbrio federativo, entendendo-se estar a Unio autorizada a intervir tanto no
Estado invasor, quanto no invadido.
c) Pr termo a grave comprometimento da ordem pblica A perturbao da ordem
h de ser grave, ou seja, aquela que o Estado Federado no pode ou no quer
debelar. Dispondo, pois, o Estado-Membro de condies para debelar a crise, no
se h de falar em interveno federal, que, no caso, violaria a sua autonomia;
d) Garantir o livre exerccio de qualquer dos Poderes nas unidades da federao
Ocorrendo coao de um dos poderes nas unidades da federao, ou estando
impedido de exercer as suas funes, viabiliza-se a interveno federal,
dependendo, contudo, da solicitao do Poder Legislativo ou do Poder Executivo
coato ou impedido, ou de requisio do STF, se a coao for exercida contra o
Poder Judicirio (art. 36, I);
e) Reorganizar as finanas das unidades da federao que: a) suspender o
pagamento da dvida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de
fora maior; b) deixar de entregar aos Munpios receitas tributrias fixadas na
Constituio nos prazos fundados em lei.
INTERVENO FEDERAL NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL
PRESSUPOSTOS DE FUNDO DA INTERVENO: CASOS E FINALIDADES:
Constituem situaes crticas que pem em risco a segurana do Estado, o equilbrio
federativo, as finanas estaduais e a estabilidade da ordem constitucional; tem por
finalidade: a) a defesa do Estado, para manter a integridade nacional e repelir invaso
estrangeira (34, I e II); b) a defesa do princpio federativo, para repelir invaso de uma
unidade em outra, pr termo a grave comprometimento da ordem pblica e garantir o livre
exerccio de qualquer dos poderes nas unidades da federao; c) a defesa das finanas
estaduais, sendo permitida interveno quando for suspensa o pagamento da dvida
fundada por mais de 2 anos, deixar de entregar aos Municpios receitas tributrias; 4) a
defesa da ordem constitucional, quando autorizada a interveno nos casos dos incisos
VI e VII do art. 34.
CONTROLE POLTICO E JURISDICIONAL DA INTERVENO: Segundo a art. 49, IV, o
CN no se limitar a tomar cincia do ato de interveno, pois ele ser submetido a sua
apreciao, aprovando ou rejeitando; se suspender, esta passar a ser ato
inconstitucional (85, II); o controle jurisdicional acontece nos casos em que ele dependa
de solicitao do poder coacto ou impedido ou de requisio dos Tribunais.
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
CESSAO DA INTERVENO: Cessados os motivos da interveno, as autoridades
afastadas de seus cargos a eles voltaro, salvo impedimento legal (36, 4). A
interveno ato temporrio, com o prazo de sua durao estabelecido no decreto
interventivo.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO INTERVENTOR: O interventor figura constitucional e
autoridade federal, cujas atribuies dependem do ato interventivo e das instrues que
receber da autoridade interventora, quando, nessa qualidade, executa atos e profere
decises que prejudiquem a terceiros, a responsabilidade civil pelos danos causados da
Unio (37, 6); no exerccio normal e regular da Administrao estadual, a
responsabilidade imputada ao Estado.
INTERVENO NOS MUNICPIOS
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: Fica tambm sujeito a interveno na forma e nos
casos previstos na Constituio (art. 35). A interveno pelo Estado-Membro
inconfundvel com a interveno federal no Estado-Membro, pois esta ltima se restringe
a alguma zona, a algum Municpio ou a alguns Municpios.
COMPETNCIA PARA INTERVIR: Compete ao Estado, que se faz por decreto do
Governador; o decreto conter a designao do interventor (se for o caso), o prazo e os
limites da medida, e ser submetido apreciao da Assemblia Legislativa, no prazo de
24 horas.
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIES
DEMOCRTICAS
INTRODUO: O Estado Democrtico de Direito, para sobreviver depende da
tranqilidade jurdica. O respeito s suas normas essencial e fundamental. Assim, se
essa normalidade for quebrada, os valores jurdicos consagrados pela ordem ficam em
perigo, e entram em cena as salvaguardas constitucionais, que so medidas excepcionais
para restaurao da ordem.
Dentro desse tema, a CF estabeleceu dois grupos: a) instrumentos (medidas
excepcionais) para manter ou restabelecer a ordem nos momentos de anormalidades
constitucionais, instituindo o sistema constitucional das crises, composto pelo estado de
defesa e estado de stio (legalidade extraordinria); b) defesa do Pas ou sociedade,
atravs das Foras Armadas e da Segurana Pblica.
O poder de polcia atividade do Estado consistente em limitar o exerccio dos direitos
individuais em benefcio do interesse pblico Maria Sylvia Zanella di Pietro.
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
A atividade policial divide-se em duas grandes reas: administrativa e judiciria. A polcia
administrativa (polcia preventiva ou ostensiva) atua preventivamente, evitando que o
crime acontea, na rea do ilcito administrativo. J a polcia judiciria (polcia de
investigao) atua repressivamente, depois de ocorrido de ilcito penal (LENZA, 2006, p.
483).
A segurana pblica, que dever do Estado, e direito e responsabilidade de toda
sociedade, exercida objetivando a preservao da ordem pblica e da incolumidade das
pessoas e do patrimnio, atravs dos seguintes rgos:
a.
b.
c.
d.
Polcia Federal 1
Polcia Rodoviria Federal 2 UNIO
Polcia Ferroviria Federal 3
Polcias Civis 4
MEMBROS
e. Polcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 5,6
ESTADOS-
GUARDAS MUNICIPAIS 8.
FORAS ARMADAS: organizam-se com base na
autoridade e comando supremos do Presidente
comandantes da Marinha, Exrcito e Aeronutica (que
As Foras Armadas so subordinadas ao Ministro de
direo superior das Foras Armadas).
hierarquia e na disciplina, sob
da Repblica, que nomeia os
so comandos e no ministrios).
Estado de Defesa (que exerce a
ESTUDO DIRIGIDO Responda as questes de acordo com a cf/88, justificando sua
resposta e fundamentando-a com o dispositivo constitucional pertinente:
1. Em que consiste a interveno federal?
2. Como so e quais so as formas de interveno da Unio (Interveno Federal)
nos Estados-membros?
3. A Unio tem poderes para intervir nos Municpios?
4. Como so e quais so as formas de interveno dos Estados-membros nos
Municpios?
5. O que estado de defesa ?
6. Quem poder decretar o estado de defesa no Brasil ?
7. O que deve conter o decreto que instituir o estado de defesa?
8. O que dever fazer o Presidente da Repblica, aps decretar o estado de defesa
ou sua prorrogao?
9. Quais as medidas coercitivas que podem vigorar no estado de defesa?
10. Qual o tempo mximo de durao do estado de defesa?
11. O que estado de stio?
12. Quem poder decretar o estado de stio no Brasil ?
13. Em que casos poder ser decretado o estado de stio no Brasil?
14. Qual o quorum necessrio para a decretao do estado de stio, pelo Congresso
Nacional?
15. O que dever indicar o decreto o estado de stio?
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
16. Qual o prazo de decretao do estado de stio, em casos de comoo grave de
repercusso nacional, ou ocorrncia de atos que comprovem a ineficcia de
medida tomada durante o estado de defesa (art. 137, I)?
17. Qual o prazo de decretao do estado de stio, em casos de declarao de estado
de guerra ou resposta agresso armada estrangeira?
18. O que ocorrer se a solicitao do Presidente da Repblica ao Congresso
Nacional, para a decretao do estado de stio, ocorrer durante o recesso
parlamentar?
19. Paralisar o Congresso Nacional suas atividades, se o estado de stio for
decretado 05 dias antes do recesso parlamentar?
20. Que medidas podero ser tomadas contra as pessoas, na vigncia do estado de
stio, quando decretado nos casos do art. 137, I?
21. Esto tambm, os pronunciamentos dos parlamentares sujeitos s restries
relativas liberdade de imprensa, radiodifuso e televiso?
22. De que forma acompanha e fiscaliza o Congresso Nacional a execuo das
medidas referentes ao estado de defesa e ao estado e ao estado de stio?
23. Qual a extenso da responsabilidade do Presidente da Repblica, dos agentes e
executores do estado de stio, durante o perodo de suspenso das garantias
fundamentais?
24. Qual dever ser o procedimento do Presidente da Repblica, ao cessar o estado
de defesa ou estado de stio?
25. Podero ser suspensas as imunidades parlamentares, durante o estado de stio?
26. Quem a autoridade suprema das Foras Armadas?
27. Quais as vedaes inerentes aos membros das Foras Armadas?
28. Quais os rgos da Segurana Pblica?
29. A quem se submete a polcia federal?
30. Quais as atribuies da polcia federal?
31. A quem se submete a polcia rodoviria federal?
32. Quais as atribuies da polcia rodoviria federal?
33. A quem se submete a polcia ferroviria federal?
34. Quais as atribuies da polcia ferroviria federal?
35. A quem se submetem as polcias militares, civis e corpo de bombeiros?
36. Quais as atribuies da polcia civil?
37. Quais as atribuies da polcia militar?
38. Podem os Municpios constituir rgos de segurana pblica?
ADMINISTRAO PBLICA. TTULO III, CAPTULO VII, CF.
CONCEITOS BSICOS:
ESTADO: Ente que necessariamente composto por trs elementos essenciais: povo,
territrio e governo soberano. Para que o Estado exera suas funes, este manifesta-se
por meio dos Poderes do Estado ou Funes do Estado, que so o Legislativo, o
Executivo e o Judicirio conforme o art. 2 da CF. um erro vincular a funo
administrativa apenas ao Poder Executivo (funes tpicas e atpicas).
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
GOVERNO: Expresso tpica de comando, de iniciativa, de fixao de objetivos, do
Estado e da manuteno da ordem jurdica vigente Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros).
ADMINISTRAO PBLICA (A.P.): Instrumental de que dispe o Estado para por em
prtica as opes polticas de governo. [...]pode-se falar de administrao pblica
aludindo-se aos instrumentos de governo, como gesto mesma dos interesses da
coletividade. [...] Subjetivamente a Administrao Pblica o conjunto de rgos a servio
do Estado agindo in concreto para satisfao de seus fins de conservao, de bem-estar
individual dos cidados e de progresso social -Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros).
o conjunto de rgos do Estado encarregado de exercer, em benefcio do bem comum,
funes previstas na Constituio e nas leis Walter Ceneviva.
Administrao Pblica o conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros e
humanos preordenados execuo das decises polticas. Essa uma noo simples de
Administrao Pblica que destaca, em primeiro lugar, que subordinada ao Poder
Poltico; em segundo lugar, que meio e, portanto, algo que se serve para atingir fins
definidos e, em terceiro lugar, denota seus aspectos: um conjunto de rgos a servio do
Poder Poltico e as operaes, atividades administrativas - Jos Afonso da Silva.
ENFIM, O QUE A.P.????
1. A.P. uma gesto de coisa alheia;
2. Atividade que se destina a atender necessidades coletivas;
3. A.P. age de ofcio, sem provocao, para atender aos interesses pblicos;
4. Atividade que se destina a atender necessidades concretas, p. ex., sade,
educao, etc.
Portanto: A.P. a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus delegados, sob regime de
Direito Pblico, destinada a atender de modo direto e imediato, necessidades concretas
da coletividade.
ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA: (Art. 37, caput, CF)
Administrao direta / centralizada aquela formada pelos governos da Unio,
Estados, DF, Municpios, seus Ministrios e Secretarias. Existe uma subordinao direta
ao Poder Executivo. Vide: art. 4, I, Decreto Lei n 200/67
Administrao direta o conjunto dos rgos integrados na estrutura da chefia do
Executivo e na estrutura dos rgos auxiliares da chefia do Executivo Odete Medauar.
Administrao indireta / descentralizada aquela constituda pelas autarquias,
fundaes pblicas e entidades paraestatais (empresas pblicas e sociedades de
economia mista).
A Administrao Indireta integrada pelas muitas entidades personalizadas de prestao
de servios ou explorao de atividades econmicas, vinculadas a cada um dos Poderes
Executivos daquelas mesmas esferas governamentais. Vide: art. 4, II e art. 5, Dec.
Lei 200/67
Cada uma dessas entidades possui personalidade jurdica prpria, que no se confunde
com a personalidade jurdica da entidade maior a que se vinculam Unio ou Estadomembro, Municpio. Tendo personalidade jurdica, so sujeitos de direitos e encargos por
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
si prprios, realizando atividades e atos do mundo jurdico em seu prprio nome Odete
Medauar (Direito Administrativo Moderno, Ed. RT).
Autarquia: rgo especializado autnomo, criado em lei, com personalidade jurdica,
patrimnio e receita prprios, para exercer funes ou atividades tpicas da
administrao pblica, que para seu melhor funcionamento, requer gesto
administrativa e financeira descentralizada. Definio: art. 5, I, Dec.-Lei 200/67. Ex:
USP,UFG, UFRJ; B.Central, INSS, IBAMA, INCRA, DETRAN; Agncias Reguladoras
(ligadas aos Ministrios): ANEEL, ANATEL,ANVISA; etc.
Exemplos em GOIS: IPASGO; ESEFEGO; JUCEG Junta comercial do Estado de GO;
AGEL Agncia Goiana de Esportes e Lazer; AGANP Agncia Goiana de
Administrao e Negcios, AGETOP Agncia Goiana de Transportes e Obras Pblicas;
AGR Agncia Goiana de Regulao, Controle e Fiscalizao de Servios Pblicos.
Empresa pblica: entidade de natureza econmica, com personalidade jurdica e
patrimnios prprios e capital social exclusivo do Poder Pblico (Unio, Estados, DF ou
Municpios) pode ter capital misto, desde que seja de outra pessoa da A.P. Direta ou
Indireta, nunca particular. Definio art. 5, II, Dec. Lei 200/67. Ex: Infraero;
CORREIOS Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos; CEF; Casa da Moeda;
BNDS; Grfica Nacional.
Exemplos em GOIS: IQUEGO; Metrobus; Setransp.
Sociedade de Economia Mista: entidade criada pelo Poder Pblico para o exerccio e
explorao da atividade econmica, sob a forma de sociedade annima, em que a
maioria das aes com direito a voto so de propriedade do Poder Pblico que as
instituiu. Definio art. 5, III, Dec. Lei 200/67. EX: B. Brasil, Petrobrs, Eletrobrs.
Exemplos em GOIS: CELG; SANEAGO; COMURG; Agncia de Fomento de Gois.
Fundao Pblica: instituio criada pelo Poder Pblico com personalidade jurdica
prpria e um patrimnio doado pelo instituidor, para atingir objetivos de utilidade pblica,
ou executar tarefas que beneficiam a coletividade. Tem como curador o MP. Definio
art. 5, IV, Dec. Lei 200/67. Ex: FUNAI; IBGE; Universidade de Braslia; FGV; FUNASA;
Fundao Padre Anchieta (Rdio e TV TV Cultura); FAPESP Fundao de Amparo
Pesquisa.
Exemplos em GOIS: FUEG Fundao UEG; Fundao Banco de Olhos de GO;
Fundao Orquestra Sinfnica do Estado de GO.
PRINCPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAO PBLICA ART. 37, CF:
1) Princpio da legalidade - Art. 5, II e 2 parte do inciso IV, do art. 84:
O administrador pblico no poder agir, nem deixar de agir, se no for da forma
expressa em lei e nas demais espcies normativas, inexistindo, portanto, dentro da
Administrao Pblica, incidncia de sua vontade subjetiva. O administrador pblico no
pode se desviar do bem comum, pois uma vez o fazendo, o seu ato ser invlido e,
dever o administrador, sujeitar-se responsabilizao disciplinar, civil e criminal.
2) Princpio da impessoalidade Art. 37, 1 - 2parte:
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
A Administrao Pblica deve servir a todos, sem tratamento diferenciado. O
mrito da execuo dos atos pertence administrao e no ao administrador que os
praticou. A impessoalidade consiste, ainda, na proibio de tratamento discriminatrio por
parte dos agentes pblicos.
Novamente nos ensina o prof. Hely Lopes Meirelles:
O princpio da impessoalidade, referido na Constituio de 1988 (art. 37, caput), nada
mais que o clssico princpio da finalidade, o qual impe ao administrador pblico que
s pratique ato para o seu fim legal. E o fim legal unicamente aquele que a norma de
direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal (ob. cit).
3) Princpio da moralidade Art. 5, LXXIII, Art. 37, 4 - Improbidade administrativa:
A administrao deve agir dentro da tica profissional, da moral administrativa
(jurdica) e no da moral comum. Deve, a administrao, se pautar entre a
proporcionalidade dos meios e os fins a se atingir; entre os sacrifcios impostos
coletividade e os benefcios por ela auferidos.
Sobre o tema, sumaria Hely Lopes de Meirelles:
A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de todo ato
da Administrao Pblica (CF, art. 37, caput). No se trata diz Hauriou, o sistematizador
de tal conceito da moral comum, mas sim de uma moral jurdica, entendida como o
conjunto de regras de condutas tiradas da disciplina anterior da Administrao.
Desenvolvendo sua doutrina, explica o mesmo autor que o atente administrativo, como
ser humano dotado de capacidade atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal,
o honesto do desonesto. E, ao atuar, no poder desprezar o elemento tico de sua
conduta. Assim, no ter que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas tambm entre o honesto e
o desonesto.
Este princpio tutelado pela ao popular (CF, art. 5, LXXIII), acarreta a
suspenso dos direitos polticos em caso de improbidade administrativa (art. 37, 4),
dispensando verificar a inteno do agente, porque do prprio objeto que resulta a
imoralidade.
4) Princpio da Publicidade Art. 5, XXXIII; Art. 37, 1 - 1 parte:
Traduz-se na necessidade de transparncia administrativa e consiste na
divulgao oficial do ato para conhecimento pblico das condutas administrativas.
A publicidade se faz pelo Dirio Oficial ou por edital fixado no lugar prprio para
divulgao dos atos pblicos.
A regra que a publicidade somente poder ser divulgada quando for do interesse
pblico. So excees: CF, art. 5, XXVIII; certas investigaes policiais (CPP, art. 20);
processos cveis em segredo de justia (CPC, art. 155), etc.
5) Princpio da Eficincia:
Este princpio foi expressamente trazido CF, atravs da EC n 19. Requer que o
servio pblico seja eficaz, atendendo plenamente necessidade para a qual foi criado.
Deve-se pautar pela relao custo-benefcio, extraindo dos atos da administrao o maior
nmero de efeitos positivos, buscando a excelncia dos recursos. Ganha reforo,o
princpio da eficincia, com a participao do usurio na administrao pblica direta e
indireta (CF, art. 37, 3).
Alexandre de Moraes elenca algumas caractersticas desse princpio:
Direcionamento da atividade e dos servios pblicos efetividade do bem comum;
Imparcialidade;
Neutralidade;
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
Transparncia;
Participao e aproximao dos servios pblicos da populao;
Eficcia;
Desburocratizao;
Busca da qualidade.
PRINCPIOS IMPLCITOS NA CF E EXPLCITOS NA NORMA INFRACONSTITUCONAL
LEI 9.784/99, Processo Administrativo (Art. 2, caput: A A.P. obedecer, dentre
outros, aos princpios da legalidade, finalidade, motivao, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditrio, segurana jurdica, interesse
pblico e eficincia.).
1) Princpio da Licitao Pblica: o procedimento administrativo que visa selecionar a
proposta mais vantajosa (para o bem comum) para a realizao de obras, servios,
compras ou alienaes. Esta previsto na CF nos arts. 37, XXI; 22, XXVII e 173, 1, III.
A esse princpio, conforme Kildare Gonalves Carvalho, so extrados de forma
implcita do texto constitucional:
2) Princpio da supremacia do interesse pblico sobre o privado
3) Princpio da finalidade: Perseguir a realizao do fim previsto em lei
4) Princpio da razoabilidade: Ponderao dos valores e uso de parmetros.
5) Princpio da proporcionalidade: Justa medida das competncias administrativas.
6) Princpio da Prescritibilidade dos Ilcitos Administrativos: Vide 5, art. 37, CF/88.
Somente no prescrever o direito da Administrao ao ressarcimento ou
indenizao do prejuzo.
7) Princpio da Responsabilidade da Administrao / Estado (Responsabilidade
Administrativa do Estado): Vide 6, art. 37, CF.
a consagrao da regra da responsabilidade civil (patrimonial) do Estado, ou
seja, o Poder Pblico responsvel pelos prejuzos causados terceiros, no estando o
prejudicado obrigado a provar a ocorrncia de dolo ou culpa do agente causador do dano,
bastando a existncia de nexo causal entre a ao.
Ressaltamos que em caso de omisso, ou seja, conduta omissiva, s se pode falar
em responsabilidade do Estado quando demonstrada a culpa do servio.
So causas excludentes (atenuantes) da responsabilidade estatal: caso
fortuito e fora maior.
DA ORDEM ECONMICA E FINANCEIRA
CF, arts. 170-192
(Aula preparada a partir de Uadi Lammgo Bulos: Curso de Direito Constitucional, Ed.
Saraiva, 2007; e Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino: Direito Constitucional
Descomplicado, 2 ed., Ed. Impetus, 2008).
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
CONSIDERAES GERAIS:
Ordem econmica e financeira o conjunto de normas constitucionais que
regulam as relaes monetrias entre indivduos e destes com o Estado.
Seu objetivo organizar os elementos ligados distribuio efetiva de bens,
servios, circulao de riquezas e uso da propriedade (BULOS, 2007, p.
1236).
Fala-se em Constituio econmica quando uma Constituio destina parte de seu
contedo em estatuir os princpios e preceitos norteadores da atividade econmica do
Estado, seus direitos e deveres e seu regime financeiro. o asseguramento de seus
elementos de natureza monetria, tributria e financeira (BULOS, 2007, p. 1236).
INTERPRETAO DA ORDEM ECONMICA:
Integrao dos princpios gerais que norteiam a atividade econmica, buscando equalizar
os conflitos gerados pela explorao econmica, pacotes financeiros e m distribuio
de rendas. Nesse sentido, o entendimento do STF:
Em face da atual Constituio, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e
do princpio da livre concorrncia com os da defesa do consumidor e da
reduo das desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da
justia social, pode o Estado, por via legislativa, regular a poltica de preos de
bens e de servios, abusivo que o poder econmico que visa ao aumento
arbitrrio dos lucros (STF, ADI 319, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 30-4-1993).
A CONSTITUIO DE 1988 E A ORDEM ECONMICA PARADIGMA DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA:
Deve o Estado promover uma ao na atividade econmica a fim de incentivar o
desenvolvimento do setor econmico, mas, ser ATENTO s foras econmicas
direcionadas explorao desenfreada, sem respeitar a livre concorrncia, e
concentrarem as riquezas nas mos dos poucos, porm, poderosos, acentuando a
pobreza, a misria, a excluso e a depresso econmica.
O princpio da dignidade da pessoa humana deve ser levado em alta conta na
interpretao da ordem econmica, de forma a conformar as necessidades e realidade da
atividade econmica sob o paradigma da dignidade humana, garantindo uma existncia
digna. Ressalta-se a lio de PAULO e ALEXANDRINO (2008, p. 933):
O Estado refundado pela Carta de 1988 um Estado Social Democrtico, vale
dizer, devem seus rgos atuar efetivamente mediante o desenvolvimento de
polticas pblicas ativas e prestaes positivas no intuito de se obter uma
sociedade em que prevalea a igualdade material, assegurando a todos, no
mnimo, o necessrio a uma existncia digna (art. 3, III e art. 170, caput, CF).
Nossa Constituio de 1988 claramente originou um Estado capitalista.
fundamento da Repblica o valor social da livre iniciativa (art. 1, IV). So
fundamentos da ordem econmica, dentre outros, a livre iniciativa, a
propriedade privada, a livre concorrncia (art. 170, caput, e incisos II e IV). [...]
no Capitalismo, as foras econmicas, deixadas a seu alvedrio, resultam em
concentrao de riqueza, anulao da livre concorrncia e, sobretudo, em
condies materiais de vida miserveis para a quase totalidade da populao.
Dessarte, evidente que o Estado brasileiro tem como uma de suas funes
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
indeclinveis intervir no setor econmico, de sorte a assegurar que a riqueza
produzida seja efetivamente um meio de prover a todos uma existncia digna.
Em sntese, a Constituio de 1988, conquanto no tenha institudo um Estado
Socialista, tampouco fundou um Estado abstencionista nos moldes do
Liberalismo clssico (na realidade, no existem Estados assim no mundo
atual). Nossa ordem jurdico-poltica prev e autoriza a interveno do Estado
no domnio econmico, de variadas formas, sempre tendo como escopo
possibilitar que a dignidade da pessoa humana seja um fundamento efetivo de
nossa Repblica, e no simples retrica.
CONSTITUIO BRASILEIRA DE 1988 CONSTITUIO ECONMICA FORMAL:
Princpios gerais da atividade econmica arts. 170 181;
Poltica urbana arts. 182 e 183;
Poltica agrcola, fundiria e a reforma agrria arts. 184 191;
Sistema financeiro nacional art. 192.
DA ORDEM ECONMICA E FINANCEIRA
1) Em que se funda a ordem econmica e quais os seus princpios ?
2) Em quais situaes poder o Estado explorar diretamente atividade econmica?
3) O que monoplio da Unio?
4) Elabore uma sntese sobre o Sistema Financeiro Nacional?
SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTRIO
TRIBUTAO
INTRODUO:
O Sistema Tributrio Nacional revelador do conjunto de regras e princpios que
regulam toda a atividade impositiva no Brasil (tributos).
A CF/88, no Captulo I do Ttulo VI, que dedicado ao Sistema Tributrio Nacional,
trata de 03 assuntos preferidos pelos ordenamentos constitucionais federais:
a) limitaes constitucionais ao poder de tributar;
b) discriminao constitucional de rendas;
c) repartio das receitas tributrias.
O Sistema Tributrio previsto na Constituio Brasileira compe a estrutura dos
tributos cobrados nos vrios nveis de governos (Unio, DF, Estados e Municpios),
estabelecendo os sujeitos ativos de cada tributo, as regras da competncia tributria e
suas vedaes, hipteses e normas gerais sobre o poder de tributar, sobre a incidncia e
no-incidncia, cuja aplicao regulada pelo CTN, enquanto lei complementar (Lei n
5172/66).O Sistema composto por princpios e regras, e destacamos que os princpios
tm fora atrativa, influenciando as regras. Existem os princpios gerais, como, por
exemplo, a) certeza do direito; b) legalidade; c) igualdade; d) isonomia; e, ainda, princpios
especficos ao campo tributrio, tais como: a)estrita legalidade (art. 150, I, CF), e b)
isonomia (art. 150, II, CF).
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
O poder de tributar que uma das manifestaes da soberania ou do poder de imprio
do Estado s pode ser exercido debaixo dos ditames da CF. esta que distribui
competncias, dispe sob re a repartio das receitas arrecadas, fixa os
pressupostos para a criao de tributos, enfim, delimita a atuao do Estado nesse
mister. Celso Ribeiro Bastos (Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributrio,
Ed. Saraiva 1995).
TRIBUTOS:
CTN Art. 3: Tributo toda prestao pecuniria compulsria, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que no constitua sano de ato ilcito, instituda em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Tributar ser distribuir a carga pblica entre os integrantes do grupo social. Os custos de
manuteno do Estado, ou seja, os gastos que a Administrao Pblica tem para prestar
servios e realizar obras ser suportado, isto , rateado entre os administrados, entre os
membros da sociedade, que so os contribuintes (S. Motta e W. Douglas).
Tributo a prestao pecuniria do Estado, ou de um ente pblico autorizado por
ele, casos; aquela obrigao de pagar em dinheiro exigida dos sujeitos econmicos
submetidos soberania nacional. Ele s pode ser cobrado dos cidados pelo Estado, e
os seus entes pblicos s podero cobrar, desde que previamente autorizados.
uma constante na doutrina universal o reconhecimento de ser a coero o
elemento primordial do tributo; que no quer dizer prepotncia do Estado. Traduz-se, sim,
na necessidade de o contribuinte sujeitar-se pretenso tributria do Estado, expressa
atravs de uma lei democraticamente votada.
Os tributos, pois, constituem a fonte principal das receitas do Estado.
MODALIDADES TRIBUTRIAS Art. 145, CF:
1)
IMPOSTO: CTN Art. 16: Imposto o tributo cuja obrigao tem por fato gerado
uma situao independente de qualquer atividade estatal especfica, relativa ao
contribuinte.
Imposto prestao pecuniria exigida dos particulares, em carter definitivo, por
autoridade pblica competente, cuja arrecadao tem por objetivo atender as
necessidades pblicas (Celso Ribeiro Bastos).
Destaca-se, pois, a idia de que no imposto no h nenhuma contrapestao estatal
com vistas sua cobrana; trata-se, dessa maneira, de tributo classificado como novinculado, eis que sua instituio independe de qualquer participao ou interveno do
Estado relativamente ao contribuinte. O fato que ensejar sua cobrana (fato gerador)
vem descrito na lei, bastando que o contribuinte realize o nela descrito para se sujeitar
incidncia do imposto (Kildare Gonalves Carvalho).
Portanto, imposto simplesmente exigido, sem contraprestao estatal e sem
indicao prvia sobre sua destinao.
De acordo com a LC 105/2001, possvel a quebra do sigilo bancrio diretamente
por autoridades fiscais, ou seja, independentemente de ordem judicial, respeitados os
direitos individuais do contribuinte.
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
2)
TAXA: CTN Art. 77: As taxas cobradas pela Unio, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municpios, no mbito de suas respectivas atribuies, tm como
fato gerador o exerccio regular do poder de polcia, ou a utilizao, efetiva ou
potencial, de servio pblico especfico e divisvel, prestado ao contribuinte ou
posto sua disposio.
Verifica-se tratar a taxa de tributo vinculado, pois, ao contrrio do imposto, sua cobrana
depende de uma atividade do Estado, ou em razo do exerccio do poder de polcia, ou
em decorrncia da prestao efetiva ou potencial, de um servio pblico. O servio
pblico a ser prestado deve ser especfico e divisvel. Considera-se especfico aquele
servio que pode ser destacado em unidade autnoma, e divisvel o que suscetvel de
utilizao individual pelo contribuinte, no confundindo com os servios gerais. No se
exige, para a cobrana da taxa, que o contribuinte tenha-se utilizado efetivamente do
servio proporcionado pelo Estado: basta que tal servio seja colocado disposio do
usurio (Kildare Gonalves Carvalho).
Taxa a modalidade tributria permitida cobrana de valores pela Administrao
gastos, em funo de atividade sua. A taxa no pode ter base de clculo igual que a lei
reserva para o imposto. Em relao ao poder de polcia, so as questes pertinentes
segurana, ordem, higiene, etc, como por exemplo: taxa de publicidade, taxa de
fiscalizao de elevadores, etc.
3)
CONTRIBUIO DE MELHORIA: CTN Art. 81: A contribuio de melhoria
cobrada pela Unio, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municpios, no
mbito de suas respectivas atribuies, instituda para fazer face ao custo de
obras pblicas de que decorra valorizao imobiliria, tendo como limite total a
despesa realizada e como limite individual o acrscimo de valor que da obra
resultar para cada imvel beneficiado.
o tributo que surge em razo da valorizao do imvel particular, por causa de
obras pblicas realizadas (Ramon Tcio de Oliveira).
Alm da realizao da obra pblica necessrio que esta tenha repercutido no
eventual contribuinte de uma determinada maneira, dizer, causando-lhe uma plus valia.
Seria o maior dos absurdos imaginar-se a contribuio de melhoria cobrada de algum
no beneficiado pela obra realizada, ou mesmo, por ela prejudicado (Celso Bastos).
4)
EMPRSTIMO COMPULSRIO: CF Art. 148: A Unio, mediante lei
complementar, poder instituir emprstimos compulsrios: I para atender as
despesas extraordinrias, decorrentes de calamidade pblica, de guerra externa
ou sua iminncia; II no caso de investimento pblico de carter urgente e de
relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b. Pargrafo
nico. A aplicao dos recursos provenientes de emprstimo compulsrio ser
vinculada despesa que fundamentou sua instituio.
Os emprstimos compulsrios so uma espcie de tributo em que a presena de
acontecimentos inslitos autoriza sua instituio. Tais eventos no serviro de fato
gerador. Funcionaro apenas como permisso sua instituio (Deusmar Rodrigues).
um tributo qualificado pela promessa de restituio. (Ramon Oliveira).
a prestao que o Estado ou outra pessoa jurdica de direito pblico interno exige
de contribuintes que se coloquem em determinada situao considerada por lei como fato
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
gerador e que deve ser posteriormente restituda em prazo certo, legalmente
estabelecido (Paulo Barros Carvalho). Necessita de lei complementar.
5)
CONTRIBUIES SOCIAIS: CF Art. 149: Compete exclusivamente Unio
instituir contribuies sociais, de interveno no domnio econmico e de interesse
das categorias profissionais ou econmicas, como instrumento de sua atuao nas
respectivas reas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuzo do art. 195, 6, relativamente s contribuies sociais a que alude o
dispositivo.
Tambm denominadas Contribuies especiais ou parafiscais, so tributos
destinados coleta de recursos para certas reas de interesse do poder pblico, na
Administrao direta ou indireta, ou na atividade de entes que colaboram na
Administrao (Ramon Oliveira).
a espcie tributria que se caracteriza como forma de interveno do Estado no
domnio econmico privado, com vistas a uma particular situao ou de interesse social
ou de categorias econmicas ou profissionais (Paulo Barros Carvalho).
Elas se apresentam em 03 espcies:
a) Contribuies Interventivas (as de interveno no domnio econmico) so
instrumentos de atuao da Unio, destinando-se ao custeio de servios e
encargos decorrentes da interveno da Unio no domnio socioeconmico, como
o adicional ao frete para a renovao da marinha mercante, entre outras. EX:
CIDE
b) Contribuies Corporativas (as de interesse das categorias profissionais ou
econmicas relacionam-se com as categorias profissionais como instrumento de
atuao da Unio, destinando-se ao custeio das atividades dos rgos sindicais e
profissionais de categorias profissionais ou econmicas, como a contribuio para
a OAB, CRC, Creci, Crea e outras. So tributos e no se confundem com a
contribuio confederativa prevista no art. 8, IV, que fixada por assemblia geral
dos sindicalizados e compulsria para os filiados.
c) Contribuies Sociais so as contribuies previdencirias propriamente
ditas, as contribuies de seguridade social, as contribuies para o Sesi, o Sesc,
o Senac, o FGTS, o PIS, Cofins, etc.; e so referidas de forma especfica no art.
165 da CF.
DAS LIMITAES AO PODER DE TRIBUTAR PRINCPIOS TRIBUTRIOS:
1) P. especfico da personalizao do tributo: 145, 1.
2) P. capacidade contributiva: art. 145, 1. Carter pessoal do tributo
3) P. especfico que probe que as taxas tenham base de clculo prpria do imposto: 145,
2.
4) P. geral da legalidade tributria: 150, I.
5) P. geral da igualdade ou isonomia tributria: 150, II. O tratamento no pode ser
desigual, ou seja, todos os contribuintes que estejam na mesma situao, devem ser
tratados igualmente.
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
6) P. geral da irretroatividade fiscal / tributria: 150, III, a. Veda a cobrana de tributos
em relao a fatos geradores ocorridos antes do incio da vigncia da lei todas as
normas devem dispor para o futuro.
7) P. da anterioridade fiscal / tributria: 150, III, b e c. Alnea b a lei que cria ou
aumenta um tributo s incidir sobre fatos ocorridos no exerccio subsecutivo ao de sua
entrada em vigor. Alnea c aumento da proteo a esse princpio (EC 42/03),
estabelecendo que muitos tributos no podem ser cobrados antes de decorridos 90 dias
da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
8) P. geral que veda a utilizao de tributo com efeito confiscatrio: 150, IV.
9) P. geral que veda o estabelecimento de limitaes ao trfego de pessoa ou bens por
meio de tributos: 150, V. Salvo o pedgio.
REPARTIO DAS RECEITAS TRIBUTRIAS: Arts. 157 ao 162, CF.
DAS FINANAS PBLICAS E DOS ORAMENTOS:
A Atividade Financeira do Estado toda aquela marcada ou pela realizao de uma
receita ou pela administrao d produto arrecadado ou, ainda. Pela realizao de um
dispndio ou investimento. o conjunto das atividades que tem por objeto o dinheiro
(Celso Bastos).
Finanas pblicas a expresso que caracteriza o conjunto de regras pelas quais o
Estado planeja e administra os ingressos e as sadas de recursos financeiros. Na
economia poltica, designa o crdito de um Estado.
O oramento uma pea contbil que faz, duma parte, uma previso das despesas a
serem realizadas no Estado, e, de outra parte, o autoriza a efetuar a cobrana, sobretudo
de impostos e tambm de outras fontes de recursos. O oramento tem repercusses
econmicas, polticas e jurdicas (Celso Bastos).
Oramento a pea contbil que prev as despesas e as formas de receita.
MODALIDADES DE ORAMENTO Art. 165 e incisos, CF:
PPA = Plano Plurianual ou Lei Plurianual.
LDO = Lei de Diretrizes Oramentrias ou Oramento das Diretrizes.
LOA = Lei Oramentria Anual ou Oramento Anual.
1) PLANO PLURIANUAL - PPA (1): Tem por objeto as despesas de capital e
aqueles programas de durao continuada, ou seja, que extrapolem o oramento
anual em que foram iniciados. lei formal, dependendo do oramento anual para
que possa ter eficcia quanto realizao das despesas, constituindo-se em mera
programao ou orientao que deve ser respeitada pelo Poder Executivo na
execuo dos oramentos anuais, mas que no vincula o Poder Legislativo na
feitura das leis oramentrias.
O PPA um planejamento estrutural, que influencia a elaborao das outras leis
oramentrias (LDO e LOA), sendo exigido que a cada ano, seja ele efetivado pela LOA.
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
considerado um planejamento estrutural porque visa incrementar a promoo do
desenvolvimento econmico, do equilbrio entre as regies nacionais e da estabilidade
econmica. O seu descumprimento no acarreta sano especfica, pois se configura
uma orientao ou programao ao Executivo, e no vincula o Legislativo na elaborao
das leis oramentrias (AGRA, 2007, p. 659).
Tem vigncia de 04 anos (quadrienal), definido em lei complementar, conforme art. 35,
2, I, ADCT, onde preceitua que o PPA deve ser aprovado at o final da sesso
legislativa correspondente ao exerccio do primeiro ano de mandato presidencial, devendo
vigorar at o final do primeiro ano de um mandado presidencial subseqente (ARAJO;
NUNES JR., 2004).
Vale lembrar que o plano plurianual um plano de investimento, devendo
compatibilizar-se com todos os planos e programas nacionais, regionais e setoriais (CF,
art. 48, IV) (BULOS, 2007, p. 1223).
2) LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO (2): So as metas prioritrias
da Administrao Pblica Federal, incluindo as despesas de capital para o
exerccio financeiro subseqente; assim como servir de critrio para a elaborao
da lei oramentria anual; da mesma forma, dispor sobre as alteraes na
legislao tributria. Tem durao maior que o exerccio financeiro anual. lei
formal ANUAL, apenas constituindo-se em simples orientao para a realizao do
oramento, devendo ser feita no primeiro semestre do ano. A LDO no cria direitos
subjetivos para terceiros, no tem eficcia fora da relao entre os Poderes do
Estado.
Seu campo de ao, conforme o 2 do art. 165, CF, compreende:
- as metas e s prioridades da Administrao Pblica Federal;
- as despesas de capital para o exerccio subseqente;
- a orientao para que seja elaborada a lei oramentria anual;
- as mudanas na legislao tributria; e
- a poltica de aplicao das agncias oficiais de fomento (BULOS, 2007, p. 1224).
3) LEI ORAMENTRIA ANUAL - LOA (5): aquela que prev de forma
estimativa as receitas da Unio, assim como autoriza a realizao das despesas.
Engloba 03 oramentos: o fiscal, o de investimento das empresas e o oramento
da seguridade social.
o oramento anual guarda duas finalidades bsicas, dizer, a primeira, de programao
da vida econmica do Estado, harmonizando a estimativa de entradas financeiras com a
realizao correspectiva de despesas; a segunda, de cumprimento do princpio da
legalidade, que, vertido sob a tica do direito pblico, indica a necessidade de que as
despesas sejam previamente autorizadas por lei (ARAJO; NUNES JR., 2004, p. 410).
SNTESE DA RELAO ENTRE AS TRS LEIS ORAMENTRIAS:
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
Referncia: PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 3 ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2004, p. 387.
a) num primeiro momento, temos a lei do PPA, estabelecendo as diretrizes e os objetivos
governamentais de durao continuada, para alguns anos;
Todo projeto, obra ou servio com durao superior a um ano, devero estar
previstos no PPA. A lei do PPA visa assegurar um mnimo de continuidade das obras e
servios pblicos, dos projetos governamentais para um perodo superior de tempo.
b) a LDO uma lei intermediria, aprovada no incio de cada exerccio financeiro,
estabelecendo, em consonncia com o PPA, as metas e prioridades para o exerccio
financeiro subseqente, conferindo publicidade s diretrizes do governo que constaro,
mas especificamente, da LOA para o prximo exerccio financeiro;
Por isso se diz que a LDO orienta a elaborao da LOA, pois ela sinaliza ao
Congresso Nacional e populao o que o governo pretende incluir no oramento do ano
seguinte. Como a LDO deve ser aprovada no incio de um exerccio para orientar a
elaborao da LOA para o exerccio seguinte, h um prazo para que o Congresso
Nacional anteveja, discuta e tente aperfeioar a LOA que ulteriormente ser encaminhada
pelo governo ao Poder Legislativo.
c) por fim, temos a LOA, que nada mais do que o oramento do ano, aprovado em
consonncia com a LDO e o PPA.
Atualmente, o oramento geral da Unio dividido em trs oramentos: o
oramento fiscal, o oramento de investimento e o oramento da seguridade social.
PRINCPIOS APLICVEIS AOS ORAMENTOS:
1) EXCLUSIVIDADE: art. 165, 8. No pode haver dispositivo estranho na lei
oramentria anual fixao de despesas e previso da receita, evitando que sejam
nela introduzidas matrias no oramentrias.
2) ANUALIDADE: art. 167, I e 1. A LOA estabelece o perodo de tempo de 01 ano para
a execuo do oramento, isto , para a durao do exerccio financeiro.
3) UNIDADE: art. 165, 4. A interpretao moderna para a elaborao dos oramentos
de todos os rgos do setor pblico se fundamentando em uma nica poltica
oramentria, que seja estruturada a um mtodo nico. O oramento uno, embora
possa aparecer em trs documentos diferentes, que se harmonizam e se integram
finalisticamente.
4) PROGRAMAO: art. 167, 1. Prvia incluso no Plano Plurianual PPA.
5) EQUILBRIO ORAMENTRIO: art. 167, III. No pode realizar operaes de crdito
que excedam as despesas de capital, evitando a ocorrncia de dfict (montante da
despesa autorizada superior receita estimada) ou supervit (estimativa da receita
superior despesa autorizada).
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
6) UNIVERSALIDADE: art. 165, 5, I, e art. 6 da Lei 4320/67. A Lei Oramentria deve
explicitar todas as receitas (estimadas) e despesas (autorizadas) dos Poderes, seus
fundos, rgos e entidades da Administrao Direta e Indireta, por seus valores totais
(brutos), vedadas quaisquer dedues.
7) ESPECIALIDADE DE CRDITOS: art. 165, 6 e 7. A Lei Oramentria deve
especificar pormenorizadamente a origem e a destinao de cada receita e despesa
pblica.
RESPONSABILIDADE FISCAL: Lei Complementar n 101, 04/05/2002. Vide arts. 16, 17,
21, 51.
PRINCPIOS DA ORDEM ECONMICA ART. 170, I ao IX.
Classificao dos princpios quanto atividade econmica:
a) Soberania Nacional trata-se de princpio fundamental do Estado brasileiro e
pressuposto bsico de sua existncia (art. 1); consistindo o alicerce de nossas
relaes internacionais (art. 4, I). Na economia, apresenta-se como um poder
ilimitado de estabelecer regras, estmulos e proibies, com vistas a determinar o
modelo econmico interno.
b) Liberdade de Iniciativa Econmica art. 170, pargrafo nico envolve a
liberdade de indstria e comrcio, a proteo da propriedade privada e a liberdade
de contrato.
c) Livre Concorrncia e Abuso do Poder Econmico art. 170, IV; art. 173, 4. A
Lei n 8.884/94 instituiu o CADE Conselho Administrativo de Defesa Econmica,
rgo administrativo que tem entre seus objetivos zelar pela livre concorrncia.
d) Integrao constitudos pela defesa e do meio ambiente, pela reduo das
desigualdades regionais e sociais e pela busca do pleno emprego.
ESTUDO DIRIGIDO QUESTES DE FIXAO DOS CONTEDOS:
DO SISTEMA TRIBUTRIO NACIONAL
1) Quem pode instituir tributos no Brasil?
2) Quais so as espcies tributrias previstas na CF?
3) Quais as especificidades dos impostos?
4) O que a lei complementar, sobre matria tributria, deve dispor?
5) Acerca dos emprstimos compulsrios, quem poder institu-los e para quais
finalidades?
6) Sobre as contribuies sociais, quem poder institu-las e quais so os seus tipos?
7) Em que situaes podero os Estados , o DF e os Municpios instituir contribuies?
8) Quais so as limitaes gerais ao poder de tributar, onde so legtimos tanto a
Unio, como os Estados, o DF e os Municpios?
9) Quais so as vedaes privativas da Unio?
10) Quais as vedaes concorrentes aos Estados, ao DF e aos Municpios?
11) Quais os impostos de competncia da Unio?
12) Quais os impostos de competncia dos Estados e do DF?
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
Quais as especificidades do imposto previsto no inc. I, do art. 155?
Quais as especificidades do imposto previsto no inc. II, do art. 155?
Quais os impostos de competncia do Municpio?
Quais as receitas tributrias pertencentes aos Estados e ao DF?
Quais as receitas tributrias pertencentes aos Municpios?
Qual a vedao prevista no art. 160?
Acerca das finanas pblicas, o que compete exclusivamente Unio?
O que deve conter a lei que instituir o plano plurianual?
O que deve conter a lei de diretrizes oramentrias?
O que compreender a lei oramentria anual?
DA ORDEM ECONMICA E FINANCEIRA
5) Em que se funda a ordem econmica e quais os seus princpios ?
6) Em quais situaes poder o Estado explorar diretamente atividade econmica?
7) O que monoplio da Unio?
8) Elabore uma sntese sobre o Sistema Financeiro Nacional?
DA ORDEM SOCIAL
A CF/88 dedicou um captulo Ordem Social, tratando como um captulo prprio da
Seguridade Social, que junto com o primado do trabalho, asseguram bem-estar e
justia social.
O conceito de seguridade social veio definido pelo constituinte no art. 194, que colocou
como regra aos Poderes Pblicos e sociedade como um todo a solidariedade, que o
fundamento sustentador da seguridade social, compreendida em trs eixos de proteo
social.
ORDEM SOCIAL CONSTITUCIONAL
(roteiro fundamentado em Manoel Gonalves)
ORDEM SOCIAL
Art. 193
Base: Primado do Trabalho
Objetivo: Bem estar e Justia social
A CF enfatiza como base da ordem social o primado do trabalho e como seus objetivos o
bem-estar e a justia sociais.
SEGURIDADE SOCIAL
Art. 194
p.nico: objetivos
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
Sade: 196 200
Previdncia: 201 202
Assistncia Social: 203 - 204
SEGURIDADE SOCIAL
A CF fixa, neste captulo, os princpios regras gerais que devem assegurar os
direitos relativos sade, previdncia e assistncia social.
Nesse tema, apresentam-se os princpios da universalidade da cobertura e do
atendimento, do carter democrtico e descentralizado da gesto administrativa, com a
participao da comunidade em especial de trabalhadores, empresrios e aposentados.
Financiamento: art. 195. // 4: outras fontes de financiamento
SADE: as aes e servios de sade so considerados de relevncia pblica, devendo
essas aes e servios pblicos de sade ser integrados numa rede regionalizada e
hierarquizada, constituindo um sistema nico. Entretanto, a assistncia sade livre
iniciativa privada.
Diretrizes art. 198
Financiamento 1 do art. 198; art. 199: iniciativa privada.
PREVIDNCIA SOCIAL: destina-se a atender cobertura de doena, invalidez e morte,
includos os resultantes de acidentes do trabalho, velhice e recluso, bem como ajuda
manuteno dos dependentes dos segurados de baixa renda, proteo maternidade,
especialmente gestante, proteo ao trabalhador em situao de desemprego
involuntrio, penso por morte de segurado.
Benefcios art. 201, incisos; Lei n 8.213/91 Plano de benefcios da previdncia
social; Decreto n 3.048/99 Regulamento da previdncia social.
Organizao art. 201
Regras para aposentadoria no regime geral art. 201, 7, 8 e 9.
Regime de Previdncia Privada art. 202.
A Previdncia Social aparece no texto constitucional de 1988 como um direito social
fundamental art. 6. Ao lado de outros direitos fundamentais, como a sade, a
educao, o trabalho, est a Previdncia Social que vem acompanhada de outro
importante direito tambm alado ao nvel de Direito Fundamental dos seres humanos: a
assistncia social (quando a CF fala em proteo infncia e assistncia aos
desamparados no mesmo art. 6).
A Previdncia Social, como a Sade e a Assistncia Social, faz parte de um complexo
maior de direitos e tratada de forma objetiva no Captulo II do Ttulo VIII, que cuida da
ordem social. No art. 194 est o conceito de seguridade social, compreendendo
justamente a Sade, a Previdncia Social e a Assistncia Social.
Esta nova realidade constitucional significa afirmar no somente que a Previdncia Social
passou a ser considerada direito social, como tambm transformou em direitos
fundamentais dos seres humanos, o que em outras palavras, significa que se transformou
em Direitos Humanos, confirmando assim a Declarao Universal dos Direitos Humanos
da ONU, de 1948, no art. 25: Todo Homem tem direito a um padro de vida capaz de
assegurar a si e sua famlia sade e bem-estar, inclusive alimentao, vesturio,
habitao, cuidados mdicos e os servios sociais indispensveis, e direito a segurana
em caso de desemprego, doena, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos
meios de subsistncia em circunstncias fora de seu controle (MAGALHES, 2002, p.
249-50).
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
ASSISTNCIA SOCIAL: ser prestada a quem dela necessitar. Objetiva a proteo
famlia, maternidade, infncia, adolescncia, velhice, s crianas e adolescentes
carentes.
Objetivos art. 203 (fontes de oramento: art. 195, entre outros).
ROTEIRO DE LEITURA DOS ARTIGOS DA CF DA ORDEM SOCIAL
ORIENTADO POR: PAULO; ALEXANDRINO, 2007:
EDUCAO
Direito educao: 225
Princpios Constitucionais do ensino: 226
Autonomia das universidades: 207
Deveres do Estado em relao ao ensino: 208
Participao da iniciativa privada: 209
Fixao de contedos: 210
Organizao dos sistemas de ensino: 211
Aplicao de recursos: 212-213
Plano Nacional de Educao (PNE): 214
CULTURA
Garantia estatal: 215
Plano Nacional de Cultura (PNC): 3 do art. 215
Patrimnio cultural de brasileiro: 216
DESPORTO
Dever estatal: 217
CINCIA E TECNOLOGIA
Promoo estatal: 218
Tipos de pesquisa
pesquisa cientfica progresso das cincias
Pesquisa tecnolgica soluo de problemas
Mercado interno: 219
COMUNICAO SOCIAL (Vide: art. 5, IV, V, IX, X, XIII e XIV, CF)
Definio: 220
Princpios e Regras: 221
Propriedade, Concesso, Permisso, Autorizao: 223
Conselho de Comunicao Social: 224 (Lei n 8.389/91)
MEIO AMBIENTE
Conceito art. 3 da Lei n 6.983/81 (Lei da Poltica Nacional do Meio Ambiente):
o conjunto de condies, leis, influncias e interaes de ordem fsica, qumica e
biolgica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Competncia em matria ambiental: Unio edita normas gerais de proteo ao
meio ambiente, cabendo aos Estados-membros, DF e Municpios editar normas de
interesses regionais e locais (arts. 23, VI; 24, VI e VII; 30, I, CF).
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
Princpios norteadores: 225. Ex: 1) desenvolvimento sustentvel; 2) preveno; 3)
ubiqidade; 4) participao; 5) prioridade na reparao especfica; 6)
responsabilidade civil objetiva; 7) responsabilidade solidria.
FAMLIA art. 226
Casamento civil com celebrao gratuita: 1
Casamento religioso com efeitos civis: 2
Unio estvel entre homens e mulheres: 3
Famlia monoparental: 4
Deveres da sociedade conjugal igualdade de condies: 5
Separao e divrcio: 6
Planejamento familiar: 7
CRIANA E ADOLESCENTE
Absoluta prioridade: 227, caput; regulamentado pela Lei n 8.069/90 ECA
Igualdade entre filhos: 6 do art. 227
Co-responsabilidade de pais e filhos: 229
IDOSO
Responsabilidade conjunta: 230, caput; regulamentado pela Lei n 10.741/03
Estatuto do Idoso
Idoso art. 1 da Lei 10.741/03: pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.
NDIOS
Reconhecimento histrico: 231, caput
Terras e recursos naturais: pargrafos do art. 231
Litigar em juzo: 232
ESTUDO DIRIGIDO: DA ORDEM SOCIAL BASES E VALORES
1) Qual a base da ordem social brasileira?
2) Quais so os direitos sociais assegurados pela CF?
3) O que compreende a seguridade social?
4) Com base em que princpios deve basear-se o Poder Pblico para organizar a
seguridade social?
5) Quais as fontes de financiamento da seguridade social?
6) Em que consiste o Sistema nico de Sade SUS?
7) Que espcies de prestaes so oferecidas pelo Sistema da Previdncia Social?
8) Por que a assistncia social no tem natureza de seguro social?
9) Com que recursos devero ser realizadas as aes governamentais na rea da
assistncia social e como devem ser organizados?
10) Em que consiste o direito educao?
11) Quais os princpios que devem servir de base ao ensino?
12) Quais as garantias constitucionais universidade?
13) Como se efetivar o dever do Estado com a educao?
14) Quais as condies de participao da iniciativa privada na atividade de ensino?
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
15) Quais as finalidades do plano nacional de educao?
16) Qual a extenso da garantia constitucional cultura?
17) De que constitui o patrimnio cultural brasileiro e quais bens o compe?
18) Quais as formas de proteo ao patrimnio cultural brasileiro?
19) Qual o papel do Estado na garantia prtica de esportes e quais as disposies
constitucionais que devem ser observadas?
20) De que modo a CF dispe sobre a finalidade da pesquisa cientfica bsica? E da
pesquisa cientfica tecnolgica?
21) De que forma dever o Estado apoiar a Cincia e a Tecnologia?
22) Podem os Estados e o DF destinar parte de seu oramento a atividades ligadas
Cincia e a Tecnologia?
23) Como se posiciona a CF em relao comunicao social?
24) A quais princpios devero atender a produo e a programao das emissoras de
rdio e televiso?
25) De que forma poder defender-se a sociedade brasileira de programas de rdio ou de
televiso, que atentem contra o respeito aos valores ticos e sociais da pessoa e da
famlia?
26) De que modo sujeitam-se as empresas de comunicao interveno do Estado, no
domnio econmico?
27) De que modo pode a pessoa jurdica participar no capital social de empresa
jornalstica ou de radiodifuso?
28) Qual o tratamento dado pela CF ao meio ambiente?
29) De que forma deve atuar o Poder Pblico para assegurar a efetividade do direito ao
meio ambiente?
30) De que forma deve agir o indivduo ou a empresa que desejam explorar recursos
minerais, relativamente ao meio ambiente?
31) Quais as espcies de sanes a que estaro sujeitos aqueles cuja conduta ou
atividade for considerada lesiva ao meio ambiente?
32) Que regies de matas e florestas nativas foram declaradas patrimnio nacional pela
CF?
33) Qual o tratamento dado pela CF famlia e ao casamento?
34) Qual a proteo assegurada ao casal, relativamente ao planejamento familiar?
35) Que direitos devem ser assegurados pela famlia, pela sociedade e pelo Estado
Criana e ao adolescente, com absoluta prioridade?
36) Qual o papel do Estado na assistncia criana e ao adolescente? E quais os
preceitos que devem ser obedecidos?
37) Qual a proteo conferida pessoa portadora de deficincia?
38) Quais os aspectos abrangidos pelo direito a proteo especial concedida s crianas
e aos adolescentes?
39) Qual a medida da severidade e da lei na represso ao abuso, violncia e
explorao sexual da criana e do adolescente?
40) De que forma interfere o Estado na adoo de crianas e adolescentes?
41) De que forma equiparou a CF os filhos havidos fora do casamento e os adotados aos
filhos legtimos? correto o uso da expresso filho ilegtimo?
42) Quais os deveres dos pais em relao aos filhos menores, e dos filhos maiores e
relao aos pais?
43) Quais as garantias constitucionais dadas aos idosos?
44) Quais os direitos constitucionais reconhecidos aos ndios?
45) Quem dever demarcar e proteger as terras tradicionalmente ocupadas pelos ndios?
46) Quais as terras tradicionalmente ocupadas pelos ndios, para efeitos de proteo
legal? Essas terras so de propriedade dos ndios?
PROF Ms. NURIA CABRAL APONTAMENTOS DE D. CONSTITUCIONAL 2
47) A CF veda o aproveitamento econmico das riquezas naturais das terras
tradicionalmente ocupadas pelos ndios?
48) Sob que condies podem ser removidos os grupos indgenas de suas terras?
Você também pode gostar
- VALORES - HISTÓRIA CADÊ O AMOR - @comunidadepedagogicaDocumento11 páginasVALORES - HISTÓRIA CADÊ O AMOR - @comunidadepedagogicaDyala Caires100% (1)
- A Hora Da Estrela - Questões de VestibularDocumento4 páginasA Hora Da Estrela - Questões de VestibularLuiz Paulo Facciuto Roschel100% (2)
- 9.MARCUSCHI, Luiz Antônio-Da Fala para A Escrita Atividades de RetextualizaçãoDocumento3 páginas9.MARCUSCHI, Luiz Antônio-Da Fala para A Escrita Atividades de RetextualizaçãolidyanneAinda não há avaliações
- Curso de Batismo e Novos MembrosDocumento56 páginasCurso de Batismo e Novos MembrosLuciano Martins80% (5)
- Ficha de Aval. Sum. de Português-2º Ano - 1º Período.Documento6 páginasFicha de Aval. Sum. de Português-2º Ano - 1º Período.Sónia100% (1)
- Guião Estimulação CognitivaDocumento62 páginasGuião Estimulação CognitivaAna Teresa Coelho100% (10)
- LESSA, S. Mundo Dos HomensDocumento352 páginasLESSA, S. Mundo Dos HomensDiego AmorimAinda não há avaliações
- (Bloch) Princípio Esperança Volume IDocumento222 páginas(Bloch) Princípio Esperança Volume ISuellen GodoiAinda não há avaliações
- A Linguagem Nas Letras de Rap - Estrada Da Dor 666 - Facção CentralDocumento6 páginasA Linguagem Nas Letras de Rap - Estrada Da Dor 666 - Facção CentralDéborah AbrahãoAinda não há avaliações
- Cavando No ValeDocumento5 páginasCavando No ValeDavid BarbozaAinda não há avaliações
- Argumentos e FaláciasDocumento5 páginasArgumentos e Faláciasrita ritaAinda não há avaliações
- Slide SkinnerDocumento15 páginasSlide SkinnerkakazethAinda não há avaliações
- Relatório Avaliação Psicológica II (Part. Anderson)Documento3 páginasRelatório Avaliação Psicológica II (Part. Anderson)cezarcomzAinda não há avaliações
- AbacoDocumento10 páginasAbacoJohn SilvaAinda não há avaliações
- Aula 05 Negacao Lei de Morgan e Ou Todo IIIDocumento3 páginasAula 05 Negacao Lei de Morgan e Ou Todo IIISarah SantanaAinda não há avaliações
- Transformando A Dor em AlegriaDocumento14 páginasTransformando A Dor em AlegriaFelipe Barbosa da PazAinda não há avaliações
- Filosofia e Ética para Crianças (Dora Incontri)Documento11 páginasFilosofia e Ética para Crianças (Dora Incontri)Zé Da Silva ZAinda não há avaliações
- Apostila Do Minicurso de Python UfuDocumento34 páginasApostila Do Minicurso de Python UfuJúnior VazAinda não há avaliações
- Cirque Du SoleilDocumento15 páginasCirque Du SoleilAne RodriguesAinda não há avaliações
- Modernismo PROVADocumento12 páginasModernismo PROVAAndrea Passos100% (1)
- Interpretação de Charges e Quadrinhos: Charge QuadrinhoDocumento8 páginasInterpretação de Charges e Quadrinhos: Charge QuadrinhoNatan TavaresAinda não há avaliações
- Suzuki, Marcio - A Filosofia Como Arte, Ou A "Tópica Indefinida" de Gerard LebrunDocumento16 páginasSuzuki, Marcio - A Filosofia Como Arte, Ou A "Tópica Indefinida" de Gerard LebrunLuê S. PradoAinda não há avaliações
- Guia Completo Do Vendedor ProfissionalDocumento32 páginasGuia Completo Do Vendedor ProfissionalJosé Alexandre100% (3)
- Ritual Do AlabáDocumento3 páginasRitual Do AlabáJean Ribeiro DiasAinda não há avaliações
- Métodos EstatísticosDocumento8 páginasMétodos EstatísticosAbacoSorobanAinda não há avaliações
- Prova Supervisão 2008.2Documento19 páginasProva Supervisão 2008.2z9granfiAinda não há avaliações
- O Segredo de La Salette - CompletoDocumento6 páginasO Segredo de La Salette - CompletoDouglas de QuadrosAinda não há avaliações
- No Caminho Da Prevenção Das NeurosesDocumento4 páginasNo Caminho Da Prevenção Das NeurosesErica GreenAinda não há avaliações
- Cesário Verde Ficha InformativaDocumento17 páginasCesário Verde Ficha InformativaBruno CamposAinda não há avaliações
- ANTOINE-Andersen Guia Do Professor - Arte para Compreender o MundoDocumento15 páginasANTOINE-Andersen Guia Do Professor - Arte para Compreender o MundoCarine KAinda não há avaliações