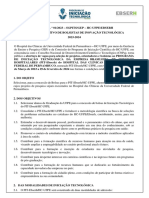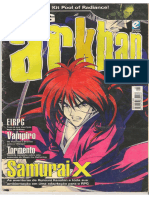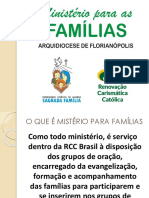Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Saneamento 1
Apostila Saneamento 1
Enviado por
Thamara_fonsecaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Saneamento 1
Apostila Saneamento 1
Enviado por
Thamara_fonsecaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
SANEAMENTO BSICO II
A disciplina de Saneamento Bsico II possui os seguintes objetivos
especficos :
Projetar, especificar e construir redes de esgoto sanitrios.
Projetar e especificar sistemas de tratamento de guas residurias.
Projetar e especificar sistemas simplificados para limpeza urbana e para
tratamento de resduos slidos.
Conhecer a legislao de proteo ambiental e os procedimentos para
execuo de Estudos de Impactos Ambientais.
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
UNIDADE I - REDES DE ESGOTO SANITRIO
1. Introduo
Os processos de consumo da gua, na sua maioria geram vazes de guas residurias que,
por no disporem de condies de reutilizao, devem ser coletadas e transportadas para
locais afastados da comunidade, de modo mais rpido e seguro, onde, de acordo com as
circunstncias, devero passar por processos de depurao adequados antes de serem lanadas
nos corpos receptores naturais. Este condicionamento necessrio para preservar o equilbrio
ecolgico no ambiente atingido direta ou indiretamente pelo lanamento. Este servio
executado pelo Sistema de Esgotos Sanitrios.
Nas cidades beneficiadas por um sistema pblico de abastecimento de gua e ainda
carentes de sistemas de esgoto sanitrio, as guas servidas acabam poluindo o solo,
contaminando as guas superficiais e freticas e freqentemente passam a escoar pelas valas e
sarjetas, constituindo-se em perigosos focos de disseminao de doenas.
Com a construo de um sistema de esgoto sanitrio numa comunidade, procura-se atingir
os seguintes objetivos mais importantes :
melhoria das condies higinicas locais e conseqente aumento da produtividade;
conservao de recursos naturais, das guas em especial;
coleta e afastamento rpido e seguro do esgoto sanitrio;
disposio sanitariamente adequada do efluente;
eliminao de focos de poluio e contaminao, assim como de aspectos estticos
desagradveis (por exemplo, odores agressivos);
proteo de comunidades e estabelecimentos de jusante;
diminuio dos custos no tratamento de guas para abastecimento, que seriam ocasionadas
pela poluio dos mananciais;
reduo de gastos pblicos com campanhas de imunizao e/ ou erradicao de molstias
endmicas ou epidmicas.
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Logo, entende-se como Sistema de Esgotos Sanitrios o conjunto de obras e instalaes
destinadas a propiciar a coleta, o transporte e o afastamento, o tratamento e a disposio final
das guas residurias da comunidade, de uma forma adequada do ponto de vista sanitrio.
O conjunto de condutos e obras destinados a coletar e transportar as vazes para um
determinado local de convergncia dessas vazes denominado de Rede Coletora de Esgotos.
Portanto, por definio, a Rede Coletora apenas uma componente de um Sistema de
Esgotamento Sanitrio.
2. Classificao dos Sistemas de Esgoto
Na Antigidade as preocupaes voltavam-se para as obras de esgotamento pluvial,
devido ao fato da inexistncia de peas sanitrias com descarga hdrica e pela ignorncia dos
povos sobre a periculosidade dos resduos domsticos.
Os primeiros sistemas de esgotamento executados pelo homem tinham como objetivo
proteg-lo das vazes pluviais, devendo-se isto, principalmente, a inexistncia de redes de
distribuio de gua potvel e de peas sanitrias com descargas hdricas, fazendo com que
no houvesse, a primeira vista, vazes de esgotos tipicamente domsticas.
O aparecimento da gua encanada e das peas sanitrias com descarga hdrica, fizeram
com que a gua passasse a servir com uma nova finalidade: afastar propositadamente dejetos
e outras impurezas indesejveis ao ambiente de vivncia. A evoluo dos conhecimentos
cientficos, principalmente na rea de sade pblica, tornou imprescindvel a necessidade de
canalizar as vazes de esgoto de origem domstica. Essas vazes passaram, ento, a serem
conduzidas para as galerias de guas pluviais existentes originando, assim, o denominado
Sistema Unitrio de Esgotos (Figura 2). No incio do sculo XVIII, a construo dos
sistemas unitrios propagou-se pelas principais cidades do mundo na poca, como Londres,
Paris, Amsterdam, Hamburgo, Viena, Chicago, Bueno Aires, etc. A adoo de Sistemas
Unitrios de Esgotos em cidades situadas em regies com alto ndice pluviomtrico tornou-se
invivel devido ao elevado custo das obras, em virtude da necessidade da construo das
avantajadas galerias transportadoras das vazes mximas.
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
No Brasil, foram contratados pelo imperador D. Pedro II, projetistas ingleses para
elaborarem e implantarem sistemas de esgotamento para o Rio de Janeiro e So Paulo, na
poca, as principais cidades brasileiras. Ao estudarem a situao, os projetistas depararam-se
com situaes peculiares e diferentes das encontradas na Europa, principalmente as condies
climticas (clima tropical) e a urbanizao (lotes grandes e ruas largas). Aps criteriosos
estudos e justificativas foi adotado na ocasio, um indito sistema no qual eram coletadas e
conduzidas s galerias, alm das guas residurias domsticas, apenas as vazes pluviais
provenientes das reas pavimentadas interiores aos lotes (telhados, ptios e etc). Criava-se,
ento, o Sistema Separador Parcial, cujo objetivo bsico era reduzir os custos de
implantao e, consequentemente, as tarifas a serem pagas pelos usurios.
Logo aps, em 1879, o engenheiro George Waring foi contratado para projetar um sistema
de esgotos para a cidade de Memphis, na Gergia, EUA, onde predominava uma economia
rural e relativamente pobre, praticamente incapaz de custear a implantao de um sistema
convencional poca. Waring projetou ento um sistema exclusivamente para coleta e
remoo das guas residurias domsticas, excluindo, portanto, as vazes pluviais no clculo
dos condutos, surgindo o Sistema Separador Absoluto (Figura 1) de esgotos sanitrios e
uma outra exclusiva para guas pluviais. Rapidamente o sistema separador absoluto foi
difundido-se pelo resto do mundo a partir das idias de Waring e de suas publicaes. No
Brasil destacou-se na divulgao do novo sistema, Francisco Saturnino de Brito, engenheiro
civil e o mais notvel sanitarista nacional, cujos estudos, trabalhos e sistemas reformados pelo
mesmo, fizeram com que, a partir de 1912, fosse adotado obrigatoriamente no pas, os sistema
separador.
Figura 2 Sistema Unitrio ou Combinado
Figura 1 Sistema Separador Absoluto
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
2.1 Comparao entre os Sistemas de Esgotamento
Uma comparao entre os Sistemas Unitrio e Separador Absoluto permite entender os
motivos pelos quais este ltimo o mais empregado atualmente :
Desvantagens do Sistema Unitrio :
dificulta o controle da poluio a jusante onerando o tratamento, em virtude do grande
volume de esgotos coletados e transportados em pocas de cheia e, consequentemente, o
alto grau de diluio em contraste com as pequenas vazes escoadas nos perodos de
estiagem, acarretando problemas hidrulicos nos condutos e encarecendo a manuteno do
sistema;
exige altos investimentos iniciais na construo de grandes galerias necessrias ao
transporte das vazes mximas do projeto;
tem funcionamento precrio em ruas sem pavimentao, principalmente de pequenas
declividades longitudinais, em funo da sedimentao interna de parte do material slido
oriundo dos leitos das vias pblicas;
implicam em construes mais difceis e demoradas em conseqncia das suas dimenses,
criando maiores dificuldades fsicas e no cotidiano da populao da rea atingida.
Vantagens do Sistema Separador Absoluto :
permite a implantao independente dos sistemas (pluvial e sanitrio) possibilitando a
construo por etapas e em separado de ambos, inclusive desobrigando a construo de
galerias pluviais em maior nmero de ruas;
permite a instalao de coletores de esgotos sanitrios em vias sem pavimentao, pois
esta situao no interfere na qualidade dos esgotos coletados;
permite a utilizao de peas pr-moldadas denominadas de tubos, na execuo das
canalizaes em funo da reduo nas dimenses necessrias ao escoamento das vazes,
reduzindo custos e prazos na implantao dos sistemas;
acarreta maior flexibilidade para a disposio final das guas de origem pluvial, pois estes
efluentes podero ser lanados nos corpos receptores naturais da rea (crrego, rios, lagos,
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
etc) sem necessidade prvia de tratamento o que acarreta reduo da sees e da extenso
das galerias pluviais;
reduz as dimenses das estaes de tratamento facilitando, consequentemente, a operao
e manuteno destas em funo da constncia na qualidade e na quantidade das vazes a
serem tratadas.
Diante destas circunstncias quase inconcebvel nos dias de hoje, projetarem-se sistemas
unitrios de esgotamento, sendo que em vrios pases (entre estes o Brasil) tornou-se
obrigatrio o emprego do Sistema Separador Absoluto.
2.2 Sistemas Alternativos para Coleta e Transporte de Esgoto Sanitrio
As redes de esgotos representam cerca de 75 % do custo de implantao de um sistema de
esgoto sanitrio, os coletores tronco 10 %, as elevatrias 1 %, e as estaes de tratamento 14
%. Devido ao alto custo da construo das redes, tm sido apresentadas, por alguns autores,
sistemas alternativos para coleta e transporte, visando a diminuio dos custos das redes de
esgotos. Dentre estes podem ser citados :
Sistema Condominial de Esgoto;
Rede Coletora de Baixa Declividade com utilizao do dispositivo gerador de
descarga.
2.2.1 Sistema Condominial
O condominial foi desenvolvido no Rio Grande do Norte, espalhando-se para outros
estados brasileiros com pequenas adaptaes. Esse sistema uma forma de concepo de
traados de redes, onde a idia central de sua implementao a formao de condomnios,
em grupos de usurios, a nvel de quadra urbana, como unidade de esgotamento.
No aspecto fsico, o ramal condominial, constitui uma rede de tubulaes que passa
quase sempre, entre os quintais no interior dos lotes, cortando-os, no sentido transversal.
Intercalada nesta rede interna quadra, de pequena profundidade, encontra-se em cada
quintal, uma caixa de inspeo qual se conectam as instalaes sanitrias prediais,
independentemente, constituindo um ramal multifamiliar.
No aspecto social, resulta da formao de um condomnio, ou de condomnios, na
quadra urbana, abrangendo o conjunto de usurios interligados pelo ramal multifamiliar. O
6
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
condomnio, informal, alcanado atravs de pacto entre vizinhos, o qual possibilita o
assentamento dos ramais em lotes particulares e disciplina a participao dos condminos no
desenvolvimento dos trabalhos. A execuo das obras realizada pelos usurios do sistema
com a ajuda do municpio ou empresa saneamento bsico.
O traado mais racional discutido com os usurios e apresentado como padro do
servio, permitindo modificaes, desde que sejam assumidos os nus adicionais por quem
assim desejar.
A operao e manuteno desse ramal de responsabilidade do prprio condomnio a
que serve, cada condmino assumindo a parcela dos sistema situado em seu lote.
No local mais conveniente, por exemplo, um ponto baixo da quadra, de preferncia
onde existe espao livre entre duas casas, o ramal sai da quadra e lana os esgotos em uma
caixa de passagem, localizada no passeio, que integra a rede coletora do sistema.
A Figura 3 a seguir ilustra o traado da rede coletora de esgotos de um Sistema
Condominial.
Figura 3 Exemplo de Sistema Condominial de Coleta de Esgotos
7
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Comparao entre o Sistema Condominial e o Convencional
As principais vantagens do sistema condominial so :
Menor extenso das ligaes prediais e coletores pblicos;
Baixo custo de construo de coletores, cerca de 57,5 % mais econmicos que os
sistemas convencionais;
Custo menor de operao;
Maior participao dos usurios;
A qualquer tempo, sem quebras do asfalto ou tumultos no trnsito, podem ser
feitas as ligaes domiciliares ou desobstrues nas linhas.
As principais desvantagens do sistema condominial so :
Sem uma poltica de aceitao condominial, podero surgir conflitos entre os
usurios do sistema, visto que o xito deste sistema depende fundamentalmente da
atitude dos usurios, sendo imprescindveis uma boa comunicao, explicao,
persuaso e treinamento;
Menor ateno na operao e manuteno dos coletores;
Pode ocorrer o uso indevido dos coletores de esgoto, tais como, lanamento de
guas pluviais e resduos slidos;
Com os coletores assentados em lotes particulares, pode haver dificuldade na
inspeo, operao e manuteno pelas empresas que operam o sistema;
Menor extenso das ligaes prediais e coletores pblicos.
Para efeito de comparao so apresentadas nas Figuras 4 e 5 as ligaes prediais do
sistema convencional e do sistema condominial, para o esgotamento das quadras. Pelo que se
observa na Figura 4, haver necessidade de 80 ligaes prediais ao coletor pblico, para o
atendimento das quadras, considerando o sistema convencional. Para o sistema condominial
as ligaes ao coletor pblico sero de apenas 4, conforme apresentado na Figura 5.
Alm da diminuio do nmero de ligaes, haver uma sensvel diminuio da
extenso dessas ligaes, e tambm, poder haver uma diminuio de comprimento da rede
pblica, conforme se observa nas Figuras 4 e 5.
8
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 4 Sistema Convencional
Figura 5 Sistema Condominial
Para o dimensionamento do sistema condominial podem ser utilizadas as tcnicas
convencionais, conforme ser visto mais adiante, entretanto, tem sido apresentado por alguns
autores, as seguintes recomendaes :
Dimetro da ligao ao ramal condominial : 100 mm, com declividade mnima de
1 %;
Dimetro mnimo do ramal condominial : 100 mm, com declividade mnima de
0,006 m/m;
Utilizao das caixas de inspeo no interior das quadras, com recobrimento
mnimo de 0,30 m.
9
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
2.2.2 Rede Coletora de Baixa Declividade com a Utilizao do Dispositivo
Gerador de Descarga (DGD)
Em reas planas ou onde o terreno apresenta baixas declividades, a implantao e
operao de redes coletoras de esgoto sanitrio pode tornar-se bastante onerosa. Estas
condies esto presentes, por exemplo, em um grande nmero de cidades litorneas da costa
brasileira. Nestes locais tem-se, no raramente, uma situao de reas planas, solos moles e
lenol fretico alto exigindo disposies construtivas especiais, tais como: escoramento
contnuo de valas, rebaixamento do lenol, fundaes especiais para a tubulao e etc. Em
consequncia a incidncia dos custos relativos escavao, escoramento, reaterro e
recomposio da via se situa na faixa dos 80 a 90 % do custo total de implantao.
O custo de implantao e operao em reas planas eleva-se tambm pelo emprego de
estaes elevatrias de esgoto nestes locais.
A busca de solues de menor custo de implantao e operao de redes coletoras de
esgotos para as situaes antes descritas, levou ao desenvolvimento das redes coletoras de
baixa declividade. Trata-se de soluo onde a rede assentada a declividades drasticamente
reduzidas, bem menores que as resultantes dos clculos propostos na normalizao com as
vazes originas de dimensionamento. Para um coletor atendendo ao mesmo trecho, porm
com uma declividade muitssimo menor, observa-se a montante do trecho a presena de um
dispositivo gerador de descargas (DGD) que atravs de suas descargas de esgoto origina o
escoamento requerido para o transporte da carga slida depositada (Figura 6).
Esta tecnologia conta com patente em nome do IPT e da FAPESP e seu desempenho
acha-se em fase comprobatria em trecho piloto implantado na rede coletora da SABESP
(ano de 1999), na cidade de Guaruj, Estado de So Paulo.
DGD
Dispositivo Gerador de Descarga (DGD)
Figura 6 Concepo bsica de funcionamento de redes coletoras de baixa declividade, com
a utilizao do DGD.
10
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
3. Classificao e Composio dos Esgotos
De acordo com a origem o esgoto pode ser :
Sanitrio, Comum ou Domstico : so aqueles provenientes de reas comerciais e
residenciais (aparelhos sanitrios, cozinhas, lavagem de roupas, etc.). Tecnicamente esses
despejos so denominados de guas residurias domsticas, esgotos domsticos ou
esgotos sanitrios.
Industrial : so aqueles provenientes de processos industriais. Tem caractersticas
prprias em funo da matria-prima, do processo de industrializao utilizado e do
produto industrializado. Ela apresenta uma contribuio localizada de grande volume,
com composio variando de orgnica a mineral, sendo geralmente rico em slidos
dissolvidos minerais.
Pluvial : decorrente da coleta da precipitao atmosfrica e da lavagem das ruas.
tipicamente intermitente ou sazonal, dependendo essencialmente das precipitaes
atmosfricas.
3.1 Composio dos Esgotos Sanitrios
Os esgotos sanitrios tm em sua composio cerca de 0,1 % de material slido,
compondo-se o restante essencialmente de gua (99,9 %). Essa parcela, numericamente to
pequena, , no entanto, causadora dos mais desagradveis transtornos, pois a mesma possui
em seu meio microorganismos, na maioria unicelulares, consumidores de matria orgnica e
de oxignio e, muito provavelmente, a ocorrncia de microorganismos patognicos a vida
micro animal em geral.
O esgoto domstico chega rede coletora com oxignio dissolvido, resultante em parte
pela gua que deu origem e parte inserido atravs de turbulncia normalmente ocorrida na sua
formao.
O esgoto fresco, ou de produo recente, apresenta gua com aspecto original, quase sem
cheiro, em virtude da presena de oxignio dissolvido e partculas slidas transportadas ainda
intactas.
O esgoto velho o que apresenta uma certa homogeneidade pela desintegrao do
material transportado, provocada pela movimentao demorada; a colorao cinza escuro e
h incio de odores desagradveis pela depresso de oxignio. Com a movimentao
11
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
turbulenta atravs dos condutos de transporte a parte slida sofre desintegrao formando uma
vazo lquida de colorao cinza-escura, com liberao de pequenas quantidades de gases
mal cheirosos, oriundos da atividade metablica dos microorganismos presentes em seu meio.
O aumento da lmina lquida nos condutos originado do acrscimo das vazes para
jusante e da reduo das declividades, dificulta a entrada de oxignio atmosfrico, enquanto
que o oxignio livre no meio aquoso consumido pelos microorganismos aerbios. Se a
capacidade de reaerao da massa lquida no for suficiente para abastecimento das
necessidades das bactrias, a quantidade de oxignio livre tende a zero, provocando o
desaparecimento de toda a vida aqutica aerbia, constituindo-se o esgoto sptico de cor
preta, com exalao intensa de odores ofensivos decorrentes de forte ao anaerbia.
Denominam-se bactrias aerbicas aquelas que consomem em sua atividade vital o
oxignio livre presente no interior da massa lquida, originando o processo de decomposio
biolgica aerbica do esgoto tambm chamado de oxidao. Na ausncia de oxignio livre ou
presena em quantidade insuficiente para a realizao do processo citado, desenvolve-se o
processo de decomposio anaerbica ou putrefao que realizado pelas bactrias
anaerbicas as quais consomem o oxignio dos compostos orgnicos e inorgnicos em sua
atividade metablica como, por exemplo, dos sulfatos.
Sempre que possvel a decomposio aerbia prefervel anaerbia. Para efeito de
comparao pode-se afirmar que o processo aerbio desenvolve-se com maior rapidez e seus
produtos, gs carbnico, nitratos, sulfatos e gua, so mais facilmente assimilados pelos
macrosseres, principalmente os vegetais, enquanto que do anaerbio resultam metano,
amonaco e gs sulfdrico entre outros, que so gases nocivos a sade humana e de odor
bastante desagradvel.
3.2 Principais contaminantes dos Esgotos Sanitrios
As principais substncias contaminantes existentes nos esgotos sanitrios so :
Slidos em suspenso: podem levar ao desenvolvimento de depsitos de lodo e condies
anaerbias quando despejos de esgotos no tratados so lanados no ambiente aqutico.
Materiais
orgnicos
biodegradveis:
compostos
principalmente
de
protenas,
carboidratos e gorduras, sendo medidos comumente em termos de DBO (Demanda
Bioqumica de Oxignio) e DQO (Demanda Qumica de Oxignio). Se lanados sem
12
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
tratamento no ambiente, sua estabilizao biolgica pode levar ao esvaziamento das fontes
de oxignio natural e ao desenvolvimento de condies spticas.
Microorganismos Patognicos: doenas epidmicas e endmicas podem ser transmitidas
pelos organismos patognicos existentes nos despejos de esgotos.
Nutrientes : tanto o nitrognio e fsforo aliados ao carbono, so nutrientes essenciais para
o crescimento. Quando lanados no ambiente aqutico, estes nutrientes podem levar ao
crescimento de vida aqutica indesejvel. Quando lanados em grandes reas de terra,
podem tambm poluir o subsolo.
Matria Orgnica Refratria: estes materiais tendem a resistir a mtodos convencionais
de tratamento de esgotos. Exemplos tpicos incluem detergentes e seus derivados, fenis e
pesticidas agrcolas.
Slidos Inorgnicos Dissolvidos: constituintes inorgnicos como clcio, sdio e sulfato
so adicionados aos sistemas de abastecimento de gua domsticos como um resultados
do uso da gua, devendo serem removidos se houver necessidade de reuso do despejo.
3.3 Composio Fsico-Qumica Tpica de Esgoto Bruto Domstico
As principais caractersticas observadas em laboratrio do esgoto so :
Caractersticas Fsicas: cor, turbidez, odor, slidos totais (suspensos e dissolvidos);
Caractersticas Qumicas: acidez livre, alcalinidade, cloretos, nitrognio, fsforo, pH,
oxignio dissolvido (geralmente inexistente), oxignio consumido pelo permanganato
(DQO - matria orgnica oxidvel quimicamente), demanda bioqumica de oxignio
(DBO matria orgnica oxidvel poe ao de bactrias principal caracterstica do
esgoto sanitrio, atingindo em mdia 300 mg/O2/l em 5 dias a 20 C).
A principal caracterstica dos esgotos sanitrios a Demanda Bioqumica de Oxignio
conhecida como DBO. O consumo concomitante de oxignio nos processos de estabilizao
biolgica da matria presente nos volumes de esgotos sanitrios, implica na necessidade de
quantificar-se esse consumo de oxignio tendo em vista que a sua determinao um
indicador do teor da matria orgnica biodegradvel diluda. A DBO pode ser definida como
a quantidade de oxignio livre necessria para estabilizar bioquimicamente a matria
orgnica atravs da ao de bactrias aerbias, e expresso normalmente em miligramas
de oxignio por litro de esgoto (mg/O2/l). O ensaios so realizados a uma temperatura 20 C e
com uma incubao da amostra durante 5 dias. Em condies naturais, a oxidao bioqumica
13
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
da matria orgnica desacelerada com o decorrer dos dias e, para completar-se, teoricamente
requer um tempo infinito. A temperatura de 20 C, 5 dias j so suficientes para a oxidao de
60 a 70 % da matria orgnica biodegradvel, e em 20 dias essa oxidao atinge 95 a 99 %.
Um outro parmetro para determinao do teor de matria orgnica a Demanda
Qumica de Oxignio DQO. A DQO consiste na oxidao energtica de uma amostra de
esgoto pelo dicromato de potssio, em meio cido, elevada temperatura. No final do teste,
com durao aproximada de 3 horas, medido o consumo do reagente, a fim de ser
determinada, em miligrama, a quantidade de oxignio consumido na oxidao de 1 litro de
esgoto, que corresponde, assim como a DBO, a medida da matria orgnica presente no
esgoto. Normalmente o valor da DQO supera o da DBO, por ser oxidada pelo dicromato
tanto a matria orgnica biodegradvel (putrescvel) como a no biodegradvel.
O processo da DBO, apesar de largamente utilizado, apresenta dois principais
incovenientes : a necessidade de vrios dias para a sua realizao e o fato de ser imune
presena de matria orgnica no biodegradvel, como a de certos detergentes e inseticidas.
Esses detergentes conferem gosto gua e comprometem-lhes a esttica pela formao de
espuma em sua superfcie, enquanto os inseticidas provocam a morte de peixes. A tabela a
seguir apresenta os principais contaminantes do esgoto sanitrio.
Tabela 1 Principais Contaminantes do Esgoto Sanitrio
Concentrao no Esgoto (mg/l)
Forte
Mdia
Fraca
1200
700
350
Constituinte
Slidos Totais
Slidos Dissolvidos Totais
850
500
250
Slidos Dissolvidos Fixos
525
300
145
Slidos Dissolvidos Volteis
325
200
105
Slidos em Suspenso
350
200
100
Slidos em Suspenso No Volteis
75
50
30
Slidos em Suspenso Volteis
275
150
70
20
10
Demanda Bioqumica de Oxignio (DBO 20)
300
200
100
Demanda Qumica de Oxignio (DQO)
1000
500
250
Carbono Orgnico Total (COT)
300
200
100
Nitrognio Total
85
40
20
Fsforo Total
20
10
Cloretos
100
50
30
Graxa, Gordura
150
100
50
Alcalinidade em CaCO3
200
100
50
Slidos Sedimentveis (ml/l)
5
14
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Em geral, para efeitos prticos, consideram-se os Slidos Suspensos Sedimentveis
correspondentes a 25 % do total, os Slidos Suspensos No Sedimentveis a 25 % e os
Slidos Dissolvidos incluindo os prprios da gua de abastecimento a 50 % do total. No
entanto devem ser realizados ensaios para uma caracterizao precisa dos esgotos sanitrios.
4 Principais Normas Brasileiras de Sistemas de Esgoto Sanitrio
Estudo de Concepo de Sistemas de Esgoto Sanitrio NB 566 / NBR 9648
Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitrio NB 567 / NBR 9649
Execuo de Rede Coletora de Esgoto Sanitrio NB 37 / NBR 9814
Projeto de Estaes Elevatrias de Esgoto Sanitrio NB 569 / NBR 12208
Projeto de Estaes de Tratamento de Esgoto Sanitrio NB 570 / NBR 12209
Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitrio NB 568 / NBR 12207
Projeto e Assentamento de Tubulaes de PVC Rgido para Sistemas de Esgoto Sanitrio
NBR 281 / NBR 7367
5 Estudo de Concepo de Sistemas de Esgoto Sanitrio
Para o estudo de concepo de sistemas esgoto sanitrio, so necessrios o
desenvolvimento de uma srie de atividades, sendo as principais listadas a seguir :
Dados e caractersticas da comunidade (localizao; infra-estrutura existente; cadastro
do sistemas existentes : abastecimento de gua, esgoto sanitrio, galerias de guas
pluviais, pavimentao, telefone, energia e etc.; e condies sanitrias atuais.);
Anlise do sistema de esgoto sanitrio existente;
Estudos demogrficos e de uso e ocupao do solo (dados censitrios, pesquisas de
campo, anlise scio-econmica do municpio, plano diretor da cidade, projeo da
populao da cidade, e etc.);
Critrios e parmetros de projeto (consumo efetivo per capita, coeficientes de
variao de vazo k1, k2 e k3, coeficientes de contribuio industrial, coeficiente de
retorno esgoto/gua, vazo de infiltrao e etc.). Estes parmetros sero detalhados
mais adiante;
15
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Clculo das contribuies (domstica, industrial e de infiltrao ano a ano, e por bacia
ou sub-bacia, quando pertinente);
Formulao criteriosa das alternativas de concepo (estimativa de custo das
alternativas
estudadas
comparao
tcnico-econmica
ambiental
das
alternativas);
Estudo de corpos receptores (vazes caractersticas, cota de inundao, condies
sanitrias e usos de montante e jusante atuais e futuros, aspectos legais da Resoluo
20/90 do CONAMA e das legislaes estaduais e municipais.).
6 Componentes dos Sistemas de Esgotos Sanitrios
A coleta e o transporte das guas residurias desde a origem at o lanamento final
constituem o fundamento bsico do saneamento de uma populao. Os condutos que
recolhem e transportam essas vazes so denominados de coletores e o conjunto dos mesmos
compem a rede coletora. A rede coletora, os emissrios, as unidades de tratamento, etc,
compem o que denominado de sistema de esgotos sanitrios. Os sistemas de esgotos
sanitrios so geralmente constitudos de canalizaes enterradas, geralmente assentadas com
declividades suficientes para permitir o escoamento livre por gravidade. Estes sistemas,
normalmente projetados como canais (condutos livres), exceto quando existe a necessidade de
elevatrias
sifes
invertidos,
tm
seus
problemas
hidrulicos
solucionados
convenientemente para as condies do escoamento uniforme.
As unidades bsicas que podem compor um sistema convencional de esgotamento
sanitrio so (Figura 7):
Canalizaes: coletores, interceptores, emissrios, sifes invertidos e passagens foradas;
Estaes elevatrias;
rgos complementares e acessrios: poos de visita, caixas de passagem, tubos de
inspeo e limpeza e terminais de limpeza;
Estaes de tratamento;
Obras de lanamento final e corpo receptor.
16
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 7 Partes Constitutivas de um Sistema Convencional de Esgoto
DESTINO
FINAL
ETE
RIO
EEE
RAMAIS
PREDIAIS
EMISSRIO
PV
INTERCEPTOR MARGEM ESQUERDA
CRREGO
INTERCEPTOR MARGEM DIREITA
COLETORES TRONCOS
LOTES
COLETORES
SECUNDRIOS
17
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
A seguir so apresentados conceitos e definies de componentes e acessrios diversos
dos sistemas de esgotos sanitrios :
Bacia de Drenagem: rea delimitada pelos coletores que contribuem para um
determinado ponto de reunio das vazes finais coletadas nessa rea.
Corpo Receptor: curso ou massa dgua onde lanado o efluente final do sistema de
esgotos.
Coletor Predial: canalizao que conduz o esgoto sanitrio dos edifcios at a rede
coletora de esgoto.
Ligao predial: trecho do coletor predial compreendido entre o limite do lote e o coletor
pblico.
Coletor de Esgoto: canalizao de pequeno dimetro que recebe os efluentes dos
coletores prediais em qualquer ponto ao longo de sua extenso. Os de maior extenso
numa bacia denominam-se principais (coletores principais).
Coletor Tronco: Canalizao de maior dimetro, que recebe apenas as contribuies de
outros coletores, conduzindo os esgotos a um interceptor ou a um emissrio.
Interceptor: canalizao de grande porte que intercepta o fluxo de coletores-tronco de
modo a evitar que desaguem em uma localidade a proteger como uma praia, um lago, um
rio, etc. Normalmente correm nos fundos de vale, margeando cursos dgua ou canais. So
responsveis pelo transporte dos esgotos gerados em uma sub-bacia. Em funo das
maiores vazes transportadas, os dimetros so usualmente maiores que os dos coletorestronco.
Emissrio: conduto final de um sistema de esgoto sanitrio, que recebe esgoto
exclusivamente em sua extremidade de montante, destinado ao afastamento dos efluentes
da rede para o ponto de lanamento (descarga) ou de tratamento.
Estao Elevatria de Esgoto (EEE): instalaes eletromecnicas e obras civis
destinadas ao transporte do esgoto sanitrio do poo de suco das bombas ao nvel de
descarga do recalque. Promove recalque das vazes de esgotos coletadas a montante.
Estao de Tratamento de Esgotos (ETE): unidade destinada a dar condies ao esgoto
recolhido de ser devolvido a natureza sem prejuzo ao meio ambiente, atravs da
realizao de processos de tratamento dos esgotos.
18
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Caixa de Passagem (CP): cmara subterrnea sem acesso, localizada em pontos
singulares nas mudanas de direo, declividade, material e dimetro, desde que seja
possvel a introduo de equipamento de limpeza a jusante - PV ou TIL. (Figura 11)
Tubo de Queda (TQ): dispositivo instalado no Poo de Visita (PV) de modo a permitir
que o trecho de coletor a montante desge no fundo do poo, ou seja, liga um coletor
afluente em cota mais alta ( 0,50 m) ao fundo do poo de visita.
Poo de Visita (PV): cmara visitvel atravs de abertura existente em sua parte superior,
destinada execuo de trabalhos de manuteno preventiva ou corretiva nas
canalizaes. Os poos de visita so obrigatrios nas seguintes situaes: quando for
necessrio tubo de queda, na reunio com mais de 3 entradas, nas extremidades de sifo
invertido e passagem forada e quando a profundidade for superior a 3 metros. (Figura 10)
Tubo de Inspeo e Limpeza (TIL): dispositivo no visitvel que permite a inspeo
visual e introduo de equipamentos de limpeza. Pode ser construdo nas reunies de
coletores (at 3 entradas e uma sada), quando no h degraus que exigem tubos de queda,
em profundidades at 3,0 metros e a jusante de ligaes prediais que podem acarretar
problemas de manuteno. (Figura 8)
Terminal de Limpeza (TL): dispositivo que permite apenas a introduo de
equipamentos de limpeza, localizado na extremidade de montante dos coletores (no incio
de coletores). (Figura 9)
Sifo Invertido: trecho rebaixado com escoamento sob presso, com a finalidade de
transpor obstculos, depresses ou cursos dgua. (Figura 12)
Passagem Forada: trecho com escoamento sob presso, sem rebaixamento.
Profundidade do Coletor: corresponde a diferena de nvel entre a superfcie do terreno
e a geratriz inferior interna do coletor.
Recobrimento: diferena de nvel entre a superfcie do terreno e a geratriz superior
externa do coletor.
Trecho: segmento de coletor, interceptor ou emissrio compreendido entre duas
singularidades consecutivas, por exemplo, dois poos de visita.
19
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 8 Tubos de Inspeo e Limpeza comum e
radial de PVC (TIL)
Figura 9 Terminais de Limpeza (TL)
20
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 10 Poo de Visita (PV) c/ Tubo
de Queda (TQ)
Figura 11 Caixa de Passagem (CP)
21
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 12 Sifo Invertido
6.1 Observaes Gerais
Dependendo da ocorrncia de reas onde os coletores no possam continuar ou mesmo
desaguar o esgoto bruto, devero ser projetados interceptores, assim como a de transporte
de vazes finais para pontos distantes da rea de coleta forar a construo de um
emissrio.
As estaes de tratamento de esgotos (ETE) ocorrero quando os corpos receptores das
vazes esgotveis no possurem capacidade de absoro da carga orgnica total. A
capacidade das ETE ser dimensionada de modo que o efluente contenha em seu meio
uma carga orgnica suportvel pelo corpo receptor, ou seja, que no lhe cause alteraes
danosas ao seu equilbrio com o ambiente natural.
A ocorrncia de estaes elevatrias de esgotos (EEE) freqente em cidades de grande
porte, situadas em reas planas ou mesmo com declividades superficiais inferiores as
mnimas requeridas pelos coletores para seu funcionamento normal. Nestas ocorre que no
desenvolvimento das tubulaes coletoras, estas vo continuamente afastando-se da
superfcie at atingirem profundidades inaceitveis em termos prticos, requerendo assim
22
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
que se elevem as cotas dos coletores a profundidades mnimas ou racionais, sendo isto
somente possvel atravs de instalaes de recalque de cujo efluente partir um novo
coletor que poder, eventualmente, at terminar em outra unidade de recalque. A
ocorrncia de estaes elevatrias freqente tambm em interceptores extensos,
principalmente aqueles que protegem margens aquticas, nos emissrios e nas entradas das
ETE, visto serem estas normalmente estruturas a cu aberto (lagoas de estabilizao,
filtros biolgicos e valos de oxidao) ou fechadas mais apoiadas na superfcie
(biodigestores).
Os sifes invertidos e as tubulaes de recalque das elevatrias so as nicas unidades
convencionais a funcionarem sob presso nos sistemas de esgotos sanitrios. Nos sifes
invertidos, embora sob presso, o escoamento dar-se- por gravidade, evitando assim o
consumo de energia eltrica.
6.2 Materiais Empregados nas Redes Coletoras de Esgotos
Normalmente so utilizados para os coletores de esgotos os seguintes materiais :
Tubos Cermicos e/ou Manilhas Cermicas de Barro Vidrado: construdos unicamente
com ponta e bolsa nos seguintes dimetros nominais : 75, 100, 150, 200, 250, 375, 450,
525 e 600 mm. As manilhas cermicas vidradas quase no so afetadas pelos cidos ou
produtos de decomposio oriundos da matria orgnica dos esgotos.
Tubos de Concreto (simples ou armados): construdos com dimetros a partir de 150 mm,
passam a substituir as manilhas cermicas acima de 350 mm. Cuidados especiais devem
ser tomados quando se utilizam tubos de concreto, pois se o esgoto que estiver sendo
veiculado possuir temperaturas elevadas e havendo quantidades considerveis de matria
orgnica e sulfatos, ocorre a formao de gs sulfdrico, que ataca o concreto dando
origem a formao do enxofre. O enxofre por sua vez utilizado por determinadas
bactrias aerbias em seus processos respiratrios, dando origem a formao de cido
sulfrico que ataca o cimento do concreto reduzindo sua resistncia. Os tubos de concreto
simples so fabricados nos dimetros nominais : 150, 200, 225, 250, 300, 375, 400, 450,
500 e 600 mm. Para grandes dimetros necessrio o emprego de concreto armado que
pode ser fabricado nos seguintes dimetros : 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1750 e 2000 mm. Os tubos de concreto so muito
empregados em sistemas de guas pluviais, devido a sua resistncia abraso,
23
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
disponibilidade em grandes dimetros, grande resistncia aos impactos e geralmente baixo
custo em relao aos demais.
Tubos de Cimento-Amianto: durvel e possui uma superfcie lisa, mesmo sem
revestimento. Tubos para coletores por gravidade so fabricados em dimetros, variando
entre 100 mm e 400 mm.
Tubos de Ferro Fundido: so tubos de ponta e bolsa, acoplados com juntas elsticas ou
no elsticas. So disponveis nos dimetros : 50, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,
250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600 mm. Possuem elevada resistncia s cargas
externas. So empregados principalmente nas seguintes situaes: instalaes elevatrias e
linhas de recalque de esgoto, passagem sob rios, onde haja pequeno recobrimento (em
zonas de trnsito pesado), em grandes profundidades e em passagens sob estruturas
sujeitas a trepidao (pontes ferrovirias ou rodovirias). Os tubos de ferro fundido esto
sujeitos corroso pelos esgotos cidos ou em estado sptico e por solos cidos, devendo
ser previstos revestimentos internos e/ou externos de cimento ou de asfalto.
Tubos de Ao: so recomendados nos casos em que ocorrem esforos elevados sobre a
linha, como nos casos de travessias diretas de grandes vos, pois devido sua grande
flexibilidade resistem ao efeito de choques, deslocamentos e presses externas.
Tubos de Plstico: os tubos plsticos mais usados nas redes coletoras so os de PVC. Os
tubos de PVC so fabricados em duas classes e principalmente nos seguintes dimetros :
75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Alguns fabricantes o produzem em dimetros
maiores. O comprimento padro de 6 metros. So empregados principalmente em
ligaes prediais e coletores secundrios.
6.3 Traados da Rede
O traado da rede de esgotos est estreitamente relacionado topografia da cidade, uma
vez que o escoamento se processa segundo o caimento do terreno.
Para definio do traado da rede coletora a primeira providncia do projetista o estudo
da planta da cidade, para nela identificar os diversos divisores de gua e talvegue. Feito esse
estudo procura-se locar o ponto de lanamento final dos esgotos na planta (pelo menos a
direo deste ponto) para, a seguir, elaborar o posicionamento dos condutos principais e
possveis canalizaes interceptoras e emissrios, dentro de uma concepo que reduza as
dimenses s menores possveis, em todos os nveis. Definida uma concepo geral de projeto
deve-se, a esta altura, partir para o projeto dos coletores secundrios.
24
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Desde que haja pontos de esgotamento, todas as ruas devero possuir coletores de esgotos,
de modo que a apresentao de um traado de uma rede ter obrigatoriamente uma forma
similar ao das vias pblicas, em combinao com a topografia, geologia e hidrologia da rea,
da posio do lanamento final e tambm do sistema adotado.
Diante dos vrios aspectos que o traado pode ter, a maioria dos autores costuma expor a
seguinte classificao (Figura 13): perpendicular, leque, interceptor, zonal ou distrital e radial.
Figura 13 Traados Tpicos de Redes Coletoras
25
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
O traado perpendicular indicado para cidades atravessadas ou circundadas por cursos
de gua e compe-se de vrios coletores tronco independentes, com traado mais ou menos
perpendicular ao curso de gua. Um interceptor marginal dever receber esses coletores,
levando os efluentes ao destino adequado. A conformao topogrfica acarreta a existncia de
diversos coletores principais, aproximadamente perpendiculares ao interceptor.
O traado em leque prprio para terrenos acidentados. Os coletores troncos correm
pelos fundos dos vales ou pela parte baixa das bacias e nele incidem os coletores secundrios,
com um traado em forma de leque ou fazendo lembrar uma espinha de peixe. A cidade de
So Paulo um exemplo caracterstico desse tipo de rede.
O traado radial ou distrital caracterstico de cidades planas. A cidade dividida em
distritos ou setores independentes; em cada um criam-se pontos baixos, para onde so
dirigidos os esgotos. Dos pontos baixos, o esgoto recalcado , ou para o distrito vizinho, ou
para o destino final. Exemplos de cidade que possuem esse tipo de rede: Santos, Guaruj e
Rio de Janeiro.
De um modo geral indicam-se as seguintes orientaes e princpios para a localizao dos
coletores de esgoto :
o coletor de esgotos deve ser localizado ao longo das vias pblicas e eqidistantes dos
alinhamentos laterais das edificaes;
a recomendao clssica que a canalizao de gua localize-se a um tero (1/3) da
largura da rua a partir de uma margem, enquanto que os condutos pblicos para
esgotamento situem-se aproximadamente a mesma distncia, mas da margem oposta
visando compatibilizar o afastamento preventivo das duas canalizaes (Figura 14).
Figura 14 Posicionamento dos Coletores no Arruamento
26
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
em reas acidentadas, o coletor ser assentado, de preferncia, do lado para o qual ficam
os terrenos mais baixos;
a existncia de estrutura ou canalizaes de servios pblicos, tais como guas pluviais,
distribuidores de gua, adutoras, cabos eltricos, telefnicos e etc, poder, entretanto,
determinar o deslocamento dos coletores de esgotos para posies mais convenientes;
para vias pblicas preferenciais, pavimentadas e dotadas de trfego volumoso, assim como
para aquelas com largura superior a 18 m ou avenidas, devero ser projetados dois
coletores, um em cada passeio;
o traado da rede de coletores de esgotos deve sempre que possvel ser orientado pelo
traado virio da cidade;
divide-se a rea em bacias naturais de esgotamento e em sub-bacias e estuda-se a posio
dos condutos principais de fundo de vale;
a topografia, sendo uma das principais norteadoras do traado, para bem adaptar os
condutos ao terreno, conveniente indicar a declividade natural dos trechos das vias
pblicas por pequenas setas, indicando o sentido da declividade positiva;
sendo o conjunto de condutos um sistema em que o escoamento livre, os coletores tero
o seu traado a partir dos pontos altos at os fundos de vale (pontos baixos da rea).
6.4 Sistemas de Ligaes dos Ramais Prediais
Os sistemas de ligaes dos ramais prediais nos coletores de esgoto podem ser
principalmente de dois tipos: sistema radial e sistema ortogonal.
No sistema radial (Figura 15), dois ou mais ramais prediais so conectados em um nico
ponto de ligao pr-definido, com o coletor. Neste sistema o ramal interno e o ramal predial
geralmente no ficam num mesmo alinhamento. freqentemente empregado em reas
povoadas, com predominncia de lotes estreitos (at 10 m de fachada) com at dois
pavimentos ou em arruamentos com construes geminadas.
No sistema ortogonal, diversamente do radial, para cada ramal predial haver um ponto de
conexo no coletor (Figura 16). Normalmente os ramais prediais so perpendiculares ao
alinhamento da propriedade e no mesmo plano vertical do ramal interno. Este sistema mais
freqente em loteamentos de grandes fachadas (mais de 10 m) ou em conjuntos populares
com construo simultnea de rede coletora convencional.
27
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 15 Sistema de Ligao Radial
Figura 16 Sistema de Ligao Ortogonal
Figura 17
Conexes Tpicas para
Ligao do Ramal Predial
28
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
6.5 Profundidade Mnima e Mxima dos Coletores
A profundidade mnima dos coletores est relacionada com as possibilidades de
esgotamento dos compartimentos sanitrios das edificaes nos lotes e definida pela
concessionria de esgotos da cidade.
L
Figura 18 - Profundidade mnima de um coletor
Como mostra a figura acima a profundidade mnima de um coletor (Hmin) pode ser
indicada pela equao :
Hmin = h + 0,50 m + 0,02 L + 0,30 m + ( D + e )
h (m) = desnvel entre o leito da rua com o piso do compartimento mais baixo;
0,50 m = profundidade aproximada da caixa de inspeo mais prxima;
0,02 (2 %) = declividade mnima para ramais prediais m/m;
L (m) = distncia da caixa de inspeo at o eixo do coletor;
0,30 m = altura mnima para conexo entre o ramal predial com o coletor pblica;
D (m) = dimetro do coletor;
e (m) = espessura do tubo coletor.
As profundidades mnimas so estabelecidas para atender tambm as condies de
recobrimento mnimo, para proteo das tubulaes. Para o coletor assentado no leito da via
de trfego, o recobrimento da tubulao no deve ser inferior a 0,90 m, e para coletor
assentado no passeio 0,65 m.
As profundidades mximas dos coletores, quando assentados nos passeios, devero
ficar em torno de 2,0 a 2,5 m, dependendo do tipo de solo. No leito carrovel (rua), a
profundidade mxima das redes de esgotos no ultrapassam 3,0 a 4,0 m. Para coletores
29
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
situados a mais de 4,0 m de profundidade, devem ser projetados coletores auxiliares mais
rasos para receberem as ligaes prediais.
6.6
Influncia dos rgos Acessrios da rede no seu traado
O fluxo de esgotos que uma tubulao lana em um poo de visita, ou outro rgos
acessrio, corre por canaletas situadas no fundo. Essas canaletas orientam o fluxo,
possibilitando ao projetista concentrar mais ou menos vazo em determinados coletores.
Figura 19 Orientao do fluxo dos esgotos nos rgos acessrios
30
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
A Figura 19 mostra, esquematicamente, a planta de fundo dos diversos tipos de rgos
acessrios. O incio de uma canalizao se faz sempre com uma ponta seca no terminal de
limpeza (TL). Na figura 19-A, tem-se quatro pontas secas, indicando o incio de quatro
coletores. um esquema caractersticos dos pontos altos. Na figura 19-C, tem-se o esquema
caracterstico dos pontos baixos, para onde convergem tr6es coletores e, nas demais, as
diversas possibilidades de coletores situados nas encostas.
De acordo com a disposio das canaletas do fundo dos rgos acessrios, pode-se ter
para uma mesma rea solues diferentes de traado. A topografia um dos fatores que
devem ser considerados, conforme mostra a Figura 20.
Figura 20 Traados de rede conforme orientao do fluxo
31
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
7 Dimensionamento de uma Rede Coletora de Esgotos Sanitrio
Para lanamento da rede coletora, normalmente, utilizam-se plantas em escala 1:2.000 ou
1:5.000 contendo principalmente :
Arruamentos;
Curvas de Nvel (metro em metro, sempre que possvel);
Pontos caractersticos (cruzamentos de ruas, talvegues, e etc.);
Pontos de lanamento (cursos dgua e etc.);
Indicao da rea a ser esgotada e reas de expanso futura.
De posse destes dados principais elabora-se um traado para a rede dentro de uma
concepo mais adequada a situao. Os passos principais so :
Delimitar a rea a ser esgotada, traando os limites da bacia;
Indicar, em cada trecho, por meio de pequenas setas o sentido do escoamento natural
da superfcie do terreno;
Representar por pequenos crculos os poos e caixas a serem construdos;
Identificar os pontos baixos da rea, tendo em vista o traado do principal conduto.
Seguindo o traado das ruas e as declividades naturais do terreno, indicam-se os trechos
dos coletores e seu sentido de escoamento, limitando-os com os rgos acessrios (PVs,
TILs ou TLs) adequados a cada situao, respeitando a distncia mxima entre eles. (100 m,
por exemplo).
Em cada PV ou TIL representado, indicam-se as canaletas de fundo necessrias para o
escoamento, podendo ter vrias entradas, mas uma nica sada. Essa indicao das canaletas
que define o traado decidido no projeto.
Em seguida devem ser identificados os coletores e seus respectivos trechos. Como
exemplo, pode-se dar o nmero 1 ao coletor principal, que corresponde aquele de maior
extenso na bacia. Os outros coletores recebem nmeros seqenciais na mesma ordem em que
chegam ao coletor principal. Dessa forma ter-se- sempre nmeros maiores contribuindo para
nmeros menores. Os trechos dos coletores tambm recebem numerao seqencial crescente
de montante para jusante. A seguir tem-se um exemplo de indicao de uma rede coletora :
32
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
C-2-1
C-2-2
C-1-4
C-1-5
Coletor principal (Coletor 1)
C-3-1
C-4-2
C-1-3
C-1-2
C-4-1
C-1-1
Convenes do Sistema Coletor de Esgoto :
cota do terreno
cota da soleira do coletor na
chegada do PV
Profundidade do PV
cota de fundo do PV
PV
PV
L (m) - Io (m/m) do (mm)
L (m) comprimento do trecho
Io (m/m) declividade do trecho
cota do terreno
cota da soleira do coletor na
chegada do PV
profundidade
cota de fundo do PV
33
do (mm) dimetro do trecho
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
7.1 Clculo das Vazes de Dimensionamento
As vazes para dimensionamento dos trechos de uma rede coletora so compostas por trs
parcelas :
Contribuies devido ao esgoto domstico (maior e mais importante);
Contribuies concentradas (vazes concentradas de esgoto industrial, de reas de
expanso futura e etc.);
Contribuio de guas de infiltrao.
7.1.1 Contribuio de Esgoto Domstico
Calculadas para incio e final do Alcance do Projeto. A considerao para o incio do
projeto devido principalmente a condio mais crtica com relao a inclinao mnima
que deve ter um coletor de modo que no seja sedimentado o material slido no mesmo.
Coeficiente de Retorno ( C ) : relao entre o volume de esgotos recolhido (Ve) e o de
gua consumido (Va). Do total de gua consumida, somente uma parcela retorna ao esgoto,
sendo que o restante utilizado para lavagem de carros, lavagem de caladas e ruas, rega de
jardins, irrigao de parques pblicos, lavagem de quintais, terraos de residncia e etc.
Os valores usualmente empregados no Brasil variam entre 0,75 a 0,85. A Norma NBR
9649/86 recomenda-se adotar na falta de dados confiveis C = 0,80. No entanto, o coeficiente
de retorno pode variar desde 0,60 at 1,30, sendo que quando este maior do que 1,0 indica
que existem vazes provenientes de outras fontes de abastecimento como consumo de gua de
chuva, abastecimento prprio de indstrias e etc.)
Contribuio mdia de esgoto domstico inicial e final de projeto
__
__
Qi = C . Pi . qi
_________
86.400
Qf = C . Pf . qf
_________
86.400
__ __
Qi e Qf : vazes mdias de esgotos domstico de incio e fim de projeto (l/s);
Pi e Pf : populaes de incio e fim de projeto respectivamente (hab);
q : consumo per capita mdio de gua (l/hab.dia).
34
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Introduzindo os coeficientes de variaes de consumo (k1 e k2) :
^
__
Qi = Qi . k2
__
Qf = Qf . k1 . k2
A Norma NBR 9649/86 no inclui na vazo inicial o valor k1 pois no se refere
especificamente ao dia de maior contribuio. Na falta de valores obtidos atravs de
medies, a norma recomenda o uso de k1 = 1,2 e k2 = 1,5.
Taxas de Clculo por Superfcie Esgotada qa
(usadas principalmente para o clculo de vazes de reas de expanso) :
__
qai = Qi . k2
______
a
__
qaf = Qf . k1 . k2
_________
a
qai e qaf : taxas de clculo inicial e final por superfcie esgotada (l/s.ha);
a : rea total a ser esgotada (hectare).
Taxas de clculo por comprimento total de rede coletora qx (taxa de contribuio
linear) :
__
qxi = Qi . k2
______
L
__
qxf = Qf . k1 . k2
_________
L
qxi e qxf : taxas de clculo inicial e final por comprimento da rede coletora (l/s.m ou l/s/km);
L : extenso total da rede coletora (m ou km).
Considerando a densidade populacional (d) tem-se para qa (l/s.ha):
qai = C . di . qi . k2
___________
86.400
qaf = C . df . qf . k1 . k2
_____________
86.400
35
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
As cidades brasileiras geralmente apresentam o traado das ruas em forma de xadrez com
um padro para o a qual a extenso das vias pblicas por hectare varia relativamente pouco.
Na cidade de So Paulo, por exemplo, a extenso das vias pblicas por hectare varia entre 150
e 200 metros, com um valor mdio de 170 m/ha.
Com base nestes dados pode-se facilmente converter vazes por hectare em vazes por
metro linear de coletores ou vice versa.
Considerando a densidade de ruas l* que corresponde a extenso das vias pblicas por
hectare, traduzindo a extenso de coletores por hectare tambm teria-se para q x (l/s.m ou
l/s.km):
qxi = C . di . qi . k2
___________
l* . 86400
qxf = C . df . qf . k1 . k2
______________
l* . 86400
7.1.2 Contribuies Concentradas (Qc)
So devidas as reas de expanso, indstrias, lavanderias pblicas, clubes e demais
instalaes que gerem vazes elevada concentradas. Calculadas tambm para incio e fim de
projeto. Entram de maneira pontual e localizada em uma rede coletora de esgotos.
Qc
Qci (incio de projeto)
Qcf (fim de projeto)
7.1.3 Contribuio de guas de Infiltrao (TI)
So devidas a entrada de guas de infiltrao causada por juntas mal executadas, fissuras e
rupturas nos coletores, entrada pelos poos de visita. Seu volume depende do nvel dgua, da
natureza do subsolo, da qualidade de execuo da obra, do material da tubulao, tipo e
distncia das juntas e etc.
Na falta de dados a NBR 9649/86 recomenda que se utilize uma taxa de infiltrao entre
0,05 e 1,00 l/s.km.
36
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Para transformar a taxa de infiltrao de l/s.km para l/s.ha basta multiplicar a primeira por l* :
TI (l/s.ha) = TI (l/s.km) . l*
7.1.4 Contribuio Total de Esgotos Inicial e Final para dimensionamento (Qt)
A contribuio total de esgotos para incio (Qti) e final de projeto (Qtf) dada pela soma
das trs parcelas anteriores.
Para as reas em expanso tem-se :
Qti (l/s) = qai . a + (TI . l*) . a + Qci
Qti (l/s) = ( qai . + TI . l* ) . a + Qci
Onde a soma ( qai . + TI . l* ) conhecida como Taxa de Contribuio Inicial Superficial
(Tai) em l/s.ha.
Qtf (l/s) = qaf . a + (TI . l*) . a + Qcf
Qtf (l/s) = ( qaf . + TI . l* ) . a + Qcf
Onde a soma ( qaf . + TI . l* ) conhecida como Taxa de Contribuio Final Superficial
(Taf ) em l/s.ha.
Para os diversos trechos da rede coletora tem-se :
Qti (l/s) = qxi . L + TI . L + Qci
Qti (l/s) = ( qxi + TI ) . L + Qci
Onde a soma ( qxi + TI ) conhecida como Taxa de Contribuio Inicial Linear ( Txi ) em
l/s.km ou l/s.m.
Qtf (l/s) = qxf . L + TI . L + Qcf
Qtf (l/s) = ( qxf + TI ) . L + Qcf
37
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Onde a soma ( qxf + TI ) conhecida como Taxa de Contribuio Final Linear ( Taf )
em l/s.km ou l/s.m.
7.2 Dimensionamento Hidrulico das Canalizaes Coletoras (segundo a NBR
9649/86)
Os trechos iniciais de uma rede coletora apresentam regimes hidrulicos extremamente
variveis que dependem do nmero de descargas simultneas. J para os trechos mais a
jusante o nmero de descargas simultneas vai aumentando de modo a ter-se um regime mais
contnuo, variando de intensidade ao longo do dia.
As principais condies e critrios de clculo segundo a NBR 9649/86 so :
O clculo de uma rede coletora de esgotos executado sempre se montante para jusante
empregando as frmulas que consideram o regime permanente e uniforme, sendo bastante
empregada a frmulas derivadas de Manning, ou seja, no so consideradas em cada
trecho do conduto, as variaes devido contribuio do lquido recebida ao longo dele.
Os coletores dos coletores, interceptores e emissrios so projetados para funcionar como
condutos livres e devem ser dimensionados para atender as situaes extremas de projeto,
inicial e final. A norma recomenda que, em qualquer trecho, o menor valor de vazo a
ser utilizado nos clculos seja de 1,5 l/s, correspondente ao pico instantneo decorrente de
descarga de vaso sanitrio.
O dimetro mnimo das canalizaes de 100 mm.
Seo Molhada dos Condutos : os coletores so projetados para trabalhar, no mximo,
com uma lmina de gua igual a 0,75 do seu dimetro (do), destinando-se a parte superior
dos condutos ventilao do sistema e s imprevises e flutuaes excepcionais de nvel.
Esta lmina calculada para a vazo final de projeto (Qfinal).
Apesar de no se limitar, recomenda-se uma lmina mnima de 0,20 do dimetro (do) do
coletor calculada para a vazo inicial de projeto (Qinicial).
do
y
y / do 0,75
38
y / do 0,20
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
O coeficiente de rugosidade n de Manning depende do dimetro, das formas e do material
da tubulao, da relao Y/D e das caractersticas do esgoto. Embora o coeficiente n seja
funo dos fatores relacionados, tem sido normalmente utilizado em escoamento de esgoto o
valor de 0,013.
Portanto, o dimetro que atende condio y/do = 0,75 pode ser calculado pela expresso,
com n da frmula de Manning igual a 0,013, onde Io a declividade do coletor, em m/m, Qf a
vazo final de jusante do trecho, em m3/s e do o dimetro em m :
do = 0,3145 ( Qf / Io ) 3/8
Podem tambm ser empregadas tabelas e bacos para a obteno do dimetro que atende a
tal condio.
A norma brasileira estabelece que quando a velocidade final (vf), verificada no alcance do
plano, for superior a velocidade crtica (vc), a lmina de gua mxima deve ser reduzida para
0,5 do, sendo a velocidade crtica dada pela frmula :
vc = 6 . (g . Rh) 1/2
sendo Rh (m), o raio hidrulico de final de projeto. Esta limitao da norma decorre da
possibilidade de emulso de ar no lquido, aumentando a rea molhada no conduto pela
mistura ar-gua. No caso de escoamento de esgoto, o conhecimento da mistura gua-ar de
grande importncia, principalmente quando a tubulao projetada com grande declividade,
pois nessa condio, o grau de entrada de bolhas de ar no escoamento poder ser bastante
elevado.
Velocidade Mxima e Inclinao Mxima : a norma estabelece que a declividade
mxima admissvel aquela que corresponde velocidade final (vf) de 5 m/s. A razo
disso evitar eroso do material da tubulao. Considerando n = 0,013 a inclinao
mxima (Iomx) do conduto em m/m para vf = 5 m/s, entrando com a vazo final (Qf) em
l/s :
Iomx = 4,65 Qf - 0,67
39
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Tenso Trativa ou de Arraste (
t) / Inclinao Mnima (Iomin) :
Tradicionalmente utilizava-se a associao de uma velocidade mnima com a mnima
relao de enchimento da seo do tubo, para assegurar a capacidade do fluxo de transportar
material sedimentvel nas horas de menor contribuio, ou seja, a garantia de auto limpeza
das tubulaes. Na realidade, tratava-se de um controle indireto, pois a grandeza fsica que
promove o arraste da matria sedimentvel a tenso trativa ou de arraste (
t) que atua
junto parede da tubulao na parcela correspondente ao permetro molhado. A tenso trativa
nada mais do que a componente tangencial do peso lquido sobre a unidade de rea da
parede do coletor e que atua portanto sobre o material a sedimentado.
NA
T
Sm
Pm
t = T / (Pm . L) = F . sen / (Pm . L) = . Sm . L . sen / (Pm . L) = . Rh . sen
Para pequeno, sen = tan = Io (declividade do conduto), logo :
t = . Rh . Io
onde :
= peso especfico do lquido 104 N/m2 ou Pa
Rh = raio hidrulico (m)
Io = declividade do conduto (m/m)
A tenso trativa calculada pela equao acima representa um valor mdio da tenso ao
longo do permetro molhado da seo transversal considerada. A NBR 9649/86 preconiza que
a tenso trativa t deve ser de no mnimo 1,0 Pa.
40
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
A declividade que garante esta tenso mnima de arraste conhecida como inclinao mnima
( Iomn ) e para n = 0,013 pode ser obtida pela expresso, derivada do Grfico 1:
Iomn = 0,0055 Qi - 0,47
onde Qi corresponde a vazo inicial de projeto.
Grfico 1 Lugar geomtrico de = 1,0 Pa
Condies de Controle de remanso : sempre que a cota do nvel de gua na sada de
qualquer PV ou TIL ficar acima de qualquer das cotas dos nveis de gua de entrada, deve
ser verificada a influncia do remanso no trecho de montante. Nos projetos de rede
coletora de esgoto, onde h um aumento do dimetro da tubulao, isto , o dimetro do
coletor de jusante maior que o de montante, na prtica, para se evitar o remanso, pode-se
fazer coincidir a geratriz superior dos tubos. Isso sempre ocorrer quando se trabalha com
profundidades mnimas. Para profundidades superiores mnima, a coincidncia dos
nveis de gua de montante e de jusante, em PV ou TIL, prtica correta e comum para se
evitar remansos. Quando se tem mais de um coletor afluente, o nvel de gua de jusante
41
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
dever coincidir com o nvel de gua mais baixo dentre aqueles de montante, de modo a
evitar o remanso.
7.3 Traado da Rede Coletora em Perfil
O traado da rede coletora em perfil deve atender tanto critrios tcnicos como critrios
econmicos.
Os critrios tcnicos dizem respeito as condies hidrulicas impostas para o escoamento
do esgoto (inclinaes mximas e mnimas) e profundidades mnimas de recobrimento dos
coletores.
O critrio econmico diz respeito principalmente ao volume de escavao a ser realizado
para a execuo da rede, que deve ser o mnimo possvel, sem prejudicar o atendimento das
condies hidrulicas exigidas para o funcionamento da rede.
A inclinao de um coletor ( Io ) deve sempre estar sempre compreendida entre a
inclinao mnima ( Imn) e a inclinao mxima ( Imx ). O recobrimento dos coletores (h)
deve ser, em qualquer ponto da rede, superior ao recobrimento mnimo (hmn).
Poo de Visita (PV)
Poo de Visita (PV)
hmontante hmn
hjusante hmn
Imn
Io
Imx
Para os casos em que a declividade da tubulao maior que a mxima recomendada,
portanto, a velocidade maior que 5,0 m/s, pode ser utilizada a alternativa da Figura 21, onde
a declividade diminuda at se igualar a Imx projetando-se vrios poos de visita com tubos
de queda. Essa alternativa muito utilizada em redes coletoras. A Figura 22 apresenta uma
alternativa para a eliminao dos poos de visita com tubos de queda. Neste caso, deve-se
projetar o coletor com degraus, de modo que a energia seja dissipada e a velocidade de
escoamento fique abaixo dos valores mximos recomendados.
42
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 21 Diminuio da declividade dos coletores atravs de poos de visita com tubos de
queda
Figura 22 Coletor de Esgoto com Degraus (Dissipador de Energia)
43
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
7.4 Tabelas Para Dimensionamento de Condutos Livres aplicveis a Redes
Coletoras de Esgoto
44
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
45
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Exemplo de Planilha de Dimensionamento
46
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
47
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
8 Estaes Elevatrias de Esgoto (EEE)
8.1 Generalidades
As canalizaes de esgoto funcionando como condutos livres necessitam de certa
declividade a fim de promover o escoamento satisfatrio dos lquidos. Nos terrenos
acidentados, essa declividade facilmente obtida fazendo a canalizao acompanhar o
terreno. Em lugares planos, a declividade que deve ser dada tubulao, faz com que esta se
afaste da superfcie, medida que caminha para jusante, alcanando profundidades grandes
que tornam invivel tecnicamente
e economicamente a sua execuo pelas grandes
profundidades e volumes escavados. Isto ocorre com relativa freqncia em condutos de
grande extenso.
Se os condutos atingirem profundidades excessivas, teoricamente acima de 6,0 m (na
prtica 4,5 m) ento devem ser empregadas instalaes que transportem as vazes at ento
recolhidas, para uma cota que permita a construo e operao dos trechos a jusante daquele
ponto novamente em condies viveis tecnicamente. Esta recuperao de cotas conseguida
atravs de uma instalao denominada ESTAO ELEVATRIA DE ESGOTOS
Alm da situao descrita pode-se projetar elevatrias para recalques de esgotos em outras
situaes como :
esgotos produzidos em reas baixas;
na reunio de vazes de bacias diferentes (sistemas distritais);
na necessidade de lanamentos submersos (emissrios submarinos);
nas entradas ou entre unidades das Estaes de Tratamento de Esgotos (ETE).
Uma elevatria uma instalao eletromecnica consumidora de energia contnua,
acondicionada em edifcio prprio, logo uma obra que onera a implantao e a operao dos
sistema, devendo ser objeto de minuciosos estudos comparativos para que seu projeto s seja
definido quando no houver mais opes tcnicas viveis com a utilizao de escoamento por
gravidade. Alm disso exigem manuteno permanente e perigosa.
48
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
8.2 Classificao das Estaes Elevatrias de Esgotos
As EEE podem ser classificadas segundo a NB-569/75 (Projeto de Estaes Elevatrias de
Esgoto Sanitrio - Procedimento) da ABNT como :
Quanto as vazes de recalque - (Qr) :
Pequena : Qr 50 l/s (aproximadamente uma populao de at 20.000 hab);
Mdia : 50 Qr 500 l/s (populao entre 20.000 e 200.000 hab);
Grande : Qr 500 l/s (populao acima de 200.000 hab).
Quanto a altura manomtrica - (Hman) :
Baixa : Hman 10 mca;
Mdia : 10 Hman 20 mca;
Grande : Hman 20 mca.
8.3 Localizao e Constituio de uma Estao Elevatria de Esgotos
O posicionamento das elevatrias nos sistemas de esgotos decorre do traado das redes
coletoras e canalizaes de maior dimetro. Geralmente situam-se em pontos mais baixos de
uma bacia ou de um distrito de coleta, ou nas proximidades de rios, crregos ou represas.
Para a escolha final do local para a construo de uma estao elevatria devero ser
levados em conta os seguintes aspectos :
menor desnvel geomtrico entre a captao e o fim do recalque e menor extenso
deste;
abrigo de inundaes;
facilidades de acesso;
distncia das habitaes;
possibilidade de eventuais descargas dos esgotos em cursos dgua ou galerias,
quando de eventuais paralisaes do sistema elevatrio;
facilidade de obteno de energia eltrica;
possibilidades de ampliaes futuras;
49
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Constituio e Detalhes Construtivos
Tipicamente quando so construdas no local, so estruturas em concreto armado nas
construes subterrneas e em alvenaria nas externas. As estruturas subterrneas, devido a
prpria razo de ser das estaes, atingem quase sempre grandes profundidades e podem
alcanar o leno fretico. Seu projeto necessita de particular ateno quanto solidez,
impermeabilizao, resistncia aos empuxos, iluminao, ventilao e facilidades para
movimentao de operadores e deslocamento dos equipamentos.
A Figura 23 mostra o corte esquemtico de uma pequena elevatria convencional de
esgotos com bombas de eixo horizontal. As EEE tm suas caractersticas definidas a partir da
determinao das vazes a elevar, dos equipamentos e seus modelos a serem instalados e do
mtodo construtivo.
As Estaes Elevatrias de Esgotos constituem-se, principalmente, de:
Poo de Coleta, tambm chamado de Poo de Deteno, de Suco ou Poo mido: o
compartimento destinado a receber e acumular os esgotos durante um perodo de tempo.
A vazo de chegada sendo varivel no permitiria operao regular da bomba centrfuga
que recalca uma vazo mais ou menos constante, em funo das caractersticas do sistema.
Se em determinado momento a vazo de bombeamento for superior de chegada dos
esgotos, ocorrer a entrada de ar na bomba e seu funcionamento ficar prejudicado,
podendo ocasionar danos aos equipamentos. Mediante a acumulao temporria dos
esgotos num poo de coleta convenientemente dimensionado, possvel fazer com que as
bombas entrem em funcionamento ou se desliguem automaticamente, conforme o nvel do
lquido atinja posies elevadas ou baixas no compartimento.
Poo Seco ou Cmara de Trabalho: o compartimento onde so instalados os conjunto
moto-bombas, geradores, vlvulas de controle e antigolpe, conexes, exaustores, alm das
estruturas de circulao de operadores e transporte de mquinas.
Dependncias Gerais : normalmente sobre o poo seco esto as dependncias de
acomodao dos operadores (instalaes sanitrias e escritrio) e equipamentos e
dispositivos necessrios a operao e manuteno das instalaes (talhas, ganchos e
chaves, quadros eltricos, alarmes e painis de controle automtico e manuais) e sistemas
de ventilao, drenagem e etc.
50
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 23 Corte Esquemtico de uma Elevatria de Esgotos Convencional
8.4 Tipos de Bombas para Esgotos
Nas elevatrias de esgotos o tipo de bomba mais freqente a centrfuga, com velocidade
fixa ou varivel, podendo ser de eixo vertical ou horizontal. As verticais podem ser com
motor acoplado ou de eixo longo, sendo estas de uso menos freqente. Tambm so muito
empregados os conjuntos moto-bombas submersveis de eixo vertical. As bombas devem
geralmente trabalhar afogadas, isto , com carga na entrada, tendo em vista permitir o
funcionamento sem necessidade de escorv-las. Alm destas existem as bombas tipo parafuso
e as elevatrias com ejetor pneumtico.
8.4.1
Bombas Centrfugas
Diferentemente dos rotores empregados no bombeamento da gua limpa, que so do
tipo fechado, os de bomba centrfuga para esgotos so do tipo aberto, que permitem o
bombeamento de slidos em suspenso no esgoto, com dimetros equivalentes a at 5 cm.
Entre os tipos de bombas centrfugas para esgoto, utilizveis em estaes elevatrias,
destacam-se :
51
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
de eixo horizontal (Figura 23);
de eixo vertical para instalao em poo seco (Figura 24);
de eixo vertical para instalao em poo molhado, isto , dentro do poo de captao
(s a bomba fica submersa, conforme Figura 25);
conjunto motor-bomba submersvel (Figura 26).
As bombas de eixo horizontal so as mais conhecidas. As bombas de eixo vertical
apresentam a vantagem de poderem ser operadas por motores situados em cota elevada, ao
abrigo de possveis inundaes. O comprimento do eixo de acionamento, que no deve ser
exagerado, e os problemas de sua manuteno, so aspectos que devem ser convenientemente
examinados na fase de projeto.
Figura 25 Bomba de eixo
vertical para instalao em
poo molhado
Figura 24 Bomba de eixo
vertical para instalao em
poo seco
O emprego de conjuntos motor-bombas submersveis tambm so muito freqentes, pois
possuem a vantagem imediata, do ponto de vista construtivo, de no requererem a construo
de um poo seco, conforme a Figura 5. Nestes conjuntos a bomba e o motor formam um
monobloco que opera dentro da massa lquida a ser elevada. O conjunto pode ser
movimentado verticalmente atravs de uma haste-guia (ou conjunto de hastes), por meio de
uma corrente de suspenso, que permitem o acoplamento automtico entre o flange de sada
52
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
da bomba e o da entrada da tubulao de recalque. A corrente eltrica de alimentao do
motor desce atravs de um cabo especial que tambm fica imerso no lquido. O conjunto de
mais tradio comercialmente o de origem sueca, da marca FLYGT, que historicamente est
no mercado desde 1948. Os modelos de grande capacidade dessa marca permitem elevar uma
vazo de 80 l/s a uma altura manomtrica de 15 m ou de 140 l/s a 5 m.
Figura 26 Conjunto Motor-Bomba Submerso (Bombas FLYGT)
8.4.2 Bombas Helicoidais
Tambm chamadas de bombas parafuso, tm sido tradicionalmente empregadas para
recalques de baixa altura (2 a 9 metros) e curta extenso (tpica para recuperao de cotas ou
em projetos de estaes de tratamento. Constituem uma modernizao do chamado parafuso
de Arquimedes (287-212 AC). Funcionando ao ar livre, e portanto presso atmosfrica, a
elevao que se consegue eqivale ao desnvel existente entre as extremidades do parafuso,
colocado em sua posio de funcionamento.
Essas bombas so constitudas de um parafuso montado dentro de uma calha antiretorno
em ao carbono ou em concreto, acoplado a uma unidade motriz externa conectada na
extremidade superior e completada com mancais de apoio inferior e superior, bomba de graxa
e acessrios. No Brasil o mais tradicional fabricante de bombas helicoidais a Fbrica de
Ao Paulista S.A. (FAO).
53
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 27 Exemplo de Bomba do Tipo Parafuso
8.4.3 Ejetores Pneumticos
Os ejetores pneumticos so bombas de pequena capacidade (2 a 20 l/s) para emprego
em unidades independentes, principalmente para esgotamento de subsolos de edificaes que
se situam abaixo do nvel da rede coletora externa coletora de esgotos. So indicadas para
altura manomtrica de 3 a 15 metros. Compem-se de cmaras metlicas com entrada e sada
em 100mm ou mais, que dispensam poo seco e grades, requerem pouca lubrificao, no
expelem maus cheiros (desde que bem ventilados), ocupam pouco espao e quando a
instalao de mltiplas unidades podem ser alimentados por uma nica central de ar
comprimido.
Para melhor entendimento do mecanismo de funcionamento de um ejetor pneumtico
deve-se observar o corte esquemtico mostrado na Figura 28. O esgoto lquido penetra atravs
da vlvula V3, enchendo a cmara de recepo A. Quando a gua residuria alcana o
nvel mximo a vlvula V2 aberta atravs do acionamento provocado por uma bia,
impulsionando ar comprimido fornecido por um compressor aclopado, forando o lquido
acumulado a passar atravs da vlvula V4 visto que nesse movimento a vlvula V3 ficar
fechada. Quando o nvel mnimo atingido a posio da vlvula V2 inverte-se dando incio
a um novo ciclo. Cada ciclo dura em mdia 1 minuto quando o ejetor trabalha com sua
capacidade mxima.
54
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Figura 28 Corte Esquemtico de um Ejetor Pneumtico
8.5 Dimensionamento das Bombas e Poo de Coleta (Suco)
Vazes de Bombeamento
A vazo de bombeamento, admitindo-se uma s unidade em funcionamento dever ser
igual ou ligeiramente superior vazo mxima (Qmx = Qm.k1.k2) de chegada dos esgotos na
estao, com isso, no momento de maior afluncia (chegada), o nvel do lquido no poo de
suco manter-se- constante ou ter um abaixamento lento.
Altura Manomtrica Total
Dever ser calculada somando-se a altura geomtrica total de elevao com as perdas de
carga (por atrito e localizada), conforme em qualquer tipo de bombeamento, como o utilizado
para guas.
A altura geomtrica total a distncia vertical medida entre o nvel do esgoto no poo de
coleta (suco) e o nvel de chegada do mesmo no ponto de lanamento. Como o nvel de
suco est sujeito a oscilaes, pode-se admitir, para efeito de clculo, o nvel mdio (mdia
entre os nveis mximos e mnimos).
55
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
Volume til do Poo de Coleta
O volume til o volume lquido compreendido entre o nvel mximo e o nvel mnimo de
operao do poo (faixa de operao das bombas). Ele determinado considerando-se :
intervalo de tempo entre partidas sucessivas do motor da bomba (tempo de ciclo T),
que corresponder ao tempo de deteno do esgoto no poo;
vazo de bombeamento.
Devido importncia do tempo de ciclo (T) no dimensionamento do poo de suco,
sugerimos sempre que se consulte os fabricantes de motores sobre o nmero mximo de
partidas, qualquer que seja a potncia do motor.
Pode-se admitir, como idia bsica, que o perodo de deteno dos esgotos em um poo de
coleta seja da ordem de 10 minutos, calculado para a vazo mdia anual (Qm).
Evidentemente que, para um poo assim dimensionado, o perodo de enchimento e, portanto,
o de deteno ser superior a 10 minutos, sempre que a vazo de chegada for inferior vazo
mdia anual (Qm). Recomenda-se como desejvel um perodo de deteno que no exceda de
30 minutos, pois quanto maior o tempo de permanncia dos esgotos, maiores sero as
possibilidades de produo de maus odores devido s condies spticas que podero ocorrer.
Recomenda-se que o nmero de partidas por hora no ultrapasse de 10, o que limita a 6
minutos o ciclo entre dois incios de bombeamento.
No caso de funcionamento de uma nica bomba por vez, a sua capacidade dever ser
ligeiramente superior vazo mxima, para evitar transbordamentos do poo e refluxos na
tubulao de chegada.
As seguintes expresses permitem estabelecer as relaes entre os dados que intervm no
problema :
V = q . p = (Q q) . f
Sendo :
V
volume til do Poo de Captao
vazo de chegada ao poo (afluente)
vazo de bombeamento
perodo de parada da bomba; e
perodo de funcionamento da bomba
56
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
A soma de p com f corresponde ao ciclo de operao da bomba, entre duas partidas
consecutivas.
Q
q
Para um sistema composto por duas bombas (1 bomba + 1 reserva) teremos :
O Tempo de Ciclo (T) consta de duas parcelas :
p perodo de parada da bomba ou tempo necessrio para encher o poo do nvel 0 ao
nvel 1;
p=
V
q
(1)
f perodo de funcionamento da bomba ou tempo necessrio para esvaziar o poo
desde o nvel 1 at o nvel 0;
f =
V
Qq
(2)
admitindo-se Q > q, caso contrrio, o nvel do poo continuar a subir, mesmo com a bomba
em operao.
57
Unidade I Redes de Esgotos Sanitrios
__________________________________________________________________________________________
O Tempo de Ciclo ser :
T = p +f
(3)
Substituindo na relao (3) as equaes (1) e (2) tem-se :
V
V
+
q Qq
T =
1
1
T = V +
q
Q
A vazo afluente para a qual o tempo de ciclo mnimo decorre de sua derivada, em
relao vazo afluente, igualada a zero :
dT
=0
dq
q=
dT
1
= V
+
=0
2
2
dq
q
(
Q
q
)
resolvendo-se tem-se :
Q
(denominada vazo crtica)
2
Isto significa que o tempo decorrido entre duas partidas sucessivas mnimo, quando a
vazo afluente a metade da vazo da bomba. Nessas condies p e f so iguais, resultando
em :
T=
4 V
q
Logo o volume mnimo ser :
V =
QT
4
Em elevatrias com duas bombas usual que elas operem alternadamente. Para a
alternncia das bombas utiliza-se um sistema de comando que permite o revezamento
automtico entre as bombas, sempre que o nvel do esgoto atingir o nvel superior. Quando o
nvel baixar, devido entrada em funcionamento de uma daas bombas, o circuito prepara a
ligao da outra, que ser acionada quando o esgot atingir o nvel superior. Entretanto, se a
bomba que est funcionando sofre uma paralisao, por exemplo, pela abertura do rel
trmico de sobrecorrente, o sistema de comando ligar automaticamente a outra.
58
Você também pode gostar
- Slides - Modelos, Metodologias, Etapas de Análise de Acidentes de Trabalho e Tecnologias de Prevenção e Combate A SinistrosDocumento24 páginasSlides - Modelos, Metodologias, Etapas de Análise de Acidentes de Trabalho e Tecnologias de Prevenção e Combate A SinistrosNixon NixonAinda não há avaliações
- Literatura Lucas Sampaio: Leia A Tirinha Da Personagem AnésiaDocumento2 páginasLiteratura Lucas Sampaio: Leia A Tirinha Da Personagem AnésiaLucas SampaioAinda não há avaliações
- Apostila - Fundamentos de Geometria Mercio Botelho Faria Braulia A. Almeida PerazioDocumento72 páginasApostila - Fundamentos de Geometria Mercio Botelho Faria Braulia A. Almeida PerazioElpatron YNAinda não há avaliações
- Danos Estéticos Uma Análise À Luz Da Função Social Da ResponsabilidadeDocumento11 páginasDanos Estéticos Uma Análise À Luz Da Função Social Da ResponsabilidadeFernando PerrellaAinda não há avaliações
- Centro Territorial de Educaçao Profissional Do - 050514Documento13 páginasCentro Territorial de Educaçao Profissional Do - 050514Sâmela MacedoAinda não há avaliações
- Estetica Historia Arte 3Documento24 páginasEstetica Historia Arte 3Luan Pinheiro67% (3)
- THOMPSON Edward P Senhores e Caçadores A Origem Da Lei NegraDocumento17 páginasTHOMPSON Edward P Senhores e Caçadores A Origem Da Lei NegraCarlos Alberto AfonsusAinda não há avaliações
- O Que e Inbound MarketingDocumento45 páginasO Que e Inbound MarketingWilliam Thomas100% (1)
- Vesicula Biliar USGDocumento7 páginasVesicula Biliar USGndjordaoAinda não há avaliações
- 062 - A CURA PELA GRATIDÃO Mensagens e Reflexões P Mudar Sua VidaDocumento15 páginas062 - A CURA PELA GRATIDÃO Mensagens e Reflexões P Mudar Sua VidaMisterFilmes Everaldo FilmagemAinda não há avaliações
- CartaDocumento14 páginasCartacezerjosehenriqueAinda não há avaliações
- Sede de Vingança - Suzana Herculano-Houzel - NeurociênciaDocumento6 páginasSede de Vingança - Suzana Herculano-Houzel - NeurociênciaMaxNelAinda não há avaliações
- A Espiritualidade Dos PadresDocumento24 páginasA Espiritualidade Dos PadresFrancisco Rafael Da Silva DiasAinda não há avaliações
- 21 Minutos de Poder Na Vida de Um Líder-CompletoDocumento205 páginas21 Minutos de Poder Na Vida de Um Líder-CompletoksiorogerAinda não há avaliações
- The Sopranos - 1x13 - I Dream of Jeannie CusamanoDocumento64 páginasThe Sopranos - 1x13 - I Dream of Jeannie CusamanoguraakAinda não há avaliações
- AA10Documento380 páginasAA10echissondeAinda não há avaliações
- Do Do 100+Dicas+Fatais+de+PROCESSO+PENAL-DesbloqueadoDocumento17 páginasDo Do 100+Dicas+Fatais+de+PROCESSO+PENAL-Desbloqueadovieira.280110Ainda não há avaliações
- BARIATRICA Relatorio Final PARA ImprimirDocumento11 páginasBARIATRICA Relatorio Final PARA Imprimiravaliacaoneuropsicologica44Ainda não há avaliações
- DD 5E FichaDocumento3 páginasDD 5E FichaGabriel vianaAinda não há avaliações
- Triduo Vocacional 2014 Aberto 13112014003438Documento4 páginasTriduo Vocacional 2014 Aberto 13112014003438Luiz Everson da SilvaAinda não há avaliações
- Harpa Cristã - em Espírito, em VerdadeDocumento5 páginasHarpa Cristã - em Espírito, em Verdadechico santosAinda não há avaliações
- Apostila - MSP430 - PeriféricosDocumento11 páginasApostila - MSP430 - Periféricosfilipetaveiros100% (1)
- Edital PIT HCufpe Ebserh Assinado AssinadoDocumento14 páginasEdital PIT HCufpe Ebserh Assinado AssinadoLOS CarlosAinda não há avaliações
- OyaDocumento2 páginasOyaAngelo Silva100% (1)
- Psicologia e Deficiência - Considerações IniciaisDocumento25 páginasPsicologia e Deficiência - Considerações IniciaisXandra CicariniAinda não há avaliações
- Articulo Publicado Eco-FastDocumento6 páginasArticulo Publicado Eco-Fast14091967Ainda não há avaliações
- Publicado Terapia Assistida Por Animais o Animal Como Auxlio TeraputicoDocumento30 páginasPublicado Terapia Assistida Por Animais o Animal Como Auxlio TeraputicoxaviermaiaAinda não há avaliações
- Mulheres Trabalho SirleiDocumento16 páginasMulheres Trabalho SirleiClara SantosAinda não há avaliações
- Arkhan RPG 02 - Biblioteca ÉlficaDocumento51 páginasArkhan RPG 02 - Biblioteca ÉlficaDiego EdneiaAinda não há avaliações
- f73e9de1865fa8d4a343a09248df4f69Documento17 páginasf73e9de1865fa8d4a343a09248df4f69Márcia AlvesAinda não há avaliações