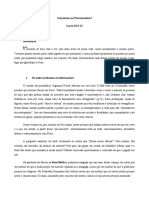Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Lei Natural em S. Tomas de Aquino
A Lei Natural em S. Tomas de Aquino
Enviado por
Servicos LhsoftTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Lei Natural em S. Tomas de Aquino
A Lei Natural em S. Tomas de Aquino
Enviado por
Servicos LhsoftDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A LEI NATURAL EM S.
TOMS DE AQUINO:
Introduo, traduo e notas da questo 94 da
Summa Theologiae Ia-IIae1
BENTO SILVA SANTOS
(UFES Departamento de Filosofia)
Uma reflexo sobre o contedo do Direito em S. Toms de Aquino, que prope
como fundamento de toda ordem jurdica o clebre adgio bonum est faciendum et
prosequendum et malum vitandum, parecer certamente anacrnico para aqueles que
assumiram a dicotomia de matriz kantiana entre Direito e Moral, relegada ao interior da
conscincia2. No de hoje que se nutre uma rejeio cada vez mais acentuada da
possibilidade de harmonia entre tica e Metafsica, pilares indispensveis da Razo
clssica. De um lado, entre certos filsofos e juristas predomina a tendncia das
racionalidades modernas que se caracterizam por ser fundamentalmente operacionais,
onde os valores tico-jurdicos suprapositivos tornam-se oscilantes e so arbitrariamente
interpretados. De outro lado, porm, como conseqncia da crise do Positivismo Jurdico
do sculo XX, superou-se a rgida distino entre Direito e Moral. Neste sentido, existe
uma abertura da Filosofia do Direito contempornea aos valores tico-polticos.
Concretamente, tal abertura encontra-se nas chamadas teorias constitucionalistas3 ou na
nova teoria do Direito Natural4.
1
Publicado em Agora Filosfica (UNICAP) 2 (2003) 17-39.
Este divrcio se estabelece a partir da reflexo kantiana dobre o Direito consignada na primeira
parte da obra Metafsica dos Costumes. Esta o terceiro dos textos crticos de Kant sobre filosofia
moral. O primeiro a Fundamentao da Metafsica dos Costumes (1785). O segundo a Crtica
da Razo Prtica (1788). A terceira obra est dividida em primeiros princpios metafsicos da
Doutrina do direito e da Doutrina da virtude: cf. edio brasileira: I. KANT, A Metafsica dos
Costumes. Trad. Edson Bini.So Paulo, Edipro,2003
A abordagem constitucionalista antecipada na concepo do Direito como integridade em R.
DWORKIN. Em outras palavras: a conexo entre Direito e Moral argumentada base do processo
de incluso de contedos morais no Direito expressos nos princpios e nos direitos inviolveis dos
indivduos. O texto programtico de R. DWORKIN surgiu em 1977: Taking rights seriously.
Cambridge: Harvard University Press,1977 (tr. bras. Levando os direitos a srio. So Paulo:
Martins Fontes, 2002). Nesta mesma abordagem, destaca-se o estudo de R. ALEXY que sustenta a
tese da conexo conceitual e normativamente necessria entre Direito e Moral
(Verbindungsthese): cf. sua obra Begriff und Geltung des Rechts.Freiburg i.B.-Mnchen: Alber,
1992.
Ora, uma vez que o Direito trata de regrar as aes humanas e que a tica a
passagem obrigatria de todo humanismo, no contexto do pensamento jurdico clssico, tal
tica s tem um sentido racional na perspectiva metafsica da causalidade final, por onde se
remonta at Deus como princpio primeiro da normatividade. Na sntese de S. Toms de
Aquino (1225-1274), esta a funo da lei, luz e regra pedaggica dos atos humanos, em
vista de seu fim imanente e transcendente: a efetividade da vida social na comunidade
poltica e a comunho com Deus na vida para alm da morte. Foi nesta linha, portanto, que
S. Toms de Aquino, assumindo a herana do pensamento jurdico antigo (Aristteles e
particularmente o Estoicismo com a afirmao da lei natural), de S. Agostinho de Hipona
(354-430)5 e dos juristas romanos, repensando-os luz da Revelao crist, transmitiu
civilizao sucessiva o jusnaturalismo como fundamento das leis positivas6.
1. O TRATADO DAS LEIS NO CONTEXTO DO PENSAMENTO POLTICO DE S.
TOMS DE AQUINO7
Antes de tematizar a doutrina sobre a Lei Natural em S. Toms de Aquino, convm
recordar que o Doutor Anglico no redigiu, a rigor, nenhum verdadeiro tratado de filosofia
poltica. A expresso de seu pensamento no mbito jurdico encontra-se inequivocamente
nos seguintes textos:
Cf. J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights.Oxford: Oxford University Press,2000
Sobre a influncia do pensamento jurdico de S. Agostinho, cf. especialmente M. TOMS
RAMOS, A Idia do Estado na doutrina tico-poltica de Santo Agostinho (um estudo comparado
do Epistolrio com o De Civitate Dei).So Paulo: Loyola,1984; IDEM, tica e Direito em
Agostinho (um ensaio sobre A Lei Temporal), Sntese Nova Fase 25/80 (1998) 107-132
Para uma abordagem mais detalhada do pensamento jurdico de S. Toms de Aquino, cf. L. A.
PEROTTO, Stato e giustizia distributiva. La dimensione morale-politica della Giustizia distributiva
nel De Iustitia di S. Tommaso.Milano,Massimo,1984; R.M. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto
positivo in San Tommaso dAquino.Bologna,Ed. Studio Domenicano,31999; IDEM, Diritto-moralereligione. Il fondamento etico-religioso del diritto secondo san Tommaso dAquino.Citt del
Vaticano,Urbaniana University Press,2001
7
Cf. J. L. WIDOW LIRA, La verdad poltica en el pensamiento de santo Toms de Aquino.
Romae: Pontificia Universitas S. Thomae in Urbe,2001; L. A. DE BONI, De Abelardo a Lutero.
Estudos sobre filosofia prtica na Idade Mdia.Porto Alegre: Edipucrs,2003, 77-102.103-126
A) Os textos acerca de Aristteles, sobre o Comentrio sobre a tica a Nicmaco8;
acrescente-se ainda seu Comentrio sobre a Poltica de Aristteles intitulado Sententia
Libri Politicorum, que permaneceu incompleto (a parte autntica termina no Livro III, cap.
6). Acerca da relao entre S. Toms de Aquino e Aristteles, coloca-se a questo da
utilidade desses comentrios para reconstruir o pensamento tomasiano. Entre as maneiras
possveis de compreender esta relao, plausvel sustentar uma fidelidade objetiva bsica
na interpretao dos textos aristotlicos, embora devamos reconhecer um desvirtuamento
da doutrina de Aristteles em pontos decisivos, como no Comentrio sobre a tica, guiado
pelo princpio explicitamente cristo da viso beatfica, ou naquele sobre a Metafsica,
orientado no sentido de uma metafsica do ser que lhe era inteiramente estranha9. Seja
como for, atravs desses comentrios sobre as obras aristotlicas, S. Toms de Aquino
procurou refinar seu instrumental lgico e conceitual, bem como assimilar a substncia do
pensamento do Estagirita para, em seguida, elaborar a prpria reflexo filosfica e
teolgica. Se verdade o fato de que S. Toms de Aquino emerge desses comentrios assaz
aristotlico, no menos verdade tambm que o Aristteles do qual se fala seria um tomista
ante litteram10. Enfim, um critrio hermenutico se impe: poderemos servir-nos dos
comentrios sobre Aristteles, para conhecer a filosofia poltica de S. Toms de Aquino,
somente quando o texto em questo remeta a uma doutrina expresso na Summa
Theologiae, no De regno, ou em outras das suas obras mais pessoais.
B) Existe um texto diretamente poltico, o De regno ou De regimine principum.
Trata-se de uma obra de conselhos a pedido e na inteno do rei de Chipre11. Os estudiosos
8
Cf. as tradues modernas do comentrio tica a Nicmaco de ST. THOMAS AQUINAS,
Commentary on Aristotles Nicomachean ethics (translated by C.I. Litzinger; foreword by R.
McInerny).Notre Dame,Dumb Ox Books,1993; S. TOMMASO DAQUINO, Commento alletica
nicomachea di Aristotele.vol 1: Libri 1-5; vol 2: Librio 6-10.Introduzione, traduzione e glossario a
cura di Lorenzo A. Perotto.Bologna,Ed. Studio Domenicano,1998
9
Cf. J.-P. TORREL, Iniciao a Santo Toms de Aquino. Sua pessoa e obra.So Paulo, Loyola,
1999, 275-279
10
Cf. G. CHALMETA, La Giustizia politica in Tommaso dAquino. Uninterpretazione di bene
comune politico.Roma,Armando Editore, 2000, 50
11
Cf. S. TOMS DE AQUINO, Escritos Polticos (coleo Clssicos do Pensamento Poltico).
Trad. Francisco Benjamin de Souza Neto.Petrpolis,Vozes, 1997, 123-172
concordam na tese de que a obra genuna de S. Toms de Aquino se limita unicamente aos
Livros I e II at o captulo IV, tendo sido prosseguida posteriormente por Ptolomeu de
Lucca ou por outros at todo o Livro IV. A obra em questo - Do Reino ou Do governo dos
prncipes ao Rei de Chipre - no constitui um verdadeiro e prprio compndio da filosofia
poltica de S. Toms de Aquino seja porque somente uma pequena parte de sua autoria,
seja porque tem como objetivo a educao de um rei. Em conseqncia, o ponto de partida
do autor no tem em vista uma exposio objetiva de seu prprio pensamento acerca de
problemas sociais, mas condicionada pela natureza didtica de seu escrito. Seja como for,
o De regno permanece, porm, um instrumento essencial para conhecer a concepo
poltica do Doutor Anglico.
C) Dentro da obra que constitui seguramente o texto principal e mais maduro de S.
Toms de Aquino existe a Summa Theologiae. Se prescindimos das quaestiones 90-97 da
Ia-IIae, dedicadas Lei, 58-61 da IIa-IIae que falam em geral do Direito e da Justia, esta
summa oferece somente uma srie de reflexes polticas, talvez numerosas e interessantes,
mas o mais das vezes acidentais12. No obstante esta limitao, indispensvel situar
corretamente o tratado da Lei no contexto geral da Suma de Teologia para que o leitor
possa descortinar a originalidade do pensamento de S. Toms de Aquino em relao ao
pensamento poltico moderno. A idia que norteia a abordagem de S. Toms de Aquino a
ordem sobrenatural a Revelao que no destri nem anula a natureza humana nem
tampouco a razo; tudo deve ser estudado em funo da superioridade da f em Deus, e esta
centralidade se reveste de um duplo aspecto: trata-se primeiramente de uma relao de
causalidade: Deus a condio e o fundamento ontolgico das coisas; todos os seres tiram
dele sua existncia em uma espcie de movimento descendente (de processio, de exitus).
Esta relao ntima de dependncia para com Deus, como fonte do ser, permanente e
constitui o sentido formal da idia de criao. Esta nada mais do que uma emanao
(emanatio), uma sada (exitus) do primeiro princpio, uma produo (productio) absoluta do
12
Cf. traduo do tratado da Lei (questes 90-97 da Summa Theologiae Ia-IIae), S. TOMS DE
AQUINO, Escritos Polticos, 35-122; C. MORRIS (org.), Os Grandes Filsofos do Direito.So
Paulo, Martins Fontes, 2002, 50-72
ser ou de uma coisa no ser segundo toda a sua substncia13. Em segundo lugar, trata-se de
uma relao de finalidade: em um movimento ascendente (reditus), o universo como que
sustentado por uma finalidade que o percorre em todas as suas dimenses e o impele a
voltar a Deus. Nesta concepo, as obras de Deus no so inertes; na manifestao de seu
dinamismo que elas realizam esta anbasis (subida) e, em razo deste fato, glorificam seu
Autor.
2. A LEI NATURAL COMO PRINCPIO TICO-JURDICO SUPRAPOSITIVO
Dentre da tipologia das concepes jusnaturalistas de cunho predominantemente
essencialista ou substancialista14, a reflexo de S. Toms de Aquino assume uma feio
claramente teolgica15, especialmente em seu conceito de lei e suas espcies16. Segundo S.
Toms de Aquino, lex uma rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam
communitatis habet promulgata (ordenao da razo para o bem comum, promulgada por
aquele que tem cuidado da comunidade)17. Uma vez estabelecida a racionalidade da lei, o
autor deixa entrever na questo 91, artigo 1, da Summa Theologiae, Ia-IIae, o pressuposto
13
Cf. S. TOMS DE AQUINO, Summa Theologiae Ia-IIae, q. 45, a. 1, resp.; a. 5, resp.; cf. tambm
G. BARZAGHI, La nozione di creazione in S. Tommaso dAquino, Divus Thomas 95/3 (1992) 6281
14
Dentro desta viso, encontramos as concepes cosmolgica, teolgica e antropolgica. No
primeiro caso, associa-se ao Direito Natural a idia de natureza como ordem csmica, que contm
em si a sua prpria lei, fonte da ordem em que se processam os movimentos os corpos ou em que se
articulam os seus elementos constitutivos essenciais. No terceiro caso, a viso antropolgica do
jusnaturalismo encontra-se de modo significativo no pensamento ps-renascentista, racionalista e
iluminista, particularmente em H. Grcio (1583-1645), com sua obra De iure belli ac pacis (1625),
Thomas Hobbes (1588-1679), com o Leviat, B. Spinoza (1632-1677), com seu Tractatus
theologico-politicus, S. Pufendorf (1632-1694), com sua obra De iure naturae et gentium (1672), J.
Locke (1632-1704), com o Segundo Tratado sobre o Governo Civil.
15
Como bem observou Fulvio DI BLASI, a reflexo de S. Toms de Aquino sobre a Lei Natural
tornar-se-ia ininteligvel se removssemos dela seja a figura de Deus, seja a compreenso metafsica
da natureza. Cf. Dio e la legge naturale. Una rilettura di Tommaso dAquino.Pisa,Edizioni
ETS,1999 (tr. ingl. God and the Natural Law. A Rereading of Thomas Aquinas.Chicago, St.
Augustins Press,2003)
16
Cf. A. BRAZ TEIXEIRA, Sentido e valor do Direito. Introduo Filosofia Jurdica.Lisboa,
Imprensa Nacional Casa da Moeda,1990, 126-147
17
S. TOMS DE AQUINO, Summa Theologiae Ia-IIae, q. 90, a. 1, resp.
teolgico fundamental de sua concepo de lei: toda lei deriva da lei eterna, na medida em
que participa da reta razo.
No cume de sua sntese sobre as leis S. Toms de Aquino coloca, portanto, a noo
de lei eterna, mostrando assim sua fidelidade a uma herana do pensamento antigo (o
estoicismo e sobretudo Ccero), transmitida por S. Agostinho 18. Este procedimento fez com
que ele conferisse ao conceito de lei uma caracterstica assaz analgica, onde entram tanto a
Providncia divina como a legislao civil mais contingente. Admitindo que Deus o fim
do destino do homem, trazendo-lhe a bem-aventurana perfeita, e que toda lei norma
reguladora deste destino, tal lei tem sua fonte ltima em Deus mesmo. Nele deve-se,
portanto, reencontrar, segundo um modo divino, esta dialtica que, atravs de diversas
mediaes, ilumina o caminho do homem e o sustento de sua peregrinao terrestre. Deus
assim a lei suprema, que se identifica com sua Sabedoria e seu governo providencial de
todo o universo. Esta lei to eterna quanto a prpria razo divina.
Se as demais leis so participao da lei eterna, enquanto dela recebem sua fora
coercitiva, emerge a concepo de Lei Natural como princpio tico-jurdico suprapositivo,
isto , S. Toms de Aquino definiu a lei natural como participatio legis aeternae in
rationali creatura (a participao da lei eterna pela criatura racional e como impressio
divini luminis in nobis (impresso da luz divina em ns), ou ainda como a luz da
inteligncia naturalmente infundida em ns por Deus, pela qual conhecemos o que deve ser
feito e o que deve ser evitado19. Segundo esta definio, trata-se da mesma lei eterna,
manifestada e imposta criatura racional enquanto tem por objeto a regulao da atividade
humana que deve pautar-se pela luz natural da razo, consistindo, portanto, em juzos
prticos universais acerca do bem (necessrio) a fazer e o do mal (intrnseco) a evitar.
3. A LEI NATURAL
Em conformidade com o ensinamento da antropologia crist - j esboada na
Questo 91, artigo 2, da Prima Secundae da Summa Theologiae -, que v no homem a
imagem de Deus, S. Toms de Aquino reitera aqui que o homem se conforma a esta
18
clebre o tpico em sua obra contra o maniqueu Fausto: Lei eterna a razo divina ou a
vontade de Deus enquanto ordena guardar a ordem natural e probe perturb-la (ratio vel voluntas
divina ordinem naturalem conservari iubens, perturbari vetans) (Contra Faustum 22,27).
responsabilidade de imagem de Deus assumindo, por sua razo e sua liberdade, a regulao
de seus atos. Nele, sua razo como uma participao da luz divina permitindo-lhe guiar-se
a si mesmo, discernindo o bem e o mal. Neste sentido, no mais simplesmente a
participao impressa nele do querer divino, mas a participao da luz do pensamento
divino. Mas o que deve ser entendido por bonum provm da natureza do homem, dos
esforos que a ele so inerentes; por isso, pertence aos bens que o Direito Natural protege: a
conservao do homem, o casamento, a criao e educao dos filhos, mas conforme a
natureza intelectual do homem, tambm, o conhecimento do Verdadeiro a viso de Deus
e a manuteno da vida na comunidade. Neste sentido, cada lei deve estar orientada para
o bem comum, para o bonum commune20.
As pginas que se seguem constituem, portanto, uma traduo anotada da Q. 94, da
Prima Secundae da Summa Theologiae, consagrada Lei Natural.
A LEI NATURAL21
(S. T., Ia-IIae, q. 94, a. 1)22
Uma realidade pode ser chamada hbito (habitus) de dois modos23:
19
S. TOMS DE AQUINO, Summa Theologiae Ia-IIae, q. 91, a. 2, resp.
20
Cf. H. COING, Elementos Fundamentais da Filosofia do Direito.Porto Alegre, Sergio Antonio
Fabris Editor,2002, 46-48
21
Aps uma introduo sobre o tratado das Leis no contexto do pensamento poltico de S. Toms
de Aquino, segue a traduo de excertos da questo 94 da Summa Theologiae, Ia-IIae. Todos os
ttulos em itlico so de minha autoria. Para uma aprofundamento da concepo de Lei Natural, cf.
R. BAGNULO, Il concetto di diritto naturale in San Tommaso dAquino. Milano, A. Giuffr,1983;
A. VENDEMIATI, La legge naturale nella Summa Theologiae di san Tommaso dAquino.
Roma,Pontificia Universit Lateranense,1995; Ch. M. HONDE, Natural law in St. Thomas
Aquinas works. Metaphysical and ethical dimensions. Romae, Pontificia Universitas Urbaniana,
2001
22
L-se a abreviatura da obra tomasiana da seguinte maneira: S.T. = Suma de Teologia, Ia-IIae =
Primeira parte da segunda parte, q. 94 = Questo 94, a.1 = Artigo 1. Na soluo do artigo 1, S.
Toms de Aquino desenvolve a vox da autoridade, isto , S. Agostinho, que afirma: um hbito
algo de que se utiliza quando necessrio (Sobre o Bem conjugal, cap. 21,Patrologia Latina [=
PL] 40,390). Acerca da estrutura e do contedo da Suma de Teologia, cf. J.-P. TORREL, La
Summa di San Tommaso.Milano, Jaca Book,2003
23
A noo de habitus , antes de tudo, metafsica e est associada de natureza e de liberdade.
Desenvolvida especialmente na Ia-IIae, q. 49-54 da Suma de Teologia, Toms de Aquino a define
como uma disposio estvel para agir de modo cmodo, afortunadamente e, no entanto, com
liberdade, para o bem ou para o mal, ou seja, em conformidade ou no com os fins de uma natureza.
RACIONALIDADE DA LEI NATURAL
1.
De um modo prprio e essencial, e em tal sentido a lei natural no um
hbito. Pois, como j dissemos (q.90, art. 1, ad 2), a lei natural um produto da razo,
como tambm a proposio fruto do raciocnio. Ora, a ao de um agente no o mesmo
que o feito por ela; assim, pelo hbito da gramtica que se forma uma orao congruente.
Donde, sendo pelo hbito que agimos, nenhuma lei pode ser hbito, prpria e
essencialmente falando24.
COMPONENTE DINMICA
2.
De um modo diverso, o hbito indica aquilo que possumos mediante um
hbito; assim chamamos f a verdade que conhecemos com a f. Ora, os preceitos da lei
natural so ora objeto de uma considerao atual da razo, ora existem nela apenas no
estado habitual, mas no consciente. nesta acepo que a lei natural pode ser
qualificada de hbito, da mesma maneira que os princpios indemonstrveis25 das cincias
especulativas, que no se identificam com o hbito dos primeiros princpios, mas
constituem seu objeto, seu contedo26.
A LEI NATURAL CONTM VRIOS PRECEITOS
(S.T., Ia-IIae, q. 94, a. 2)
Deve ser dito que, como j se disse acima (q. 91, a. 3), os preceitos da lei natural
esto para a razo prtica do mesmo modo que os princpios primeiros da demonstrao
Um habitus se gera e se desenvolve atravs dos atos e de sua repetio. Todavia, diferentemente do
costume, no por um automatismo adquirido mas pelo aperfeioamento de uma inclinao natural
diante da qual o sujeito permanece livre. Uma tal definio de habitus se aplica, antes de tudo, s
potncias espirituais.
24
A origem remota desta doutrina est em Aristteles que define o hbito (hxis) como uma
disposio de certo tipo pela qual a coisa disposta bem ou mal, seja por si, seja em relao a
outras (Metafsica V, 20, 1022 b 10s). O homem possui virtudes e vcios como hbitos ou
disposies de certo tipo. A repetio de atos do mesmo tipo (atos justos, corajosos..., ou contrrios
a estes), enquanto tal, produz o estar habituado a eles (habitudo), ao passo que o resultado dessa
repetio hbito, que alguma coisa que permanece em ns como uma espcie de posse estvel e
que, por isso, facilita atos ulteriores do mesmo gnero.
25
So assim denominados, no porque faltem as razes para demonstr-los, mas porque tm um
grau de evidncia superior e antecedente ao raciocnio: por exemplo: o todo maior que a parte.
26
Os franciscanos Alexandre de Hales (1180-1245) e especialmente S. Boaventura (1221-1274)
julgavam certamente que a lei natural um habitus, no no sentido de uma qualidade adquirida e
aperfeioando uma faculdade, mas no sentido de uma luz intelectual fazendo-nos discernir o bem e
o mal (doutrina da iluminao divina), negligenciando assim o aspecto preceptivo da Lei. Toms
de Aquino registra aqui seu cuidado de realismo, conservando, n o que tange lei, sua funo de
ligar a conscincia.
esto para a razo especulativa27, pois uns e outros so axiomas evidentes em si mesmos.
Ora, um axioma pode ser dito evidente em si mesmo de dois modos: de um modo, em si; de
outro modo, quanto a ns. Toda proposio dita conhecida em si mesma se o atributo
pertence definio do sujeito; ocorre, porm, para aquele que ignora a definio do
sujeito, tal proposio no ser evidente por si mesma. Assim esta proposio: o homem
racional, evidente por si mesma segundo a natureza mesma do homem, pois quem diz
homem, diz racional; todavia, para aquele que ignora o que o homem, esta proposio no
evidente por si mesma. Disto segue-se, como o diz Bocio (Sobre as Semanas, PL 64,
1311), que existem certas frases ou proposies que so conhecidas em si mesmas por
todos os homens, como aquelas proposies cujos termos so conhecidos por todos, como
qualquer todo maior que sua parte e os que so iguais a um terceiro, so iguais entre si.
H, porm, outras proposies conhecidas por si mesmas apenas pelos sbios que
apreendem a significao dos seus termos. Assim, para aquele que intelige que um anjo no
corpo, parece evidente por si mesmo que um tal ser no est circunscrito em um lugar, o
que no manifesto aos rudes, que no o captam.
H uma ordem entre as verdades que esto ao alcance da apreenso de todos. Com
efeito, o que apreendido em primeiro lugar o ente, cuja inteleco est inclusa em tudo
que algum apreende. Eis por que o primeiro axioma indemonstrvel que no se pode ao
mesmo tempo afirmar e negar, o que est fundado na noo do ente e do no ente; e
sobre este princpio que todas as outras verdades esto fundadas, como se diz no Livro IV
da Metafsica (3,1005 b 29).
Mas da mesma maneira que o ente , em primeiro lugar, objeto de conhecimento
propriamente dito, assim tambm o bem a primeira noo apreendida pela razo prtica
que ordenada ao. Com efeito, todo agente age em vista de um fim e este dotado da
razo de bem. Dessa forma, o primeiro princpio da razo prtica aquele que se funda na
razo de bem, e que o seguinte: O bem aquilo que todos apetecem28. , portanto, o
primeiro princpio da lei: o bem deve ser praticado e procurado (bonum est faciendum et
prosequendum), o mal deve ser evitado (et malum vitandum). sobre este axioma que se
fundam todos os outros preceitos da lei natural, de sorte que tudo o que deve ser praticado
ou evitado deriva dos preceitos da lei natural; e a razo prtica os considera naturalmente
como bens humanos.
Mas como o bem tem a razo de fim e o mal, razo de seu contrrio, da segue-se
que o esprito humano apreende como bens e, por conseguinte, como dignas de serem
buscadas todas as coisas s quais o homem se sente naturalmente inclinado, e considera
27
Os princpios de que fala S. Toms de Aquino so as verdades que, na demonstrao, so a razo
da atribuio do predicado ao sujeito. No se trata de saber o que elas so, uma vez que no se
define uma enunciao, mas somente se elas so, ou mais exatamente se elas so verdadeiras.
28
Segundo S. Toms de Aquino, o agir moralmente relevante nasce da deciso da vontade e da
razo prtica. Ora, o bem moral, o fim ltimo do agir humano, por definio o objeto da vontade e
da razo prtica que determina a vontade a fim de que possa dirigir-se ao seu objeto: o bem ou fim
ltimo. prprio do homem agir no somente em direo a um fim (como tambm os animais
irracionais) mas tambm dispor-se ao fim por vontade livre mediante a razo prtica. Segundo H.
C. LIMA VAZ, Bem e Fim ou perfeio e ordem so, pois, as categorias metafsicas que subjazem
tica tomsica como tica filosfica (Escritos de Filosofia IV: Introduo tica Filosfica
1.So Paulo, Loyola,1999, 216).
10
como ms para evitar as coisas opostas s precedentes. segundo a ordem mesma das
inclinaes naturais que se toma a ordem dos preceitos da lei natural. Com efeito, o homem
se sente, em primeiro lugar, atrado a procurar o bem correspondente sua natureza que
tem em comum com todas as substncias, qual seja, toda substncia apetece a conservao
de seu ser, segundo sua natureza prpria. Segundo esta inclinao, o que assegura a
conservao humana e tudo que impede o que lhe contrrio, derivam da lei natural.
Em segundo lugar, existe no homem uma inclinao a procurar certos bens mais
especiais, segundo a natureza que tem em comum com os outros animais. Assim pertence
lei natural o que a natureza ensina a todos os animais(Digesto, L.I,tit. 1,leg. 1, KR I, 29a),
por exemplo, a unio do macho e da fmea, a educao dos filhos e similares.
Em terceiro lugar, encontra-se no homem uma inclinao para o bem segundo a
natureza da razo que lhe prpria; assim h uma inclinao natural para conhecer a
verdade sobre Deus e viver em sociedade. Neste sentido, pertence lei natural tudo o que
deriva desta inclinao prprio: por exemplo,que o homem evite a ignorncia, no ofenda
ao seu prximo com o qual deve viver, e todas as outras prescries que visem este
objetivo29.
RESPOSTA SEGUNDA OBJEO
(S.T., Ia-IIae, q. 94, a. 2, ad 2)
No que concerne ao segundo argumento, deve dizer-se que todas as inclinaes de
quaisquer partes da natureza humana, como as do concupiscvel e do irascvel, enquanto
reguladas pela razo, pertencem lei natural e se reduzem a um primeiro princpio, como
se disse. E assim, h, em si mesmos, muitos preceitos da lei natural, que contudo tm uma
raiz comum30.
29
S. Toms de Aquino determina o funcionamento da lei natural atravs do paralelismo entre a
ordem das verdades tericas e a das aes concretas. Em ambos os casos, existem como ponto de
partida princpios evidentes (princpio tomado aqui no sentido de ponto de partida fundando um
raciocnio), axiomas evidentes e indemonstrveis, pois esto ligados percepo do ser, objeto da
inteligncia, no caso das verdades tericas; preceitos primeiros, evidentes para a razo prtica, pois
esto estreitamente ligados percepo do ser que descobre a riqueza de seu contedo em seu
sinnimo que o bem desejvel. Deste modo, o papel que desempenha o princpio de identidade na
ordem do conhecimento terico tambm aquele que desempenha o preceito primeiro na ordem
moral (fazer o bem, evitar o mal). Todavia, do mesmo modo que o conhecimento terico no se
limita aos primeiros princpios, assim o agir moral no se limita em proclamar o preceito primeiro
do bem e do mal. preciso chegar ao mbito exigido pela vida quotidiana. Como realizar esta
encarnao do preceito primeiro? Qual contedo concreto deve-se dar a tal preceito? luz de seu
realismo, S. Toms de Aquino retorna idia de natureza, isto , quilo que constitui um ser em sua
realidade profunda e em seu dinamismo. Esta natureza se expressa em suas inclinaes originais
que a revelam e so tantos outros pontos de aplicao do preceito primeiro.
30
A cada uma dessas tendncias estruturais do ser humano corresponde a um ou a vrios preceitos
ditos primeiros (pois primeiro na categoria que corresponde a um das tendncias fundamentais), que
expressam de modo concreto o universal derivado do princpio fundamental da lei natural (fazer o
bem, evitar o mal); cada uma dessas tendncias visa um bem essencial para o homem. Em suma, a
lei natural no uma construo artificial de preceitos hierarquizados a priori, que ela conceberia
em um esforo de reflexo conceitual, mas sim a luz racional e irrecusvel, determinando ao
homem uma obrigao de assumir suas tendncias naturais, que a ele se impe com uma evidncia
11
OS ATOS VIRTUOSOS ESTO SUJEITOS LEI NATURAL
(S.T., Ia-IIae, q. 94, a. 3)31
Deve ser dito que, duplamente, podemos considerar os atos virtuosos: enquanto
virtuosos e enquanto so tais atos determinados em sua prpria espcie. Se consideramos os
atos virtuosos enquanto virtuosos, todos pertencem lei da natureza. Porque, como j
provamos, lei da natureza pertence tudo aquilo a que o homem naturalmente se inclina.
Ora, cada um inclinado naturalmente para a atividade que convm sua forma, como o
fogo inclinado a aquecer. Donde, visto que a alma racional a forma prpria do homem,
existe em qualquer homem uma inclinao natural para agir segundo a razo, e isto
precisamente o agir segundo a virtude. Donde, segundo isto, todos os atos virtuosos
pertencem lei natural; pois, a cada um a razo naturalmente lhe indica que viva
virtuosamente. Se, porm, levarmos em conta os atos virtuosos, em si mesmos, isto ,
considerando-os nas suas espcies prprias, ento nem todos pertencem lei da natureza.
Com efeito, h muitas coisas que se fazem segundo a virtude, s quais, porm, a natureza
no inclina, primeiro lugar. mediante uma investigao da razo que os homens as
descobrem, e as reconhecem como teis para o bem viver32.
RESPOSTA SEGUNDA OBJEO
(S.T., Ia-IIae, q. 94, a. 3, ad 2)
No que concerne ao segundo argumento, deve dizer-se o seguinte: chama-se
natureza humana a que prpria ao homem; e assim, todos os pecados, sendo contrrios
razo, so tambm contra a natureza, como est patente em Damasceno no Sobre a f
anterior a todo raciocnio, atravs de regras segundo sua verdadeira finalidade, mantendo-as a
servio do destino da pessoa humana.
31
No Sed contra, S. Toms de Aquino segue a autoridade de J. DAMASCENO, que diz: (em Sobre
a f ortodoxa III, 14, Patrologia Grega [= PG 94, 1045): As virtudes so naturais.
32
Trata-se aqui dos conselhos evanglicos: esses visam bens que no so impostos pela lei natural,
tais como a pobreza, a virgindade, a obedincia. A tradio teolgica moderna os concebeu sob uma
perspectiva voluntarista, opondo preceitos e conselhos; os primeiros so obrigatrios; os outros,
no, como uma espcie de excesso facultativo recomendado queles que desejam tornar-se mais
perfeitos. Toms de Aquino situa, porm, a questo sob um ponto de vista particular: sabendo que
Cristo chamou todos os homens para a perfeio (Mt 5,48; 22,37ss) por amor de Deus e do
prximo, no se deve, inicialmente, colocar um limite a este amor, uma vez que a vocao do
homem a perfeio do amor de caridade. Ora, para atingir este fim universal (lei nova de Cristo),
existem meios que so ontologicamente associados a tal fim, sendo, portanto, rigorosamente
necessrios. So os preceitos primeiros, evocados no artigo precedente. Todavia, alm desses meios
indispensveis, h outros que podem melhor garantir o mesmo fim, a perfeio, eliminando
numerosos obstculos mediante uma renncia mais total ao uso dos bens criados (riquezas,
sexualidade, independncia social). Esses meios constituem os conselhos evanglicos e fazem parte
de uma zona de indeterminao na ordem dos meios em visto do fim; correspondem a vocaes
particulares e pessoais pelas quais podem revelar-se como indispensveis para atingir a perfeio
atravs da consagrao mais plena do que tais conselhos significam.
12
ortodoxa,II, 4,30, PL 94,876). Mas tambm natureza humana aquela que comum ao
homem e aos animais; e assim, consideram-se certos pecados especiais como contrrios
natureza. Por exemplo, a oposio unio dos dois sexos, que natural a todos os animais,
h a unio dos machos, que se diz especialmente vcio contra a natureza.
A LEI NATURAL A MESMA PARA TODOS OS HOMENS
(S.T., Ia-IIae, q. 94, a. 4)33
CONHECIMENTOS IGUAIS
Deve ser dito que, como j dissemos, lei natural pertence aquilo a que o homem
naturalmente se inclina; e nisso se inclui a sua inclinao prpria a agir segundo a razo.
Ora, prprio razo proceder do universal para o particular, como patente em
Aristteles (Fsica I,1, 184a16)34. Mas o modo de proceder da razo especulativa difere do
modo da razo prtica: uma vez que de fato a razo especulativa se move principalmente no
mbito do necessrio, onde impossvel que as coisas estejam diversamente, a a verdade
se manifesta sem nenhuma erro, tanto nas concluses particulares, como nos princpios
universais. Ao contrrio, a razo prtica se move no campo do contingente, onde entram as
obras humanas. Donde, embora no geral tambm haja uma certa necessidade, quanto mais
descermos ao particular, tanto mais excees encontraremos.
Assim, pois, na ordem especulativa a verdade a mesma para todos, tanto nos
princpios como nas concluses; embora a verdade no seja conhecida de todos, nas
concluses, mas s nos princpios, chamados axiomas universais35. Ao contrrio, na
ordem das aes, no h a mesma verdade ou retido prtica em todos, quanto ao particular,
mas s, quanto aos princpios gerais. E ainda, todos os que tem a mesma retido, em
particular, no a conhecem igualmente.
Donde evidente que, quanto aos princpios gerais da razo especulativa ou prtica,
a verdade da razo especulativa ou prtica, a verdade ou a retido igual para todos e de
todos igualmente conhecida.
DIVERSOS GRAUS DE COHECIMENTO
33
A soluo desenvolve a vox da autoridade identificada aqui com ISIDORO DE SEVILHA, que
afirma em sua obra Etimologias: O direito natural comum a todas as naes (Etimologias, Livro
V, cap. 4; ed. Bilnge de J. OROZ RETA & M.-A. MARCOS CASQUERO, San Isidoro de
Sevilla, Etimologas.2vol. (I = Livros I-X; II = Livros XI-XX).Madrid, BAC,1994, 508-565 [o Livro
V: Acerca das leis e dos tempos]).
34
Ora, o caminho natural, proceder das coisas mais cognoscveis para ns e mais claras para ns
quelas que so mais claras em si e mais cognoscveis (...) partir das coisas menos claras em si, mas
claras para ns, para ir em direo s coisas mais claras e mais cognoscveis (ARISTTELES,
Fsica I,1, 184a16). Tal o procedimento da deduo silogstica: o ato pelo qual o pensamento
infere verdades particulares a partir de verdades universais.
35
BOCIO, Consideraes sobre as semanas, PL 64, 1311
13
A verdade, porm, das concluses particulares da razo especulativa a mesma
para todos, mas no de todos igualmente conhecida. Por exemplo, para todo o mundo
verdade que um tringulo tem os trs ngulos iguais a dos retos, embora nem todos o
saibam. Mas quanto s concluses prprias da razo prtica, nem a mesma para todos a
verdade ou retido, nem para aqueles para os quais a mesma, igualmente conhecida.
Assim, todos tm como reto e verdadeiro que devem agir segundo a razo. E deste
princpio resulta a concluso particular, que se devem restituir os depsitos. O que, por
certo, verdade na maior parte dos casos; mas, num caso particular, pode ser danoso e, por
conseguinte, irracional, restitu-los; por exemplo, se algum o quisesse para lutar contra a
ptria. E quanto mais particular for o caso tanto mais excees haver; por exemplo, se
dissermos que os depsitos se devem restituir com tal garantia ou de tal modo. Pois, quanto
mais condies particulares se impuserem, de tantos modos mais poder haver exceo
retido no restituir ou em no o fazer.
A IMPERFEIO HUMANA
Portanto, devemos concluir, que a lei da natureza, nos seus primeiros princpios
gerais, a mesma para todos, quanto retido e quanto ao conhecimento. Mas,
relativamente a certos casos particulares, que so quase concluses dos princpios gerais,
ela , no mais das vezes, a mesma para todos, quanto retido e quanto ao conhecimento.
Mas s vezes tal pode no se dar. Quanto retido, por causa de certos impedimentos
particulares, do mesmo modo que, por causa deles, em alguns casos, falha a natureza,
sujeita gerao e corrupo. E tambm quanto ao conhecimento, porque uns tm a razo
depravada pela paixo, pelos maus costumes, ou por maus hbitos da natureza. Assim,
entre os germanos, outrora, no era reputado por mal o latrocnio, embora seja
expressamente contra a lei da natureza, como o refere Jlio Csar (Sobre a guerra da
Glia, VI, cap.33)36.
MUDANAS DA LEI NATURAL
(S.T., Ia-IIae, q. 94, a. 5)
INTEGRAO NORMATIVA
A variao da lei natural pode ser compreendida em dois sentidos:
1. Em um primeiro sentido, por meio de algo que se lhe acrescenta. E assim, nada lhe
impede o mudar-se; pois muitos acrscimos lhe foram feitos, teis vida humana, tanto
pela lei divina como pelas leis humanas.
IMUTABILIDADE DOS PRIMEIROS PRINCPIOS
2. Em um segundo sentido, por subtrao, isto , cessando de pertencer lei natural o que
antes lhe pertencera.
36
especfico da lei humana responder s situaes que derivam da instabilidade do agir humano;
a lei humana caracteriza-se por trazer determinaes convencionais e contingentes da lei natural
dentro de um grupo humano particular, onde inexiste evidncia universal.
14
A) Donde, quanto aos seus princpios primeiros, a lei natural absolutamente imutvel;
VARIAO NAS CONCLUSES
B) Quanto porm aos preceitos secundrios, dos quais dissemos serem quase certas
concluses prprias, prximas aos primeiros princpios, no imutvel, embora seja
sempre reto, na maior parte dos casos, o que ela preceitua.
VARIAO EM CASOS ESPECIAIS
C) Pode contudo mudar-se, num caso particular e poucas vezes, por certas causas especiais,
que impedem a observncia dos seus preceitos, como j se disse (no artigo precedente)37.
RESPOSTA TERCEIRA OBJEO
(S.T., Ia-IIae, q. 94, a. 5, ad 3)
No que concerne ao terceiro argumento, deve dizer-se o seguinte: uma coisa dita
de direito natural de dois modos: de um modo, porque a natureza a isto inclina, como, por
exemplo: no se deve fazer injria a outrem. De outro modo, porque a natureza no
sugere o contrrio: assim poderamos dizer que de direito natural que o homem esteja nu,
porque a natureza no o dotou de veste; uma inveno da arte. Neste sentido diz-se ser de
direito natural que a posse comum de todos os bens e a igual liberdade de todos; de fato, a
diviso da propriedade e a servido no so um produto da natureza, mas da razo do
homem para utilidade da vida humana. Disto v-se que a lei natural no foi mudada a no
ser por uma adio.
LEI NATURAL E PSICOLOGIA HUMANA
(S.T.Ia-IIae, q. 94, a. 6)38
Deve ser dito que, como j dissemos, lei natural pertencem, antes de tudo, certos
preceitos generalssimos, conhecidos de todos; e depois, certos preceitos secundrios, mais
particulares, e que so como que quase concluses prximas dos princpios.
37
Uma vez estabelecida a universalidade da lei natural na espcie humana, trata-se agora de sua
universalidade no tempo e na histria. A lei natural mutvel? Segundo S. Toms de Aquino, a lei
natural pode mudar por adies, e isto por causa de vrios fatores. As tendncias profundas do ser
humano revelam-se fundamentalmente variveis; elas so orientaes, inclinaes que precisam ser
reguladas pois trazem a marca das ambigidades. O conhecimento dessas tendncias pode ser
aperfeioado, e a razo humana pode apreciar melhor certos aspectos dessas tendncias por muito
tempo subestimadas. Assim, por exemplo, o caso da promoo moderna da finalidade
personalizante da sexualidade conjugal, que foi por muitos anos eclipsada pela finalidade
procriadora; esta era preconizada em vista da necessidade social de lutar contra os perigos que
ameaavam a sobrevivncia dos grupos humanos (moralidade infantil, epidemias, misria...).
38
S. Toms de Aquino segue no Sed contra a auctoritas de S. Agostinho, que diz: A tua lei foi
escrita no corao dos homens, e nenhuma iniqidade pode apag-la (Confisses, II,4,9,27s).
15
IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAR
Ora, quanto aos princpios gerai,s a lei natural de nenhum modo pode, em geral,
apagar-se do corao dos homens; mas o pode, relativamente a uma ao particular, se a
razo ficar impedida de aplicar a essa ao o princpio geral, por causa da concupiscncia
ou de qualquer outra paixo, como j dissemos (q.92, art. 1).
POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO
Quanto porm aos outros preceitos secundrios, a lei natural pode ser apagada do
corao humano. Quer por ms persuases, do mesmo modo por que, tambm na ordem
especulativa, do-se erros relativos s concluses necessrias. Quer ainda pelos maus
costumes e hbitos corruptos, como se deu com certos, que no reputavam por pecados os
latrocnios ou os vcios contra a natureza, como tambm o Apstolo diz em Romanos
1,24ss.
4. A ESSNCIA DA LEI
LA LEI FAZ REFERNCIA RAZO
(S.T., Ia-IIae, q.90, a.1)
FUNO ORDENADORA DA RAZO
SOLUO. - A lei certa regra e medida39 dos atos, segundo a qual algum
inclinado a agir ou afastado de certa ao40; fala-se com efeito de lei a partir de o que
deve ser ligado41, pois obrigaria a agir. Ora, a regra e medida dos atos humanos a razo,
39
Indica que se trata de uma considerao objetiva da lei: induzir ou dissuadir uma pessoa
uma ao extrnseca a esta. Portanto, a lei cabe ao legislador, quem quer que ele seja.
40
Para entender esta definio de lei, importante distinguir entre atos do homem e atos
humanos. Nem sempre agimos como homem; a nossa atividade nem sempre traz a marca
de nossa diferena especfica. Atos do homem: os gestos instintivos, no-reflexivos, os tic,
os reflexos, as prticas realizadas sob o influxo de uma coao psquica, de uma sugesto
hipntica, de um raptus de demncia. Atos humanos: so os atos que o homem coloca
enquanto dotado de razo. So atos emanados da vontade livre do homem.
41
Toms de Aquino se referir a duas etimologias de lei (lex). A primeira aparece aqui
no artigo 1: lex viria de ligre (atar, ligar, amarrar, prender) e sugeriria, em primeiro
lugar, a idia de obrigao. A segunda se encontra no final do artigo 4, ad 3m: lex viria de
legre (ler; o primeiro sentido do verbo reunir, juntar, colher; da o sentido de juntar as
letras, ao de ler) e indicaria que, para ser suficientemente promulgada e assegurada em
sua permanncia, uma lei deve normalmente ser escrita. Segundo a opinio atual, lex viria
da raiz indo-europia lagh que evoca a idia de colocar, estabelecer.
16
primeiro princpio42 dos atos humanos, como o manifesta o que anteriormente se disse (cf.
q. 86, a. 1, ad 3)43, pois cabe razo ordenar para o fim44, o qual, segundo o Filsofo, o
primeiro princpio do agir (Fsica, II, 9, 200, a. 22; tica, VII,8, 1151 a.16)45. Com efeito,
em cada gnero, o que princpio, medida e regra do referido gnero, como ocorre com a
unidade46 quanto ao gnero do nmero e o movimento primeiro quanto ao gnero dos
movimentos. Donde seguir-se que a lei algo pertinente razo.
TODA LEI ORDENADA AO BEM COMUM47
(S.T., Ia-IIae, q. 90, a.2)
O FIM PRINCPIO DA AO
SOLUO. - Primeira demonstrao. Deve-se dizer que, como foi dito (no artigo
precedente), a lei pertence ao que princpio dos atos humanos, por ser regra e medida.
Mas, como a razo princpio dos atos humanos, h algo inerente prpria razo que
42
O termo principium significa aquilo de que uma coisa procede de algum modo, e
este princpio pode situar-se seja no plano do conhecimento, seja no plano da realidade
concreta. E ento o princpio pode ser intrnseco, designando o que constitui o ser em
questo em sua estrutura ntima. Esses princpios intrnsecos dos atos humanos so as
faculdades (potentiae) do homem (I, q. 77 e seguintes) e seus habitus correspondentes
(virtudes e vcios). A questo trata dos princpios extrnsecos externos dos atos humanos,
isto , daqueles que, sem se confundirem com o indivduo que age, pois sendo-lhes
exteriores, participam em sua ao de algum modo.
43
Toms de Aquino explica que uma beleza de que dotada a alma humana (nitore) o
fato de que nessa refulge a luz da razo natural.
44
Segundo Toms de Aquino, a atividade especificamente humana tem como caracterstica
uma inteno volitiva que sempre tende para um fim: omne agens agit propter aliquem
finem (todo agente age por causa de algum fim). O motivo da vontade, aquilo que a coloca
em movimento, o seu stimulus, o bem ou o valor de que o objeto se apresenta revestido.
Reconhecemos a distino clssica ao menos a partir de Plato e Aristteles de trs
gneros de bem: o prazeroso, o honesto e o til.
45
Em matria filosfica, a auctoritas Aristteles (384-322 a.C.), discpulo e crtico de
Plato. Elaborou um sistema to vasto que abarcou todos os domnios do saber: filosofia,
anatomia, histria e poltica. Para uma viso geral do pensamento de Aristteles, ver G.
REALE, Histria da Filosofia Antiga 2: Plato e Aristteles.So Paulo,1994
46
Exemplo cientfico e esttico: os nmeros so avaliados segundo a quantidade de
unidade que contm e expressam: neste sentido a unidade o princpio regulador na ordem
(gnero) numrica.
47
Como deixar entrever a doutrina tomista, o bem comum dever ser distributivo, ou seja,
beneficiando todos, indivduos e grupos parciais. No poder ser coletivo, beneficiando
somente a mdia geral ou mesmo a maioria da comunidade.
17
princpio em relao a todo restante. Donde ser necessrio que a lei pertena a isto a ttulo
principal e mximo. Ora, o primeiro princpio no que concerne ao operar, o qual compete
razo prtica, o fim ltimo. Por sua vez, o fim ltimo da vida humana a felicidade ou
beatitude, como acima se estabeleceu (q. 2, a. 1).
Segunda demonstrao. De resto, dado qualquer parte ordenar-se para o todo como
o imperfeito ao perfeito e ser cada homem parte de uma comunidade perfeita, necessrio
que a lei vise a ordenao para a felicidade comum como o que lhe prprio. Eis por que
tambm o Filsofo, na supracitada definio daquilo a que se referem as leis, faz meno
da felicidade e da comunidade poltica. Com efeito, diz ele na tica (v. cap. 1, 1129 b. 17)
que: chamamos de disposies justas, legais, as que produzem a felicidade e as partes
desta, para a comunidade poltica. Pois, a comunidade perfeita a cidade, consoante se diz
na Poltica (I, cap. 1, 1252, 95)48.
Ora, em qualquer gnero aquilo que sobretudo denominado o princpio dos
demais e estes so denominados de acordo com a ordenao a ele. Assim, sendo o fogo
sobretudo quente, causa do calor nos corpos mistos, que so ditos quentes na razo direta
de sua participao do fogo49. Logo, como a lei mxime denominada de acordo com a
ordem ao bem comum, preciso que qualquer outro preceito concernente a uma obra
particular no possua a razo de lei, a no ser por sua ordenao para o bem comum.
Portanto, a toda a lei ordenada50 para o bem comum51.
SOMENTE A SOCIEDADE PODE EMANAR AS LEIS
(S.T., Ia-IIae, q.90, a. 3)
A LEI PARA A COMUNIDADE
48
Face s comunidades imperfeitas (a famlia, a vila), a cidade diferente da polis grega
constitui para Toms de Aquino uma comunidade perfeita, uma vez que pode atender
integralmente as necessidades humanas. Todavia, levando em conta a realidade agitada de
sua poca, ele julga o reino que agrupa vrias cidades como comunidade perfeita
paradigmtica, pois a mais adequada em questes defensivas.
49
Como fcil deduzir do contexto, aqui o Autor considera o fogo como um elemento
simples, cujo efeito prprio o de emanar calor. Falamos de fonte, e de aproximar-se da
fonte e, portanto, participar mais intensamente do efeito ou ao da fonte.
50
No suprfluo observar que com esta frase no se enuncia um juzo histrico, mas um
dever ser, dependente da prpria natureza da lei tal como vem delineada.
51
Como Toms de Aquino afirmar posteriormente na questo 96, o bem comum
complexo: constat ex multis compe-se de muitos elementos. Existem trs elementos
fundamentais: a) respeito s pessoas e a seus direitos fundamentais e inalienveis; b)
suficiente cpia de bens materiais e culturais que dem suporte ao bem-estar e ao
desenvolvimento social; c) paz ordem justa, segura, duradoura, bem como harmonia
social.
18
SOLUO. - A lei, prpria, primria e principalmente, diz respeito, ordem para o
bem comum. Ora, ordenar para o bem comum prprio de todo o povo ou de quem
governa em lugar dele. E, portanto, legislar pertence a todo o povo ou a uma pessoa
pblica, que o rege. Pois, sempre, ordenar para um fim pertence a quem esse fim
prprio52.
NECESSIDADE DA PROMULGAO
(S.T., Ia-IIae, q.90, a. 4)
PRECISO CONHECER AS LEIS
SOLUO. - Como j dissemos (art.1), a lei imposta aos que lhe esto sujeitos,
como regra e medida. Ora, a regra e a medida impe-se aplicando-se aos regulados e
medidos. Por onde, para a lei ter fora de obrigar o que lhe prprio necessrio seja
aplicada aos homens, que por ela devem ser regulados. Ora, essa aplicao se faz chegar a
lei ao conhecimento deles, pela promulgao. Logo, a promulgao necessria para a lei
vir a ter fora53.
RESPOSTA TERCEIRA OBJEO
(S.T., Ia-IIae, q. 90, a. 4, ad 3)
52
A destinao comunitria (o bem comum) da lei exige que esteja sob o responsvel deste
bem comum, o detentor do poder. O texto faz aluso a uma doutrina tipicamente tomista,
objeto de controvrsia na poca atual em razo de sua consonncia poltica: o poder, a
quem cabe a promoo do bem comum reside fundamentalmente na prpria comunidade
(multitudo), que chamaramos hoje povo, ou naquele que deste tem a responsabilidade.
53
Sendo uma norma que diz respeito a seres racionais, indiscutvel o fato de que a lei
deve ser colocada de algum modo ao conhecimento daqueles aos quais ela direcionada. O
termo promulgar assumiu o significado tcnico relativo ao levar ao conhecimento do
pblico, justamente as decises de interesse pblico, e a lei, a primeira entre todas. Os
canonistas e os prprios comentadores de Toms de Aquino despenderam muitas palavras
para distinguir se a promulgao seja da essncia da lei, ou seja, somente uma condio
necessria para que essa obrigue. O sentido de solenidade deste ato permaneceu. A
Constituio Italiana, por exemplo, diz que a funo legislativa exercitada coletivamente
pelas duas Cmaras (art. 70), mas as leis so promulgadas pelo Presidente da Repblica
(art. 73). Permanece claro que no tem sentido uma lei que no seja levada ao
conhecimento do pblico. E pode ser de algum interesse colocar os dois ltimos artigos no
ambiente histrico de Toms de Aquino, no qual, na falta de grandes Estados, e com o
verificar-se de pequenas comunidades polticas e de muitos poderes delegados, adquiria um
maior significado, seja a emanao da suprema autoridade, seja a promulgao oficial da
lei.
19
No que concerne ao terceiro argumento, deve dizer-se o seguinte: a promulgao
presente se aplica ao futuro pela persistncia da escritura, que, de certo modo, est sempre
promulgando a lei. E por isso Isidoro diz: a lei assim chamada em razo da leitura,
porque escrita (Etimologias II, cap. 10, PL 82,130).
Você também pode gostar
- (Manual) Testes de Atenção (Tealt, Teadi, Teaco-Ff)Documento11 páginas(Manual) Testes de Atenção (Tealt, Teadi, Teaco-Ff)Vânia Oliveira83% (6)
- 5 Relatório de Aprendizagem AndreyDocumento16 páginas5 Relatório de Aprendizagem AndreyLuzia Poloniato89% (36)
- Kularnava Tantra - em - PortuguêsDocumento126 páginasKularnava Tantra - em - PortuguêsKaren de Witt100% (23)
- ALLET - Questionário 2 - ALLET - Alfabetização e Letramento - DQR20S2M3Documento8 páginasALLET - Questionário 2 - ALLET - Alfabetização e Letramento - DQR20S2M3Caio Borges100% (1)
- Livro - Ética e EducaçãoDocumento100 páginasLivro - Ética e EducaçãoNuno M Alexandre100% (3)
- iNTRODUÇÃO À TEOLOGIA - APOL 1Documento9 páginasiNTRODUÇÃO À TEOLOGIA - APOL 1Rômulo Lima100% (1)
- E-Book RDC 430 Vol.01 - Especial Mapeamento Térmico de Ambientes ATUALIZADODocumento17 páginasE-Book RDC 430 Vol.01 - Especial Mapeamento Térmico de Ambientes ATUALIZADOLucas CimonariAinda não há avaliações
- HEIDEGGER - Que É Isto - A FilosofiaDocumento16 páginasHEIDEGGER - Que É Isto - A FilosofiaKary QuintellaAinda não há avaliações
- Trab. Antrop. Elisete Basilio PDFDocumento4 páginasTrab. Antrop. Elisete Basilio PDFElisete Basilio FernandoAinda não há avaliações
- Modelo Artigo CientificoDocumento16 páginasModelo Artigo Cientificosnoopy.dasilva100% (2)
- Aula Cof 171#marxismoDocumento14 páginasAula Cof 171#marxismoDiego VillelaAinda não há avaliações
- O Medo Do Conhecimento em BoghossianDocumento6 páginasO Medo Do Conhecimento em Boghossiangrão-de-bicoAinda não há avaliações
- LATOUR, Bruno. Ciência em Ação - ResenhaDocumento3 páginasLATOUR, Bruno. Ciência em Ação - ResenhaalexufuAinda não há avaliações
- 6ºano Cidadania e Civismo TRILHA Semana07Documento1 página6ºano Cidadania e Civismo TRILHA Semana07Matheus OliveiraAinda não há avaliações
- O - ILLUMINATTE - Altus Mutus LiberDocumento14 páginasO - ILLUMINATTE - Altus Mutus Liberfcanalli8265Ainda não há avaliações
- Curriculo Construtivista Humano-III GrupoDocumento16 páginasCurriculo Construtivista Humano-III Grupoguerraldo manuel cucha cucha100% (2)
- Conceituar Ou PreconceituarDocumento4 páginasConceituar Ou PreconceituarKoposaAinda não há avaliações
- CursoApometria Auxílio EspiritualDocumento12 páginasCursoApometria Auxílio EspiritualArthur ErpenAinda não há avaliações
- Gil Ines A Atmosfera Como Figura FilmicaDocumento6 páginasGil Ines A Atmosfera Como Figura FilmicaAlexandre VerasAinda não há avaliações
- Ebook em PDF Baixar o CeuDocumento177 páginasEbook em PDF Baixar o CeuVictor Adelino Ausina Mota100% (1)
- Metodologias AtivasDocumento9 páginasMetodologias AtivasLuís Guilherme HollAinda não há avaliações
- Temas de Pesquisa em Ciência Da Informação No BrasilDocumento341 páginasTemas de Pesquisa em Ciência Da Informação No BrasilRoger GuedesAinda não há avaliações
- Informação e Competitividade - A Contextualização Da Gestão Do Conhecimento Nos Processos OrganizacionaisDocumento10 páginasInformação e Competitividade - A Contextualização Da Gestão Do Conhecimento Nos Processos OrganizacionaiscristianoAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento19 páginas1 PBpablopessoa2604ptAinda não há avaliações
- Apostila - Fome de Gols - Ericão Das ApostasDocumento21 páginasApostila - Fome de Gols - Ericão Das ApostasAntonio Batista Filho Batista da Honda100% (1)
- Ensino No Sesi-Sp - PDF 04.12Documento26 páginasEnsino No Sesi-Sp - PDF 04.12Marcos P. FernandesAinda não há avaliações
- Como Ler Combinações de CartasDocumento41 páginasComo Ler Combinações de CartasRafael F. Sadik100% (2)
- Quadro de Sistematização - Vídeo VYGOTSKYDocumento4 páginasQuadro de Sistematização - Vídeo VYGOTSKYWANESSA MARQUES DA SILVAAinda não há avaliações
- Texto de Filosofia Ensino MédioDocumento2 páginasTexto de Filosofia Ensino MédioRibas FilhoAinda não há avaliações
- Trabalho Final - Antropologia e ArteDocumento10 páginasTrabalho Final - Antropologia e Artemariana mariaAinda não há avaliações