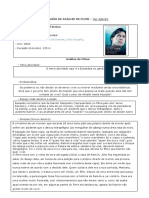Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Democracia - Velhas e Novas Controversias
Democracia - Velhas e Novas Controversias
Enviado por
Helton Luiz LemosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Democracia - Velhas e Novas Controversias
Democracia - Velhas e Novas Controversias
Enviado por
Helton Luiz LemosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Estudos de Psicologia 1997,
2(2), 287-312
Democracia
287
Democracia: velhas e novas
controvrsias1
Antnio Cabral Neto
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Resumo:
A discusso realizada neste artigo busca sistematizar
elementos essenciais em torno do tema democracia.
Sistematiza fragmentos da democracia dos antigos; analisa a
origem e evoluo da democracia dos modernos, explicitando
a sua relao com o liberalismo e discute a relao democracia
e bem-estar social em pases de capitalismo avanado e no
Brasil. A concluso sinaliza para a necessidade de ampliao
da democracia, articulando as suas dimenses poltica,
econmica e cultural. Isso implicaria a incorporao
organizada dos atores sociais aos processos polticos e
administrativos e o acesso da populao aos bens materiais,
culturais e educacionais.
Key-words:
Democracy,
Politics,
Participation,
Freedom,
Exclusion
Palavraschave:
Democracia,
Poltica,
Participao,
Igualdade,
Excluso.
Abstract:
Democracy: old and new controversies. In this article the
author searches for clarification of essential elements around
the theme democracy. He analyses fragments of old
democracy, the origin and evolution of modern democracy,
making clear its relationship with liberalism. He also discusses
the relationship between democracy and social well being in
countries of advanced capitalism and Brazil. The conclusion
identifies the need for the expansion of democracy, articulating
its political, economic and cultural dimensions. This would
imply in an organised linking of the social actors to political
and administrative processes, as well as the access of the
population to goods, both cultural and educational.
288
A. Cabral Neto
democracia um tema bastante antigo e explorado por vrios
autores. Entretanto, configura-se, na atualidade, como uma
rea de estudo bastante significativa, por apresentar-se
contemporaneamente como o regime defendido por quase todas as
correntes de pensamento, independente de suas concepes polticas
e ideolgicas. certo, porm, que no embate poltico a defesa da
democracia assume perspectivas diversas. Este artigo coloca-se na
direo de sistematizar elementos que possam contribuir para o debate
dessa temtica. O eixo central da anlise situa-se na perspectiva de
explicitar, em cada experincia particular, a configurao que assumiu
a relao incluso-excluso dos atores sociais no jogo democrtico.
Sobre a democracia dos antigos
A democracia, na forma como foi evidenciada desde a antigidade
at os dias atuais, traz em si um conjunto de contradies que redundou
numa maior ou menor incorporao da populao ao jogo democrtico.
Em sua forma histrica, a democracia dos antigos, expressa na
experincia ateniense, era uma democracia direta que se realizava num
espao restrito - a cidade/Estado grega. Ela, a democracia, se
processava por intermdio de um sistema de assemblias, s quais era
atribudo o poder de tomar todas as decises polticas. O
comparecimento assemblia era teoricamente permitido a todo
cidado, no havia burocracia e o governo era exercido pelo povo.
A condio de cidadania em Atenas, todavia, era adquirida apenas
por pessoas do sexo masculino, com mais de dezoito anos de idade,
filhas de pai e me atenienses. possvel indicar que a democracia
ateniense, no plano das idias, buscava criar as condies estruturais
para assegurar, a todo aquele que tivesse adquirido o status de cidado,
a participao no controle dos negcios pblicos. Apenas os cidados
estavam credenciados para usufrurem plenamente dos direitos civis
e polticos, podendo, por conseguinte, participar diretamente do
governo e de suas instituies polticas (assemblias deliberativas e
as magistraturas).
A democracia ateniense foi, dessa forma, marcada por fortes
elementos de excluso, na medida em que no se estendia a toda
populao. Dela foram excludos os metecos - estrangeiros
Democracia
289
domiciliados em Atenas, na sua grande maioria gregos de outras
regies - que, mesmo estando obrigados a pagar impostos e a prestar
o servio militar, tinham vedada a participao em cargos pblicos
por no pertencerem demos. Foram igualmente excludos os escravos,
que constituam a grande parte da populao, as mulheres e os jovens
com idade inferior a dezoito anos.
Ao mesmo tempo em que o corpo poltico na democracia ateniense
era constitudo por uma elite minoritria, havia tambm problemas no
interior mesmo da prpria categoria dos cidados no que diz respeito
s possibilidades reais de participao.
Teoricamente, a assemblia era integrada por todos os cidados,
porm, na prtica, o nmero dos que a ela compareciam era, segundo
os registros histricos, relativamente pequeno. A freqncia eclsia
(assemblia popular) era uma prtica mais constante entre os
trabalhadores e negociantes da cidade os quais, pela sua localizao
geogrfica, encontravam mais facilidades para exercerem os direitos
polticos, do que os habitantes do interior e do litoral, que a ela
compareciam com pouca intensidade. A freqncia dos segmentos
mais ricos da populao urbana assemblia era, tambm, pouco
significativa, visto que esses setores, tradicionalmente, tinham um
comportamento reticente frente ao regime democrtico (Burns, 1957;
Finley, 1988).
Os estudos que tratam dessa problemtica destacam a existncia
de indcios os quais sugerem que apenas um nmero reduzido de
cidados exerciam o direito de falar na Assemblia. Era depositada
em alguns lderes uma certa credibilidade no sentido de formular as
linhas da conduta poltica a ser seguida. Entretanto, a deciso sobre a
adoo ou no dessa poltica cabia sempre assemblia popular e
no ao lder. Nesses termos, o reconhecimento por parte do corpo
poltico da necessidade de ter uma liderana no implicava, em
hiptese alguma, a renncia do seu poder decisrio.
O corpo poltico da democracia ateniense era formado por
membros considerados absolutamente iguais, porque todos eram livres.
A liberdade era o critrio que determinava a igualdade. A liberdade
era, segundo Aristteles, o princpio da prtica democrtica. Porm,
290
A. Cabral Neto
a igualdade do corpo poltico, na democracia ateniense, era apenas
poltica e no econmica, na medida em que era constitudo por grupos
de origem social bastante diversificada. Dela faziam parte a aristocracia, que trazia consigo todos os hbitos da nobreza; a classe mdia
rural, constituda por agricultores que ansiavam por liberdade; e a
populao urbana integrada pelos negociantes, industriais e trabalhadores de todas as categorias, que, ao lado de segmentos da populao
rural, formavam um forte sustentculo das idias democrticas.
O nvel de instruo no era um fator determinante para a condio
de cidado. No corpo poltico da democracia ateniense conviviam,
lado a lado, os camponeses, comerciantes e artesos, que possuam
um baixo nvel de instruo, com as classes mais elevadas, possuidoras
de uma instruo mais aprimorada. Porm, teoricamente todos deveriam gozar dos mesmos direitos polticos. J entre os metecos, que
no eram considerados cidados, existiam intelectuais do mais alto
gabarito (Miron, Zeuxis, Hipdamos de Mileto, Hipcrates, Aristteles, por exemplo).
Naquela poca, a educao formal no tinha, pois, o mesmo significado e importncia que assume hoje nas discusses sobre democracia e cidadania. No entanto, o clima democrtico vivido em Atenas
favoreceu enormemente o desenvolvimento intelectual. Ela foi a cidade
na qual residiram os primeiros historiadores e acolheu os sofistas gregos, responsveis pela elaborao de conhecimentos originais para
aquela poca (Scrates, Plato, Aristteles, Herdoto, dentre outros).
A democracia ateniense, ao se circunscrever nos limites de uma
sociedade escravocrata, trazia no seu interior as contradies e os
limites prprios dessa forma de organizao social.
A democracia dos antigos era restrita, tanto no sentido de que
exclua grande parte de populao da vida poltica, quanto no sentido
de que aqueles que teoricamente deveriam ter acesso a ela, na prtica,
no usufruam igualmente nem dos diretos polticos, nem dos bens
materiais produzidos naquele momento.
A democracia que assegurava, no plano formal, a igualdade poltica a todos os cidados, no plano real convivia com uma desigualdade
material, o que, certamente expressava o carter limitativo da participao poltica.
Democracia
291
H de se considerar, todavia, que tal democracia criou um conjunto
de instituies polticas que permitiu viabilizar, dentro dos limites da
poca, uma experincia de expressivo significado histrico. Alm da
participao direta na vida poltica, a democracia ateniense era dotada
de mecanismos que permitiam responsabilizar todos os ocupantes de
postos perante o corpo poltico. Ela exercia, por exemplo, uma ampla
fiscalizao sobre a sua magistratura, que mesmo sendo escolhida
por sorteio, deveria ser submetida a exame prvio (dokimasia) e a
uma devassa completa na sua vida pblica e particular, e, ao terminar
o mandato, a uma rigorosa prestao de contas perante uma comisso
de fiscais pblicos.
Democracia representativa e democracia direta
Aps a derrota da experincia democrtica dos antigos, resultante
da guerra desencadeada entre os anos 431 e 404 A. C., a democracia
praticamente desapareceu do cenrio poltico. Por toda a Idade Mdia
e, notadamente, a partir do sculo XV, com o florescimento do iderio
absolutista - que serviu de sustentculo aos governos despticos - os
ideais democrticos saram de cena por um longo perodo histrico.
com o constitucionalismo moderno, dois mil anos depois, que a
questo da democracia ressurge no panorama poltico, pela mo dos
federalistas, que em seus argumentos contrapem a democracia direta
dos antigos democracia representativa, como sendo esta a nica forma
de governo popular vivel nos Estados modernos. Essas idias esto
fartamente expostas na obra O federalista , escrita por Madison,
Hamilton e Joy. Para esses autores, a democracia representativa era a
forma de governo em que o povo no participava diretamente da
tomada de deciso sobre os temas de seu interesse, mas escolhia os
seus representantes que deveriam tomar por ele tais decises.
O grande desenvolvimento do pensamento democrtico se
processou, no entanto, no seio das revolues burguesas que eclodiram
nos sculos XVII e XVIII na Europa. Essas revolues engendraram
e, ao mesmo tempo, se fundamentaram no iderio liberal que, ao lado
da democracia moderna, se constitui em produto do capitalismo.
A democracia dos modernos se edifica tomando como referncia
o iderio liberal que, de incio, era avesso aos direitos democrticos
292
A. Cabral Neto
mais abrangentes. O pensamento liberal que serve de fundamento para
a democracia dos modernos subordina a condio de cidado propriedade privada. O status de cidado, segundo as formulaes do
liberalismo clssico, conquista-se na sua relao com a propriedade.
O estatuto de cidado est subordinado propriedade - cidado
quem proprietrio. Essa viso tem como desdobramento uma perspectiva restrita de democracia, ou seja, a democracia que est na base
do pensamento liberal , na verdade, a democracia dos proprietrios.
Entretanto, o liberalismo e a democracia, apesar das contraposies histricas que se manifestaram entre eles durante uma longa fase,
uniram-se para a formao da democracia liberal.
Liberalismo e democracia representativa
As bases do pensamento liberal se encontram nas formulaes de
Locke, que, ao teorizar sobre a sociedade inglesa do sculo XVII, em
pleno desenvolvimento da manufatura, defendia a construo de um
Estado da autoridade legislativa baseado na igualdade natural. Para o
autor, o Estado deveria garantir o exerccio e a segurana de propriedade, uma vez que o homem, com o objetivo de garantir a sua propriedade, sente a necessidade de colocar limites sua prpria liberdade.
A igualdade natural proposta por Locke uma igualdade que se
concretiza no trabalho. O Estado seria a corporificao da forma da
autoridade legislativa, que asseguraria a continuidade da reproduo
sistemtica da igualdade natural entre os homens, tendo como primado
o trabalho. O excedente, elemento da desigualdade, manifestaria a conseqncia aleatria de sua prpria natureza, ou seja, resultaria da ganncia.
Locke representava as idias da burguesia que se consolidava em
decorrncia das transformaes em curso na sociedade inglesa, cujo
marco chegou a revelar-se na chamada revoluo gloriosa de 1688.
Da toda a sua teorizao trazer implcita a necessidade de se erigir uma
ordem civil capaz de garantir o direito de propriedade. Para ele: ...
qualquer sociedade poltica no pode existir nem subsistir sem ter em si
o poder de preservar a propriedade - isto , a vida, a liberdade e os bens
- contra os danos e ataques de outros homens ... (Locke, 1983, p. 67).
Nesses termos, a igualdade defendida pelo iderio liberal no plano
do direito s seria alcanada na relao de propriedade.
Democracia
293
Entretanto, como observa Marshall (1967, p. 63), ...o direito de
propriedade no o direito de possuir propriedade, mas um direito de
adquiri-la, caso possvel, e de proteg-la, se puder t-la.
Seguindo essa mesma trilha, Paulo Netto (1990) sugere que os
direitos de participao que podem saturar a ordem civil fundam-se
expressamente na propriedade privada. Lembra, ainda, que A cidadania conceptualizada pela teoria liberal impensvel sem a propriedade (privada). A democracia (poltica) identifica-se com a liberdade
do proprietrio - indivduo livre e cidado so sinnimos pela indispensvel mediao de propriedade (p. 19).
Historicamente, o carter formal da igualdade no se expressou
apenas no campo econmico. Ela se manifestou, tambm, no plano
poltico. O sufrgio universal na Europa do sculo XIX, por exemplo,
era um privilgio dos detentores de propriedade ou daqueles que pagavam uma certa quantia de impostos, ficando, dessa forma, excluda
a maior parte da populao do direito de votar. O voto universal masculino foi um direito conquistado apenas no final do sculo XIX e incio
do sculo XX, sendo o voto feminino uma vitria bem mais recente.
O direito de associao foi, tambm, de incio dificultado em pases de orientao liberal. Em 1791, quando estava em vigor o regime
resultante da Revoluo Francesa, foi promulgada a Lei Le Chapelier
que proibia a formao de associaes operrias. Somente em 1864
foi admitido o direito de greve, e o reconhecimento legal dos sindicatos
foi conquistado apenas em 1884. O primeiro partido poltico de massa
- o Partido da Social - Democracia Alem - foi criado em 1870. Todos
esses avanos foram alcanados, historicamente, com o desenrolar de
grandes lutas sociais, das quais participou ativamente a classe operria.
Assim, a concepo liberal , no seu nascedouro, politicamente
discriminatria. No o liberalismo, segundo Cerroni (1993), que
pe o problema da universal igualdade do gnero humano: o sufrgio
universal, igualdade das mulheres, paridade dos trabalhadores no
so metas do pensamento liberal. No entanto, diz Cerroni que compete:
... ao liberalismo a proclamao do princpio geral da igualdade de
dignidades, que abre as portas a todas as ulteriores reivindicaes
universalistas dos direitos. por isso que o liberalismo, sem pro-
294
A. Cabral Neto
mover esta reivindicao, acaba por torn-la possvel e posteriormente a acolhe (1993, p. 63).
A teoria liberal no se desenvolve nos seus primrdios como teoria
poltica democrtica. Ela recolhe antes as demandas democrticas
num arcabouo terico-prtico que as repem sobre um patamar restrito. (Paulo Netto, 1990, p. 14).
O grande mrito histrico do liberalismo , no entanto, o reconhecimento da igualdade individual, ainda que essa igualdade seja a
igualdade formal. O fato do iderio liberal reconhecer formalmente
que todos os homens so iguais perante a lei, representou um significativo avano para a histria da humanidade. Porm, no significou
que, na prtica, esse direito fosse viabilizado.
Assim, a igualdade que est na base do pensamento liberal a
igualdade jurdica, a igualdade de oportunidade, a qual prev a equidade dos pontos de partida e no dos pontos de chegada. O direito do
cidado o direito igualdade de oportunidade. Seu objetivo eliminar
o privilgio hereditrio. o direito de todos de mostrar e desenvolver
diferenas ou desigualdades; o direito igual de ser reconhecido como
desigual.
mister pr em evidncia que, apesar das controvrsias entre
liberalismo e democracia, ambos se articulam, em um dado momento
histrico, para dar corpo e forma democracia liberal. O nexo entre
liberalismo e democracia repousa no fato de que partem de um ponto
comum: o indivduo.
Como observa Cerroni (1993), a democracia liberal o resultado
da adequao do liberalismo s reivindicaes sociais, polticas e jurdicas dos movimentos democrticos. O liberalismo fornece democracia poltica no s o fundamento da dignidade igual dos homens,
mas tambm um conjunto de regras do jogo vinculadas aos procedimentos necessrios para garantir a livre competio dos indivduos.
A democracia liberal resultou, dessa forma, de uma complexa
articulao entre liberalismo e democracia. O encontro de ambos,
apesar de no ter se efetuado de forma tranqila, evidenciou que a
democracia no incompatvel com o liberalismo, e que em vrios
aspectos ela pode ser considerada como seu prosseguimento.
Democracia
295
Segundo Bobbio (1993), a democracia pode ser considerada como
um prolongamento natural do Estado liberal, no pelo lado do seu
iderio igualitrio, mas pela sua frmula poltica, que a soberania
popular. Esta tornar-se-ia possvel, na medida em que um maior nmero
de cidados tivesse o direito de participar direta e indiretamente da
tomada das decises coletivas, significando a extenso dos direitos
polticos at o limite ltimo do sufrgio universal masculino e feminino.
Bobbio assevera, ainda, que:
Idias liberais e mtodo democrtico vieram gradualmente se
combinando num modo tal que, se verdade que os direitos de
liberdade foram desde o incio a condio necessria para a direta
aplicao das regras do jogo democrtico, igualmente verdadeiro
que, em seguida, o desenvolvimento da democracia se tornou o
principal instrumento para a defesa dos direitos de liberdade (p. 44).
A democracia moderna no seu nascedouro assume a forma de
democracia representativa. A sua marca primeira a representao
poltica, na qual o representante deve estar voltado para atender aos
interesses da nao e no aos interesses particulares dos representados,
isto , o representante no pode ficar sujeito a um mandato vinculado.
Aqui, o controle sobre a representao fica praticamente descartado.
A participao direta radicalmente rejeitada pelos tericos da
democracia moderna. Montesquieu (1979), um dos seus principais
tericos, defendeu no seu livro O Esprito das Leis que: O povo era
excelente para escolher, mas pssimo para governar. Precisava o povo,
portanto, de representantes, que iriam decidir e querer em nome do povo.
Tomando Bobbio (1979) como referncia, pode-se afirmar que o
sistema representativo puro nunca existiu. O Estado representativo
sempre teve que prestar contas ao Estado administrativo que um
Estado que obedece uma lgica de poder descendente e no ascendente, secreta e no pblica, hierarquizada e no autnoma, tendente
imobilidade e no dinmica, conservadora e no inovadora. (p. 52).
O autor revela, ainda, que nunca teve dvidas quanto aos limites
reais e insuperveis do sistema representativo numa sociedade
capitalista selvagem como a italiana. Para ele:
296
A. Cabral Neto
A soberania do cidado est limitada pelo fato das grandes decises quanto
ao desenvolvimento econmico ou no chegarem aos rgos representativos
ou, se chegarem, serem tomadas [...] em sedes onde a grande maioria dos
cidados soberanos no tem a menor voz ativa (Bobbio, 1979 p. 52).
A partir dessas formulaes, conclui que o defeito de tal sistema
no o de ser representativo, mas de no s-lo o bastante. Assim, a
ampliao da representao passaria, necessariamente, pela criao
de condies favorveis no sentido de que o cidado passasse a
interferir concretamente nas decises sociais e econmicas por meio
dos rgos de deciso poltica. A questo, pois, no a de negar o
sistema de representao, mas acionar mecanismos capazes de
aperfeio-lo no interior mesmo da sociedade capitalista.
Democracia direta: uma alternativa democracia representativa?
Rousseau (1983), teorizando no contexto da sociedade francesa
do sculo XVIII- momento em que a sociedade burguesa, aps as
revolues que a edificaram, enfrenta um conjunto de contradies
que pe em cheque o prprio iderio que lhe serviu de suporte -, recoloca a questo da participao direta como uma necessidade histrica.
Nesse contexto, segundo Rousseau, h uma sociedade desigual
cuja igualdade vai se concretizar no Estado, local onde os elementos
desiguais acordam entre si para a criao de um Estado da natureza
capaz de suprimir os elementos limitativos da desigualdade reinante
entre os homens. Para ele, o homem bom em si mesmo; o trabalho
o elemento que o prejudica e o corrompe. Da a necessidade da formulao de um Estado democrtico que resgate este princpio de bondade que o homem tem em si prprio.
Para Rousseau, indispensvel a adoo do contratualismo como
uma forma de legitimar todas as foras da sociedade, uma vez que a
civilizao o elemento perturbador das relaes entre os homens e
tende a violentar a humanidade. Na sua perspectiva, os homens nascem
livres e iguais, mas em todos os lugares esto escravizados pelos grilhes da modernidade civilizatria.
Para superar essas condies, deve-se estabelecer um contrato para
fundar a sociedade baseada na igualdade e na liberdade, visto que:
Democracia
297
Renunciar liberdade renunciar qualidade de homem, aos direitos
da humanidade, e at aos prprios deveres. No h recompensa possvel para quem tudo renuncia. Tal renncia no se compadece com a
natureza do homem, e destituir-se voluntariamente de toda e qualquer
liberdade equivale a excluir a moralidade de suas aes (Rousseau,
1983, p. 27).
Os indivduos, ao se submeterem s regras contratuais, estariam
apenas substituindo a liberdade animal, da qual eram dotados no estado
natural, pela real liberdade de seres racionais submetidos lei. A
sujeio dos indivduos ao Estado resultaria na verdadeira liberdade.
preciso ter presente que, para Rousseau, o Estado no se restringe
ao governo. O Estado por ele considerado como uma comunidade
politicamente organizada, que tem a funo soberana de exprimir a
vontade geral. A autoridade do Estado no pode ser representada,
mas precisa expressar-se diretamente atravs da promulgao, pelo
povo, das leis fundamentais.
Nestes termos, o governo se constitui apenas no agente executivo
do Estado tendo, pois, como funo, no a formulao da vontade
geral, mas simplesmente a tarefa de execut-la. Ademais, a comunidade
poderia estabelecer ou destituir o governo no momento em que
considerasse oportuno.
Nas formulaes de Rousseau, liberdade e igualdade so
inseparveis, de modo que uma no subsiste sem a outra:
... quanto igualdade, no se deve entender por essa palavra que sejam
absolutamente os mesmos graus do poder e de riqueza, mas, quanto ao
poder, que seja distanciado de qualquer violncia e nunca exera seno
em virtude do posto e das leis e, quanto riqueza, que nenhum cidado
seja suficientemente opulento para poder comprar o outro e no haja
nenhum to pobre que, se veja constrangido a vender-se... (1983, p. 66).
Admite o autor que a igualdade plena no possvel de se concretizar. Entretanto, essa formulao de Rousseau pe para a discusso
um elemento importante, na medida em que expressa o entendimento
segundo o qual extremas desigualdades funcionam como elementos
298
A. Cabral Neto
limitativos da liberdade. Veja-se o que diz o prprio Rousseau: Tal
igualdade, dizem, uma quimera do esprito especulativo, que no
pode existir na prtica. Mas, se o abuso inevitvel, segue-se que no
precisemos pelo menos regulament-lo? (1983, p. 67).
evidente que os pressupostos da teoria rousseauniana no
contemplam a igualdade absoluta, principalmente no que se refere ao
nvel de riqueza, mas incluem a defesa de que as desigualdades
existentes no campo econmico no deveriam conduzir desigualdade
poltica.
A igualdade defendida por Rousseau funda-se no princpio da
identidade entre os homens, porm, concretamente, no suprime a
desigualdade existente entre eles, uma vez que a desigualdade parte
mesma da forma de organizao da sociedade dessa poca. No dizer
de Gruppi, os homens no nascem nem livres nem iguais, s se tornam
assim atravs de um processo poltico (1980, p.18).
A igualdade que Rousseau est buscando no homem uma
igualdade intrnseca ao homem mesmo, isto , a bondade, a virtude, a
moral. , portanto, a igualdade como expresso da individualidade,
ou seja, o homem como essncia de si mesmo, da sua bondade.
Seguindo por essa trilha, Rousseau, um dos pais da democracia
moderna, em O Contrato Social, formula as primeiras crticas
democracia representativa. No embate com os defensores do Estado
parlamentar, o autor afirma que a soberania no pode ser representada.
Os deputados do povo, na sua perspectiva, no so seus representantes
e no passando de seus comissrios, nada podem concluir
definitivamente. Rousseau radicaliza o debate sustentando que:
nula toda lei que o povo diretamente no ratificar; em absoluto,
no lei. O povo ingls pensa ser livre e muito se engana, pois s o
durante a eleio dos membros do parlamento; uma vez estes eleitos,
ele escravo, no nada. Durante os breves momentos de sua
liberdade o uso, que dela faz, mostra que merece perd-la. (1983, p.
108).
A crtica de Rousseau democracia representativa pressupe que
o simples ato de votar em eleies no traduz a expresso da vontade
Democracia
299
popular. O autor aponta os limites da democracia representativa e
prope como eixo do que viria a ser o fundamento das exigncias
democrticas contemporneas: a participao popular.
Na sua perspectiva, era necessrio construir uma democracia
direta, na qual o povo fosse capaz de expressar realmente a sua vontade,
em contraposio democracia representativa que a restringia.
A participao direta e individual no processo de tomada de
deciso se constitua no eixo bsico da teoria poltica de Rousseau.
Nela, a participao tem um carter educativo. O sistema ideal de
Rousseau foi concebido, segundo Patemam (1992), para desenvolver
uma ao responsvel, individual, social e poltica como resultado do
processo participativo.
A evoluo da sociedade moderna trouxe uma srie de
transformaes reais que tornaram problemtica a teoria de Rousseau
sobre democracia direta. No entanto, deve-se realar que nela so
identificados elementos essenciais do pensamento democrtico,
principalmente no que se refere a esse carter educativo da
participao.
A defesa da participao direta, como nica forma de expresso
da soberania defendida por Rousseau, no se aplica em sociedades
complexas como as do final do sculo XX. O prprio Rousseau, j
em sua poca, tinha a compreenso de que: Jamais existiu, jamais
existir uma democracia verdadeira(1983, p. 84).
Essa forma de governo exigiria certas condies difceis de serem
construdas: um Estado muito pequeno, uma grande simplicidade de
costumes, bastante igualdade entre as classes e as fortunas, e pouco
ou nada de luxo. Sugere, ainda, o autor que: Se existisse um povo de
deuses, governar-se-ia democraticamente. Governo to perfeito no
convm aos homens (Rousseau, 1983, p. 86).
preciso reconhecer que a adoo de mecanismos de participao
direta da populao precisam ser reconstrudos de acordo com as
circunstncias presentes, com vistas consolidao da democracia
possvel.
Nesses termos, a democracia direta no deve ser colocada como
uma alternativa democracia representativa, mas como algo complementar. Essa articulao entre democracia representativa e democracia
300
A. Cabral Neto
direta uma necessidade histrica, porm ser insuficiente se no
estiver sintonizada com nveis razoveis de democracia econmica e
cultural.
Democracia poltica e bem-estar social
As transformaes ocorridas nos sculos XIX e XX, tanto no campo poltico quanto no econmico, trazem, no seu interior, elementos
que pem a necessidade de aprimorar mecanismos com vistas a ampliar a democracia. A questo colocada nesse momento no
democracia representativa ou democracia direta. Ela assume uma outra
configurao: como articular os avanos da democracia poltica com
a criao de condies mnimas de bem-estar para as grandes massas
da populao.
Como observa Bobbio (1987), o processo de alargamento da democracia na sociedade contempornea no deve ocorrer apenas pela
integrao da democracia representativa com a democracia direta, mas,
sobretudo, pela extenso da democratizao a corpos diferentes daqueles propriamente polticos. Assinala o referido autor:
... pode-se dizer que, se hoje se deve falar de um desenvolvimento da
democracia, ela consiste no tanto [...] na substituio da democracia
representativa pela democracia direta, [...] mas na passagem da
democracia na esfera poltica [...] para a democracia na esfera social
... (Bobbio, 1987, p. 155-6).
A ampliao da democracia poltica deve, necessariamente, estar
vinculada com reduo das desigualdades sociais. O significado da
democracia fica incompleto se buscar dar conta, unicamente, da
democracia como forma de governo.
A defesa da igualdade, no que se refere ao nvel de riqueza,
uma utopia nas sociedades capitalistas. Porm, a histria tem
testemunhado que extremas desigualdades sociais funcionam como
fator limitativo da democracia. Desigualdade econmica acentuada
conduz, tambm, desigualdade poltica.
Nessa perspectiva, discusso sobre a ampliao da dimenso
poltica da democracia deve ser incorporado um outro elemento de
Democracia
301
igual importncia: a condio scio-econmica dos atores sociais que
esto envolvidos no jogo democrtico. Alm da elevao do nmero
de eleitores e das instncias onde eles devem exercer o seu direito de
voto, preciso levar em conta o crescimento qualitativo do eleitorado,
no que diz respeito ao seu nvel de vida, de escolarizao e s condies
objetivas de participar das decises polticas, dos processos
administrativos e de exercer o controle sobre os seus representantes.
Democracia poltica e bem-estar social em pases de
capitalismo avanado
Nos pases de tradio democrtica conquistou-se o sufrgio
universal, organizaram-se os sindicatos, criaram-se os partidos de
massa, ao mesmo tempo em que foram incorporados, s suas
Constituies, institutos de participao direta e mecanismos de
aprimoramento da representao, o que resultou no alargamento da
dimenso poltica da democracia.
Os avanos verificados no campo poltico foram importantes para
o surgimento de demandas no sentido da criao de uma infra-estrutura
social e da proviso de bens pblicos que se colocavam na perspectiva
da reduo das desigualdades sociais. Ao lado da ampliao da esfera
pblica, setores organizados dos trabalhadores conseguiram avanos
no processo de negociao com os patres, resultando em melhorias
significativas do seu padro de vida.
importante reter que, nos pases de capitalismo avanado, as
polticas sociais numa perspectiva mais abrangente resultaram de uma
necessidade intrnseca s mudanas estruturais que estavam se
processando. A modernizao do processo de trabalho imposta pela
chamada terceira revoluo industrial resultou numa crescente
desmercantilizao da fora de trabalho. Em decorrncia de tal
modernizao, foi vetado a grandes parcelas da populao transformar
o seu potencial de trabalho em mercadoria, ou seja, elas no
conseguiam mais fazer de sua capacidade de trabalho elemento de
sua sobrevivncia.
As polticas sociais, nessas circunstncias, na avaliao de Offe
(1989), apresentam-se como a soluo para o conjunto das
necessidades postas em funo das modificaes que se operam no
302
A. Cabral Neto
processo produtivo. Tomando, mais uma vez, Offe como interlocutor,
possvel sugerir que, no contexto de tais modificaes, o Estado
chamado a organizar uma gama de servios para atender quelas
pessoas que no conseguem (temporria ou definitavamente) ter acesso
ao mercado formal de trabalho.
A formulao de polticas sociais mais abrangentes nos pases de
capitalismo avanado est relacionada, tambm, com o aperfeioamento da democracia poltica que credenciou as massas, tanto para
pressionar o Estado no sentido de ampliar os servios, os quais
funcionavam com salrio indireto, quanto para pressionar os patres
por melhores condies de trabalho e salariais.
Os avanos na dimenso poltica da democracia proporcionaram
algumas condies favorveis para o desenvolvimento do chamado
Estado de Bem-Estar Social, o qual, segundo a anlise de Bobbio,
resultou de uma resposta a uma demanda vinda de baixo, a uma
demanda democrtica no sentido pleno da palavra (1986, p. 35).
certo que a ampliao dos servios prprios do Estado Social
produto de presses decorrentes do exerccio da democracia. A
extenso do sufrgio e a crescente organizao dos trabalhadores tem
como desdobramento o crescimento de expectativas das massas que
passam a exigir dos poderes constitudos providncias polticas.
Outro fator que contribuiu para a ampliao das polticas sociais
est relacionado com o papel do Estado enquanto articulador de
mecanismos de ordenao de conflitos. Nesse sentido, Cerroni (1993)
indica que: O Estado de Bem-Estar Social cresce sobre a onda de
grandes reivindicaes e, por isso, tambm constitui uma resposta
cautelar s grandes agitaes verificadas aps a primeira guerra
mundial(p.155).
Nesses termos, a origem de polticas sociais amplas, prprias do
Estado Social, deve ser entendida dialeticamente como resultado da
destruio das formas tradicionais de trabalho e de subsistncia,
decorrentes das mudanas estruturais verificadas nas sociedades
capitalistas; das lutas sociais que emergiram, naquele momento,
clamando por justia; e de uma reposta do Estado no sentido de que
tais demandas no ultrapassassem a propores que colocassem em
Democracia
303
cheque o essencial da estrutura social, a qual vinha sendo questionada
pelo campo socialista que lutava por transformaes mais radicais,
visando a eliminao das desigualdades sociais.
A anlise efetuada por Offe (1991) sugere que as polticas sociais
do Estado de Bem-Estar serviram como a mais importante frmula de
paz para as democracias capitalistas desenvolvidas. Essa frmula consistiu, fundamentalmente, na obrigao explcita do Estado de proporcionar assistncia e apoio, em dinheiro ou em servio, aos cidados
que corriam os riscos prprios da sociedade de mercado. Assim,
durante todo o perodo do ps-guerra, segundo o autor, o Estado Social
foi celebrado como a soluo poltica para as contradies sociais.
O padro clssico de Welfare State, que ganhou ampla aceitao
aps a Segunda Guerra Mundial e foi colocado em prtica nos pases
do primeiro mundo, desenvolveu-se, essencialmente, num perodo de
grande crescimento econmico.
A poltica adotada nesses pases promoveu uma melhoria das
condies de vida de amplos setores da classe trabalhadora em todos
os sentidos, apesar de permanecer a diferenciao de acordo com a
qualificao e o tipo de trabalho realizado. Todavia, o Estado do BemEstar Social significou uma estratgia adotada pelo capitalismo para
organizar uma nova forma de reproduo. Ele financiou o capital, e
serviu de substrato ideolgico para garantir a manuteno da sociedade
capitalista, agora em um novo patamar: o capitalismo humanizado.
Da, a to decantada propaganda que colocou o Estado do BemEstar Social, nos moldes em que vinha sendo desenvolvido na Europa,
como sendo o modelo capaz de propiciar ao cidado os seus direitos
fundamentais de liberdade e bem-estar. Esse padro estatal teria sido
capaz de pr fim aos conflitos sociais e promover a harmonia entre o
capital e o trabalho.
O Estado do Bem-Estar Social parece atender aos interesses de
todos, na medida em que tem uma proposta que engloba tanto a reproduo do capital quanto da fora de trabalho. Todavia, essencial
ressaltar que isso no elimina o carter de classe do Estado. Ao delimitar esse padro de financiamento, o Estado assim o faz para assegurar
o status quo da sociedade de classes, permitindo, em ltima anlise, a
304
A. Cabral Neto
reproduo de uma sociedade calcada na desigualdade e na explorao,
mas que, aparentemente, igualitria e harmnica, ao garantir um
mnimo para quase todos.
A garantia do mnimo para todos est ameaada, inclusive, nos
pases do primeiro mundo, na medida em que a demanda por servios
e bens pblicos vem crescendo em funo da desmercantilizao da
fora de trabalho, por um lado, e por outro, pela retrao do Estado
no que se refere ao financiamento das polticas de carter social e sua
ampliao no setor de tecnologia de ponta, que favorece diretamente
ao capital. A crise do Welfare State se expressa, pois, com mais nfase
do lado da reproduo da fora de trabalho do que do lado do capital.
Desde meados da dcada de 70, o Estado do Bem-Estar passou a
enfrentar problemas. Em muitas sociedades capitalistas, a paz
estabelecida pelas polticas do Bem-Estar tornou-se objeto de dvida,
crtica profunda e de conflito poltico. como se o prprio veculo
mais amplamente aceito de soluo dos problemas polticos tivesse
se tornado problemtico, e pelo menos a confiana incondicional no
Estado Social e a sua expanso tivessem rapidamente se evaporado
(Offe, 1991, p. 114).
Habermas, citado por Offe (1989), em um nvel mais analtico,
levantou o problema de que o Estado do Bem-Estar, aps haver conciliado, com alguns limites, a tenso entre a economia capitalista e a
poltica democrtica, est agora se confrontando com um duplo problema. Enfrenta a desconfiana, de um lado, do ncleo da classe trabalhadora e das categorias sociais em ascenso que abandonaram os ideais
coletivistas e, de outro, daqueles que, embora reconhecendo alguma
conquista social pelo Estado do Bem-Estar, tambm se conscientizam
de sua contradio interna entre o poder estatal e o mundo vivido, ou
entre o mtodo do Estado do Bem-Estar e seus objetivos (p. 85).
King (1988) sugere, entretanto, que os esforos crescentes de
governos conservadores para restringir o tamanho agregado do setor
pblico no conseguem grandes xitos, ainda que sua taxa de
crescimento tenha diminudo. As despesas com assistncia social foram
reduzidas em algumas reas, se bem que num grau significativamente
menor do que o originalmente planejado.
Democracia
305
Na Inglaterra, por exemplo, segundo esse autor, a reduo mais
dramtica verificou-se no setor de habitao pblica. No entanto, as
despesas pblicas em educao, servios sociais e de sade e
seguridade social cresceram a uma taxa superior planejada. Nos
Estado Unidos, a maioria dos cortes propostos no oramento do
governo Reagan foi aceita pelo congresso, mas houve resistncia nos
anos subseqentes. O impulso nos cortes acordados nos gastos sociais
estava na direo planejada pela administrao, mas num grau inferior
ao desejado. Naquele momento, as despesas com assistncia ao
desemprego e programas de assistncia mdica cresceram, se bem
que houve reduo nos gastos com educao e auxlios a necessitados.
Obviamente, a condio de cidadania que serviu de base para a
edificao do tipo clssico de Welfare (classificado por Ascoli, 1984
como institucional-redistributivo), voltado para garantir a todos os
cidados, amplos bens e servios produzidos e criados pelo Estado e
distribudos gratuitamente com base em critrios universalistas, est
historicamente sendo posta em xeque pelas contradies prprias da
sociedade organizada, tendo por base a valorizao do capital. Esse
padro foi exeqvel at o momento em que o processo de acumulao suportou financiar, em decorrncia do grande crescimento econmico, um certo nvel de bem-estar, sem ameaar as taxas de lucro.
A esfera pblica erigida nesses pases foi capaz de propiciar as
condies favorveis reproduo ampliada do capital e do trabalho
em nveis aceitveis, alm de prestar assistncia queles que foram
postos margem do processo de trabalho. No entanto, a crise que
comeou a se configurar a partir da dcada de setenta tem imposto
limites a tal padro de bem-estar, inclusive para os setores que esto
integrados ao processo de trabalho.
Assim, mesmo reconhecendo os ganhos sociais advindos das chamadas polticas de bem-estar, preciso ressaltar que no final do sculo
XX no so raras as evidncias de que, na maioria dos pases do
primeiro mundo, as condies de vida de certos setores da populao
so cada vez mais precrias. Evidencia-se, dessa forma, a existncia
de um sistema social em que h cidados, de fato, e cidados cujos
direitos tm a sua realizao assegurada apenas no nvel formal.
306
A. Cabral Neto
Esse um quadro que tende a agravar-se visto que o Estado, sob
a gide do neoliberalismo, se move no sentido de reduzir a amplitude
das polticas sociais.
No contexto das polticas neoliberais, comeam a tomar corpo e
ganhar adeptos as idias de descentralizao, participao e de autogesto para gerir e administrar a poltica social, agora no mais da
abundncia, que caracterizou o seu perodo ureo, mas da escassez
prpria do momento de crise. Assim, parece ser possvel aventar a
hiptese de que esto se constituindo novos padres de polticas
sociais, diversos daquele do tipo clssico, que indicam uma mudana
no comportamento do Estado, tanto na concepo como na gesto
das polticas pblicas, adequando-as s circunstncias do momento
atual. O eixo da cidadania fica deslocado do atendimento amplo s
necessidades bsicas do cidado (poltica centralizada do Welfare),
para o atendimento mnimo com participao dos clientes sob a custdia direta ou indireta do Estado.
A dimenso econmica da democracia, circunscrita aos limites
do capitalismo, no pode, pois, entrar em contradio com a lgica
que rege a organizao desse tipo de sociedade. A redistribuio de
renda ser sempre efetuada dentro de parmetros que no ameacem a
propriedade privada dos meios de produo, no eliminem a diferenciao de classe, e nem mesmo, comprometam, em algum nvel, as
taxas de lucro.
Pode-se afirmar, todavia, que nos pases onde a democracia poltica foi aperfeioada, criaram-se as condies objetivas para desencadear o processo, ainda que restrito, de redistribuio de renda, ocorrendo uma considervel incorporao da populao ao sistema educacional. Em outras palavras, verificou-se uma certa articulao entre
as dimenses poltica, econmica e cultural da democracia, no significando, porm, que todos tenham usufrudo igualmente dos benefcios
advindos de tal articulao.
Democracia poltica e bem-estar no Brasil
As particularidades histricas do desenvolvimento do capitalismo,
em pases como o Brasil, imprimem democracia caractersticas
Democracia
307
diversas daquele padro clssico das experincias de pases de
capitalismo avanado.
As especificidades brasileiras traduzem-se na edificao de uma
sociedade com pouca ou quase nenhuma tradio democrtica. Nela
o conservadorismo est imbricado, no apenas no aparelho de Estado,
mas atravessa, de ponta a ponta, toda a sociedade civil. As regras do
jogo democrtico, definidas predominantemente pelas elites em funo
dos seus interesses particulares, tm dificultado tanto a participao
poltica mais abrangente da sociedade civil, principalmente das massas
desorganizadas, quanto o acesso aos bens materiais e culturais
socialmente produzidos.
O autoritarismo tem se expressado, at mesmo, nos perodos em
que a democracia desponta como horizonte poltico para a vida
brasileira. O processo de democratizao no Brasil tem sido, assim,
historicamente, perpassado por uma srie de contradies que tm
dificultado a ampliao da democracia.
Isso no significa negar que vm ocorrendo, no pas, principalmente nas ltimas dcadas, algumas inovaes no campo da democracia poltica, traduzidas pelo aumento do nmero de eleitores que
tem comparecido s eleies nos ltimos pleitos, pela organizao
crescente dos trabalhadores em sindicatos e pela incluso, na Constituio de 1988, de elementos de aprimoramento da democracia
poltica, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, e o direito
pblico subjetivo obrigatoriedade do acesso ao ensino.
Se no campo poltico, verificaram-se avanos democrticos, ainda
que limitados, no plano dos diretos sociais no ocorreram alteraes
significativas, uma vez que o crescimento econmico no Brasil no
foi acompanhado da adoo de programas sociais amplos capazes de
modificar o quadro social.
interessante notar que grande parte dos ganhos conquistados e
formalmente includos na Constituio de 1988 no foram regulamentados e nem postos em prtica, ou foram, em alguns casos, beneficiando
apenas determinados segmentos da sociedade. Na dcada de 90, inclusive, as polticas neoliberais adotadas pelos dois ltimos governos
vm ameaando alguns ganhos sociais conquistados. Assim, a seleti-
308
A. Cabral Neto
vidade/excluso continuam sendo a marca registrada das polticas sociais no Brasil.
Oliveira (1990), analisando a economia brasileira, sugere que ela
caracterizada por uma regulao truncada, isto , marcada simultaneamente pela ausncia de regras estveis, de direitos, e pela existncia de uma regulao caso a caso. As polticas, coerentemente com
essa perspectiva econmica, atendem, quase sempre, a interesses de
grupos empresariais especficos, dificultando, assim, a elaborao de
polticas gerais e abrangentes.
As polticas sociais tambm no fogem a essa regra. Elas tm se
caracterizado pela falta de polticas universalistas, tais como as polticas de bem-estar praticadas em pases do chamado primeiro mundo,
constituindo-se, portanto, num padro seletivo, perpassado por sua
vez, pelo clientelismo e pelo fisiologismo poltico. Assim, no pertinente discutir a poltica social tomando como referncia o padro
clssico de Welfare prprio dos pases desenvolvidos, uma vez que,
historicamente, o nosso modelo no adquiriu caractersticas que o
aproximassem de tal padro.
No quadro brasileiro, o padro de financiamento adotado pelo
Estado tem favorecido ao capital em detrimento do trabalho, com muito
mais nfase do que nos pases do primeiro mundo. Ele desenvolveu,
de um lado, uma ampla poltica de beneficiamento do capital, especificamente no que concerne ao investimento na indstria de base, a
juros subsidiados, a emprstimos a fundo perdido e tecnologia. Do
outro lado, ps em prtica uma poltica social seletiva e assistencialista
perpassada, por sua vez, pelo clientelismo e agravada pela corrupo.
No se desconhece, no entanto que, gradativamente, o Estado
brasileiro vem ampliando a oferta de bens e servios pblicos, pelo
menos em termos quantitativos, em alguns setores e para algumas
faixas da populao. So, todavia, servios de qualidade precria (por
exemplo, sade e educao bsica). Ao lado dessa ampliao seletiva
assiste-se, tambm, a uma certa tendncia, mais ao nvel do discurso
do que da prtica, para criar mecanismos de participao popular na
gesto e controle das polticas sociais. Em relao ao financiamento
do capital, existe uma forte inclinao para aumentar os gastos com
Democracia
309
tecnologia, com vistas a modernizar a indstria e buscar um padro
de competitividade no cenrio internacional.
Tem-se, pois, no Brasil, uma esfera pblica que passou a ser o
pressuposto da reproduo privilegiada do capital de um lado, e, de
outro, da reproduo seletiva e limitada da fora de trabalho. O Estado
ps em prtica uma poltica de subsdios que beneficiou de forma ampla
as elites empresariais, porm, foi incapaz de implementar uma poltica
social para reduzir a crescente desigualdade social existente no pas.
Diante de tais circunstncias, torna-se difcil fazer referncia ao
Estado de Bem-Estar Social no Brasil, uma vez que a poltica posta
em prtica, nesse pas, apesar de incorporar, em nvel de discurso,
princpios tericos que serviram de fundamento s polticas de Welfare
State, tem demarcado, do ponto de vista prtico, mais uma situao
de mal-estar do que de bem-estar para amplos setores da sociedade.
Manzini-Covre (1994), lanando um olhar comparativo sobre as
realidades sociais brasileira e italiana, indica que (o) Brasil [...] no
apresenta quadro de seguridade social, persiste mais a inseguridade
social, a violncia, a excluso social, a misria, o extermnio de crianas. [...] O Brasil conhece o Estado do Mal-Estar(p. 179).
No Brasil, tem-se uma democracia perpassada por contradies
de ordem poltica e econmica. Entre ns parece ser plausvel a hiptese de que as desigualdades econmicas funcionem como um fator
limitativo da democracia. Isso porque a ampliao das dimenses poltica e cultural da democracia esto intimamente ligadas criao de
condies sociais mnimas para permitir ao cidado participar do jogo
democrtico.
Esse posicionamento no representa a defesa da tese segundo a
qual basta haver um mnimo de bem-estar social para que se avance
no processo de democratizao da sociedade. Polticas sociais mais
amplas nem sempre so resultantes de propostas de governos
democrticos. Existem evidncias de que alguns pases em perodos
de autoritarismo foram capazes de conceber programas sociais com
um nvel de cobertura relativamente amplo. O Brasil, por exemplo,
construiu o seu ncleo de polticas sociais em perodos de extremo
autoritarismo. Porm, se no existe uma relao de causa e efeito entre
310
A. Cabral Neto
condies sociais mnimas e democracia, no se pode desprezar a
influncia que a primeira exerce sobre a segunda.
Entende-se, como ODonnell (1988), que uma sociedade como a
brasileira - que carrega a pesada herana da escravido, e na qual a
burguesia no foi submetida experincia civilizadora de ter que se
defrontar e negociar com sua contraparte de classe - tem enormes
dificuldades em todos os planos, inclusive no poltico, para reconhecer
e institucionalizar a diversidade dos outros. Nessas circunstncias, a
tarefa de construir, no pas, uma democracia poltica inclui, portanto,
o esforo para alcanar graus razoveis de modernizao e de
democratizao de certas relaes sociais (a comear pelas do trabalho)
e do papel do Estado (a comear pelas polticas sociais).
Concluso
A concluso esboada neste artigo encaminha-se na perspectiva
de reconhecer que a ampliao da dimenso poltica da democracia
no garante, necessariamente, a democratizao dos bens materiais e
culturais socialmente produzidos. Porm, preciso reter que tal
ampliao gera determinadas condies que favorecem a organizao
da sociedade civil, credenciando-a para encaminhar suas
reivindicaes de forma mais ordenada.
Enfim, pode-se indicar - e aqui uma vez mais estamos tomando
Bobbio como interlocutor - que a ampliao da democracia coloca-se
contemporaneamente como uma meta que deve ser buscada. Tal
ampliao requer a incorporao organizada dos atores sociais, tanto
em processos polticos, quanto em processos administrativos. Aliado
a isso indica-se, tambm, a necessidade da criao de condies sociais
aceitveis para que a populao possa se credenciar para participar
de tais processos. Isto significa que a democracia, contemporaneamente, no pode se consolidar, seno quando encerre em seus limites
as dimenses que traduzem o social, o poltico e o cultural.
Referncias
Ascoli, U. (1984). Il sistema italiano de Welfare. In (Org.), Welfare
State all'italiana. Roma-Bari: Laterza.
Democracia
311
Bobbio, N. (1979). Quais as alternativas para a democracia
representativa. In O marxismo e o Estado. (pp. 33-54). Rio de
janeiro: Graal.
Bobbio, N. (1986). O futuro da democracia; um desafio das regras
do jogo (5a. ed.). Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Bobbio, N. (1987). Estado governo sociedade; para uma teoria geral
da poltica (2a. ed.). Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Bobbio, N. (1993). Liberalismo e democracia (4a. ed.). So Paulo:
Brasiliense.
Burns, E. M. (1957). Histria da civilizao ocidental (4a. ed.). Rio
de Janeiro, Porto Alegre, So Paulo: Globo.
Cerroni, U. (1993). Poltica: mtodos, teorias, processos, sujeitos,
instituies, categorias (M. A. Nogueira, Trad.). So Paulo:
Brasiliense.
Manzinni-Covre, M. de L. (1994). Fragmentos de uma cidadania;
um estudo na Itlia para pensar o Brasil. So Paulo. Tese de Livredocncia no-publicada, Faculdade de Educao, Universidade
de So Paulo, So Paulo.
Finley, M. I. (1988). Democracia antiga e moderna (W. Barcellos &
S. Bedran, Trad.). Rio de Janeiro: Graal.
Gruppi, L. (1980). Tudo comeou com Maquiavel. Porto Alegre:
L&PM.
King, D. (1988). O Estado e as estruturas de bem-estar. Novos estudos
CEBRAP, 22, 53-76.
Locke, J. (1983). Segundo tratado sobre o governo. In: Os pensadores
(3a.ed., pp. 33-131). So Paulo: Abril Cultural.
Marshall, T. H (1967). Cidadania, classe social e status. (M. P.
Gadelha, Trad.). Rio de Janeiro: Zahar.
Montesquieu, C. L. de S. (1979). Do esprito das leis. In Os
Pensadores. (2a.ed.). So Paulo: Abril Cultural.
ODonnell, G. (1988). Hiatos, instituies e perspectivas democrticas.
In F.W. Reis & G. ODonnell (Orgs.), A democracia no Brasil:
dilema e perspectivas (pp. 72-90). So Paulo: Vrtice.
Offe, C. (1989). Capitalismo desorganizado. (W. C. Brant, Trad.).
So Paulo: Brasiliense.
Offe, C. (1991). Trabalho e sociedade: problemas estruturais e
perspectivas para o futuro da sociedade do trabalho (v. 2, G.
Bayer & M. Martencic, Trad.). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
Oliveira, F. de (1990). O protagonista do drama; Estado e sociedade
no Brasil. In S. Laranjeira (Org.), Classes e movimentos sociais
na Amrica Latina (pp. 41-66). So Paulo: Hucitec.
312
A. Cabral Neto
Pateman, C. (1992). Participao e teoria democrtica (L. P. Rouanet,
Trad.). Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Paulo Netto, J. (1990). Democracia e transio socialista: escritos
de teoria poltica. Belo Horizonte: Oficina de Livros.
Rousseau, J. J. (1983). Do contrato social. In Os pensadores (3a.ed.,
pp. 15- 145). So Paulo: Abril Cultural.
Nota
Artigo elaborado a partir de nossa Tese
de Doutarado do autor, Educao e Democratizao no Projeto Nordeste: a memria reconstruda, defendida na Faculdade de Educao da Universidade de So
Paulo.
Antonio Cabral Neto professor do Programa de Ps-Graduao
em Educao da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
Doutor em Educao pela Universidade de So Paulo. Endereo
para correspondncia: Grupo de
Pesquisas Marxismo & Educao,
DEPSI/UFRN, Caixa Postal 1622,
59078-970, Natal, RN. E-mail:
marxismo@cchla.ufrn.br.
Sobre o autor
Você também pode gostar
- QUESTIONÁRIO UNIDADE I Criança, Adolescente e IdosoDocumento7 páginasQUESTIONÁRIO UNIDADE I Criança, Adolescente e IdosoSISI100% (1)
- Dir - Trabalho - Resumo - Parte IDocumento34 páginasDir - Trabalho - Resumo - Parte Iapi-384071333% (3)
- Material Do Professor - Flavio Martins - Direito ConstitucionalDocumento12 páginasMaterial Do Professor - Flavio Martins - Direito Constitucionalsuhellengardeny100% (5)
- Desenvolvimento Da Capacidade CriadoraDocumento48 páginasDesenvolvimento Da Capacidade CriadoraAntônio Gilson71% (7)
- O Constitucionalismo Após o New DealDocumento109 páginasO Constitucionalismo Após o New DealLuiz Alberto Dos Santos100% (1)
- Olavo de Carvalho - Artigos - 2015 - Comentários Da SemanaDocumento217 páginasOlavo de Carvalho - Artigos - 2015 - Comentários Da SemanacontatadAinda não há avaliações
- Cidadania e Paideia Na Antiga GréciaDocumento201 páginasCidadania e Paideia Na Antiga GréciaAndré M. Feijó100% (4)
- Augusto Comte e Émile Durkheim - Uma Sociologia Apaziguadora PDFDocumento9 páginasAugusto Comte e Émile Durkheim - Uma Sociologia Apaziguadora PDFglautonvarela6090Ainda não há avaliações
- A Natureza Da Genealogia de NietzscheDocumento19 páginasA Natureza Da Genealogia de Nietzscheglautonvarela6090Ainda não há avaliações
- Interdisciplinaridade PavianiDocumento10 páginasInterdisciplinaridade Pavianiglautonvarela6090Ainda não há avaliações
- Entre A Revolução e Seu Tesouro PerdidoDocumento10 páginasEntre A Revolução e Seu Tesouro Perdidoglautonvarela6090Ainda não há avaliações
- Educação Personalista e A Transformação Da SociedadeDocumento11 páginasEducação Personalista e A Transformação Da Sociedadeglautonvarela6090Ainda não há avaliações
- Sentir (-Se Bem) A Permissão Dos SentidosDocumento16 páginasSentir (-Se Bem) A Permissão Dos SentidosClaudia PinheiroAinda não há avaliações
- Trabalho de Cidadania e Profissionalidade RA1Documento19 páginasTrabalho de Cidadania e Profissionalidade RA1Ricardoo OliveiraAinda não há avaliações
- Conceitos e Temas Da Geografia - Modulo 1Documento7 páginasConceitos e Temas Da Geografia - Modulo 1Joao V. M. RamosAinda não há avaliações
- Prova ifRN 2002Documento10 páginasProva ifRN 2002Leandro VitalAinda não há avaliações
- Cidadania Regulada - WanderleyDocumento15 páginasCidadania Regulada - WanderleyKamille MattarAinda não há avaliações
- Tese Joao AltDocumento198 páginasTese Joao AltcaiofelipeAinda não há avaliações
- Martim Avillez Figueiredo - Será Que Os Surfistas Devem Ser SubsidiadosDocumento7 páginasMartim Avillez Figueiredo - Será Que Os Surfistas Devem Ser SubsidiadosAna AraujoAinda não há avaliações
- Monografia - Direito - Unir - 2019-1 - Fabio Costa AntunesDocumento83 páginasMonografia - Direito - Unir - 2019-1 - Fabio Costa AntunesFabio AntunesAinda não há avaliações
- KHABAROVA, Tatiana - Stáline e A Democracia SocialistaDocumento16 páginasKHABAROVA, Tatiana - Stáline e A Democracia SocialistaNilton Anschau JuniorAinda não há avaliações
- Kant - Sobre A Expressão - Isto Pode Ser Correto Na Teoria Mas Nada Vale Na PráticaDocumento49 páginasKant - Sobre A Expressão - Isto Pode Ser Correto Na Teoria Mas Nada Vale Na PráticaLuan OliveiraAinda não há avaliações
- Democracia em AfricaDocumento64 páginasDemocracia em AfricaJamesAinda não há avaliações
- Caderno de Registro3 Tempo Formativo Eixo ViDocumento14 páginasCaderno de Registro3 Tempo Formativo Eixo ViTuribaAinda não há avaliações
- Direito AngolanoDocumento34 páginasDireito AngolanoLeviatã Leviatã Rainho100% (1)
- O Esquerdopata e o Pedaço de NadaDocumento3 páginasO Esquerdopata e o Pedaço de NadaFlavioMirandadeMeloAinda não há avaliações
- Bioetica Reflexao MurimaDocumento18 páginasBioetica Reflexao MurimaHenrique Lúcio M.MurimaAinda não há avaliações
- ARENDT (1) - A Crise Na EducaçãoDocumento17 páginasARENDT (1) - A Crise Na EducaçãosracalabocaAinda não há avaliações
- Direito Humanos e Liberdade de Expressão em AngolaDocumento63 páginasDireito Humanos e Liberdade de Expressão em AngolaJosé ArãoAinda não há avaliações
- Atividade Sobre Direitos HumanosDocumento3 páginasAtividade Sobre Direitos HumanosLuciana BrumAinda não há avaliações
- Direitos e Garantias Fundamentais Artigo 5 I A XiDocumento5 páginasDireitos e Garantias Fundamentais Artigo 5 I A XiLeila CiprianiAinda não há avaliações
- ''Dicionário de Alusões 1.2Documento83 páginas''Dicionário de Alusões 1.2Pou Pouzin83% (6)
- Revista SRTEMS em Foco #008 2023Documento5 páginasRevista SRTEMS em Foco #008 2023Júlio César Velasquez BalbuenoAinda não há avaliações
- Guião Filme Mar AdentroDocumento2 páginasGuião Filme Mar AdentroPedrOrlandoAinda não há avaliações
- Saint Martin - Ecce Homo PT PDFDocumento28 páginasSaint Martin - Ecce Homo PT PDFjweblog2Ainda não há avaliações
- Prof. Pedro LenzaDocumento13 páginasProf. Pedro Lenzajpmelo79Ainda não há avaliações