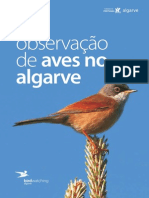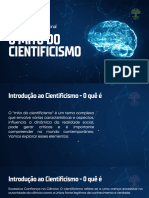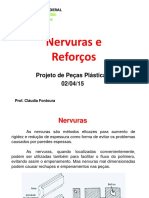Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Funari. Genero e Conflitos No Satyricon, o Caso Da Dama de Efeso.
Funari. Genero e Conflitos No Satyricon, o Caso Da Dama de Efeso.
Enviado por
Stefanny BatistaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Funari. Genero e Conflitos No Satyricon, o Caso Da Dama de Efeso.
Funari. Genero e Conflitos No Satyricon, o Caso Da Dama de Efeso.
Enviado por
Stefanny BatistaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
101
GNERO E CONFLITOS NO SATYRICON:
O CASO DA DAMA DE FESO
Gender and Conflicts at the Satyricon:
the Episode of the Matron of Ephesus
Pedro Paulo A. Funari*
Renata Senna Garraffoni**
RESUMO
O artigo comea por discutir a renovao dos estudos clssicos, no
contexto da ps-modernidade. Volta-se, em seguida, para o uso da
literatura para o estudo da Histria do mundo antigo. Como estudo de
caso, o artigo reproduz a anedota da Dama de feso, sua traduo ao
vernculo, seguidos de um estudo do vocabulrio. O artigo conclui
enfatizando as identidades fluidas e contraditrias.
Palavras-chave: Dama de feso; literatura antiga; relaes de gnero;
conflitos sociais.
ABSTRACT
The paper starts by discussing the renewal of classics, in the context of
postmodernity. It turns then to the issues relating the use of literature
for the historical study of the ancient world. As a case study, the paper
reproduces the story of the Matron of Ephesus, its translation into
Portuguese, followed by a study of the vocabulary. The paper concludes
by stressing how identities were fluid and rife with conflict.
Key-words: Matron of Ephesus; ancient literature; gender relations;
social conflicts.
*
Professor Titular do Departamento de Histria da Unicamp, Coordenador do Ncleo de
Estudos Estratgicos (NEE/Unicamp).
** Professora do Departamento de Histria da UFPR, Pesquisadora-associada do Ncleo de
Estudos Estratgicos (NEE/Unicamp).
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
102
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
Introduo
Na virada do sculo XX para o XXI, os estudos clssicos passaram
por intensas transformaes. Os historiadores do mundo romano, acostumados com as narrativas de cunho poltico, econmico ou militar, se depararam com o surgimento de uma gerao de estudiosos preocupados com a
reviso de conceitos consagrados, de crticas a modelos interpretativos de
cunho normativo, alm das mltiplas propostas de novos temas a serem
explorados1. Reflexes sobre a cultura romana, as relaes de gnero, conflitos tnicos ou a formao das novas identidades a partir do choque entre
romanos e no-romanos passaram a figurar com mais intensidade nas publicaes acadmicas especializadas.
Seguramente, esse processo no uma particularidade dos estudos acerca do universo romano, mas est inserido em um contexto mais
amplo. De certa maneira, essas mudanas so fruto dos questionamentos
epistemolgicos que as Cincias Humanas tm enfrentado desde a dcada
de 1960. As crticas de Michel Foucault2, por exemplo, proporcionaram uma
reviso no papel dos estudiosos e, aos poucos, foi se concretizando a
percepo na qual o historiador produz discursos sobre o passado, constantemente ressignificados a partir do presente daquele que escreve3. Assim, os pressupostos to arraigados na historiografia, como a neutralidade,
a objetividade, a busca pelo real, pela essncia de sujeitos universais e o
ordenamento dos acontecimentos a partir da noo de classes sociais e
seus conflitos socioeconmicos foram revistos e criticados, abrindo espao para repensar as categorias de anlise do passado e as metodologias
empregadas para sua interpretao.
Enfatizando a presena da subjetividade nas escolhas do historiador, estudiosos, como Jenkins,4 apontaram como a escrita da Histria
1
Cf., com literatura anterior, GARRAFFONI, R. S. Panem et Circenses: mxima antiga e a
construo de conceitos modernos. Phoinix, Rio de Janeiro, 2005, v. 11, p. 246-267.
2
Cf., em especial: FOUCAULT, M. A ordem do discurso. So Paulo: Edies Loyola,
1996; FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1997.
3
Cf. JENKINS, K. A Histria repensada. So Paulo: Contexto, 2005; MUNSLOW, A. The
Routledge Companion to historical studies. Londres: Routledge, 2000.
4
JENKINS, K. Op. cit.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
103
permeada por relaes de poder, construda a partir de interesses marcados,
sejam eles identitrios, tnicos ou ideolgicos. Essas crticas foram fundamentais para o desdobramento dos estudos sobre o passado, pluralizando
os sujeitos histricos e libertando-os das velhas e estticas hierarquias
sociais, proporcionando novas leituras das relaes humanas.
Nossas reflexes acerca do mundo romano inserem-se neste contexto. Considerando que o dilogo com os textos clssicos pode propiciar
diferentes formas de se escrever a Histria antiga, nossa proposta consiste
em retomar o Satyricon, de Petrnio, uma stira do incio do Principado,
buscando uma leitura que enfatize os conflitos de gnero e a diversidade de
representaes de figuras masculinas e femininas em um episdio particular
da trama, conhecido como Dama de feso. Para tanto, dividimos o texto em
trs eixos de anlise: breves consideraes acerca do Satyricon, o texto a
ser analisado e a traduo do trecho da Dama de feso e os comentrios
sobre as construes dos papis masculinos e femininos ali implcitos. Acreditamos que, com essa estratgia, possamos contribuir com a busca por
abordagens alternativas do texto satrico, evitando trat-lo como reflexo
imediato de uma realidade, mas como um produto cultural permeado por
conflitos e contradies.
Literatura e Histria: algumas consideraes
Como partiremos nossa anlise de um texto literrio, seria interessante refletirmos, mesmo que brevemente, sobre a relao entre Literatura e
Histria. J na dcada de 1960, Barthes5 se preocupava com a questo. Em
suas reflexes sobre Racine, Barthes chama ateno para o fato de que
muitos historiadores da Literatura se preocupavam em elencar, cronologicamente, os autores e descrever suas contribuies Literatura. Esse procedimento, segundo Barthes, acabaria por ofuscar as particularidades da lin-
BARTHES, R. Histria ou literatura. In: Racine. Porto Alegre: L&PM, 1987.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
104
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
guagem e os efeitos de sentidos por ela proporcionados. Assim, mais que
descrever o momento histrico em que o autor vivia e inserir a obra literria
entre os acontecimentos, Barthes defende que o estudioso deve abrir a
obra, ou seja, extrair dela os sentidos produzidos naquele momento histrico que marca a sua singularidade.
Essa postura de Barthes deslocou o foco de anlise de muitos
estudiosos do perodo no qual a obra foi escrita para a sua estrutura lingstica e seus significados, possibilitando um imenso debate entre os crticos
literrios e, tambm, entre os historiadores. No que diz respeito aos historiadores, o novo problema proposto girava em torno de uma questo especfica: se a estrutura lingstica era prenhe de significados, seria vlido ou no
considerar o texto literrio como fonte para se entender o passado? Essas
discusses mudaram os rumos da historiografia em meados dos anos de
1960. Se, tradicionalmente, os historiadores buscavam seus documentos em
arquivos, aceitar a Literatura como fonte para o estudo do passado ajudou
a gerar aquilo que, posteriormente, Le Goff chamou de exploso documental6, pois alertou a todos sobre a infinidade de produes humanas que
poderiam ser consideradas como documentos para o estudo do passado.
No caso dos textos literrios, como possuem uma diversidade de
personagens e de situaes, a compreenso de seu processo de escrita, de
publicao e ressignificao contribuiu muito para o avano dos estudos
sobre diferentes grupos sociais, em especial as camadas menos favorecidas
da populao, que pouco se destacavam em documentos oficiais, tornando-se um referencial importante para aqueles que buscavam entender os
grupos marginalizados. Seja devido s contribuies dos marxistas, seja
graas s pesquisas dos historiadores ligados Escola dos Annales, desde
a dcada de 1960 muito se discutiu sobre essa relao e, cada vez mais,
historiadores se convenceram da importncia desse profcuo dilogo com
as narrativas ficcionais.
No caso especfico da Antigidade Clssica, nosso objeto de estudo, essa relao entre Histria e Literatura tem se mostrado muito importante. Os textos literrios, entre eles os satricos, apresentam novas possibili-
LE GOFF, J. (Org.). A Histria nova. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
105
dades para abordar os aspectos culturais, sociais, polticos e econmicos
vigentes no mundo romano. Neste sentido, o dilogo com as Letras Clssicas, a compreenso por parte do historiador das estruturas das obras e os
seus detalhes, tm propiciado aos estudiosos preciosas informaes sobre
o cotidiano dos romanos.
Funari7, por exemplo, destaca que a relao entre os estudos das
letras e a Histria fundamental para um conhecimento mais aprofundado
do passado clssico. Assim, ao estudarmos os romances romanos, o conhecimento do latim torna-se fundamental: uma anlise do vocabulrio presente nas obras fornece elementos para que possamos compreender o contexto em que os termos eram utilizados. Mais do que isto, o estudo do
linguajar pode propiciar o contato com o sermo humilis, proporcionando,
portanto, a possibilidade de recuperar traos culturais da populao mais
pobre ou marginalizada.
Considerando que, por meio da anlise filolgica, seja possvel
uma aproximao crtica de um universo semntico de contedo scio-cultural, os exageros, a comicidade e os juzos de valores espalhados pelo
Satyricon sero entendidos como elementos importantes para discutirmos
as construes dos papis femininos e masculinos na sociedade romana.
Desta forma, defendemos a importncia de uma anlise do trecho selecionado do Satyricon que considere os aspectos literrios, ou seja, no trataremos o episdio da Dama como um reflexo imediato do real, como se o que
fosse escrito por Petrnio equivalesse sociedade romana, mas sim como
um discurso e, conseqentemente, permeado por interesses e conflitos, no
podendo ser pensado como um relato neutro.
Ao estudar o episdio da Dama de feso, tomaremos como pressuposto, portanto, que a literatura uma linguagem e que, para compreendla, torna-se necessrio que recorramos s alegorias, seus significantes e
significados8. Por meio do questionamento do texto e da anlise das estruturas e vocabulrio, pretendemos estabelecer um dilogo com os persona-
7
FUNARI, P. P. A. Filologia, literatura e lingstica e os debates historiogrficos sobre a
Antigidade Clssica. In: Boletim do C.P.A., n. 5/6, jan./dez. 1998, p. 153-166.
8
BARTHES, R. Op. cit.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
106
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
gens para explicitar os sentidos que produzem9. Mesmo conscientes de que
os personagens so construes em um dado momento histrico, por meio
do estudo da filologia dos termos possvel identificar, dentro do texto, os
diferentes tipos de papis masculinos e femininos construdos pelo autor.
Este tipo de estratgia possibilita um olhar mais atento s particularidades textuais, expondo a complexidade da stira e sua riqueza, pois
evita a criao de um modelo interpretativo nico e preza pela
interdisciplinaridade, ressaltando as inmeras possibilidades de ao dos
sujeitos. Alm disso, preserva a diversidade, reconhece a presena de diferentes imagens e representaes dos papis masculinos e femininos e expressa os conflitos no interior da sociedade romana.
O Satyricon de Petrnio
Como a grande maioria dos textos antigos, o Satyricon e seu possvel autor, Petrnio, esto, ambos, envolvidos em uma srie de polmicas e
de dificuldades. Isto se refere autoria, ao perodo no qual foi escrito e ao
tamanho da obra original. Assim, mesmo que de forma resumida, apresentaremos alguns aspectos acerca desses debates10. Iniciemos com a vida de
Petrnio. Sua biografia bastante imprecisa e, desde o perodo do
Renascimento, h uma grande dificuldade para se determinar quem foi este
homem. A maioria dos pesquisadores ainda que nem todos considera
que o autor do Satyricon o Petrnio descrito por Tcito, em sua obra
Anais11, e mencionado, mais brevemente, em algumas passagens de Plnio,
o Velho, e Plutarco. Assim, a tradio considera que o nome completo do
autor seria Tito Petrnio Nger, cnsul romano durante o ano de 62 d.C., e
conhecido como arbiter elegantiae (rbitro da elegncia), j que estabelecia padres de elegncia na corte de Nero.
9
Sobre a importncia de se estabelecer um dilogo com os textos para recuperao de aspectos do passado, cf. LaCAPRA, D. Rethinking intellectual history and reading texts. In: Rethinking
intellectual history: texts, context, language. New York: Cornell University Press, 1985, p. 23-71.
10 Para um estudo mais detalhado dessas polmicas, cf. GARRAFFONI, R. S. Bandidos e
salteadores na Roma Antiga. So Paulo: Annablume/FAPESP, 2002.
11 TCITO. Anais, XVI, p. 18-19.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
107
De acordo com esta descrio de Tcito, Petrnio seria um homem
cnico e com alguns vcios; no entanto, mostrou-se um excelente administrador quando governou a provncia da Bitinia. Sua capacidade de atuar e a
influncia que exercia na corte de Nero teriam gerado inveja em Tigelino,
que o difamou, acusando-o de participar de uma conspirao contra o Imperador. Como punio, Petrnio acabou sendo condenado ao suicdio em 66
d.C.
O ttulo da obra tambm bastante polmico. No se sabe ao certo
o significado nem a origem do nome Satyricon. A. Dihle, ao escrever sobre
a narrativa romana em sua obra Greek and Latin Literature of the Roman
Empire12, apresenta as duas mais aceitas alternativas para o termo: pode ser
satyrikos, palavra de origem grega utilizada para mencionar pessoas que
viviam do prazer sexual, ou satura, palavra latina empregada com o significado de stira. A possibilidade de haver um duplo sentido no ttulo j demonstrava aos leitores com que tipo de contedo iriam se deparar, isto ,
uma narrativa repleta de personagens com comportamentos e atitudes lascivas e satricas.
Outro problema diz respeito composio do texto em si: a verso
que chegou at ns muito fragmentada. Sabe-se que o que restou so partes
dos livros XIV-XVI e que o original seria bem maior, uma vez que a sua concepo seria feita nos moldes da Odissia, de Homero, e teria mais ou menos
o seu tamanho.13 No que diz respeito estrutura do texto, importante destacar que a stira narrada em primeira pessoa pelo personagem Enclpio. Ele e
Gton so aventureiros educados e pobres que viajam de um lado para outro,
sem destino definido, perseguidos pela ira do deus Priapo.
No decorrer das viagens, ambos contracenam com uma diversidade de personagens: Agammenon, Eumolpo, Licas, Ascilto, algumas bruxas,
sacerdotisas do deus Priapo e vrios libertos, desde os milionrios at os
mais pobres. A grande maioria das situaes em que se envolvem de
natureza ertica, mas tambm encontramos histrias de naufrgios, roubos,
12 DIHLE, A. Greek and Latin Literature of the Roman Empire. Londres: Routledge, 1994,
p. 126-131.
13 Cf. WALSH, P. G. The Roman Novel. Gr-Bretanha: Cambridge University Press, 1995.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
108
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
bruxarias e orgias culinrias. Segundo Walsh, possvel detectarmos a presena de dois tipos de episdios no desenrolar dos acontecimentos: eles
podem ser de origem interna ou externa. Os episdios internos ocorrem
quando os acontecimentos centram-se na relao Enclpio/Gton e o cime
que nasce diante da presena de Ascilto e Eumolpo. Aqui a presena de
Priapo fundamental, pois devido a sua ira que o protagonista se torna
impotente. J os episdios externos so constitudos a partir da relao de
Enclpio com os demais personagens. Este segundo tipo de ao permite a
Petrnio deslocar a narrativa e introduzir os elementos de sua stira, como
no caso do jantar de Trimalcio14 ou no caso da Dama de feso, trecho que
analisaremos a seguir.
A Dama de feso
A histria da Dama de feso est reportada em um momento bastante especfico do Satyricon. Como comentamos anteriormente, no se
constitui uma parte da trama central, mas sim uma anedota que Enclpio
ouve quando viajava no navio de Licas. O que nos interessa, nesta ocasio,
reportamos a ntegra da historieta, tal como ali apresentada. Iniciamos,
portanto, com a reproduo do texto latino, seguido de uma traduo recente15, para que, ento, possamos tecer algumas consideraes a respeito das
relaes de gnero.
Matrona quaedam Ephesi
[CXI] Matrona quaedam Ephesi tam notae erat pudicitiae, ut
vicinarum quoque gentium feminas ad spectaculum sui evocaret. Haec
ergo cum virum extulisset, non contenta vulgari more funus passis prosequi
crinibus aut nudatum pectus in conspectu frequentiae plangere, in
14 Cf. WALSH, P. G. Introduction, Op. cit., item II.
15 Cf. FUNARI, P. P. A. Trs recentes edies e tradues de Petrnio. Phaos, v. 4, 2004, p.
159-162.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
109
conditorium etiam prosecuta est defunctum, positumque in hypogaeo
Graeco more corpus custodire ac flere totis noctibus diebusque coepit. Sic
adflictantem se ac mortem inedia persequentem non parentes potuerunt
abducere, non propinqui; magistratus ultimo repulsi abierunt, complorataque
singularis exempli femina ab omnibus quintum iam diem sine alimento
trahebat. Adsidebat aegrae fidissima ancilla, simulque et lacrimas
commodabat lugenti, et quotienscumque defecerat positum in monumento
lumen renovabat. Una igitur in tota civitate fabula erat: solum illud
adfulsisse verum pudicitiae amorisque exemplum omnis ordinis homines
confitebantur, cum interim imperator provinciae latrones iussit crucibus
affigi secundum illam casulam, in qua recens cadaver matrona deflebat.
Proxima ergo nocte, cum miles, qui cruces asservabat, ne quis
ad sepulturam corpus detraheret, notasset sibi lumen inter monumenta
clarius fulgens et gemitum lugentis audisset, vitio gentis humanae concupiit
scire quis aut quid faceret. Descendit igitur in conditorium, visaque
pulcherrima mulier, primo quasi quodam monstro infernisque imaginibus
turbatus substitit; deinde ut et corpus iacentis conspexit et lacrimas
consideravit faciemque unguibus sectam, ratus (scilicet id quod erat)
desiderium extincti non posse feminam pati, attulit in monumentum cenulam
suam, coepitque hortari lugentem ne perseveraret in dolore supervacuo,
ac nihil profuturo gemitu pectus diduceret: omnium eumdem esse exitum
et idem domicilium et cetera quibus exulceratae mentes ad sanitatem
revocantur.
At illa ignota consolatione percussa laceravit vehementius
pectus, ruptosque crines super corpus iacentis imposuit. Non recessit tamen
miles, sed eadem exhortatione temptavit dare mulierculae cibum, donec
ancilla, vini odore corrupta, primum ipsa porrexit ad humanitatem
invitantis victam manum, deinde retecta potione et cibo expugnare dominae
pertinaciam coepit et: Quid proderit, inquit, hoc tibi, si soluta inedia
fueris, si te vivam sepelieris, si antequam fata poscant indemnatum spiritum
effuderis? Id cinerem aut manes credis sentire sepultos? Vis tu reviviscere!
Vis discusso muliebri errore! Quam diu licuerit, lucis commodis frui! Ipsum
te iacentis corpus admonere debet ut vivas. Nemo invitus audit, cum cogitur
aut cibum sumere aut vivere. Itaque mulier aliquot dierum abstinentia
sicca passa est frangi pertinaciam suam, nec minus avide replevit se cibo
quam ancilla, quae prior victa est.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
110
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
[CXII] Ceterum, scitis quid plerumque soleat temptare humanam
satietatem. Quibus blanditiis impetraverat miles ut matrona vellet vivere,
iisdem etiam pudicitiam eius aggressus est. Nec deformis aut infacundus
iuvenis castae videbatur, conciliante gratiam ancilla ac subinde dicente:
Placitone etiam pugnabis amori?
Quid diutius moror? Jacuerunt ergo una non tantum illa nocte,
qua nuptias fecerunt, sed postero etiam ac tertio die, praeclusis videlicet
conditorii foribus, ut quisquis ex notis ignotisque ad monumentum venisset,
putasset expirasse super corpus viri pudicissimam uxorem.
Ceterum, delectatus miles et forma mulieris et secreto, quicquid
boni per facultates poterat coemebat et, prima statim nocte, in monumentum
ferebat. Itaque unius cruciarii parentes ut viderunt laxatam custodiam,
detraxere nocte pendentem supremoque mandaverunt officio. At miles
circumscriptus dum desidet, ut postero die vidit unam sine cadavere crucem,
veritus supplicium, mulieri quid accidisset exponit: nec se expectaturum
iudicis sententiam, sed gladio ius dicturum ignaviae suae. Commodaret
ergo illa perituro locum, et fatale conditorium familiari ac viro faceret.
Mulier non minus misericors quam pudica: Ne istud, inquit, dii sinant, ut
eodem tempore duorum mihi carissimorum hominum duo funera spectem.
Malo mortuum impendere quam vivum occidere. Secundum hanc orationem
iubet ex arca corpus mariti sui tolli atque illi, quae vacabat, cruci affigi.
Usus est miles ingenio prudentissimae feminae, posteroque die populus
miratus est qua ratione mortuus isset in crucem16.
A Matrona de feso
CXI Havia uma mulher casada em feso que era de uma castidade to notvel que levava as mulheres at mesmo dos povos vizinhos a
visit-la. Ento, quando ela perdeu o marido, no se limitando a seguir o
enterro com os cabelos soltos, segundo o costume geral, ou a bater no peito
nu na presena da multido, ela tambm acompanhou o defunto no tmulo
16 Disponvel em: <http://www.thelatinlibrary.com/petronius1.html>.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
111
e resolveu chorar e velar o corpo colocado na cripta, de acordo com o
costume grego, por duas noites inteiras. Nem os pais, nem os parentes
puderam afast-la daquele local, pois ela se atormentava assim e buscava a
morte atravs da abstinncia de alimentos; os magistrados, repelidos por
ltimo, foram-se embora, aquela mulher de exemplo singular, por quem todos lastimavam, j passava o quinto dia sem alimento. A mais fiel escrava
daquela mulher atormentada no se afastava dela e, ao mesmo tempo, no
s compartilhava suas lgrimas com as de sua senhora, mas tambm reacendia
a lmpada colocada no monumento toda as vezes em que ela se apagava.
Assim, pois, na cidade inteira era esse o nico assunto, os homens de todas
as classes sociais reconheciam que tal atitude se destacava como exemplo
verdadeiro de castidade e de amor, quando, nesse meio tempo, o imperador
daquela provncia ordenou que ladres fossem pregados em cruzes ao lado
daquele tmulo, no qual a mulher velava o cadver fresco.
Ento, na noite seguinte, quando o soldado que vigiava as cruzes,
para que ningum levasse corpo para a sepultura, notou uma luz brilhando
mais forte entre os tmulos e ouviu o soluo de algum chorando, por um
vcio da raa humana ele desejou saber quem era, ou o que estava fazendo.
Ento, ele desceu para o interior do tmulo e, quando viu aquela mulher
belssima, primeiro ficou parado, como que perturbado por algum monstro
ou por fantasmas infernais. Em seguida, quando viu um corpo de homem
estendido e ainda observou as lgrimas e as faces golpeadas pelas unhas,
evidentemente percebendo o que era uma mulher que no conseguiu
suportar a saudade do extinto marido levou para aquele tmulo seu pequeno jantar e aconselhou aquela mulher chorosa a no persistir numa dor
intil e no dilacerar seu peito com um gemido que no lhe serviria em nada.
Ele argumentou que todos teriam aquele mesmo fim e aquela mesma morada
e ainda disse outras coisas com as quais as mentes atormentadas so
reconduzidas razo. Mas ela, chateada com aquela tentativa de consolo,
castigou mais violentamente seu peito e depositou cabelos arrancados sobre o corpo do defunto. O soldado, contudo, no recuou, mas, com aquele
mesmo estmulo, tentou dar alimento pobre mulher, at que sua escrava
[certamente corrompida] pelo bom cheiro do vinho, primeiro ela estendeu
sua prpria mo vencida at o esprito de humanidade daquele sedutor,
depois, repetida a dose da comida e bebida, derrotou a obstinao de sua
dona e disse: O que voc poder lucrar sendo aniquilada pela falta de alimento, sendo enterrada viva, entregando sua alma que ainda no foi condenada, antes que os destinos exijam?
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
112
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
Acreditas que os restos mortais, ou os manes sepultados percebem teu sacrifcio?
Voc no quer voltar a viver? No quer usufruir das coisas boas da
vida, enquanto ainda pode, dissipando esse erro prprio das mulheres? O
prprio corpo do defunto deveria encoraj-la a viver? Ningum deixa de
ouvir, quando est sendo coagido a se alimentar, ou a viver. Assim, a mulher,
faminta devido ao jejum de alguns dias, admitiu que sua perseverana fosse
rompida e fartou-se de alimento no menos avidamente do que a escrava,
que foi vencida primeiro.
CXII Mas vocs sabem o que geralmente costuma inquietar a
satisfao humana. Com as mesmas palavras ternas com que tinha conseguido que a senhora quisesse viver, o soldado abordou tambm a castidade
dela. E aquele jovem no parecia disforme ou pouco eloqente virtuosa
senhora, acrescentando-se a isso a influncia de sua escrava, que dizia a
tempo todo:
Ainda lutars contra este agradvel amor?
[No vem tua mente nas terras de quem vieste a te
estabelecer?]
Para que ficar me alongando tanto? A mulher no mais se absteve
de saciar aquela parte de seu corpo e o soldado vitorioso a persuadiu de
ambas as coisas. Eles, ento, deitaram-se juntos no s aquela noite, em que
celebraram suas npcias, mas tambm no dia seguinte e ainda no terceiro
dia, evidentemente com as portas do tmulo fechadas, para que qualquer
um que viesse ao monumento, entre conhecidos e desconhecidos, pensasse que aquela virtuosssima esposa exalava seu ltimo suspiro sobre o
corpo de seu marido.
Mas o soldado, encantado pela beleza da mulher e pelo mistrio,
comprava e levava para o tmulo, imediatamente ao cair da noite, tudo de
bom que conseguia, dentro de suas possibilidades. Assim, os pais de um
crucificado, quando viram a guarda baixada, tiraram durante a noite o corpo
pendurado e lhe prestaram a ltima homenagem. E o soldado logrado, quando viu no dia seguinte uma cruz sem cadver, sentiu o cho sumir a seus ps
e, temendo a punio, exps mulher o que tinha acontecido. Ele disse que
no iria esperar a sentena do juiz, mas que iria determinar ele prprio para si
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
113
a pena de morte, com a espada, por negligncia. Por isso, ele queria que ela
lhe concedesse um lugar para morrer e dedicasse aquele tmulo fatal a seu
amante e a seu marido. A mulher, no menos misericordiosa que virtuosa,
disse: Que os deuses no permitam que eu assista, ao mesmo tempo, aos
dois funerais dos dois homens mais especiais para mim. Prefiro pendurar o
morto a matar o vivo. Depois desse discurso, ela ordenou que o corpo de
seu prprio marido fosse retirado do sarcfago e pregado na cruz que estava vazia. O soldado ps em prtica o plano genial daquela mulher
sapientssima e, no dia seguinte, o povo espantado ficou a se perguntar de
que modo o morto tinha ido parar na cruz17.
A construo discursiva
A historieta da Dama de feso apresenta um uso particular do vocabulrio sobre as relaes de gnero e de poder, que no so fceis de
serem mantidos em tradues. A primeira observao refere-se ao uso de
expresses para se referir dama. Logo de incio, ela apresentada como
matrona, uma senhora, caracterizada pela pudicitia, a ponto de atrair para si
(ad spectaculum sui) as feminae da vizinhana. O marido descrito como
uir. A viva decide encerrar-se na tumba, o que se afasta do costume vulgar
(vulgari more). Mostra-se mulher de exemplo singular (singularis exempli
femina). Ali chorava o cadver recente do marido, ainda como matrona
(recens cadaver matrona deflebat). O soldado que tomava conta dos crucificados nas redondezas aproximou-se daquela que descrita como
pulcherrima mulier. O termo mulier encontrava-se no extremo oposto ao
elevado matrona, usado para descrever a mulher de baixa extrao. Como
bela mulher, parecia atingir afet-lo como se fosse um monstro e imagens
vindas do mundo dos mortos (monstro infernisque imaginibus). A mulher
, portanto, associada aos mistrios do mundo subterrneo.
17 PETRNIO. Satyricon. Edio bilnge. Traduo e posfcio de Sandra Braga Biachet.
Belo Horizonte: Crislida, 2004, p. 200-205.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
114
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
O soldado logo viu o corpo do morto e compreendeu do que se
tratava: uma mulher (feminam) que no podia agentar o desejo do morto
(desiderium extincti). A mulher, descrita com um termo mdio (femina), nem
to alto como matrona, nem to baixo como mulier, sentia desejo
(desiderium). O termo significa, em primeiro lugar, desejo, mas, por extenso, tem a conotao de saudade18. Essa ambigidade no casual e perdese na traduo por apenas um dos dois termos. Quando o soldado tenta dar
comida a ela, a palavra usada para se referir senhora abaixa para muliercula,
expresso no to freqente na literatura antiga, cujo sentido um tanto
depreciativo (uma mera mulher19), tal como o correspondente masculino
homunculus.
Estava presente a serva: aquela mulher de menor status e valor
(ancilla), que levaria a dama perda da honra. A escrava tenta a patroa, e o
faz com o uso do verbo querer (uolo): queres voltar a viver? (uis tu
revivescere?). Para isso, basta superar esse erro feminino de julgamento
(discusso muliebri errore), passagem na qual aparece um derivado de mulier,
muliebris. A primeira a ceder a mais baixa, a ancilla. A senhora descrita
como abstinentia sicca, seca pela abstinncia. As tradues costumam
verter por faminta pelo jejum, o que no deixa de estar correto, mas no d
conta do duplo sentido: ela estava tambm seca devido abstinncia sexual. Sicca ope-se a umida.
Estabelecida a supremacia do desejo nas mulheres, o tom ambguo,
de duplo sentido das palavras, acentua-se. O soldado (miles) torna-se amante
(miles), jogo de palavras impossvel em portugus, mas sempre presente no
original latino. O soldado aproximou-se com carcias (blanditiae), palavra
usada, na literatura amorosa latina, para falar para as mulheres e que se
ope, aqui, abstinentia sicca. A ironia aparece logo, pois o jovem no
parecia feio ou pouco loquaz para a casta (nec diformis aut infacundus
iuvenis castae uidebatur). Casta no especifica a qual termo, dentre os
usados para se referir viva, se aplica: muliercula, mulier, femina, matrona
ou uxor. A ausncia, portanto, propositada. A casta nota dois atributos no
18 Cf. SUETNIO. Calgula, 6,2: Auxit glorium desideriumque defunctti.
19 Cf. LUCR., v. 4, p. 1279: qui illo susurro delectari se dicebat aquam ferentis mulierculae.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
115
miles: que era belo e que era bom de bico. Para completar a degradao,
quem incentivava a patroa era a escrava (conciliante gratiam ancilla).
A mulher no mais se absteve de saciar uma parte do seu corpo, a
boca, e logo o miles vitorioso persuadiu-a de ambas. Aqui, so duas partes
do corpo: uma explcita, a boca, outra implcita. Passam, ambas, do seco ao
mido ou brando (blandus): boca e genitlia. Casam-se ou contraem npcias, segundo o vocabulrio tcnico usado com ironia: nuptias fecerunt.
Todos deviam pensar que l estava a mais pudica esposa, expressada com o
uso da palavra mais erudita e menos usada, uxor (pudicissima uxor).
O miles, que pensava dominar a situao, na verdade era dominado. Estava encantado tanto pela beleza da mulher como pelo segredo (et
forma milieris et secreto). O soldado estava delectatus, o que pode tambm
ser ambguo e significar tanto atrado como se deleitando, aproveitando20. A
degradao continua. Os pais de um crucificado viram que a guarda era
frouxa (laxata custodia). Caracterizar o homem como laxus, frouxo, d bem
o tom do que se segue. O soldado foi enganado (circumscriptus), hesitou,
temeu o suplcio (veritus supplicium), exps a situao mulher (mulier):
no esperaria a condenao do juiz, morreria com honra, pela espada (gladio).
Que estivessem enterrados em um lugar comum o marido (uir) e o amigo: a
palavra usada, familiaris, mostra o carter servil e subalterno ( senhora de
feso) do soldado. A mulher (mulier) mostrou-se misericordiosa e pudica
(non minus misericors quam pudica). Que os deuses no permitissem que
perdesse dois homens carssimos (carissimi homines duo). Ambos, marido
morto e amante, so simples seres humanos (homines). Mandou (iubet)
que o corpo do marido (corpus mariti) fosse colocado na cruz. O soldado
aceitou (usus est) o plano da mulher mais inteligente (prudentssima femina).
Os termos mais usados so mulier e seus derivados (7 ocorrncias), miles
(6), femina (4), matrona e uir (3 cada) e uxor e maritus (1 cada). Essas
freqncias indicam o predomnio, no relato, do par mulier/miles, que degrada a relao respeitvel entre uxor/maritus e matrona/uir.
20 Cf. PETRNIO. Satyricon, 45,7: cum dominam suam delectaretur, quando se deleitava
com a mulher do outro. Note-se, neste caso, o uso da palavra domina com sentido de esposa, como nas
inscries populares de Pompia. Cf.: FUNARI, P. P. A. A vida quotidiana na Roma Antiga. So Paulo:
Annablume, 2004.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
116
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
Consideraes finais
Podemos considerar que a anedota foi construda para ridicularizar
comportamentos inadequados, pois a dama que, inicialmente, estava ao
lado do marido para demonstrar sua virtude, rende-se a um desconhecido e
o soldado, por curiosidade, abandona seu dever. Tal estrutura narrativa, ao
provocar o riso, expressa os valores sociais implcitos e as crticas aos
comportamentos esperados dos homens e mulheres romanas. A dama, por
exemplo, uma mulher de posses e respeitada que no consegue se controlar diante de seus desejos e rapidamente se envolve com um soldado. Este,
por sua vez, um curioso sedutor, de status social diferente do seu. Assim,
desejo, paixo, curiosidade, comportamentos que aparecem em outras stiras como no dignos de pessoas virtuosas21, interligam-se com a presena
de criminosos, degradando a todos. Se o texto inicia-se com os termos mais
eruditos, segue-se a degradao, em particular da esposa e do soldado, que
passa a servo da mulher. A ironia, alm de ser construda pela degradao
dos termos, faz-se presente tambm na trama, pois se a dama e o soldado
so diminudos pelos vocbulos de acordo com suas atitudes, o marido
virtuoso acaba na cruz, suprema desonra para um cidado respeitvel.
Uma pequena histria, destinada ao riso dos leitores22, muito nos
revela sobre as identidades e conflitos sociais no mundo romano, em particular no mbito das relaes de gnero e de status ou classe23. Uma anlise
detida do vocabulrio original nos proporciona reflexes instigantes, sutilezas difceis de se manter nas tradues. As mulheres, no episdio comentado, aparecem em suas mltiplas dimenses, como submissas e castas, mas
tambm como dominadoras e senhoras da situao. O domnio patriarcal
21 Essa mesma relao aparece, por exemplo, na stira de Apuleio, Metamorfoses, escrita no
sculo II d.C. O protagonista Lcio enfrenta problemas constantemente por ser afeito curiosidade e s
paixes. Para uma anlise mais detalhada desta questo, cf. GARRAFFONI, R. S. Bandidos e salteadores
na Roma Antiga, Op. cit. na nota 10.
22 PETRNIO, Satyricon, CXIII: Rise excepere fabulam nautae (os marinhos caram na
gargalhada com a anedota).
23 FUNARI, P. P. A. A Antigidade, o Manifesto e a historiografia crtica sobre o mundo
antigo. In: COGGIOLA, Osvaldo (Org.). Manifesto Comunista, ontem e hoje. So Paulo: Xam, 1999, p.
223-232.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
FUNARI, P. P. A.; GARRAFFONI, R. S. Gnero e conflitos no Satyricon: o caso da...
117
aparece como norma, logo colocada de ponta-cabea. As hierarquias sociais tampouco se mantm rgidas, a demonstrar a fluidez de toda a situao.
luz da teoria social da nossa poca, o mundo romano parece muito mais
variado e contraditrio, sempre aberto a leituras tambm diversificadas, mas
sempre muito significativas para nossos prprios dias.
Agradecimentos
Este artigo resulta, tambm, da interao dos autores no quadro do
Projeto de Pesquisa Gnero, sexualidade e subjetividade na Antigidade e
na (Ps-)Modernidade: pesquisa em Histria Comparada, apoiado pelo
CNPq e coordenado por Margareth Rago e Pedro Paulo A. Funari. Devemos
mencionar, ainda, o apoio institucional do Ncleo de Estudos Estratgicos
(NEE/Unicamp) e do Departamento de Histria da UFPR.
Histria: Questes & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 101-117, 2008. Editora UFPR
Você também pode gostar
- As Árvores Do Orgulho - G.K. ChestertonDocumento92 páginasAs Árvores Do Orgulho - G.K. ChestertonEduardo DiasAinda não há avaliações
- PAEE (Antigo PAI) - Resolução SEDUC - 21, de 21-6-2023Documento5 páginasPAEE (Antigo PAI) - Resolução SEDUC - 21, de 21-6-2023Priscilla Amaral Vasconcelos Paes0% (2)
- 2003 - Cultivo e Composição Cogumelo Do Sol - C Shibata - 12pgDocumento12 páginas2003 - Cultivo e Composição Cogumelo Do Sol - C Shibata - 12pgRichard G. WuestefeldAinda não há avaliações
- Física - Estática e Cinemática (UniFatecie)Documento138 páginasFísica - Estática e Cinemática (UniFatecie)Adailton de LaraAinda não há avaliações
- Código Mineiro de Angola / Versão OCRDocumento72 páginasCódigo Mineiro de Angola / Versão OCRDanilo Danelucci100% (1)
- Dicionário Biobibliográfico Armindo GuaranáDocumento525 páginasDicionário Biobibliográfico Armindo GuaranáFlávio Ferreira100% (3)
- Equipamentos Utilizados Subestacoes PDFDocumento157 páginasEquipamentos Utilizados Subestacoes PDFliana_ritter8826Ainda não há avaliações
- Sobre As Origens e Historia Dos MacondeDocumento9 páginasSobre As Origens e Historia Dos MacondeFelisberto AnselmoAinda não há avaliações
- Aula 4Documento55 páginasAula 4Jordan OliveiraAinda não há avaliações
- Universidade Do Estado Da BahiaDocumento39 páginasUniversidade Do Estado Da BahiaEdneideletrasAinda não há avaliações
- Alterações PsicopatológicasDocumento16 páginasAlterações PsicopatológicasTaciana Cabral100% (1)
- Francisco Trindade - o Anti-Comunismo de ProudhonDocumento6 páginasFrancisco Trindade - o Anti-Comunismo de ProudhonElbrujo TavaresAinda não há avaliações
- Construção, Mensuração e Fomento de Indicadores de DesempenhoDocumento39 páginasConstrução, Mensuração e Fomento de Indicadores de DesempenhoL 23Ainda não há avaliações
- Guia de Observação de Aves No AlgarveDocumento91 páginasGuia de Observação de Aves No AlgarveAndré Ponte100% (1)
- FIII 09 05 Indutância Mútua e TransformadoresDocumento13 páginasFIII 09 05 Indutância Mútua e Transformadoresabinadi123Ainda não há avaliações
- Escalonamento CPUDocumento38 páginasEscalonamento CPUCarlos NhatuveAinda não há avaliações
- " Se A Educação Não For Provocativa, Não Constrói, Não Se Cria, Não Se Inventa, Só Se Repete. " (Mário Sérgio Cortella)Documento3 páginas" Se A Educação Não For Provocativa, Não Constrói, Não Se Cria, Não Se Inventa, Só Se Repete. " (Mário Sérgio Cortella)LUCAS CHAGASAinda não há avaliações
- Livro ControladoriaDocumento176 páginasLivro ControladoriaRaquel Farias De Souza HenriqueAinda não há avaliações
- TJSP Permite Adoção Por Padrasto e MultiparentalidadeDocumento2 páginasTJSP Permite Adoção Por Padrasto e MultiparentalidadeLara SardelariAinda não há avaliações
- Di NT 06 - Ceam - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão PrimáriaDocumento71 páginasDi NT 06 - Ceam - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primáriaandre_ceudvAinda não há avaliações
- Reginaldo Barbosa NunesDocumento152 páginasReginaldo Barbosa NunesRomeritoRellsAinda não há avaliações
- O Mito Do CientificismoDocumento8 páginasO Mito Do CientificismojdpmqptfkpAinda não há avaliações
- Soma Do Desvio Variância Desvio Padrão Média Amostra 1 Mediana Amostra 1 Moda Amostra 1Documento7 páginasSoma Do Desvio Variância Desvio Padrão Média Amostra 1 Mediana Amostra 1 Moda Amostra 1João PedroAinda não há avaliações
- AF - Guia Comercio-1Documento22 páginasAF - Guia Comercio-1isamarmagalhaesAinda não há avaliações
- Caderno de Exercicios VestibularesDocumento94 páginasCaderno de Exercicios VestibularesSteffany BarbosaAinda não há avaliações
- Avaliação Do 4 Bimestral de MatemáticaDocumento4 páginasAvaliação Do 4 Bimestral de MatemáticaLaianny AlmeidaAinda não há avaliações
- Ancoragens para Resgate Industrial - Análise de Segurança No SistemaDocumento14 páginasAncoragens para Resgate Industrial - Análise de Segurança No SistemaMarco CarvalhoAinda não há avaliações
- Neuropsicologia Dos Transtornos de AnsiedadeDocumento36 páginasNeuropsicologia Dos Transtornos de AnsiedadePaula MaiaAinda não há avaliações
- 2 Fase Fuvest CompiladaDocumento330 páginas2 Fase Fuvest CompiladaGuilherme AlmeidaAinda não há avaliações
- Aula 5 - NervurasDocumento42 páginasAula 5 - Nervurasrodri_bgAinda não há avaliações