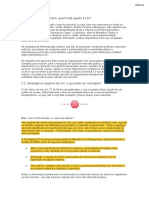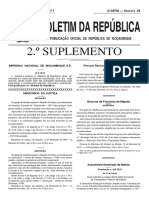Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Educação Não-Formal - Educador Social - Maria Da Gloria Gohn PDF
Educação Não-Formal - Educador Social - Maria Da Gloria Gohn PDF
Enviado por
Luciano JúniorTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Educação Não-Formal - Educador Social - Maria Da Gloria Gohn PDF
Educação Não-Formal - Educador Social - Maria Da Gloria Gohn PDF
Enviado por
Luciano JúniorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Educao no-formal, educador(a) social e projetos sociais
de incluso social
Maria da Gloria Gohn*
Resumo
O presente artigo analisa a participao de segmentos da sociedade civil organizada ao
redor de Projetos Sociais Educativos que objetivam a incluso de comunidades carentes
e/ou a promoo do desenvolvimento sustentvel, em parceria com diferentes
instituies e organizaes sociais, inclusive com a rede escolar. Busca-se compreender
as aes coletivas no campo da Educao No-Formal, nos marcos de uma teoria social
crtica. As prticas da educao no-formal se desenvolvem usualmente extramuros
escolares, nas organizaes sociais, nos movimentos, nos programas de formao sobre
direitos humanos, cidadania, prticas identitrias, lutas contra desigualdades e
excluses sociais. As aes desenvolvidas so analisadas destacando-se os sujeitos que
atuam como educadores nos projetos - aqui denominados como Educadores Sociais.
O trabalho tem duas partes - a primeira faz uma breve caracterizao do que a
educao no-formal e o papel e perfil do Educador (a) Social. A segunda apresenta
projetos sociais que se inscreveram no concurso Rumos: Educao, Arte e Cultura, do
Instituto Ita Cultural, ano 2006 (222 projetos sociais), aqui analisados como exemplos
de educao no-formal.
Dentre as principais concluses deste artigo destacam-se os mritos nos resultados
obtidos pelos projetos sociais, em termos de melhoria das condies de vida das
comunidades ou de um melhor desempenho na escola dos jovens participantes; a
importncia do resgate da memria local etc. Fica claro tambm as carncias na
formao do educador que atua nos projetos, a necessidade da sistematizao das
metodologias pedaggicas utilizadas, a no continuidade das aes e a dificuldade de
apoio s prticas desenvolvidas. A necessidade de atuar em redes e sair do isolamento
local, assim como dar visibilidade ao trabalho das mulheres que esto atuando como
Ph.D. em Sociologia pela New School for Social Research, NY; Professora Titular do Curso de Ps-Graduao da
Universidade Nove de Julho/UNINOVE, SP; Avaliadora de Peridicos do SciElo Brasil. E-mail: mgohn@uol.com.br
Educao no-formal, educador (a) social e projetos sociais de incluso social
29
educadoras sociais, foram sugestes bsicas feitas pela pesquisa, apresentadas neste
trabalho.
Palavras-chave: Educao no-formal. Educador(a) social. Projetos sociais educativos.
Non-formal education, social educator and social projects of social
inclusion
Abstract
The paper presents a study of social participation of civil society in the Community Social
Projects. The aim is analyzed the process of non-formal education in the practices of the
groups of civil society organized. The paper has two parts: the first has a theoretical
character and discusses the non-formal category and characterized the people that work
in the community- the Social Educator. The second part presents the educators and the
social projects that have participated in the selection of the Programme Rumos:
Educao, Arte e Cultura, of the Instituto Ita Cultural, in 2006.
Keywords: Non-formal education. Social educator. Social education projects.
Educacin no-formale, educador sociale y proyectos sociales de inclusin
Resumen
El objectivo de este trabajo es realizar un estudio sobre los Proyectos Sociales qui tienen
hogar em la comunidad analisando los procesos de la educacin no-formale y sus roles
en lo proceso de organizacin de la communidad. El trabajo tiene dos partes. La primera
estudia la categoria non-formale e lo perfil de los educadores sociales. La segunda
analisa los proyectos qui ya participado de lo Programma Rumos: Educao, Arte e
Cultura, de lo Instituto Ita Cultural, in 2006.
Palabras clave: Educacin no formal. Educador(a) social. Proyectos de educacin social.
Apresentao
Este artigo destaca um campo especfico de manifestao e desenvolvimento de
Projetos Sociais Educativos junto a comunidades de baixa renda, nas cidades brasileiras,
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
30
Maria Gloria Gohn
desenvolvidos sob a bandeira da incluso social e que configuram uma rea de prticas
educativas - a da Educao No Formal. Trata-se de um campo que, na atualidade,
domina a cena do associativismo brasileiro no meio popular, cria cenrios e paisagens
urbanas especficas e no so vistas ou tratadas como objeto de estudo na rea da
educao. H mais de dez anos que o debate terico nas cincias humanas,
especialmente as cincias sociais aplicadas, tem dado destaque crise do paradigma
dominante da modernidade, s transformaes societrias decorrentes da globalizao,
s alteraes nos padres das relaes sociais dado o avano das novas tecnologias, e s
inovaes que tem levado ao reconhecimento de uma transio paradigmtica. Isso
tudo tem levado rediscusso dos paradigmas explicativos da realidade, e a crtica
produo cientfica do ltimo sculo, fundada na racionalidade da razo e na crena do
progresso e crescimento econmico a partir do consumo (SANTOS, 2000; TOURAINE,
1994). O filsofo italiano Vattimo, em 1985, j afirmara que a modernidade est
concluda; Ulrick Beck (1988), na mesma ocasio alertava para a sociedade de risco e a
dissoluo da sociedade industrial na modernidade da poca.
Alguns autores,
analisando os pases hoje tidos como emergentes, e na poca chamados de Terceiro
Mundo, falaram da crise de uma modernidade tardia (SZTOMPKA, 1998). O que se
observa de fato que o debate sobre a crise da modernidade, trouxe tona a questo
da racionalidade, o questionamento da racionalidade cientfica como a nica legtima,
mas trouxe tona tambm novos campos de produo de conhecimento e reas do
saber que estavam invisveis ou no tratadas como conhecimento ou saber educativo recobertas de prticas pedaggicas e processos educativos. Outras dimenses da
realidade social, igualmente produtoras de saber, vieram tona, tais como as que
advm do mundo das artes, do mundo feminino das mulheres, do corpo das pessoas,
das religies e seitas, da cultura popular, das aprendizagens do cotidiano, via a educao
no-formal. E estas outras racionalidades esto predominantemente presente nos
trabalhos desenvolvidos no campo da educao no-formal, junto a centenas ou
milhares de pessoas que participam de projetos sociais comunitrios. Hardt e Negri
(2005) chamam a ateno para a rede de singularidades que produzem a riqueza social
de forma colaborativa em inmeras aes e projetos coletivos. Ou seja, h multides
de pessoas participando dos processos de trabalho social que so simplesmente
invisveis nos textos e anlises mais usuais da atualidade na rea da educao e outras
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
Educao no-formal, educador (a) social e projetos sociais de incluso social
31
afins. Neste sentido vamos iniciar este texto pela conceituao o que educao noformal e o trabalho do educador social neste campo.
A educao no-formal e o educador social
A educao no-formal uma rea que o senso comum e a mdia usualmente no
vem e no tratam como educao porque no so processos escolarizveis. A
educao no-formal designa um processo com vrias dimenses tais como: a aprendizagem poltica dos direitos dos indivduos enquanto cidados; a capacitao dos
indivduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exerccio de prticas que capacitam os
indivduos a se organizarem com objetivos comunitrios, voltadas para a soluo de
problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de contedos que possibilitem aos
indivduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreenso do que se
passa ao seu redor; a educao desenvolvida na mdia e pela mdia, em especial a
eletrnica, etc. So processos de auto-aprendizagem e aprendizagem coletiva adquirida
a partir da experincia em aes organizadas segundo os eixos temticos: questes
tnico-raciais, gnero, geracionais e de idade, etc.
As prticas da educao no-formal se desenvolvem usualmente extramuros
escolares, nas organizaes sociais, nos movimentos, nos programas de formao sobre
direitos humanos, cidadania, prticas identitrias, lutas contra desigualdades e
excluses sociais. Elas esto no centro das atividades das ONGs nos programas de
incluso social, especialmente no campo das Artes, Educao e Cultura. A msica tem
sido, por suas caractersticas de ser uma linguagem universal e de atrair a ateno de
todas as faixas etrias, o grande espao de desenvolvimento da educao no-formal
(GOHN, D., 2003). E as prticas no-formais desenvolvem-se tambm no exerccio de
participao, nas formas colegiadas e conselhos gestores institucionalizados de
representantes da sociedade civil.
A educao no-formal uma rea carente de pesquisa cientfica. Com raras
excees, o que predomina o levantamento sistemtico de dados para subsidiar
projetos e relatrios, feitos usualmente por ONGs, visando ter acesso aos fundos
pblicos que as polticas de parcerias governo-sociedade civil propiciam. A reflexo
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
32
Maria Gloria Gohn
sobre esta realidade, de um ponto de vista crtico, reflexivo, ainda engatinha. Ouve-se
falar muito de avaliaes de programas educativos, destinados a comunidades
especficas, apoiados por empresas, sob a rubrica de Responsabilidade Social. O que
devemos atentar que, muitas dessas avaliaes buscam verificar no os resultados dos
programas junto aos sujeitos que deles participam; procuram- se os resultados junto aos
consumidores e acionistas em relao imagem daquelas empresas.
Segundo Gadotti (2005), a educao no-formal mais difusa, menos hierrquica e
menos burocrtica. Seus programas, quando formulados, podem ter durao varivel, a
categoria espao to importante quanto a categoria tempo, pois o tempo da
aprendizagem flexvel, respeitando-se diferenas biolgicas, culturais e histricas. A
educao no-formal est muito associada idia de cultura1. A educao no-formal
desenvolvida em ONGs e outras instituies um setor em construo, mas constitui
um dos poucos espaos do mercado de trabalho com vagas para os profissionais da rea
da Educao.
Podemos localizar a grande rea de demandas da educao no formal como a rea
de formao para a cidadania. Esta rea desdobra-se nas seguintes demandas:
a) Educao para justia social.
b) Educao para direitos (humanos, sociais, polticos, culturais etc.).
c) Educao para liberdade.
d) Educao para igualdade.
e) Educao para democracia.
f) Educao contra discriminao.
g) Educao pelo exerccio da cultura, e para a manifestao das diferenas culturais.
Para concluir este item importante destacar que: a educao no-formal no deve
ser vista, em hiptese alguma como algum tipo de proposta contra ou alternativa
educao formal, escolar. Ela no deve ser definida pelo o que no , mas sim pelo o
que ela um espao concreto de formao com a aprendizagem de saberes para a
vida em coletivos. Esta formao envolve aprendizagens tanto de ordem subjetivarelativa ao plano emocional e cognitivo das pessoas, como aprendizagem de habilidades
Para aprofundamento, ver Maria da Gloria Gohn (1999, p. 98-99).
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
Educao no-formal, educador (a) social e projetos sociais de incluso social
33
corporais, tcnicas, manuais etc., que os capacitam para o desenvolvimento de uma
atividade de criao, resultando um produto como fruto do trabalho realizado.
O educador social
O Educador Social algo mais que um animador cultural, embora ele tambm deva
ser um animador do grupo. Para que ele exera um papel ativo, propositivo e interativo,
ele deve continuamente desafiar o grupo de participantes para a descoberta dos
contextos onde esto sendo construdos os textos (escritos, falados, gestuais, grficos,
simblicos etc). Por isto os Educadores Sociais so importantes, para dinamizarem e
construrem o processo participativo com qualidade. O dilogo, tematizado no um
simples papo ou conversa jogada fora, sempre o fio condutor da formao. Mas h
metodologias que supem fundamentos tericos e aes prticas- atividades, etapas,
mtodos, ferramentas, instrumentos etc. O espontneo tem lugar na criao, mas ele
no o elemento dominante no trabalho do Educador Social, pois o seu trabalho deve
ter: princpios, mtodos e metodologias de trabalho.
Seguindo a pedagogia de Paulo Freire (1983), haveria trs fases bem distintas na
construo do trabalho do educador social, a saber: a elaborao do diagnstico do
problema e suas necessidades, a elaborao preliminar da proposta de trabalho
propriamente dita e o desenvolvimento e complementao do processo de participao
de um grupo ou toda a comunidade de um dado territrio, na implementao da
proposta.
O aprendizado do Educador Social numa perspectiva Comunitria realiza-se numa
mo-dupla - ele aprende e ensina. O dilogo o meio de comunicao. Mas a
sensibilidade para entender e captar a cultura local, do outro, do diferente, do nativo
daquela regio, algo primordial. A escolha dos temas geradores dos trabalhos com
uma comunidade no pode ser aleatria ou pr-selecionada e imposta do exterior para
o grupo. Eles, temas, devem emergir de temticas geradas no cotidiano daquele grupo,
temticas que tenham alguma ligao com a vida cotidiana, que considere a cultura
local em termos de seu modo de vida, faixas etrias, grupos de gnero, nacionalidades,
religies e crenas, hbitos de consumo, prticas coletivas, diviso do trabalho no
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
34
Maria Gloria Gohn
interior das famlias, relaes de parentesco, vnculos sociais e redes de solidariedade
construdas no local. Ou seja, todas as capacidades e potencialidades organizativas
locais devem ser consideradas, resgatadas, acionadas.
O Educador Social ajuda a construir com seu trabalho, espaos de cidadania no
territrio onde atua. Estes espaos representam uma alternativa aos meios tradicionais
de informao que os indivduos esto expostos no cotidiano, via os meios de
comunicao-principalmente a TV e o rdio. Nestes territrios um trabalho com a
comunidade poder construir um tecido social novo onde novas figuras de promoo da
cidadania podero surgir e se desenvolver tais como os tradutores sociais e culturais.
Estes tradutores so aqueles educadores que se dedicam a buscar mecanismos de
dilogo entre setores sociais usualmente isolados, invisveis, incomunicveis, ou
simplesmente excludos de uma vida cidad, excludos da vivncia com dignidade.
Partindo do senso comum, um novo sentido poder ser construdo atravs dos
educadores/tradutores sociais e culturais. A co-gesto democrtica dos trabalhos
desenvolvidos com a comunidade um suposto e um pressuposto insubstituvel.
Informao, indicadores scio-culturais e econmicos da comunidade, contextualizao
da mesma no conjunto das redes sociais e temticas de um municpio, breves notcias
sobre suas memrias e experincias histricas, so parte do acervo de instrumentos
para formar um Educador Social de e em uma dada regio.
Todas as atividades desenvolvidas pelo Educador Social devem tambm buscar
desenhar cenrios futuros, os diagnsticos servem para localizar o presente, assim como
para estimular imagens e representaes sobre o futuro. O futuro como possibilidade
uma fora que alavanca mentes e coraes, impulsiona para a busca de mudanas. A
esperana-fundamental aos seres humanos, reaviva-se quando trabalhamos com
cenrios do imaginrio desejado, com os sonhos e os anseios de um grupo.
Em sntese, o Educador Social atua em uma comunidade nos marcos de uma
proposta socioeducativa, de produo de saberes a partir da traduo de culturas locais
existentes, e da reconstruo e ressignificao de alguns eixos valorativos, tematizados
segundo o que existe, em confronto com o novo que se incorpora.
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
Educao no-formal, educador (a) social e projetos sociais de incluso social
35
Os projetos sociais no Rumos Educao, Cultura e Arte
Apresentamos, a seguir, os resultados de uma pesquisa sobre Projetos Sociais
desenvolvidos por ONGs e movimentos sociais, para exemplificar formas de educao
no-formal, destacando um dos sujeitos principais que nela atua: o educador(a) social. A
pesquisa tem como fonte de dados os projetos sociais inscritos no Programa Rumos Ita
Cultural: Educao, Cultura e Arte (2005-2006). Ao todo foram 222 projetos registrados
em igual nmero de formulrios-tomados como base de dados para as anlises. O
formulrio nos oferece dois tipos de dados: quantitativos e qualitativos. Na anlise,
busca-se
articular estas duas dimenses de forma que a primeira, quantitativa,
realimente a segunda, qualitativa - alicerada nas formulaes e justificativas
escritas/descritas pelos sujeitos participantes inscritos no Programa Rumos. Uma parte
da dimenso quantitativa foi codificada na etapa anterior do Programa, por ocasio do
processo de seleo para o prmio. Foram sistematizados dados dos inscritos por regio
dos projetos, gnero, escolarizao, experincia anterior, rea de atuao no mundo das
artes (linguagem), formao dos sujeitos e cargos desempenhados.
Para a dimenso dos dados qualitativos utilizaremos para a anlise das questes a
anlise de contedo buscando os temas e temticas recorrentes nas respostas dadas s
indagaes do formulrio, procurando captar seus sentidos e significados. Seguindo a
metodologia proposta por Bauer e Gaskell (2005), as temticas nos possibilitam
construir mapas de conhecimento dos sujeitos investigados, sobre o mundo onde atuam
e como o representam enquanto um autoconhecimento. As temticas foram
agrupadas e classificadas em eixos, luz dos sentidos atribudos pelos sujeitos
investigados. Os mapas foram aplicados ao se criar categorias para diferenciar os
objetivos do trabalho do educador (seu perfil) e mapear as instituies e os trabalhos
realizados por elas. O princpio geral organizador da anlise foi o da identidade e as
representaes construdas pelos sujeitos inscritos em relao: ao papel do Educador, a
instituio onde atuam, o pblico que atendem, a comunidade do entorno onde atuam,
e os resultados que julgam estar sendo obtidos no campo da cultura e da Educao.
Os sujeitos inscritos foram analisados em suas praxis cotidianas - em favelas e
regies perifricas das principais capitais brasileiras. Isto porque, os projetos inscritos se
desenvolvem, em sua quase totalidade, em reas de moradia, locais de pobreza,
excluso social, e ou rea de risco de zonas urbanas. Nas grandes cidades so zonas
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
36
Maria Gloria Gohn
urbanas deterioradas favelas, reas perifricas ou bolses de pobreza no interior das
cidades. Alguns projetos desenvolvem-se em regies que j so estigmatizadas como
territrios do mal, tais como polgono da maconha. Em outros, os projetos convivem
no mesmo territrio que ocupado tambm por traficantes e contraventores, tendo de
competir com estas foras para a seduo/adeso do jovem para seu programa (e
continuidade nele). Outros projetos atuam na luta de combate ao trabalho infantil,
tentando reconduzir as crianas e adolescentes para a escola.
As reas centrais, nestas grandes cidades, no tiveram muitos projetos inscritos.
Cumpre mencionar que nestas reas, em algumas cidades, como So Paulo, localizam-se
os movimentos sociais populares urbanos mais organizados na atualidade. Eles atuam
na rea da habitao popular e so moradores de cortios, prdios abandonados ou
moradores que vivem nas ruas.
Quanto s reas de trabalho dos Projetos Sociais analisados, elas dividem-se em:
programas sociais (de apoio a crianas, jovens/ adolescentes, idosos, mulheres etc.),
prestao de servios s comunidades (principalmente na rea da sade, educao e
habitao), projetos culturais e socioeducativos, apoio econmico (programas de
gerao de renda), e defesa de bens e patrimnio, material ou imaterial.
Encontramos poucas instituies atuando diretamente sobre a temtica meio
ambiente. O tema aparece de forma paralela e complementar nos trabalhos com a
reciclagem de materiais de sucata, por exemplo, ou em alguns programas criados em
funo da defesa de algum rio, crrego ou mata, desenvolvido com alunos de escolas.
gua como fonte da vida foi um projeto inscrito e desenvolvido em uma pequena
cidade do Paran. O tema meio ambiente tambm no teve destaque nas propostas
advindas das grandes metrpoles. O tema da defesa dos animais, muito prximo
tambm das lutas dos ambientalistas, no foi encontrado.
O tema de combate s formas de violncia existentes no Brasil atual est presente
em trs eixos: 1- o projeto como um todo atua em reas que apresentam altos ndices
de violncia (a grande maioria das entidades que atuam nestas zonas de risco favelas
principalmente - tem dificuldade para desenvolver seu trabalho justamente porque
concorrem para capturar a ateno dos jovens com as foras organizadas do crime,
contraveno, drogas etc.); 2- focalizando uma modalidade de violncia, por exemplo,
explorao sexual, trabalho infantil, etc; 3- focalizando o tema da paz, atuando como
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
Educao no-formal, educador (a) social e projetos sociais de incluso social
37
formadora de uma cultura da paz, resgatando valores que contribuam para novas
mentalidades e novas culturas sobre o cotidiano.
Todos os projetos que objetivam resgatar/trabalhar em campos da cultura local,
acabam tendo algum tipo de impacto no entorno, sendo o maior deles o de carter
educativo - formam um saber, desenvolvem-se a conscincia de pertencimento da
comunidade local (GOHN, M. G., 2006a). Observamos isto no registro de projetos que
trabalham, por exemplo, com o desenho de pssaros, comidas e frutas da regio, danas
e manifestaes artsticas em geral.
A participao scio-poltica e comunitria a partir de projetos construdos
coletivamente, e que levam a uma interveno social - por exemplo, numa praa
pblica, contribuem para a transformao da realidade do pblico atendido. Levam a
melhorias urbanas, a gerao de renda para famlias, ao desenvolvimento e formao de
cooperativas de artesos. Os projetos que fomentam a participao cidad dos jovens
contribuem para o resgate da auto-estima, mas podem ir muito alm-delineando
projetos e trajetrias de vida. Adolescentes que moravam em abrigos foram
reintegrados s famlias.
Deve-se registrar que, embora em nmero pequeno, teve-se inscries de projetos
com jovens na zona rural, a exemplo de um projeto sobre educomunicao rdio rural,
na zona rural de Feira de Santana/BA, ou o Projeto Msica, Direito de Todos, em So
Jos da Mata, zona rural do municpio de Campina Grande - Paraba. Alguns projetos
vo para a zona rural esporadicamente como o projeto da Companhia Cultural Bola
de Meia do Vale do Paraba, que trabalha as manifestaes culturais da Folia de Reis e
as visitas s casas familiares, alm das tradies de Moambique, Catira, So Gonalo,
Congada, e outras mais do Brasil rural/passado.
H inmeros registros de apresentaes de participantes dos projetos na
comunidade local-escolas, salo de idosos, praas, igreja, associao comunitria e
outros espaos locais, extramuros da instituio. Alguns projetos abrangem uma regio
muito alm das fronteiras do bairro. No Complexo da Mar, no Rio de Janeiro, onde
habitam 170 mil habitantes, por exemplo, 16 comunidades so includas num projeto.
Um destaque exemplar a preocupao que existe em vrios projetos com a
recuperao da memria do local, a histria do bairro, de seus personagens. Alm de
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
38
Maria Gloria Gohn
reconstruir a identidade do local, estes projetos contribuem para desenvolver vnculos
sociais, tecer redes de solidariedade entre os moradores.
Os projetos que tm como proposta intervir na cena urbana, atravs de uma
apresentao ou a elaborao de um cenrio de arte, como um grafite, contribuem para
a apropriao e ressignificao do espao pblico. Transformar uma pichao em um
muro com a criao de uma criao artstica uma tarefa rdua. Destaca-se o projeto
de pintura dos muros externos da escola local com ilustraes da histria do bairro
(Zona Leste de S. Paulo).
A presena de coordenadores, ou do presidente de uma entidade sempre forte
dentro da instituio, na determinao do tipo e modalidade de projeto desenvolvido.
Poucas informaes foram registradas sobre a demanda da comunidade sobre o tipo de
projeto desenvolvido ou se houve alguma interao com os moradores para a definio
de um projeto. A maioria dos inscritos assinala que desenvolve metodologias
participativas, registram, fazem avaliaes etc. Mas h poucas referncias interao
inicial, preliminar, na definio do projeto. Fica-se na dvida se ele foi levado para a
comunidade, ou se ele foi demandado. Teoricamente, os resultados e as
possibilidades de desenvolvimento e sustentabilidade de um projeto so bem diferentes
nestes dois casos.
Entre os Projetos Sociais analisados, predominam instituies localizadas na regio
Sudeste do pas - 69,37. Nesta regio, o Estado de So Paulo lidera com 104 inscries
(quase 50% do total) e neste estado, a maioria (57) est localizada na sua capital.
Seguem-se Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entretanto estes dados no nos permitem a
deduzir que a maioria dos projetos scio-culturais inscritos se localizam em territrios
brasileiros mais desenvolvidos e compostos por contingentes populacionais mais
aquinhoados economicamente porque, na atualidade, a pobreza, a excluso social e as
reas de conflitos sociais localizam-se mais nas regies urbanas das grandes metrpoles
e cidades de grande porte, e no nos pequenos municpios brasileiros, ou zonas rurais.
Por isto, os programas governamentais de apoio econmico, que buscam criar redes de
proteo social, do tipo Bolsa Famlia tm mais impacto em localidades de menor
densidade demogrfica, localizadas em sua grande maioria nas regies Norte e Nordeste
do pas, e eles tm pouca visibilidade nas grandes metrpoles. Se olharmos para o
Nordeste-, Salvador, Recife e Fortaleza so os plos concentradores das instituies
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
Educao no-formal, educador (a) social e projetos sociais de incluso social
39
inscritas. Piau e Alagoas no participaram. Na regio Norte, os inscritos concentram-se
mais no estado do Par, basicamente na sua capital, Belm.
H vrios estados que no tiveram instituies participantes como Amazonas, Acre,
Roraima, Amap. A baixa participao da regio Sul causou-nos surpresa de um lado, e
compreenso de outro. Surpresa porque o Sul tem tradio de associativismo,
compreenso porque no so estados com grande nmero de populaes em situao
de vulnerabilidade. Entretanto, inicialmente, tnhamos um suposto de que Porto Alegre
apresentaria um grande leque de projetos scio-culturais e educacionais entre os
inscritos, devido fama que ela alcanou, at no plano internacional, com as edies do
Frum Social Mundial entre 2001-2007 (exceto 2004 que foi na ndia, 2006 na
Venezuela e 2007 no Qunia, na frica), e por seu longo perodo de gesto pblica
governamental com programas participativos tipo Oramento Participativo. Mas no foi
isto que os dados revelaram - registraram apenas duas inscries: uma na capital e uma
no estado do Rio Grande do Sul.
Uma ltima, mas talvez a mais importante observao - sobre a participao das
mulheres nos Projetos Sociais. Elas so a maioria, mas elas so invisveis: enquanto
mulheres e enquanto relao de gnero. Sabemos que as mulheres tm construdo, nas
ltimas dcadas, o maior movimento social que se tem notcia - o movimento de colocar
a sociedade em ao. So as mulheres que compem, majoritariamente, como
participantes e sujeitos principais, os diversos tipos de movimentos sociais que
conhecemos. E no apenas os movimentos sociais, tambm nas ONGs e projetos scioculturais desenvolvidos na sociedade civil - em parceria ou no com as polticas pblicas,
as mulheres tm sido sempre a maioria. Portanto, uma primeira concluso - as mulheres
esto em todas as formas de redes movimentalistas e no apenas nos movimentos e
aes coletivas sobre temas que dizem respeito a si prprias, como sade, reproduo,
sexualidade, corpo, trabalho, discriminao e outros temas/bandeiras das lutas das
mulheres, especialmente dos grupos feministas ou focados na questo de gnero.
Entretanto, nos Projetos Sociais, elas atuam silenciosamente, no aparece sua presena
como mulher mas sim como um ente colaborador de um processo, um tanto assexuado
(TOURAINE, 2007; GOHN, M. G., 2007).
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
40
Maria Gloria Gohn
Concluses
A nova realidade produzida pela ao de parcerias ou interao da sociedade civil
organizada com rgos pblicos, empresas, ONGs etc. pouco conhecida dos brasileiros
e maioria das universidades enquanto instituio, assim como tem recebido pouca
ateno dos pesquisadores e intelectuais de uma forma geral. Esta faceta nova do Brasil
apresenta grupos, instituies e coletivos scio-culturais preocupados com a questo
social, com crianas e adolescentes que vivem em zonas urbanas desfavorveis,
excludas scio-economicamente, mas plenas de vontade de mudar, atuando sempre
com muita criatividade. O Brasil desenhado por estes coletivos traz para o palco atores
e sujeitos desconhecidos, projetos sociais desenvolvidos nas zonas perifricas das
grandes capitais, em favelas, e em cidades que nem sonhvamos que existiam. Outras,
nem to desconhecidas mas em locais longnquos, como Castanhal, no Par, revela-nos
via projetos que l se desenvolvem, como o Projeto Cho de Barro, toda a riqueza da
cermica artesanal local.
Os projetos inscritos no concurso selecionado para este estudo apresentam
tambm profissionais que tem escolhido outros rumos para suas carreiras e vidas, fora
dos empregos estveis, bem remunerados e bem localizados (os quais esto em
extino), atuando como educadores sociais. A maioria destes educadores tem curso
superior completo, formada em reas das cincias humanas, composta por mulheres,
idade mdia ao redor de 30 anos, e mais de 5 anos de experincia em trabalho com
projetos sociais. Muitos deles (as) nasceram em locais de pobreza econmica, at
mesmo em favelas, alguns foram criados em instituies caritativas. Por meio do estudo
e esforos, emanciparam-se economicamente e hoje so professores de escolas
pblicas, profissionais liberais, ou trabalham em projetos sociais apoiados por rgos
pblicos. As marcas de suas trajetrias criaram uma identidade cultural que inclui a
solidariedade e o olhar para os excludos da atualidade. Artes plsticas, visuais e
corporais predominam como linguagens mais utilizadas. Eles tiveram aprendizados de
educao no-formal na trajetria de suas vidas. Por isso transitam com facilidade entre
o formal e o no-formal.
Certamente que nem tudo so flores e os espinhos so muitos, tratados
cotidianamente. Os problemas so de diferentes ordens e natureza, localizados nas
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
Educao no-formal, educador (a) social e projetos sociais de incluso social
41
reas onde atuam, na falta de apoio e de recursos financeiros e estruturais para
desenvolverem os projetos, nas prprias instituies patrocinadoras que, na maioria
das vezes, no ultrapassam os marcos assistenciais, com projetos pontuais que no tm
continuidade; dificuldades para atuarem em redes solidrias, para congregarem
esforos (LAVALLE; CASTELO; BICHIR, 2006) . Internamente h muitos discursos sobre a
necessidade de superar diferenas e diversidades culturais. Mas h dificuldades para
colocar estes princpios na prtica, congregando esforos, superando divergncias. E
tambm dificuldades advindas de carncias na formao do educador que atua nos
projetos etc. Apesar de esforos hericos de uns, que trabalham voluntariamente e
gastam recursos prprios para a compra de material para o trabalho (tintas e pincis,
por ex.. ou roupas para peas), h tambm o no reconhecimento de membros do
prprio local onde a atividade desenvolvida, a exemplo do relato de uma Associao
de Pais e Mestres (APM). No obstante, um novo campo de ao coletiva est em ao,
sob o signo de uma modalidade da educao sempre esquecida, ignorada ou
desdenhada: a educao no-formal, fundamental para a formao dos indivduos,
parte integrante da constituio dos seres humanos enquanto cidados.
Somente as metas de busca da eficcia, competncia, resultados, talentos, no
resolvem os desafios postos s ONGs e sociedade. Algo mais necessrio, para que se
contraponha ao modelo que est implantado no pas, exige que as aes das ONGs
tenham vnculos com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais e
populares, com as associaes de moradores, com todos os grupos organizados e com
todos aqueles que lutam por direitos sociais no pas.
Entidades pertencentes ao Terceiro Setor, em sua face mais mercadolgica,
desenraizado do setor associativo/movimentalista, portador apenas de um discurso
genrico de incluso social, tem dificuldades para superar o desafio de incluir os
excludos em processos realmente emancipatrios porque eles no tem relao de
pertencimento, as aes so frutos de aes desterritorializadas, a abordagem
focal/emergencial trata e reduz os cidados a clientes usurios de servios. O trabalho
voluntrio -individualizado- sem nenhum impacto social no desenvolvimento de uma
conscincia social leva somente ao estrelismo, ao glamour, merchandising e
mercantilizao onde o que se busca agregar valor a uma marca, produto ou pessoa.
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
42
Maria Gloria Gohn
Conclumos este artigo retomando uma de suas premissas iniciais - a educao no
formal uma ferramenta importante no processo de formao e construo da
cidadania das pessoas, em qualquer nvel social ou de escolaridade. Entretanto, quando
ela acionada em processos sociais desenvolvidos junto a comunidades carentes
socioeconomicamente, ela possibilita processos de incluso social no resgate da riqueza
cultural daquelas pessoas, expresso na diversidade de prticas, valores e experincias
anteriores. Quando presente na fase de escolarizao bsica de crianas,
jovens/adolescentes ou adultos, como observamos em vrios dos projetos sociais
analisados, ela potencializa o processo de aprendizagem, complementando-o com
outras dimenses que no tem espao nas estruturas curriculares. Ela no substitui a
escola, no mero coadjuvante para simplesmente ocupar os alunos fora do perodo
escolar chamada por alguns de escola integral ou educao permanente. A educao
no-formal tem seu prprio espao-forma cidados, em qualquer idade, classe scioeconmica, etnia, sexo, nacionalidade, religio etc., para o mundo da vida!Ela tem
condies de unir cultura e poltica (aqui entendidas como modus vivendi, conjunto de
valores e formas de representaes), dando elementos para uma nova cultura poltica.
Referncias
BAUER, M. W. ; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual
prtico. 4. ed. Petrpolis: Vozes, 2005
BECK, U. La sociedad del Riesgo. Barcelona: Paidos, 1988.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
GADOTTI, M. A questo da educao formal/no-formal. Sion, Suisse: Institut
International ds Droits de lenfant-IDE, 2005.
GOHN, D. Auto-aprendizagem musical: alternativas tecnolgicas, So Paulo:
ANNABLUME, 2003.
GOHN, M. G. Associativismo em So Paulo: novas formas e participao no
planejamento urbano da cidade. In: NUNES, B. F. (Org.). Sociologia de capitais
brasileiras: participao e planejamento urbano. Braslia, DF: Lber Livro, 2006.
_____. Educao no-formal e cultura poltica. So Paulo: Cortez, 1999.
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
Educao no-formal, educador (a) social e projetos sociais de incluso social
43
______. Mulheres: atrizes dos movimentos sociais: relaes poltico-culturais e debate
terico no processo democrtico. Revista Sociedade e Poltica, Florianpolis, v. 6, n.
11, p. 41-70, 2007.
HARDT, M.; NEGRI, A. Multido: guerra e democracia na era do imprio. Rio de Janeiro:
So Paulo: Record, 2005.
LAVALLE, A. A. G.; CASTELO, G.; BICHIR, R. Redes, protagonismos e alianas no seio da
sociedade civil. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 30., 2006, Caxambu. Anais...
Caxambu: MG: ANPOCS, 2006.
SANTOS, B. S. A crtica da razo indolente: contra o desperdcio da experincia. So
Paulo: Cortez, 2000.
SZTOMPKA, P. A sociologia da mudana social. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1998.
TOURAINE, A. Crtica da modernidade. Petrpolis: Vozes, 1994.
______. O mundo das mulheres. Petrpolis, Vozes, 2007.
VATTIMO, G. O fim da modernidade: niilismo e hermenutica na cultura ps-moderna.
Lisboa: Presena, 1985.
Recebido em: 08/03/2009
Aceito em: 04/06/2009
Meta: Avaliao | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009
Você também pode gostar
- TESE PAULO MALVASI. Interfaces Da Vida Loka, Um Estudo Sobre Jovens, Trafico de Drogas e Violencia em SPDocumento288 páginasTESE PAULO MALVASI. Interfaces Da Vida Loka, Um Estudo Sobre Jovens, Trafico de Drogas e Violencia em SPRodrigo Gonçalves BenevenutoAinda não há avaliações
- Tese Contexto Brasileiro Pós MROSC - Patricia Lane Araújo Reis 2021Documento265 páginasTese Contexto Brasileiro Pós MROSC - Patricia Lane Araújo Reis 2021Vg —Ainda não há avaliações
- ArquivototalDocumento125 páginasArquivototalYeshua MarmansAinda não há avaliações
- Texto 2 Estado e Relação Público Privado Educação Peroni 2009 PDFDocumento18 páginasTexto 2 Estado e Relação Público Privado Educação Peroni 2009 PDFnAinda não há avaliações
- Slides AmbientalDocumento7 páginasSlides AmbientalAmanda RedigoloAinda não há avaliações
- Gestão Do Terceiro Setor: Daniele Melo de OliveiraDocumento48 páginasGestão Do Terceiro Setor: Daniele Melo de OliveiradanielAinda não há avaliações
- Educação Não Formal - Pedagogia Social Transformadora e MotivadoraDocumento7 páginasEducação Não Formal - Pedagogia Social Transformadora e MotivadoraroseliAinda não há avaliações
- Ouvidoria Modulo 1Documento17 páginasOuvidoria Modulo 1Alessandro RjAinda não há avaliações
- 1 - Organização, Gestão e GestoresDocumento93 páginas1 - Organização, Gestão e Gestoresbeatriz oliveiraAinda não há avaliações
- Zulma Palermo - Revisando Fragmentos Del Archivo Conceptual LatinoamericanoDocumento191 páginasZulma Palermo - Revisando Fragmentos Del Archivo Conceptual LatinoamericanoFátima Lima100% (1)
- Dissertacao ALMEIDA, Suzana SilveiraDocumento119 páginasDissertacao ALMEIDA, Suzana SilveiraKarla SantosAinda não há avaliações
- Soluções para Atenuar As Desigualdades de Desenvolvimento 14 15Documento25 páginasSoluções para Atenuar As Desigualdades de Desenvolvimento 14 15Gina Espenica100% (4)
- Gestão Administrativa e Financeira para Associações e Outras Entidades Do Terceiro StorDocumento41 páginasGestão Administrativa e Financeira para Associações e Outras Entidades Do Terceiro StorCURSOS CONSULTECAinda não há avaliações
- 2016 Aguayo y Nascimento Masculinidades America LatinaDocumento15 páginas2016 Aguayo y Nascimento Masculinidades America LatinaGonzalo Baros SánchezAinda não há avaliações
- Avaliando o Aprendizado - Direito Administrativo IDocumento8 páginasAvaliando o Aprendizado - Direito Administrativo IJader OliveiraAinda não há avaliações
- RAPPortugais 2 PDFDocumento62 páginasRAPPortugais 2 PDFAli AidarAinda não há avaliações
- UntitledDocumento19 páginasUntitledNubbsAinda não há avaliações
- Bombeiro Civil e Bombeiro Militar DiferençasDocumento4 páginasBombeiro Civil e Bombeiro Militar DiferençasFabioAinda não há avaliações
- Módulo 3 - Parcerias e LiderançasDocumento27 páginasMódulo 3 - Parcerias e LiderançasVinicius M FurtadoAinda não há avaliações
- P Cgu 2021 Auditor Federal de Financas e Controle - Area Contabilidade Publica e Financasaffc-Cf Tipo 2 TardeDocumento24 páginasP Cgu 2021 Auditor Federal de Financas e Controle - Area Contabilidade Publica e Financasaffc-Cf Tipo 2 TarderecantoplutaoAinda não há avaliações
- RAICHELIS - FichamentoDocumento6 páginasRAICHELIS - FichamentoJéssicaAinda não há avaliações
- Curso 250329 Aula 04 5913 CompletoDocumento79 páginasCurso 250329 Aula 04 5913 Completoeduardo netoAinda não há avaliações
- Auxiliar de Apoio A Inclusao EscolarDocumento13 páginasAuxiliar de Apoio A Inclusao Escolarryandavid082Ainda não há avaliações
- Estatuto+do+CNV+-+BR 29 III SERIE 2o SUPLEMENTO 2011Documento18 páginasEstatuto+do+CNV+-+BR 29 III SERIE 2o SUPLEMENTO 2011Ravi J. TageAinda não há avaliações
- Pedagogia SocialDocumento35 páginasPedagogia SocialJuliana Zantut Nutti100% (1)
- RELATORIO - FINAL - Idoso (Violencia) DireitoDocumento6 páginasRELATORIO - FINAL - Idoso (Violencia) DireitoIlderson MarchettiAinda não há avaliações
- Demandas Sociais Vs Crise de Financiamento - o Papel Do Terceiro Setor No Brasil. P. 33-36 PDFDocumento43 páginasDemandas Sociais Vs Crise de Financiamento - o Papel Do Terceiro Setor No Brasil. P. 33-36 PDFRu AlvesouzaAinda não há avaliações
- Decreto #32.419Documento7 páginasDecreto #32.419ppedroandre2020Ainda não há avaliações
- DE MELLO, Anahi Guedes. Por Uma Abordagem Antropológica Da Deficiência - Pessoa, Corpo e Subjetividade PDFDocumento86 páginasDE MELLO, Anahi Guedes. Por Uma Abordagem Antropológica Da Deficiência - Pessoa, Corpo e Subjetividade PDFRameraAinda não há avaliações
- Relatório Entre Patas e Beijos - Anthony 41995850870Documento2 páginasRelatório Entre Patas e Beijos - Anthony 41995850870Anthony LuiggyAinda não há avaliações