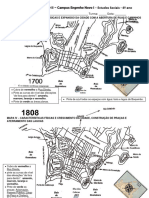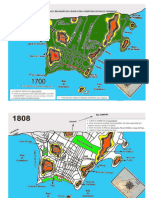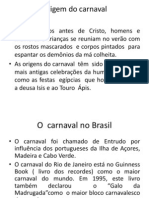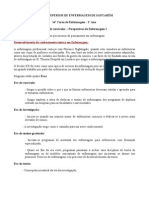Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Linguagem Cognicao
Linguagem Cognicao
Enviado por
Ana Cristina Calabria VicenteTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Linguagem Cognicao
Linguagem Cognicao
Enviado por
Ana Cristina Calabria VicenteDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LINGUAGEM E COGNIO NA CONSTITUIO DE UMA COGNIO MUSICAL (LANGUAGE AND COGNITION IN THE FORMATION OF A MUSICAL COGNITION) Marcelo S. F.
MELLO (Uni camp) ABSTRACT: Enlarging the r each and the sense of a intersubjective, social and discursive view of their contents , the possible relationships between language and human cognition can modify the influence of a "semiological" model of the linguistic contents in other human manifestations, as the music - or its scientific, cognitive resear ch, associated to the name of musical cognition. KEYWORDS: music; cognition; language; brain; mind As tradies tericas e filosfi cas a respeito das relaes entre linguagem e pensamento caracteri zam-s e co mu mente po r u ma cis o entre estes dois el ementos, principal mente d esde a ciso filos fica entre o co rpo (a realidad e material) e a al ma (o pensamento, a racionalidade) proposta por DESCARTES. Uma noo de linguagem como objeto, mecanis mo de sentido racional e lgico a servio de uma racionalidade individual (de u ma subjetividade), en contrv el desde as fo rmula es cartesianas , ter ento , por sua vez, fortes caractersticas racionalistas e fo rmalistas (de u m conjunto de regras ou u m cdigo lgico e formal, irredutvel e i mbudo a priori de sentido), mecanicistas e fisicalistas (de uma concretude material e invarivel, ou mes mo fsica, dada objetivamente na natureza), ou naturalistas e inatistas (de uma organicidade natural, advinda de propriedades biolgicas do sistema nervoso e ani mal). Ora, estas caractersticas sero condizentes no s com o mtodo estruturalista de estudo da linguagem como sistema de oposies entre el ementos distintos, que marca a formulao do estudo da linguagem, a Lingstica, como cincia (SAUSSURE 1916) mas tambm com os postulados da maior parte das atuais pesquisas cient ficas (empiricistas) a respeito dos fundamentos da mente humana, agrupveis institucionalmente com o nome de Cinci as Cognitivas, ou talvez de forma mais adequada, em uma linha t erica geral comum i mputvel como cognitivis mo. A palavra "cogni o" pode ser descrita num di cionrio como o processo de "aquisio do conheci mento"; s eu uso nos meios cient ficos aparece associado mais especi fi camente ao estudo de processos espec ficos da percepo e da atividade motora, ani mais e hu man as, e p rincipal mente sua relao co m o p ensamento e a razo, ou co m "atividades mentais superiores ". Ou s eja, ao mo mento justament e em qu e a sensao fsi ca (perceptual) e o pensamento abstrato podem s e "trans formar" ou se "trans mitir" um ao outro. Se os processos mentais superiores so acessveis para descrio e explicao apenas atravs de especul ao filos fica, os p rocessos p erceptuais e motores apres entam u m vasto
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 823-828, 2004. [ 823 / 828 ]
campo objetivo e mat erial para estudos cient fi cos, empricos, formais e precisos. A partir desta frmula si mples, a proposio atual de respostas cient ficas (emp ricas , mat erialistas) a respeito da mente humana responde a origens histricas, epistemolgicas e ideolgicas deli mitveis (DUPUY 1996); abarca na verdade questes fundamentais do conheci mento humano; e, ao mes mo tempo, tm profundas controvrsias em sua prpria conceituao. Historicamente, ela deve ao "dualis mo ontolgico" oriundo do "cogito ergo sum" ("penso logo existo") de DESCARTES (identi ficvel com o princpio do mtodo cient fico atual e de toda a filosofi a moderna), e posteriormente a longnquos posicionamentos de cart er empiri cista (Locke, Hume, Stuart Mill, etc. -- cf. HAMLYN 1995; FREITAS 1994); mais recentemente, ao intrincado desenvolvi mento terico e tecnolgico das cinci as matemti cas e mais especi ficament e comput acionais durante o s culo XX, o que permite situar o movi mento cognitivista, em grande parte, como fruto de uma viso formalista, fisicalista, logicista e mecani cista dos processos ment ais, de u ma mecanicidade d a razo hu mana, a partir de pesquisas como as de TURING, MCCULLOCH, VON NEWMAN etc. Trata-se ento de investigar portanto uma "resposta cientfica, portanto materialista, ao velho problema filosfico da relao entre a alma e o corpo" (mais uma vez DUPUY 1996). Haver, porm, posies discordantes em relao a um papel meramente instrumental, formal ou mecani cista dos fenmenos da linguagem, opondo, a uma estrutura (u m objeto) lgica e inv ariv el, a no o d e u ma atividad e linguageira (AUROUX 1994) do dia-a-dia, um processo (entre sujeitos da linguagem) construdo dentro de contextos humanos , sociais e histricos. Se uma linguagem postulada como mecani cista e instru mental concordant e com as abordag ens materi alistas e cienti ficistas da Ci ncias Cognitivas, a noo da, linguagem como um processos intersubjetivo e contextual tambm pode representar um paradigma de oposio aos preceitos tericos das pesquisas cognitivistas. Nessa situao , a linguagem no mais necessariamente vista apen as co mo mani festao de uma estrutura formal (da lngua, do pensamento ou de processos cognitivos mais pri mrios), mas p assa a ser valorada t amb m co mo atividade, estruturada e estruturante destes processos (a lngua, o pensamento, processos cognitivos etc.). Para alm de su as cat egorias estruturais, para alm de um sistema determinstico, a linguagem enquanto "atividade constitutiva" dilui e amplia as front eiras do lingstico, definindo-o como um processo, sempre intersubjetivo, entre indivduos (ou sujeitos lingsticos) especfi cos, mais do que baseado em princpios invariveis, sejam estruturais (ou sintticos), sejam de referncia a "objetos " denotativos da realidade (aos quais se deva i mputar um valor-de-verdade). Da mes ma forma, s e pela separao entre sistema lingstico (de funcionamento da significao, abordvel pel a metodologia estruturalista) e suas mani festaes, o mtodo estruturalista det ermina uma dicotomi a essencial entre lngua (estrutura formal) e fala (mani festao hu man a, intersubjetiva), esta dicoto mi a perd e sua fora conceitual na medida em que so valorizados el ementos ligados s formas e processos lingsticos dialgicos, enunciativos ou ilocucionais, de questionamento das maneiras pelas quais possvel se formar e s e manter estes sujeitos lingsticos enquanto tais, enquanto usurios de uma lngua, enquanto falant es vlidos ou autorizados (o que abarca tambm suas condies de
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 823-828, 2004. [ 824 / 828 ]
mani festao ou produo). Ness e movi mento, onde podem ser acolhidos diversos pontos de vista distintos dentro de disciplinas pertinentes aos estudos da linguagem (pragmtica, teorias enunciativas, discursivas etc.), cri a-se uma posio ess encial ment e lingstica em relao aos processos mentais. A partir deste ponto, cada uma das principais caract ersticas que as cincias cognitivas aplicam a seu objeto de estudo pode ser reconstruda. Porm, para que poss a ser alada condi o de uma nova epistemologia, uma abordagem intersubjetiva, interlocutiva, dos contedos e processos ment ais, deve ter a capacidade de abarcar quest es interdisciplinares pertinentes, especial mente no to cante constituio de processos cognitivos. Tal o caso, por exemplo, das estreitas relaes i mputadas entre a linguagem e a msica, entre os processos lingsticos e as mani festaes musicais, que podem s er apresentadas entre os mais comuns axiomas dent ro do conheci mento humano. Por sua vez, as relaes entre msi ca e a cognio humana tm suscitado uma mi rade de trabalhos recentes nos mais diversos assuntos correlatos, que podem ser reunidos sob o termo genrico de cognio musical, ou outros de igual valor. Estudos sobre cognio musical constituem um ramo cient fico atual to florescente quanto a diversidade encontrada nas prprias ci ncias cognitivas, com vrios estudos particulares e "tratados " literrios abrangentes , peridicos cient fi cos especi alizados, centros de pesquisa espalhados pelo mundo. De modo geral, para cada uma das grandes reas de interesse (ou das prerrogativas teri cas) de onde s o enunciadas caractersticas cognitivas de nosso comportamento, pode se encontrar aplicaes j formalizadas no terreno da msica. As bases epistemolgicas e inter-relacionveis dentro das pesquisas em cognio musi cal, por sua vez, foram o tema de minha recente dissertao de mestrado (MELLO 2003). A Lingstica, como modelo interdisciplinar, tem de fato papel preponderante em postulaes tericas e metodolgicas atuais em vrias reas afins da cognio musical. atravs de uma perspectiva lingstica (estruturalista), portanto, que pode se vislumbrar j uma pri meira forma de introduzi r a linguagem em suas relaes com a msica: como o sistema s emiolgico por natureza, a linguagem verbal s e i mpe como modelo estrutural (estruturalista?) para outras "linguagens ", entre elas a musical, permitindo-lhes uma forma anterior de conceituao e de funcionamento (como em BENVENISTE 1966). Nesse caso, a msica assemelhar-se-ia ou "aspiraria" a um sistema semiolgico ou mes mo estruturalista, ou seja, um sistema auto-referente onde as regras de inter-relao entre seus elementos se mostrem ntidas ou ao menos i mbudas de sentido, de validade pela si mples oposio que estes elementos fazem entre si, como nas prerrogativas estruturalistas. Uma propost a como esta pode ser considerada como disseminada em todas as possveis reas de atuao de uma cognio musical: epistemologia (SEEGER 1977), anlise musical (LERDAHL, JACKENDOFF 1981), neuromusicologia em suas divers as formul aes (DALLA BELLA, PERETZ 1999; BESSON KUTAS 1997 etc.), inteligncia arti ficial aplicada msi ca (SMOLIAR 1980) teorias de des envolvi mento humano e infantil (VANEECHOUTTE, SKOYLES 1998) etc. Cri a-se aqui, port anto, uma situao de interdisciplinaridade, no sentido clssico, entre modelos lingsticos e sua aplicao em contedos cognitivos em msica.
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 823-828, 2004. [ 825 / 828 ]
Ocorre que uma tal interdisciplinaridade restrita entre objetos do conheci mento mantm uma condio de instrument alidade funcional, de comparao de fins adequadamente atingidos, tanto no campo da linguagem como principal mente no campo da msica, identi ficada dentro dos paradigmas formais estipulados em nossos meios sociais. Isto , a cognio musi cal ser pres crita a partir das caractersticas pres entes na msi ca normal que conhecemos, dos padres musicais estabelecidos social mente, de uma idia (idealizao) pr-formada dos contedos musicais . Mais que isto, esta idia do que seja o musical apresentad a co mo possuidora d e u m carter univers al, racional e caus al, u ma v ez que determinada por princpios cognitivos, ou em lti ma instncia cient ficos (empri cos, racionalistas). Se estipulada u ma necessidade "causal " entre a percep o musical e seus objetos, esta causalidade no parece fornecer dados novos nem para uma livre interpolao entre msica e musicalidad e (entre elementos musicais e seus efeitos psicolgicos), nem para uma rel ao contingente com a linguagem e a Lingstica, para alm de uma mera instrumentalidade. E as perguntas de fundo epistemolgico permanecem sem resposta neste caso: o musical definvel a partir das propri edades das mani festaes reais da msica? A msica, definvel a partir de propriedades declarveis do musical? Ou, dentro da relao entre msica e linguagem: "A msica uma linguagem? [...] Ou se estrutura como uma linguagem? De que material ela se constitui? A 'linguagem do som' [musical] e a 'linguagem falada' tm uma mesma natureza? [... Haveria ento] uma espcie de 'poder' ou 'ingerncia' da msica na linguagem falada? Ou ser que a expr esso 'linguagem musical' seria mais uma espcie de metfora? Se ela existe, qual o seu lugar na semiologia?" (MORATO 2001). Assi m, dever apresentar conseqncias profundas, para a cognio musical , a afirmao da possibilidade de uma nova epistemologia, uma nova teoria do conheci mento, intersubjetiva e de interconstituio entre a linguagem (as prticas lingsticas) e a cognio, ou entre estas e o ambi ente (contextual) que os cercam. Os objetos (ou as mani festaes musicais) p assam a no s er mais definv eis si mples mente a p artir de u m mecanis mo caus al, cognitivo, lgico (ou simples mente sonoro, auditivo). Eles correspondero a um processo de identificao, valorao e interpretao subjetiva (por sujeitos) de obj etos passveis de serem considerados como musicais, portadores de uma mens agem musical. um paradigma epistemologicamente bastante diverso da causalidade explicativa buscada nas perspectivas cognitivistas: a nfase deixa de s er dada no objeto musical, e volta-se ao sujeito; um mecanis mo objetivo de percepo passa a s er tomado como um processo de interpretao, e a msica dei xa de s er u ma qu esto ess encial ment e de estrutura, e p assa a s e relacion ar meramente co m u ma posio d efinida. Ou seja, as instncias musicais pod em pass ar a s er consideradas como normas de funcionamento de um det erminado discurso (de uma determinada fo rmao ideolgica), e as mani fest aes musicais, co mo ad equaes subjetivas, ou subjetivadas, de construo de "lugares " possveis de sua percepo - os
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 823-828, 2004. [ 826 / 828 ]
sujeitos musicais. A cognio musical, final mente, pode ser apresentada para alm de uma descrio de deli mitaes emp ricas dos objetos (dos fenmenos) musicais, como testemunhas de particularidades processuais de eventos de formao de uma subjetividade musical . Ou seja, no uma cognio da msica, mas a cognio de um discurso musical , de u mdiscu rso d a msica. O estudo de um discurso em msica pode se ampliar de um discurso das "estruturas musicais ", para to mar co mo pertinentes todas as formas de inter-relao entre u m fazer musical (um falar de msica, u ma experincia musical etc.) e uma constituio i maginria do signo musical, ou do objeto musical. No peso valorativo (constitutivo) dos termos e das proposies envolvidas nesta rel ao , em todas as instncias nas quais possvel determin ar os indivduos responsveis pelo ato musical (quem ou o qu faz msi ca; para quem; onde; quando; quais so os pr-requisitos para que se tenha uma msica; questes de valor e julgamento esttico etc.). No prprio cart er tcnico -retrico, presente nas formulaes de uma metfora musical existente entre suas mani festaes e sua deli mit ao teri cofuncional. Na tendnci a (diria-s e to "universal " quanto as prpri as mani festaes musi cais) de i mposio social , ideolgica, dos sistemas musicais , como sistemas naturais, dot ados de propriedades "inefveis ", alm (ou aqum) de qualquer formulao ou indicao mat erial (concreta), "i mplcitos ", "metafricos ", identi ficados com uma Msi ca "ela-mes ma". E tambm na possibilidade de estudos deli mitados, de "campos discursivos " (MAINGUENEAU 1984) espec ficos , dentro de um perodo histrico (ex. o sistema musical chins; o canto gregoriano; o sistema tonal em vri a acep es ), de u ma sociedad e ou de u ma relao soci al (poltica) (ex. a t eoria musical como um processo de constituio de uma classe social , os msicos , ou mes mo como ritual iniciatrio, mitolgico; os processos de culturalizao, produo e consumo dos objetos musicais). claro , a incipin cia d e abo rdag ens co m estas to clara qu anto a d a prp ria construo de uma tal nova epistemologia, um modelo intersubjetivo para as rel aes de ful cro entre linguagem e cognio. O caso aqui apenas o de apontar para a grande questo da subjetividade musical , das v rias formas d e li mite entre a msica e a no -msica, co mo ponto central no desenvolvi mento futuro dentro da cognio musical. E tambm o de encarar estes d ados co mo evidnci as espec ficas e lo cais, d eli mitad as, no p rocesso de contnua construo do conheci mento humano (e musical), levando a novas front eiras possveis, a novas formas possveis, a novas cognies possveis; seria possvel, afinal , dar a "'lti ma pal avra" cient fi ca sobre msica, determinar de uma vez por todas as possveis estruturas, as possveis seqncias , as possveis atividades musicais? E quanto s lingsticas, ou s cognitivas? RESUMO: Ampliando o alcance e o sentido de uma viso intersubjetiva, social e discursiva de seus contedos , as possveis relaes de inter-constitutividade entre a linguagem e a cognio humanas podem modi ficar o papel de modelo s emiolgico dos contedos lingsticos frente a outras mani festaes humanas, como a msica ou sua formulao cient fica, cognitiva, associada ao nome de cognio musical.
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 823-828, 2004. [ 827 / 828 ]
PALAVRAS-CHAVE: msica ; cogni o ; linguagem ; crebro ; mente REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS DASCAL M. (1983). Pragmatics and the Philosophy of Mind. Amsterdam: John Benjamins . MORATO E.M. (1996). Linguagem e cognio : as reflexes de L.S Vygots ky sobre a ao reguladora da linguagem. So Paulo: Plexus. SAUSSURE F. (1916). Curso de Lingstica Geral. So Paulo: Cultrix; (1971). DUPUY J-P. (1996). Nas origens das Cincias Cognitivas. So Paulo: Editora da Unesp. HAMLYN D.W. (1995). Epistemology, history of. IN The Oxford Companion to Philosophy; Oxford University Press; online http://www.xrefer.com/entry/551937 (citado em 09/12/02). FREITAS M.T.A. (1994). Vygotsky e Bakhtin Psicologia e Educao: um intertexto. So Paulo: tica. AUROUX S. (1994). Filosofia da linguagem. Campinas: Editora da Unicamp. BENVENISTE E. (1966). A semiologia da lngua . IN Problemas de Lingstica Geral II; Campinas: Pontes; pp 43-67; (1974). BARTHES R. (1990). O bvio e o obtuso - ensaios crticos III. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. SEEGER C. (1977). Studies in Musicology (1935)-(1975). Berkeley: University of Cali forni a Press . LERDAHL F., JACKENDOFF R. (1981). Generative Music theory and its relation to psychology . Journal of Music Theory 25:45-90. DALLA BELLA S., PERETZ I. (1999). Music Agnosias: Selective Impairments of Music Recognition After Brain Damage . Journal of New Music Res earch 28(3):209-216. BESSON M., KUTAS M. (1997). Mani festations letriques de l activit de l angage dans le cerv eau . IN FUCHS C., ROBERT S.(o rgs.); Diversit des langues et reprs entations cognitives; Paris: Ophyrs; pp 251-271. SMOLIAR S. (1980). Music programs: an approach to musi c through computational linguistics . Journal of Music Theory 20(1). VANEECHOUTTE M., SKOYLES J.R. (1998). The memetic origin of language: modern human as musical pri mat es. Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Trans mission 02; online http://jomemit.cfpm.org/1998/vol2/vaneechoutte_m&skoyles_jr.ht ml (citado em 13/01/2003).
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 823-828, 2004. [ 828 / 828 ]
Você também pode gostar
- Mapashistoricos-Curvas de NivelDocumento5 páginasMapashistoricos-Curvas de NivelAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Gabarito MapashistoricosDocumento4 páginasGabarito MapashistoricosAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Lembrancinha 2 Reunião Geral Mar2024Documento2 páginasLembrancinha 2 Reunião Geral Mar2024Ana Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Lembrancinhas Reunião Geral Mar2024Documento2 páginasLembrancinhas Reunião Geral Mar2024Ana Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Bilhete Dia Da FamiliaDocumento1 páginaBilhete Dia Da FamiliaAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Revista História Viva - As CruzadasDocumento50 páginasRevista História Viva - As CruzadasAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Origem Do CarnavalDocumento10 páginasOrigem Do CarnavalAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- As Relacoes Entre Cognicao e AfetividadeDocumento8 páginasAs Relacoes Entre Cognicao e AfetividadeAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Reflexão Sobre A Teoria Psicogenética - LILIA MANFRINATO JUSDocumento14 páginasReflexão Sobre A Teoria Psicogenética - LILIA MANFRINATO JUSAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Alfabetizacao e Letramento Repensando o Ensino Da Lingua EscritaDocumento13 páginasAlfabetizacao e Letramento Repensando o Ensino Da Lingua EscritaAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Artigo Conceito de Alfabetizacao Versus LetramentoDocumento1 páginaArtigo Conceito de Alfabetizacao Versus LetramentoAna Cristina Calabria VicenteAinda não há avaliações
- Alfabetizacao No Brasil HojeDocumento43 páginasAlfabetizacao No Brasil HojeCris PoeysAinda não há avaliações
- Cursos - SerralheiroDocumento16 páginasCursos - SerralheiroExecutivoAinda não há avaliações
- Abordagens Sobre Autoconceito, Atitude, Percepcao e AprendizagemDocumento28 páginasAbordagens Sobre Autoconceito, Atitude, Percepcao e AprendizagemEdilson RodolfoAinda não há avaliações
- Kuhn - Funcionamento Da CiênciaDocumento1 páginaKuhn - Funcionamento Da CiênciaJoana Inês PontesAinda não há avaliações
- 1.2 Uso Da Língua Enquanto Atividade SocialDocumento61 páginas1.2 Uso Da Língua Enquanto Atividade SocialMarcelo Carvalho60% (5)
- O Papel Da Criminologia Na Definição Do DelitoDocumento15 páginasO Papel Da Criminologia Na Definição Do DelitoSimone NzauAinda não há avaliações
- Métodos de Pesquisa de Survey PDF - Pesquisa GoogleDocumento10 páginasMétodos de Pesquisa de Survey PDF - Pesquisa GoogleMatheus SenaAinda não há avaliações
- Trabalho em Grupo Filosofia Da EducacaoDocumento12 páginasTrabalho em Grupo Filosofia Da EducacaoIsidro Candido Da CostaAinda não há avaliações
- Métodos de Pesquisa em Psicologia Cognitiva - Um Estudo Da Especificidade ComportamentalDocumento7 páginasMétodos de Pesquisa em Psicologia Cognitiva - Um Estudo Da Especificidade ComportamentalRebeca Henne Gonçalves LopesAinda não há avaliações
- Resumo Criminologia Critica e Critica Do Direito Penal Alessandro BarattaDocumento16 páginasResumo Criminologia Critica e Critica Do Direito Penal Alessandro Barattaarraiolo0% (1)
- A HIPÓTESE E A EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Na EducaçãoDocumento21 páginasA HIPÓTESE E A EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Na EducaçãoWil BilAinda não há avaliações
- Minicurso - Semiótica Francesa - Discursiva - GEPESC PDFDocumento10 páginasMinicurso - Semiótica Francesa - Discursiva - GEPESC PDFEduardo PinheiroAinda não há avaliações
- Livro MetodologiaDocumento6 páginasLivro Metodologiamarciagabryel100% (1)
- Pens Amen To em EnfermagemDocumento14 páginasPens Amen To em EnfermagemRicas13Ainda não há avaliações
- Metodologia de Pesquisa MistaDocumento27 páginasMetodologia de Pesquisa MistaDiogo AsaphAinda não há avaliações
- Correção Teste - Filosofia 11 - Estatuto Do Conhecimento CientíficoDocumento3 páginasCorreção Teste - Filosofia 11 - Estatuto Do Conhecimento CientíficoJoana Antunes100% (1)
- Mitutoyo QM Data 200 Manual Do UtilizadorDocumento40 páginasMitutoyo QM Data 200 Manual Do UtilizadorCarlos EduardoAinda não há avaliações
- Cidiane Lobato - Sobre A Fundamentação Da Moral Na Obra de Kant (Resenha)Documento7 páginasCidiane Lobato - Sobre A Fundamentação Da Moral Na Obra de Kant (Resenha)Investigação FilosóficaAinda não há avaliações
- 4 - Signo Como Relação TriádicaDocumento20 páginas4 - Signo Como Relação TriádicaGabrielle Hartmann GrimmAinda não há avaliações
- Braida - Antologia de Ontologia PDFDocumento433 páginasBraida - Antologia de Ontologia PDFHenrique1313100% (1)
- PPGCI - CoInfo - Renata Lira Furtado Aula 6 2023Documento21 páginasPPGCI - CoInfo - Renata Lira Furtado Aula 6 2023re23brAinda não há avaliações
- Tabula RasaDocumento2 páginasTabula RasaElgs SilvaAinda não há avaliações
- Ana Paula Dos Santos Lima A Historia É CienciaDocumento9 páginasAna Paula Dos Santos Lima A Historia É CienciaValquiria Kyalonam AzevedoAinda não há avaliações