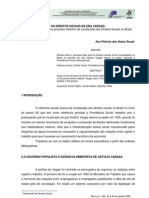Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
GuiaIedII OswaldoAkamineJrdx
Enviado por
Heru BuarqueTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GuiaIedII OswaldoAkamineJrdx
Enviado por
Heru BuarqueDireitos autorais:
Formatos disponíveis
INTRODUO AO ESTUDO DO DIREITO II
Fato Jurdico
1. Viso geral O Direito um fenmeno cultural. Como fenmeno, entenda-se o direito como um elemento prprio da sociedade na perspectiva das relaes econmicas de base, no se pode falar em sociedade sem se considerar o Direito, como instrumento de controle e ordenao, que regula as relaes pessoais, a segurana dos sociais e o acesso aos bens e aos meios de produo. Fatos podem ser prprios da natureza e ocorrerem sem qualquer interveno do homem, como um terremoto ou a chegada da primavera; de outra monta, podem ser acontecimentos tipicamente humanos, como a construo de uma casa ou a fabricao de um carro. Um mesmo fato, portanto, pode indicar uma srie de significados, cuja singularizao ocorrer mediante a tica que se utilize. Diante desta evidncia, Kelsen (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, 2a. ed., So Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 4) fala na norma jurdica como um esquema doador de sentidos: uma perspectiva prpria dos homens sobre acontecimentos que, em si, nada significam. 2. Fatos jurdicos lato sensu e stricto sensu: a classificao dos fatos jurdicos Fato jurdico lato sensu todo evento ou acontecimento (decorrente da natureza ou da ao humana) que desperte efeitos jurdicos. Alcana os chamados fatos jurdicos stricto sensu (acontecimentos ou eventos que independem da vontade humana), os atos jurdicos (acontecimentos ou eventos que dependem da vontade humana) e, ainda, os atos ilcitos (acontecimento ou evento que resultado da vontade humana e praticado contra a ordem jurdica). Os fatos jurdicos stricto sensu, que decorrem de modo alheio vontade das pessoas (ou, mesmo, quando a ao humana acontece, mas em medida secundria, indiretamente), podem ser classificados em: a) ordinrios, assim entendidos os que se apresentam como esperados como o nascimento, a morte, a maioridade, ou seja, fatos naturais da vida de uma pessoa e, juridicamente, os que ocorrem na forma de prazo (por exemplo, a extino de um contrato por decurso do tempo estipulado para sua vigncia); e b) extraordinrios, que so indeterminados e aleatrios; entre estes, incluemse o caso fortuito e a fora maior. 3. Atos e negcios jurdicos Trata-se de algo que se prende deliberao volitiva do homem, qual a norma jurdica confere conseqncias de direito, tais como as de constituir, modificar ou extinguir uma relao jurdica, ou mais amplamente, uma situao jurdica, explica Miguel Reale (op. cit., p. 203). Para Vicente Ro, o elemento fundamental do ato jurdico exatamente a vontade, que mais relevante do que nos demais fatos lcitos. Trata-se de uma vontade que recebe da norma jurdica o poder de auto-regulamentar os interesses prprios do sujeito (RO, Vicente. Ato jurdico, 4a. ed., So Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 36). A lei brasileira (arts. 104 e 185 do Cdigo Civil Brasileiro) distingue, a exemplo da doutrina alem, o ato jurdico lcito ou em sentido estrito do negcio jurdico. Em sentido estrito, o ato jurdico seria aquele que gera efeitos ex lege, sem considerao de uma correspondente vontade de resultado, do agente. Os atos jurdicos em sentido estrito podem ser, ainda, objeto de classificao: a) fala-se em atos materiais como aqueles em que o agente possua a vontade consciente de produzir os efeitos prescritos na lei (por exemplo, a percepo de frutos: imagine-se o investimento em dinheiro que algum faz em uma aplicao financeira); ao passo que b) fala-se em atos participativos naqueles em que, no havendo cunho negocial, resta apenas a mera comunicao, como o caso da notificao ou do aviso. Figura tambm na doutrina o chamado ato-fato. Vislumbre-se a situao em que, ao andar pela praia, Joo encontra um tesouro h muito perdido. Apesar de no ter feito o passeio com a clara inteno de descobrir riquezas, o ordenamento sanciona tal ato pela sua conseqncia: Joo agora proprietrio do bem encontrado. Assim, os atos-fatos podem ser entendidos como aqueles em que, ainda que haja um elemento volitivo incidental (de sair para passear e, depois, de querer ficar com o tesouro para si, no exemplo usado), ele no seu fundamento; o fundamento est norma jurdica, que reconhece a conseqncia do ato. Os ato-fatos podem ser classificados em: a) atos reais, como o exemplificado, em que a vontade no o fundamento (e, sim, a lei); b) ato-fatos indenizveis, previstos na lei brasileira (arts. 188, 929 e 930 do Cdigo Civil brasileiro), em que, mesmo no havendo ato ilcito, h o dever de indenizar (por exemplo, no caso de estado de necessidade, em que h, legalmente, a possi-
bilidade de se destruir coisa alheia); e c) atos-fatos extintivos, como a decadncia e a prescrio, ou seja, nos casos em que a pretenso da ao num processo resta prejudicada, porque o efeito do ato foi extinguir o direito que a fundamentava. Por outro lado, como o ato jurdico um evento que decorre da interferncia volitiva humana, possvel que tal ato tenha gerado efeito contra a ordem jurdica (como descrito na lei brasileira, art. 186 do Cdigo Civil brasileiro: aquele que, por ao ou omisso voluntria, negligncia ou imprudncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilcito), violando direito subjetivo individual ou causando dano a outrem, com a conseqncia de se indenizar. LINK ACADMICO 1
Relao Jurdica
1. Viso Geral Viver em sociedade implica que as pessoas mantenham vnculos umas com as outras; esses vnculos, que podem ser de diversas espcies: afetivo, moral, poltico, jurdico etc. - so conhecidos como relaes sociais e se exprimem no mundo real atravs de atitudes conscientes e inconscientes, gerando repercusses diversas. Da generalidade de relaes sociais, nem todas interessam diretamente ao Direito: duas pessoas que jogam conversa fora, sentadas a um banco de praa, em princpio, so entendidos como amigos - socialmente relacionados, portanto e no despertam nenhum grande interesse jurdico. Contudo, imagine-se que da conversa jogada fora tenha se criado um clima no amistoso entre os dois amigos e que, desse clima no amistoso, tenha surgido uma briga, que acarrete, por exemplo, leses corporais em um deles. Pois bem, neste momento, aquilo que era mera relao social de amizade se transforma numa relao jurdica entre agressor e vtima. Assim, a relao jurdica pode ser compreendida, antes de mais nada, como uma relao social. Ocorre que esta relao social qualificada: ela prevista em norma jurdica. Isto significa que o legislador optou por torn-la mais relevante que outras, vale dizer, ela envolve sujeitos que, em torno de um objeto comum, faticamente, esto vinculados mediante uma sano garantida pelo Estado. (REALE, Miguel. Lies preliminares de direito, 27a. ed., So Paulo: Saraiva, 2004, pp. 214 e ss.) explica que h dois enfoques acerca da definio de relaes jurdicas: uma, tradicional, que indica que as relaes sociais existem postas por si mesmas (com mltiplos fins: morais, estticos, artsticos, polticos, religiosos etc.) e apenas reconhecidas pelo Estado, que visa, ento proteg-las; uma segunda perspectiva, dita operacional, em que no se trata do Estado reconhecer uma relao social j existente, mas, sim, de o Estado instaurar modelos jurdicos que orientam a constituio de relaes jurdicas. Neste caso, por exemplo, cita Reale as relaes fiscais, pois evidente que s h relaes entre Fisco e contribuintes uma vez que as leis as instauram. Elas no esto imanentes s relaes sociais (op. cit., p. 215). Por sua vez, Kelsen, numa tica normativista ligeiramente distinta, explica que as relaes jurdicas no so relaes concretas no so firmadas entre seres humanos reais ; so, isto sim, relaes que se formam por comandos jurdicos e envolvem papis sociais (cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, 2a. ed., So Paulo: Martins Fontes, 1997, pp. 182-188): o homem concreto, aquele que est submetido sua prpria psique, no interessa diretamente ao Direito, seno como fonte de uma ao socialmente relevante. Trcio Sampaio Ferraz Jr. (FERRAZ JR., Trcio Sampaio. Introduo ao estudo do direito, 2a. ed., So Paulo: Atlas, 1994, p. 167) exemplifica e esclarece: um homem concreto , para si mesmo, valente, mas as aes de valentia, para a sociedade, podem ser vistas como temeridade, violncia, etc.. 2. Elementos das relaes jurdicas Diante do exposto, so elementos da relao jurdica os sujeitos ativo e passivo, o vnculo de atributividade que os une e o objeto. Quanto aos sujeitos, Reale destaca que uma relao jurdica sempre um vnculo entre duas ou mais pessoas, e toda pessoa que se insere em uma relao jurdica tem sempre direitos e deveres, e no apenas direitos, ou no apenas deveres (op. cit., p. 218). Assim, explica que o sujeito ativo o titular da prestao principal, j que o sujeito passivo, eventualmente, tambm pode ser titular de uma prestao (que no a principal) na mesma relao. O vnculo de atributividade o que confere aos sujeitos o poder de pretender ou exigir algo determinado ou determinvel. Significa que h ttulo e legitimidade envolvidos: ttulo, no sentido de atribuio de uma qualidade que permite, ento, a legitimao de exigir seu direito subjetivo ou praticar o ato. Quanto ao objeto, trata-se de uma coisa (mvel, imvel ou semovente), uma prestao (como a do devedor ter de pagar certa quantia ao credor) ou a prpria pessoa, no caso de direitos pessoais. Nesta ltima hiptese, h que se fazer uma breve considerao: no se toma pessoa por coisa, mas sim como a razo pela qual um vnculo se estabelece.
3. Tipos de relaes jurdicas As relaes jurdicas podem ser objeto de diversas classificaes, a depender do critrio utilizado em sua anlise. Quanto ao sujeito, podem ser: a) unisubjetivas, quando se trata das relaes que envolvem apenas dois sujeitos, uma no plo ativo e outra passivo, como, por exemplo, num contrato de locao entre duas pessoas fsicas; b) plurissubjetivas, quando so vrias as pessoas a figurar como sujeitos ativos ou passivos; por exemplo, na relao jurdica penal, num crime de perigo para a vida ou sade de outrem (art. 132 do Cdigo Penal brasileiro), o sujeito ativo, titular do direito, pode ser composto por vrias pessoas, cujas vidas tenham sido postas em risco pelo sujeito passivo, titular do dever. Quanto ao contedo, a relao jurdica pode ser compreendida como: a) simples, quando constituda por apenas um direito subjetivo (exemplo: o credor tem o direito de receber o pagamento do devedor); e b) complexas, quando h vrios direitos subjetivos envolvidos, situao em que as pessoas ocupam, simultaneamente, os papis de sujeito ativo e passivo, como num contrato de venda e compra o comprador (sujeito ativo) tem o direito subjetivo de receber o objeto comprado do devedor (sujeito passivo), ao passo que este tem o direito subjetivo (portanto, como sujeito ativo) de receber o pagamento daquele (que, ento, figura como sujeito passivo). Quanto ao objeto, as relaes podem ser pessoais (nos direitos pessoais), obrigacionais (acerca da prestao) e reais (envolvem coisas). Quanto natureza, pode-se falar em relaes jurdicas de direito pblico, quando envolvem subordinao ou sujeio (j que o Estado figura no plo ativo), e de direito privado, em que h coordenao (os sujeitos esto em posio de paridade).
Liberdade, Direito Subjetivo e Objetivo
1. Viso geral Uma das dicotomias mais tradicionais do Direito a que ope o direito subjetivo ao direito objetivo. A noo remonta ao Direito Romano, na distino entre o jus e a lex: inicialmente, jus designava um estatuto jurdico especfico entre outros, o jus civile (prprio dos cidados romanos) e o jus gentium (comum a todos os estrangeiros) , ao passo que lex indicava o fenmeno normativo advindo do imperium do Estado. Contudo, apenas no medievo, com as expresses latinas norma agendi e facultas agendi, a distino passa a ganhar contornos mais definidos. Fala-se, ento, em uma norma de agir, que indica um comportamento objetivamente colocado para o cidado e numa faculdade de agir, como uma possibilidade de determinar o prprio comportamento perante o Direito. Tendo em vista esta abordagem, resta claro que a origem da dicotomia remonta oposio entre a liberdade de se conduzir na sociedade e as limitaes que o Estado, atravs do direito, impe aos sociais. No obstante o debate filosfico acerca do significado de liberdade, possvel compreend-la positiva e negativamente: na dimenso positiva, pode-se falar de liberdade como uma qualidade prpria da vontade de cada homem, na ambivalncia do querer ou no querer; negativamente, a liberdade pode ser entendida como um espao em que um indivduo pode optar por algo, tendo, contudo, por limite, o espao dos outros indivduos. Assim, de um lado, tem-se a discusso sobre a autonomia da vontade, a possibilidade de o sujeito estabelecer sua prpria atuao no mundo, e, de outro, o interesse comum a todos, pblico, tutelado e garantido pelo Estado. 2. Conceitos e noes dogmticas O direito objetivo usualmente encarado como o complexo de normas jurdicas prescritas pelo Estado e voltado regulao do comportamento dos indivduos na sociedade. A caracterstica sancionatria do Direito, to cara para juristas como Jhering, Savigny e Kelsen, garantida de maneira sistmica pelo ente estatal, com vistas manuteno do controle social e o alcance de objetivos comuns. J o direito subjetivo normalmente visto como a possibilidade que cada sujeito possui de fazer ou no fazer algo, possibilidade esta que dada por norma jurdica vlida. Como se v, a relao entre o direito objetivo e o subjetivo bastante prxima, j que este somente pode surgir em funo daquele. No poucas vezes, a distino entre ambos bastante problemtica, especialmente quando se leva em conta questes como o interesse pblico ou as garantias cidads. Para o enfrentamento de tais situaes, tradicionalmente, conta-se com o suporte de duas teorias que fundamentam a distino entre direito objetivo e direito subjetivo. 2.1. Teoria da vontade Para Savigny, a teoria da vontade decorre da noo de livre ar-
btrio. O direito subjetivo o poder ou domnio da vontade livre do homem, que o ordenamento protege e confere, explica Trcio Sampaio Ferraz Jr. (op. cit., p. 148), ao comentar a doutrina de Windscheid. Por exemplo, quando algum diz que possui o direito de vender um bem, est afirmando a) que o ordenamento jurdico lhe garante a propriedade, atravs de normas especficas que regulam a relao entre pessoas e coisas; e b) que tais normas e garantias, para se realizarem concretamente, dependem de sua vontade, como titular que de tal direito. Nesses termos, de se notar que um trao nitidamente distintivo entre os seres humanos e os demais animais a conscincia e, por conseguinte, a racionalidade. Por mais que algum deseje um bem que no seja seu, este impulso minimamente domvel pelo homem mdio, o bonus pater familias. Por este motivo, h uma norma no ordenamento que probe, por exemplo, o furto: uma pessoa razovel no cede tentao de ter para si coisa alheia; aquele que se deixe levar pelo simples impulso no razovel; portanto deve ser sancionado com pena de priso. Da idia de liberdade, resulta, ento, para o cidado, a correspondncia com a responsabilidade. Esta responsabilidade deve ser observada pelos prprios particulares e os desvios devem ser objeto de atuao do Estado. Assim tambm com relao coao da vontade livre: se ela ocorre, o Estado deve socorrer o coagido e o ato deve ser tomado por nulo. Aqui repousa a primeira crtica teoria da vontade: seria ela demasiadamente privatista, j que enxerga a atuao do Estado apenas secundariamente, como uma espcie de neutro garantidor das regras que constrangem o excesso resultante da vontade dos homens. O direito objetivo, neste caso, seria muito mais uma garantia liberdade dos cidados do que, propriamente, prescries que indicam os comportamentos juridicamente vlidos. Teria, assim, um papel secundrio nas relaes entre os homens. 2.2. Teoria do interesse Jhering, categoricamente, prope que o direito subjetivo fundamentado num interesse garantido juridicamente por uma ao judicial, no esteio de seus longos estudos do Direito Romano (JHERING, Rudolf von. Lesprit du droit romain, tomo 4, Paris: Marescq, s/d). A base desta teoria a constatao de que a vida em sociedade implica conflitos de interesse e que alguns destes so juridicamente garantidos pelo ordenamento. Interesses devem ser entendidos mediante seu grau de utilidade, como um benefcio que a norma resguarda para um sujeito e que deve, portanto, ser respeitado por todos. Esta teoria representa um avano em relao oposio feita teoria da vontade, no tocante s crianas, loucos e ausentes: seus interesses so harmonizados e tutelados. Assim, seria perfeitamente possvel se falar em direito vida, direito liberdade, direito propriedade, j que representam, material ou imaterialmente, bens aos quais se atribui tutela judicial respectiva. Contudo, parte da doutrina se ope a este entendimento: primeiro porque, a exemplo da teoria da vontade, a teoria do interesse prope um ngulo claramente privatista, em que as individualidades so mais relevantes que o pblico. Por exemplo, como comparar a relao credor/devedor com a do criminoso/sociedade? perfeitamente compreensvel que um credor possua um interesse juridicamente tutelado em receber o seu crdito face a um devedor, mas no da mesma maneira que a sociedade possui um interesse de se resguardar contra um ato criminoso de um delinqente. Um preso, por exemplo, teria o direito subjetivo de fugir da cadeia, posto que o seu direito liberdade encontra-se restringido (o mesmo exemplo poderia ser aplicado, sob um outro ngulo, teoria da vontade)? E, segundo, h interesses juridicamente protegidos que no so, propriamente, facultas agendi, como no caso das leis de proteo aduaneira indstria nacional, em que as empresas tm interesse na cobrana de altos tributos pela importao dos produtos estrangeiros, mas no tm nenhum direito subjetivo a tais tributos, como esclarece uma vez mais Maria Helena Diniz (op. cit. p. 249). 2.3. Outras teorias Trcio Sampaio Ferraz Jr. (op. cit. p. 149) cita a teoria da garantia, defendida por Thon: trata-se de uma forma de enxergar na tutela judiciria a segurana das relaes jurdicas prprias do direito subjetivo. A idia, neste caso, surge a partir da coexistncia das liberdades individuais; sempre que houver um impedimento inadequado ao exerccio da(s) liberdade(s), invoca-se a fora ou a faculdade de coagir tal ato. Esta faculdade seria a prpria garantia da relao, garantia esta conferida pelo direito objetivo. Contudo, esta posio acaba por confundir o direito subjetivo com proteo e, incidentalmente, retira a autonomia do direito subjetivo como instituto jurdico ao equipar-lo sano de uma obrigao (neste sentido, veja-se a posio kelseniana, infra). Seguindo, inicialmente a linha normativista proposta por Kelsen, Miguel Reale nota que a relao entre o direito subjetivo e o direito objetivo forma uma dade inseparvel; contudo, como pensa a norma jurdica uma integrao de fatos segundo valores, prefere falar em uma situao jurdica subjetiva, que gnero do qual o direito subjetivo, o interesse legtimo e o poder so espcies. No que toca primeira, destaca que o ncleo significativo da facultas agendi repousa sobre a idia de pretenso; este termo deve ser entendido numa correspondncia entre seu titular e o outro (como num contrato), havendo certa proporcionalidade compatvel com a regra de direito aplicvel espcie (...) de modo que a pretenso o elemento conectivo entre o modelo normativo e a experincia concreta (cf. REALE, op. cit. p. 259). Assim, o direito subjetivo seria a possibilidade de se pretender e exigir algo garantido pela norma jurdica. Diferencia, ainda, o autor, o direito subjetivo privado (por sua vez, dividido em simples: a relao jurdica especfica, como num contrato; e complexas: direito propriedade, por exemplo, em que h toda uma dimenso de sub-direitos nele inseridos, como o de dispor, o de usar, o de gozar) e o direito subjetivo pblico (por exemplo, o direito ao voto), como resultado da compreenso da outra grande me-
tade da esttica jurdica (cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, 2a. ed., So Paulo: Martins Fontes, 1997), a saber, a que prope a dicotomia entre direito pblico e privado. Por outro lado, h ainda posies que misturam as teorias da vontade e do interesse (apud DINIZ, op. cit., p. 250), como as de Jellinek, que entende o direito subjetivo como poder de vontade sobre bens ou interesses garantidos pela ordem jurdica, de Saleilles, que o compreende como o poder exercido pela vontade autnoma a servio de interesses de carter social, e de Michoud, que o enxerga como o poder da vontade reconhecida a algum para defender ou fazer valer os interesses de uma pessoa ou grupo. Tais posies so encerradas sob o nome de teoria mista. 2.4. O direito subjetivo em face teoria pura do direito e ao realismo jurdico H autores importantes que no se filiam especificamente a nenhuma das correntes estudadas. No so raros, ainda, aqueles que negam a autonomia (ou, mesmo, a existncia) do direito subjetivo. Kelsen, por exemplo, postula que o direito subjetivo de forma alguma pode ser desvinculado das noes de dever, competncia e responsabilidade, disto resultando sua dependncia em relao ao direito objetivo, dado que: a) como o Direito um sistema de normas; b) como tais normas estabelecem, entre os sociais, deveres; logo, c) o que h, em verdade, que para todo dever-ser subjetivvel existe, em contrapartida, um dever-ser para todos os demais. Explica-se: se algum diz ser proprietrio de um bem, exercendo, assim, um direito subjetivo em relao a uma coisa, a mesma norma que confere ao sujeito tal possibilidade gera para todas as demais pessoas o dever de respeitar este fato. Ou seja, um tal direito subjetivo, no fundo, no passa da mesma expresso objetiva (v.g. da norma jurdica) do Direito (e eis a caracterstica de imperatividade do fenmeno jurdico) (cf. KELSEN, op. cit., pp. 140-145). Palavras como propriedade, dlar, crdito, entre outras no descrevem nenhum objeto fsico propriamente. Ao combater o psicologismo de Hgerstrm, explica que o direito subjetivo existiria apenas como funo, solucionando as questes prticas da realidade; afinal, se a expresso direito subjetivo desaparecesse, as relaes jurdicas que ela descreve permaneceriam. Assim, postula que sua funo especfica, assim como outras palavras e expresses ocas, seria a de, nos termos de um jogo de linguagem (como sugere Wittgenstein, em suas Investigaes filosficas), realizar, no plano da sociedade, certos atos (por exemplo, o casamento s ocorre mediante a invocao de certas frmulas lingsticas, tradicionalmente usadas para demonstrar a livre vontade dos nubentes) e conferir-lhes proteo jurdica (cf. OLIVECRONA, Karl. Linguagem jurdica e realidade. So Paulo: Quartier Latin, 2004).
LINK ACADMICO 2
Diviso do Direito: Pblico, Privado e Difuso
1. Viso Geral Tradicionalmente, uma das formas de anlise do Direito recai sobre a grande dicotomia que separa o direito pblico do direito privado. Esta perspectiva j era corrente no Direito Romano: pblico era o que dizia respeito aos negcios do Estado, privado o que se referia aos interesses particulares. Esta viso, se suficiente para as necessidades do Imprio de outrora, hoje no mais estabelece um critrio seguro para a compreenso da dicotomia. A complexidade nas relaes entre o Estado, a sociedade e o Direito tamanha que seria uma simplificao perigosa e falseadora considerar apenas a utilidade ou estado das coisas para dizer sobre a ambivalncia pblico/privado. Some-se discusso o fato de que, com o surgimento de nova gerao de direitos, no esteio da ps-modernidade, passou a ser necessrio inserir na diviso usual da cincia jurdica um terceiro elemento: os direitos difusos. 1.1. Fundamentos da diviso entre o direito pblico e o direito privado Do ponto de vista da dogmtica jurdica, a importncia em se distinguir o direito pblico do direito privado reside na possibilidade de classificar os tipos de norma jurdica e identificar os princpios tericos que permitam operar o direito, ora num sistema, ora em outro (cf. FERRAZ JR., Trcio Sampaio. Introduo ao estudo do direito, 2a. ed., So Paulo: Atlas, 1994, p. 138). Neste sentido, uma tal sistematizao pressupe o estabelecimento de um critrio que seja suficiente para estabelecer quais ramos dogmticos compem cada lado da dicotomia. Ao longo do tempo, vrias posies foram estabelecidas; as mais importantes dizem respeito ao tipo de relao jurdica havida e o interesse que tutelado. Contudo, pode-se pensar na distino a partir do destinatrio da norma jurdica: se ela dirigida aos particulares, logo trata-se de norma de direito privado; se voltada ao Estado, direito pblico. Todavia, este critrio falho, na medida em que, como mais e mais se verifica na realidade, o Estado surge em determinadas situaes atuando como privado pense-se, por exemplo, numa locao envolvendo particular e ente estatal (a natureza da relao civil, ramo de direito privado por excelncia). Reale (op. cit., p. 340) prope que o critrio a ser considerado, ainda que sem grande rigidez, deve tocar um elemento material e outro formal. Materialmente, afirma, se o objeto da relao jurdica visado imediatamente, prevalecendo o interesse geral, est-se diante de norma de direito pblico; se prevalece o interesse particular, direito privado. Formalmente, se a relao entre os sujeitos de subordinao, em que o particular passivo numa dimenso de dominao poltica, o direito pblico. Se, ao contrrio, tal relao coordenada, trata-se de uma situao tpica do direito privado. Trcio Sampaio Ferraz Jr. (op. cit. pp. 139-140) ressalta a questo formal, explicando as teorias de relao de dominao derivadas do jus imperii do Estado, de sua soberania. No h, neste tocante, paridade nas posies entre os sujeitos. Assim, as normas jurdicas cogentes, indisponveis aos particulares por pressupor o interesse da ordem pblica, prevalecem sobre as
vontades privadas e, ento, so prprias de direito pblico. No direito privado, vige o princpio da autonomia da vontade, compreendido numa dimenso de legalidade, na qual nem sempre o indivduo prevalece sobre a sociedade. Neste sentido, ainda necessrio ressaltar que, hodiernamente, o critrio do tipo de relao jurdica havida bastante aceito. As normas que regulam as relaes em que o Estado surge como parte, na garantia do interesse geral da sociedade, mantendo-se soberano, seja face aos particulares, seja face a outros Estados, so de direito pblico. No mais, se na relao estabelecida prevalece o interesse particular e, se suas partes atuam como privados (enquadrando-se, nesta hiptese, determinada parcela de atuao do Estado), tratase de direito privado. 1.2. A supervenincia de novos direitos: direitos difusos Os chamados direitos difusos so, certamente, a expresso dogmtica da ps-modernidade. Brevemente, a discusso pode ser situada a partir da atuao do Estado no que tange promoo do bem-estar social, fenmeno tpico da metade do sculo XX, e da complexizao das relaes sociais em funo do desenvolvimento econmico e tecnolgico. O aprofundamento na noo do que venha a ser, propriamente, o interesse pblico e sua distino com o interesse privado individual, gerou uma rea cinzenta, intermediria, que pode ser entendida como a seara do interesse coletivo ou transindividual/metaindividual. Como nota Hugo Nigro Mazzilli (cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juzo, 17a. ed., So Paulo: Saraiva, 2004, p. 47), alguns doutrinadores tm negado a existncia, mesmo, de um nico bem comum, esvaziando a noo de interesse pblico: em suas palavras, a sociedade atual cada vez mais complexa e fragmentria pois os interesses de grupos se contrapem de forma acentuada (caracterstica da conflituosidade, em regra presente nas questes que envolvam interesses difusos e coletivos). preciso, pois, relevar tais interesses. bem verdade que nem todos os autores entendem que os direitos difusos, em si, possam constituir uma rea autnoma frente tradicional dicotomia entre o direito pblico e o privado. A questo que se impe, justamente, a de que, diante dos critrios que fundamentam a diviso dos ramos dogmticos do Direito, sejam eles o interesse, o imperium, o tipo de relao jurdica ou seu titular, razoavelmente possvel enquadrar as searas dos direitos difusos, ora entre os ramos pblicos, ora entre os privados. Maria Helena Diniz, por exemplo, entende que o Direito do Consumidor se insere entre estes (op. cit., p. 276). Contudo, a favor da tese da autonomia pode-se alinhar o argumento de que, como visto, a prpria delimitao entre o que vem a ser direito pblico e o que direito privado nebulosa, por qualquer das perspectivas adotadas. A prpria doutrinadora reconhece este problema. Em suas palavras, ao comentar a lio de Caio Mrio da Silva Pereira, no se deve pensar que sejam dois compartimentos estanques, estabelecendo uma absoluta separao entre as normas de direito pblico e as de direito privado, pois se intercomunicam com certa freqncia. Explica, ainda, que, por razes didticas e tambm porque tais definies so teis para a cincia do direito, importante estabelec-las (op. cit.,p. 255). Fala-se em direitos difusos como aqueles que dizem respeito aos interesses transindividuais, indivisveis, cujos titulares so pessoas indeterminadas (ou indeterminveis) que se encontram agrupadas por circunstncias de fato; ou seja, tais pessoas so reunidas sob um mesmo interesse por partilharem de condio comum. Imagine-se, neste sentido, o problema da propaganda enganosa ou abusiva: quando um determinado produto promovido atravs de artifcios que visam confundir os consumidores e induzi-los ao erro quanto s suas qualidades, muitas pessoas podem ser atingidas. No muitas caractersticas poderiam lhe ser comuns, mas, certamente, a situao ftica de que so, de alguma forma lesadas, as une, do ponto de vista jurdico. Podem ser de sexo, idade e profisses totalmente distintas, mas formam um grupo, cujo trao comum o prejuzo que lhes foi impingido. Ainda, necessrio compreender que tal interesse seja qualificvel como indivisvel: basicamente, se uma prestao jurisdicional puder ser invocada individualmente para solucionar o conflito estabelecido, o interesse, ento, divisvel. O que caracteriza a difuso , justamente, a impossibilidade de uma tutela individualizada, porquanto o alcance da situao ftica diga respeito ao grupo. A definio legal de interesses difusos, no ordenamento brasileiro, encontra-se no nico do art. 81 da lei 8.078/90 (Cdigo de Defesa do Consumidor) e, entre os doutrinadores, bem aceita; ainda, neste dispositivo, so conceituados interesses coletivos (os transindividuais, de natureza indivisvel de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrria por uma relao jurdica base, conforme o inciso II) e interesses individuais homogneos (nos termos do inciso III, os decorrentes de origem comum). 2. Aspectos dogmticos: os ramos do direito Em primeiro lugar, vista do que se exps, de se considerar uma certa dose de indiscernibilidade entre certos ramos dogmticos do Direito. No apenas porque a prpria doutrina diverge sobre os critrios da distino, mas especialmente porque a complexidade das relaes jurdicas que so travadas no mundo moderno conduz a uma certa volatilidade no entendimento dos limites de cada ramo. Segundo, preciso propor, ento, que uma diviso do Direito, em grandes sub-sistemas, possui carter muito mais didtico do que, propriamente, cientfico. Isto posto, observe-se que o direito pblico, compreendido na dimenso das relaes onde o Estado aparece como sujeito, seja perante a sociedade ou outros Estados, tutelando interesses gerais e colimando s finalidades sociais, pode ser dividido em direito pblico interno e externo. J o direito privado ora entendido como o que se refere s relaes jurdicas havidas entre os particulares.
2.1. Direito pblico externo O direito pblico externo , por excelncia, o direito internacional, que, por sua vez, pode ser pblico ou privado: a) direito internacional pblico: diz-se que o direito internacional pblico se a relao jurdica em tela diz respeito s tratativas entre Estados soberanos. Chegou a ser conhecido, durante bom tempo, como o direito dos tratados, j que as normas jurdicas que lhe so prprias normalmente so produzidas por documentos que ratificam os entendimentos dos Estados envolvidos. b) direito internacional privado: se os sujeitos e interesses envolvidos se concentram sobre a relao entre o Estado com cidados de outros Estados, tem-se a a seara do direito internacional privado. O direito internacional privado representa o conjunto de regras necessrias para a identificao do direito a ser aplicado num conflito experimentado por um cidado estrangeiro em certo Estado. A dvida repousa em saber se as normas a serem aplicadas na soluo da pendenga so de seu Estado natal ou do local onde o conflito se d. importante, ento, salientar que, apesar de o conflito ter natureza privada, as normas que o solucionaro so inderrogveis pelos particulares, motivo pelo qual se trata de direito pblico. 2.2. Direito pblico interno So ramos dogmticos do direito pblico interno: a) direito constitucional: abrange as normas jurdicas referentes organizao poltica do Estado, conferindo-lhe feio sistematizada e dispondo sobre sua atuao; nas cartas constitucionais, normalmente, so ainda estabelecidos os princpios que regulam as condutas dos particulares, guiando o legislador ordinrio na especificao dos comportamentos. b) direito administrativo: abrange as normas referentes funo administrativa do Estado, regulando seus atos, contratos e poder de polcia, interferindo no campo social, poltico e econmico. c) direito processual: o complexo de normas e princpios que regem o exerccio conjugado da jurisdio pelo Estado-juiz, da ao pelo demandante e da defesa pelo demandado (cf. CINTRA, Antonio Carlos de Arajo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cndido Rangel. Teoria geral do processo, 9a. ed., So Paulo: Malheiros, 1993, p. 41). d) direito tributrio: o conjunto de normas referentes instituio, arrecadao e fiscalizao de impostos, taxas e contribuies devidas pelos cidados ao Estado. De maneira subjacente, abrange o sub-ramo do direito financeiro, que trata especificamente das receitas e despesas pblicas. e) direito penal: abrange as normas jurdicas que definem os crimes e contravenes, bem como das penas correspondentes, definindo a coao do Estado como atuao no sentido de proteger a sociedade dos atos delituosos. f) direito previdencirio: trata-se do ramo do direito que cuida das normas relativas ao seguro social e aos seus benefcios correspondentes, como aposentadorias, penses e auxlios. 2.3. Direito privado So ramos dogmticos do direito privado: a) direito civil: originalmente, trata-se da seara que rene as normas que regulam a vida cotidiana das pessoas, no que diz respeito sua individualidade e suas relaes entre si e com os bens. Como possvel aferir pelo exame sumrio da sistemtica do Cdigo Civil brasileiro, elenca, ainda, entre seus interesses, os grandes temas das obrigaes e contratos, da propriedade e do patrimnio, da famlia (parentesco, casamento, filiao) e das sucesses. b) direito comercial: o conjunto de normas que regulam a atividade econmica exercida pelos particulares, no que diz respeito s questes mercantis. Como teoriza Trcio Sampaio Ferraz Jr. (op. cit., p. 146), pode-se, mesmo, compreender o direito comercial como uma especializao do direito civil, qualificandose certos atos que, por conexo ou pela lei, so de interesse e execuo por comerciantes e/ou sociedades comerciais. Nessa disciplina, ainda, esto abrangidas as atividades industriais, bancrias e securitrias. c) direito do trabalho: trata-se do ramo que rene as normas atinentes s relaes entre empregador e empregado, bem como a organizao do trabalho, produo e remunerao. Pode ser dividido em individual, quando abrange a proteo e garantia do trabalhador face atividade laborial, e coletivo, no que diz respeito atuao dos sindicatos das categorias profissionais. 2.4. Direitos difusos Os ramos dogmticos dos direitos difusos so: a) direito do consumidor: as normas que regulam a relao entre fornecedor e consumidor, seja no tocante aquisio de bens, seja na contratao de servios, perfazem esta seara do direito. Disciplina, assim, as questes transindividuais de consumo, na proteo das pessoas fsicas (individual e coletivamente) face s empresas comerciais. b) direito ambiental: trata-se da disciplina jurdica voltada proteo do meio ambiente (natural, artificial e cultural alguns autores, como Celson Fiorillo e Jos Afonso da Silva, arrolam, ainda, o chamado meio ambiente do trabalho). LINK ACADMICO 3
falava-se em subtilitas applicandi; em livre traduo, um mtodo de aplicao, que era parte da realizao genrica da compreenso (cf. GADAMER, Hans-Georg. Vontade e mtodo traos fundamentais de uma hermenutica filosfica. Trad. por Flvio Meurer, Petrpolis: Vozes, 1999, p. 459). A partir da dcada de 1970, passa-se a se falar numa nova hermenutica jurdica, em que se enxerga a colmatao entre as atividades de interpretar e aplicar o Direito: a interpretao do direito consiste em concretar a lei em cada caso, isto , na sua aplicao (cf. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretao/aplicao do direito, So Paulo: Malheiros, 2002, p. 76). Trata-se de um processo unitrio (GADAMER, op. cit., p. 460), j que as atividades se superpem. Jacques Derrida (apud GRAU, op. cit.) afirma que, como cada caso nico, no sentido de ser materialmente distinto de outros, a interpretao do juiz ser sempre nica, especfica, no garantida absolutamente por nenhuma outra regra preexistente ou codificada. 2. O aplicador do direito: o desafio kelseniano preciso ponderar que o aplicador do direito, por excelncia, o juiz. No obstante a norma jurdica possa ser objeto de criao e/ou aplicao por parte de rgo competente, juiz, tribunal, autoridade administrativa ou particular (cf. DINIZ, Maria Helena. Compndio de introduo cincia do direito, 19a. ed., So Paulo: Saraiva, 2008, p. 418), a ltima palavra, mesmo que indiretamente, proferida pelo Estado atravs da atividade jurisdicional. Por exemplo, as decises obtidas atravs de meios alternativos de soluo de conflitos (como a arbitragem comercial, ou seja, atividade tipicamente privada) ou um auto de infrao de trnsito imposto por um guarda (autoridade administrativa) so casos de aplicao da norma jurdica por outros que no o juiz, propriamente. Contudo, se de tais procedimentos advm dvidas ou outros conflitos, invoca-se, diante de determinadas condies ftico-jurdicas, atravs de um processo, a interveno dos rgos jurisdicionais, para que se pronunciem sobre as querelas e as pacifiquem. Kelsen explica que, aos olhos de sua teoria pura, o direito a ser aplicado num caso concreto forma uma moldura dentro da qual existem vrias possibilidades de aplicao (op. cit., p. 390) e que, assim, todo ato que est em conformidade com o expressado na norma se mantm nos limites desta moldura. Continua, ainda, seu raciocnio, explicando que, se, por interpretao se entende a fixao por via cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretao jurdica somente pode ser a fixao da moldura que representa o direito a interpretar e, conseqentemente, o conhecimento das vrias possibilidades que dentro desta moldura existem (op. cit.). Ora, ento, tanto o intrprete autntico como o doutrinrio tem diante de si uma profuso de significaes possveis da norma, que representam os diversos quadros que podem ser emoldurados. Logo, e este um problema prtico severo, o resultado da interpretao no pode ser qualificado de correto, j que no h apenas uma opo de sentido que possa ser dita a nica possvel. Dizer que uma sentena judicial fundada na lei no significa, na verdade, seno que ela se contm dentro da moldura, (...) no significa que ela a (sic) norma individual, mas apenas que uma (sic) das normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura da norma geral (op. cit., p. 391). Todas as interpretaes, ento, possuem o mesmo valor, mas no vinculam igualmente. Como bem observa Trcio Sampaio Ferraz Jr. (op. cit., p. 261), este resultado da teoria pura do direito frustrante. Afinal, ainda que lhe atribuamos (ao saber dogmtico no Direito) um carter de tecnologia, de saber tecnolgico, a sua produo terica fica sem fundamento, aparecendo como mero arbtrio (op. cit., p. 263). Esvazia-se a hermenutica, nessa tica. Eis o que o autor denomina desafio kelseniano: o enfrentamento da questo de como se aplica o direito, diante da oposio entre a vontade e a razo. No so poucos os crticos da viso kelseniana, por razes j bastante claras. Convm finalizar este tpico expondo a contundente considerao que Eugeny Pasukanis formula acerca da teoria pura do direito: uma tal teoria geral do direito, que no explica nada, que, a priori, d as costas s realidades de fato, (...) no pode pretender o ttulo de teoria, seno o de teoria do jogo de xadrez. Uma tal teoria nada tem a ver com a cincia.(cf. PASUKANIS, Eugeny. A teoria geral do direito e o marxismo, Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 16). LINK ACADMICO 4
Dogmtica da Aplicao do Direito
1. Viso Geral A norma jurdica vlida, independente do modo como foi produzida, abstrata. Trata-se de um imperativo despsicologizado (neste sentido, FERRAZ JR., op. cit., p. 119), um comando impessoal, que fixa uma facti species sancionada pelo Estado. A facti species genrica Kelsen postula que a norma jurdica, ento, um esquema doador de sentidos, j que confere a um fato real, por sua similitude com aquele prescrito idealmente na norma, um sentido jurdico, propriamente. Assim, a subsuno pode ser entendida tambm como a obteno de proposies concretas do dever-ser, atividade esta que o juiz realiza ao contornar dois problemas fundamentais: a falta de informao sobre o caso concreto, que lhe gera dvidas acerca da adequao do fato norma; e a indeterminao semntica dos conceitos normativos, ou seja, a dificuldade de compreenso que o prprio Direito apresenta ao juiz, dada a vagueza da linguagem, que, mesmo diante de mtodos e esforos cognitivos baseados numa tecnologia tipicamente jurdica, nem sempre pode ser superada. Destarte, resta evidente que no h uma conexo imediata entre o Direito e a realidade. E, como a norma jurdica uma idia de deverser, que somente expressa atravs da linguagem, ficam delimitadas duas dimenses problemticas para a dogmtica de aplicao do direito: a) o processo de subsuno, ou seja, os mecanismos que possibilitam a adequao entre o fato e a norma; e b) a hermenutica jurdica estritamente considerada, que permite a compreenso dos sentidos normativos e que conduz interpretao autntica. No obstante, pragmaticamente, de relevante importncia abordar as questes sistmicas do ordenamento jurdico, com vistas aplica-
Aplicao do Direito
1. Viso geral A aplicao do direito consiste no enquadrar um caso concreto em uma norma jurdica adequada. Esta singela definio de Carlos Maximiliano (cf. MAXIMILIANO, Carlos. Interpretao e aplicao do direito, 17a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 6) singulariza a percepo histrica da doutrina acerca da atividade stricto sensu do juiz. Na tradio romnica e ps-romnica, a aplicao do direito era considerada uma atividade autnoma:
o do direito: a saber, a integrao das lacunas e a soluo das antinomias jurdicas. o que se segue nos prximos tpicos. 1.1. A dimenso problemtica da aplicao do direito: o ordenamento jurdico como sistema O ordenamento jurdico no um amontoado de normas jurdicas. Pode at, inicialmente, ser compreendido como o conjunto destas, mas necessrio vislumbrar que h uma estrutura que lhe prpria. Portanto se considera o ordenamento jurdico um sistema; a ele poderiam ser atribudas trs caractersticas fundamentais: a) unidade, j que perfaz um todo organizado; b) completude, que diz respeito possibilidade de previso e sancionamento de todos fenmenos qualificados de jurdicos; e c) coerncia, no sentido no de inadmissibilidade de contradies, mas de que as incompatibilidades normativas devem ser expurgadas. A unidade do sistema diz respeito s preocupaes sobre a pertinncia de uma dada norma jurdica face a um ordenamento, ou seja, sobre o fundamento de sua validade perante o todo organizado, s condies de sua adequao, a partir do estabelecido em metanormas jurdicas. No que tange ao aspecto de coerncia/ compatibilidade de normas no ordenamento, o problema fundamental o das antinomias jurdicas, conflitos normativos que podem ocorrer no tempo, no espao e quanto matria regulada no interior do sistema, que oferece meios e critrios para a soluo do problema. J a dimenso da completude impe a tarefa de integrar o direito, tarefa esta realizada especificamente pelo aplicador da norma jurdica diante de um conflito real, no terico. o que se estuda, a seguir. 1.2. A dimenso problemtica da aplicao do direito: as lacunas e a integrao do Direito Neste tpico, importa abordar a questo das lacunas do Direito. Nas palavras de Norberto Bobbio, um ordenamento completo quando o juiz pode encontrar nele uma norma para regular qualquer caso que se lhe apresente, ou melhor, no h caso que no possa ser regulado com uma norma tirada do sistema (op. cit. p. 115). Trata-se de um problema ligado caracterstica dinmica do ordenamento, j que a dvida repousa sobre o fenmeno da produo normativa. A questo, contudo, no plenamente pacfica: h autores que apontam nisto um falso problema. Podem existir lacunas na lei, mas no no ordenamento, assevera Andr Franco Montoro, explicando que este possui outras fontes, alm dos textos legais, para solucionar todos os casos (MONTORO, Andr Franco. Introduo cincia do direito, 5a. ed., Belo Horizonte: Itatiaia, 1975, p. 134). Como assevera Bobbio, ao tratar de situao semelhante existente na legislao italiana, enquanto a norma geral exclusiva regula as situaes lacunosas de maneira oposta ao prescrito na norma jurdica, a norma geral inclusiva impe a necessidade de se buscarem solues de maneira idntica quelas previstas em norma jurdica similar ao conflito (que, obviamente, no est imediatamente regulado no ordenamento) em tela. 1.2.1. Espcies de lacunas Trcio Sampaio Ferraz Jr. sistematiza a discusso: a questo das lacunas tem dois aspectos. Um refere-se sua configurao sistemtica, ou seja, discusso do cabimento das lacunas no sistema. o problema da completude. Outro se refere questo de, admitida a incompletude (de fato ou como fico), dizer como devem ser preenchidas as lacunas. o problema da integrao do direito pelo juiz (FERRAZ JR., Trcio Sampaio. Introduo ao estudo do direito, 2a. ed., So Paulo: Atlas, 1994, p. 218). Assim, no que diz respeito ao primeiro aspecto, para fins didticos e sem a pretenso de exausto, til a classificao das lacunas: a) lacunas prprias e tcnicas: conforme exposto, trata-se da classificao proposta por Kelsen (asseverando-se, contudo, que, para o mestre de Viena trata-se de um falso problema). As lacunas prprias seriam as surgidas em funo da distncia entre o direito positivo e o direito ideal; entre o que se deve aplicar e o que se gostaria de aplicar. J as lacunas tcnicas seriam as que decorrem da falta de regulamentao, ou de melhor detalhamento de uma norma jurdica positivada. b) lacunas de lege lata e de lege ferenda: distino tradicional da doutrina. As primeiras dizem respeito s lacunas que ocorrem no prprio direito positivo (no admitidas, portanto, por Kelsen); as de lege ferenda so consideradas imprprias, ideolgicas ou no-autnticas, uma vez que so solues insatisfatrias para um caso concreto. c) lacunas subjetivas e objetivas: o critrio para essa distino a causa da existncia da lacuna. Se a culpa puder ser imputada ao legislador, que deixou de tratar da matria, fala-se em lacunas subjetivas. Podem ser subdivididas em voluntrias (quando o legislador propositadamente deixou a questo em aberto, por qualquer razo) e involuntrias (nesse caso, a lacuna existe por descuido do legislador). J as objetivas so as que ocorrem independentemente da vontade do legislador. Trcio Sampaio Ferraz Jr. (op. cit., p. 220) fala em lacunas intencionais e nointencionais, cuidando para descrever situaes em que estas so lacunas de previso (o legislador, cabalmente, no previu a situao), desculpveis (as condies histricas do legislador impediam que previsse o surgimento de novas condutas) ou no-desculpveis (efetivo descuido do legislador). d) lacunas praeter legem e intra legem: essa distino decorre do problema da vagueza e ambigidade da linguagem. Diz-se lacuna prater legem aquela ocorrida por ser o texto legal muito particular, deixando de fora de seu mbito de significao situaes similares s previstas. J as lacunas intra legem, ao contrrio, so muito genricas, oferecendo espao vazio em demasia para a atividade do intrprete. 1.2.2. Formas de integrao do Direito Integrar o direito significa preencher-lhe as lacunas. Para fins didticos e uma exposio mais aprofundada de cada mecanismo, necessrio pass-los em revista, um a um.
a) Analogia: o brocardo latino ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio (onde h o mesmo motivo, h a mesma disposio de direito) parece explicar, em contornos bsicos, o que vem a ser este procedimento. de se notar que a analogia um recurso quase-lgico, na medida em que, para execut-la, fundamental considerar o aspecto material, j que sua operao pressupe, em linhas gerais, a identificao das similitudes entre duas situaes, em que uma lacunosa e a outra encontra previso adequada no ordenamento. Assim, dada a semelhana verificada, pressupe-se que a norma jurdica aplicvel ao caso lacunoso seria a mesma que regula o outro caso. b) Costume: Carlos Maximiliano (op. cit., p. 188) define-o como uma norma jurdica sobre determinada relao de fato e resultante da prtica diurna e uniforme, que lhe d fora de lei. c) Princpios gerais do direito: inicialmente, faz-se necessrio considerar que os princpios gerais de direito no devem ser confundidos com os princpios gerais do direito. Entre os que distinguem os princpios gerais de direito e os do direito, destaca-se, na doutrina brasileira, o ministro Eros Grau (op. cit., p. 123); no esteio da lio de Antoine Jeammaud, ClausWilhem Canaris, Jean Schimidt e Jerzy Wrblewski, estabelece que h, na origem da questo, uma diferena fundamental entre o direito posto e o direito pressuposto. Explica (op. cit., p. 128 e ss.; vide, ainda, GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto, 4a. ed., So Paulo: Malheiros, 2002) que o Direito, como fenmeno, no pode ser compreendido desgarrado de sua origem na estrutura social: a forma jurdica imanente infraestrutura econmica. Veja-se bem (em linhas genricas e sob o risco de eventuais imprecises econmico-filosficas): o Direito estabelece regras de comportamento na sociedade; tais regras so colocadas pelo Estado, que se arroga o monoplio da violncia o poder de punir; o Estado formado a partir de tramas polticas que se desenvolvem nos conflitos de classe na base da sociedade (entre os donos do poder econmico e os donos da fora de trabalho); desta maneira, o poder poltico fica adstrito ao poder econmico quem o detm, controla o Estado e, por conseguinte, a sociedade. Assim, a legislao, os tribunais, o trabalho dos operadores do Direito e dos doutrinadores representam, em ltima anlise, a expresso da dominao de uma classe (a dos proprietrios dos meios de produo genericamente, o empregador, cujos ganhos provm da troca de produtos criados a partir do trabalho de seus empregados) por outra (empregados, que vendem a sua fora de trabalho em troca de salrio salrio este que deve ser efetivamente menor que o valor final do produto por ele criado, para que gere o ganho do patro). J os princpios gerais de direito so tambm implcitos, mas recolhidos no direito pressuposto. Eles no so estranhos ao ordenamento jurdico, como elementos externos; muito pelo contrrio, como se trata de elementos provenientes da infraestrutura da sociedade, eles so descobertos no seu interior. Por exemplo, a vedao ao enriquecimento sem causa, nos termos preconizados nesta perspectiva, um princpio imanente ao ordenamento, dado que pressuposto na base (e a implicao clara, nos termos da teoria da norma jurdica: o dever-ser possui conexo com o ser) e, portanto, encontra-se implicitamente positivado. Nas palavras de Eros Grau, imperioso que isso fique muito claro: esses princpios, se existem (e, aqui, no no sentido de se relativizar a posio dos princpios gerais de direito, mas, sim, de haver ou no ocorrido a descoberta dos mesmos), j esto positivados; se no for assim, deles no se trata (op. cit., p. XXI). Desta maneira, no se pode conceber uma origem metafsica aos princpios gerais de direito no se trata, por exemplo, de regat-los do direito natural ou do sentido essencial de justia. O que h o reconhecimento de sua positivao e, neste sentido, diversamente do que a maior parte da doutrina sustenta, para Eros Grau, princpio norma jurdica (op. cit., p. XXIII; pp. 145 e ss.) d) Eqidade: tradicionalmente, a doutrina coloca a eqidade como ltimo recurso para o aplicador; ela pode ser compreendida como eqidade legal quando contida tacitamente no texto normativo, em que resta ao juiz a escolha de uma dentre vrias possibilidades prescritas, como um ato discricionrio. Assim, cumpre esclarecer que a eqidade, teoricamente, s pode ser invocada no sistema brasileiro mediante condies especficas: 1) previso legal; 2) inexistncia de disposio especfica, em norma jurdica, de soluo para o conflito concreto; 3) recurso prvio analogia, aos costumes e aos princpios gerais do direito (e constatao de sua ineficincia); e 4) motivao congruente com o esprito geral do ordenamento jurdico. LINK ACADMICO 5
A Dimenso Problemtica da Aplicao
1. Viso Geral Tradicionalmente, entende-se a antinomia jurdica como sendo um conflito entre duas normas jurdicas. No qualquer conflito de normas que pode ser compreendido como antinomia; preciso que o conflito seja qualificado. Isto significa que as duas normas jurdicas em situao antinmica, em primeiro lugar, sejam incompatveis entre si, materialmente falando: dispem sobre contedos de maneira a se colocar em oposio. necessrio que estejam, pelo menos parcialmente, no mesmo plano de validade considerando-se quatro critrios: a) temporal (por exemplo, proibido fumar das 15h s 18h versus permitido fumar charutos das 15h s 18h); b) espacial (por exemplo, proibido fumar na sala versus permitido fumar em qualquer ambiente); c) pessoal (por exemplo, proibido o fumo para menores de 18 anos versus permitido o fumo para os maiores de
16 anos); e d) material (por exemplo, proibido fumar versus permitido fumar) e num mesmo ordenamento. Alm disto, tm de ter sido postas por autoridades competentes num mesmo mbito normativo. E, por fim, que a dvida resultante da avaliao desta situao seja materialmente complexa: a soluo enseja a necessidade de excluso de pelo menos uma delas. Para facilitar a compreenso do que sejam as incompatibilidades lgicas, necessrio diferenciar as situaes de contrariedade, de sub-contrariedade e de contraditoriedade; trata-se de uma questo de lgica formal. Uma proposio contraditria outra quando ambas no podem ser verdadeiras simultaneamente, mas tambm no podem ser falsas ao mesmo tempo: pelo menos uma subsiste outra. Assim, a proposio algumas aves voam contraditria com nenhuma ave voa: ou nenhuma ave efetivamente voa ou pelo menos uma ave voa (que a condio mnima para poder se afirmar que algumas aves voam). Sub-contrrias, por sua vez, so as proposies que no podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem ser simultaneamente verdadeiras. Por exemplo, algumas aves voam perfeitamente compatvel com algumas aves no voam, mas no possvel que ambas sejam falsas na mesma relao. Raciocnio similar, ento, pode ser feito com as normas jurdicas. Imagine-se um quadrado de oposies denticas em que estejam distribudas, em cada vrtice, a norma proibitiva, a norma imperativa, a norma permissiva positiva (a que permite o comportamento) e, finalmente, a norma permissiva negativa (a que permite no fazer algo). Note-se que h seis relaes possveis: 1) entre a norma obrigatria e a norma proibitiva; 2) entre a norma obrigatria e a norma permissiva negativa; 3) entre a norma obrigatria e a norma permissiva positiva; 4) entre a norma proibitiva e a norma permissiva; 5) entre a norma proibitiva e a norma permissiva negativa; e, por fim, 6) entre a norma permissiva positiva e a norma permissiva negativa. De todas as oposies possveis, so, efetivamente, incompatibilidades que se traduzem em antinomias as situaes em que se encontram no mesmo mbito normativo e de validade duas normas jurdicas: a) onde uma obriga e a outra probe o mesmo comportamento (situao de contrariedade); b) onde uma obriga e a outra permite no tomar uma determinada conduta (contraditoriedade); e c) onde uma probe um comportamento permitido pela outra (tambm, contraditoriedade). possvel notar que a relao de contrariedade envolve uma situao em que ambas as normas podem ser simultaneamente invlidas, mas no vlidas ao mesmo tempo; j entre as contraditrias, se uma delas for vlida, necessariamente a outra no ser. As relaes subalternas (entre a norma proibitiva e a permissiva negativa; e entre a obrigatria e a permissiva positiva) e sub-contrrias (entre as permissivas negativa e positiva) no so incompatveis, de modo que no configuram antinomias jurdicas ( obrigatrio votar e permitido votar so subalternas, assim como proibido dormir e permitido no dormir; e permitido votar e permitido no votar so sub-contrrias; nenhuma das trs relaes , portanto, antinmica). 2. Tipos de antinomias Com vistas sistematizao, pode-se classificar as antinomias: a) reais e aparentes: em princpio, as primeiras so as que no possuem critrios de soluo, ao passo que as segundas so aparentes exatamente porque possvel resolv-las a partir de regras prticas do prprio ordenamento; b) prprias e imprprias: prprias so as antinomias que se do formalmente, ou seja, no nvel do ordenamento, qualificadas a partir da subordinao, da incompatibilidade e da dvida material persistente; j as imprprias so as de fundo material, em que o intrprete/aplicador, na verdade, discorda do contedo da norma (nesse caso, nem sequer se trata de antinomia aparente); c) total-total, total-parcial e parcial-parcial: propostas por Alf Ross, em Direito e justia; diz-se que a antinomia total-total quando no h circunstncia em que no ocorra conflito entre duas normas; tem-se a antinomia total-parcial quando, de duas normas incompatveis, uma tem um mbito de validade igual ao da outra, porm mais restrito (cf. Bobbio, op. cit., p. 89); e, finalmente, uma antinomia parcial-parcial quando as normas implicam oposio apenas em parte de uma situao e, em outra, no. 2.1. Critrios de soluo de antinomias H critrios para a soluo de antinomias. Basicamente, como explica Bobbio, o intrprete, seja ele o juiz ou o jurista tem sua frente trs possibilidades: 1) eliminar uma (das normas); 2) eliminar as duas (normas); 3) conservar as duas (normas) (op. cit., p. 100). Portanto, a questo que se enfrenta qual das normas deve ser eliminada? Para tanto, inicialmente, possvel elencar trs critrios: a) cronolgico; b) hierrquico; e c) de especialidade. Tais critrios se estabelecem como metanormas dentro do ordenamento, uma vez que so regras sobre regras; mas so regras nascidas da prtica diuturna dos juristas e tribunais no so normas jurdicas, propriamente. Conforme o exposto, ento, tais critrios estabelecem que: a) lex posterior derrogat posteriori, ou seja, a norma mais recente revoga a norma mais antiga; b) lex superior derrogat inferiori, norma hierarquicamente superior revoga a inferior; e c) lex speciallis derrogat generallis, a saber, a norma especial, frente geral, prevalece. 3. A hermenutica jurdica: mtodos e tipos de interpretao do Direito 3.1. Viso geral Na linha do exposto no tpico acerca da dogmtica de aplicao do Direito, convm, ento, observar, do ponto de vista prtico, como a interpretao/aplicao das normas jurdicas pode ser feita. Assim, interpretar/aplicar/decidir representam formas de neutralizao de condutas. As normas jurdicas, como produto de linguagem, utilizam-se de cdigos fortes e fracos para estabelecerem seus significados efetivos. Fortes so aqueles cdigos sobre os quais a denotao clara; fracos so os cdigos que denotam pouco, portanto conotam muito. Dessa forma, a atividade hermenutica, que enseja sempre uma deciso, forma de dominao e no forma de conhecimento cientfico. 3.2. Mtodos de interpretao Os mtodos tradicionais de interpretao do Direito, na verdade, no so, propriamente, mtodos. Basicamente, so quatro as formas de interpretao:
a) Interpretao lgico-gramatical: fala-se em uma tcnica gramatical ou literal quando o esforo do hermeneuta se concentra na identificao dos sentidos dos signos que formam a proposio que se visa interpretar. Confia-se, portanto, que a palavra aponta para um objeto da realidade. b) interpretao sistemtica: Trcio Sampaio Ferraz Jr. (op. cit., pp. 297 e ss.) explica que a interpretao sistemtica que se realiza pela assuno de que a norma jurdica deve ser compreendida em funo de seu relacionamento com as demais normas, ou seja, deve ter seus significados apreendidos em funo do sistema jurdico (o ordenamento, sendo um sistema, oferece o sentido mais completo e, assim, mais til, para o jurista). c) Interpretao histrico-evolutiva: trata-se de reconhecer, sobretudo, que o Direito tambm um fenmeno histrico, resultado de uma evoluo de idias e polticas adotadas por uma sociedade. Assim, recomenda-se, atravs desse mtodo, o estudo do histrico do processo legislativo, das normas anteriores s atuais acerca do objeto em questo, buscando o projeto de lei, os debates dos legisladores, exposio de motivos, eventuais emendas etc. d) Interpretao teleolgica-axiolgica: visa estabelecer o sentido da norma jurdica a partir da finalidade (telos) que orientou o legislador em sua criao. Trata-se, portanto, de uma postura subjetivista, no sentido de que procura recuperar a mens legislatori, o valor que se pretendeu tutelar. E, por este motivo, esta tcnica tambm compreendida como axiolgica. 3.3. Tipos de interpretao Uma vez aplicadas as tcnicas de interpretao, h que se considerar seus efeitos ou resultados. Assim, possvel calibrar a atividade de interpretao/aplicao do direito tendo por critrio o alcance obtido no sentido do texto normativo. Os tipos de interpretao, nesta tica, so: a) Interpretao extensiva: fala-se em interpretao extensiva quando se obtm, como resultado da atividade hermenutica, uma ampliao do sentido da norma jurdica. b) Interpretao restritiva: ao contrrio da primeira, caso se tome um cdigo fraco e o torne forte, reforando-se, portanto, sua denotao, tem-se a interpretao restritiva. Portanto a idia limitar o alcance do sentido da norma, ainda que exista uma amplitude literal. c) Interpretao declarativa: Trata-se de fixar, atravs de parmetros prprios da anlise gramatical, sinttica e semntica, e da anlise sistemtica, que o alcance da interpretao no foi nem a mais e nem a menos: foi razoavelmente exata. 4. Dogmtica da deciso: teoria da argumentao 4.1. Viso geral A dogmtica da deciso se impe ao aplicador do direito como sua tarefa ltima e definitiva. Trata-se, efetivamente, de oferecer ao conflito jurdico uma soluo, na medida em que, pelo princpio da proibio do non liquet, todo conflito jurdico possui um fim (definir compreendido etimologicamente como de + finir, pr fim). Assim, como decorrncia de toda a exposio feita neste captulo, da identificao da atividade do aplicador, dos problemas que normalmente enfrenta e dos mecanismos de que dispe para operar, resta evidente que o problema fundamental estabelecer meios pragmticos para traar uma correspondncia entre a vontade e a razo: como possvel escolher um sentido da norma jurdica (ou mesmo um sentido fora da norma jurdica, na constatao kelseniana de que, como o ato decisrio implica vontade, no h que se falar em cincia, racionalizao) e, ao mesmo tempo, motivar a deciso da maneira mais racional possvel? 4.2. Argumentao e razoabilidade: a racionalidade material O mexicano Recasn-Siches foi dos primeiros doutrinadores a abordar o problema de uma lgica razovel para o Direito. Sua teoria prope discutir a racionalidade material, diversa da razo iluminista, tpica do sculo XVIII. A racionalidade material, de carter prtico, no deixa de ser razo: implica no uma razo constringente, demonstrativa, uma concluso, mas sim uma deciso livre e responsvel (ALVES, op. cit., p. 396). Como explica Theodor Viehweg, dando novo tom ao Organon aristotlico, decidir importa considerar uma srie de fatores e condies momentneas, circunstanciais. Exige a apreciao dos fatos e das eventuais conseqncias envolvidas. Contudo, o procedimento argumentativo no pode, pelas prprias razes que o justificam, ser formalizado. No h um mtodo seguro e correto de se argumentar. O que h so posies a serem debatidas e defendidas. por isto que a argumentao funciona como um processo controlvel externamente pela sociedade. Os debates internos dos operadores do Direito, ainda que tornados muitas vezes incompreensveis pelo jargo ou por conceitos nem sempre assimilveis de pronto pelo leigo, podem ser alvo de apreciao da comunidade sobre a qual os efeitos da deciso do conflito recai. Portanto tambm necessrio considerar que o quadro de valores sociais, a ideologia, os sentimentos, enfim, fatores no racionalizveis na tica iluminista, contam e muito no cmputo final. Assim, aplicar o direito uma tarefa que nasce no seio da sociedade e por esta controlada.
LINK ACADMICO 6
Princpios Constitucionais
1. Viso Geral Dentre os princpios de direito, o legislador constitucional elegeu alguns para, expressamente, incidirem de maneira direta na organizao do Estado e da sociedade. Canotilho (CANOTILHO, Jos Joaquim Gomes. Direito constitucional, 5a. ed., Lisboa: Almedina, 1991) divide-os em duas categorias: a) princpios poltico-constitucionais, que estabelecem as escolhas fundamentais da nao quanto forma de exerccio do poder e ao
relacionamento da sociedade, considerada a partir dos seus indivduos, com o Estado; e b) princpios jurdico-constitucionais, que informam a ordem jurdica como um todo, orientando o esprito geral das normas constitucionais e infraconstitucionais. Os princpios fundamentais visam organizar politicamente o Estado, a forma de governo, os Poderes e a sociedade. Por outro lado, entre os princpios gerais do direito constitucional, prprios da teoria geral do direito constitucional e que dizem respeito sistemtica deste ramo da dogmtica jurdica, podem ser mencionados, entre outros: a) Princpio da supremacia da constituio: a submisso constituio, entendida como a carta maior de uma nao, deve ser entendida como um axioma da sistemtica do ordenamento jurdico. Pensando o ordenamento como uma pirmide, a constituio de um pas, ento, estaria no topo da mesma, vinculando a validade das demais normas conformidade destas em relao s suas prprias normas. b) Princpio do poder constituinte originrio: na doutrina, o poder constituinte originrio aquele que cria a constituio. Ou seja, trata-se, como o prprio nome deixa entrever, de um poder de onde tudo se origina e este poder, que pertence sociedade, ao ser usado por uma assemblia especialmente eleita para este fim, possibilita a criao da carta magna de uma nao. c) Princpio da rigidez constitucional: sendo o axioma do sistema, a constituio no deve ser objeto de transformaes casusticas ou objeto de negociatas polticas momentneas. Aconselha o bom senso que, em nome da estabilidade poltica e da segurana jurdica, a constituio somente seja alterada diante de uma necessidade importante e razovel. Por esta razo, as reformas constitucionais tendem a ser mais maleveis ou menos maleveis de acordo com cada sociedade, j que, por princpio, o poder constituinte originrio resulta do processo histrico de um povo, tendo por base a evoluo poltica pela qual passou. 2. Princpios constitucionais em espcie a) Princpio da legalidade: nos termos mais usuais, significa que ningum ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa seno em virtude de lei (apontando-se, aqui, entretanto, um pequeno problema semntico: toda lei norma jurdica, mas nem toda norma jurdica lei; ora, nesses termos, o princpio da legalidade deve ser compreendido a partir da noo mais ampla, a de norma jurdica) tal o texto do art. 5, II, da Constituio brasileira de 1988. b) Princpio do juiz natural: a Constituio brasileira, em seu art. 5, inciso XXXVII, reza que no haver juzo ou tribunal de exceo; mais adiante, no mesmo artigo, mas no inciso LIII, expressa que ningum ser processado nem sentenciado seno pela autoridade competente. A conjugao de tais dispositivos resulta na compreenso dos princpios que definem as bases para a atividade jurisdicional. c) Princpio da ao: tambm conhecido como princpio da demanda, encontra-se previsto, de maneira difusa, em diversos dispositivos constitucionais (como, por exemplo, o art. 5, XXXV, que prev a inafastabilidade da justia) e infraconstitucionais (tanto no Cdigo de Processo Civil quanto no de Processo Penal). Basicamente, a jurisdio inerte, isto , o direito de acionar os rgos jurisdicionais cabe parte, titular de direito ofendido, e no ao juiz. d) Princpio do contraditrio e ampla defesa: o brocardo romano audiatur et altera pars (em traduo livre, ouvir a outra parte) traduz, em linhas genricas, este princpio. Previsto na Constituio Federal, art. 5, LV, impe, de um lado (contraditrio), que uma relao dialtica se estabelea entre o autor e o ru em plos opostos, apresentam as vises parciais acerca de uma mesma questo, ensejando, assim, uma tese que se coloca em contradio com uma anttese, exigindo do juiz o trabalho de formulao de uma sntese, ao decidir o caso. Por outro lado (ampla defesa), impe a necessidade de equilbrio entre as partes no processo, oferecendo oportunidades iguais de manifestao. e) Princpio da persuaso racional do juiz: deve ser compreendido ao lado do princpio da motivao das decises, do princpio da publicidade e, certamente, do princpio da legalidade. O juiz livre para julgar em conformidade com tais provas ou, mesmo sem provas; em certas condies, at mesmo contra as provas. f) Princpio da motivao das decises: qualquer deciso do aplicador da norma jurdica deve ser justificvel; implica a possibilidade de se demonstrar no propriamente a validade da concluso, mas, sim, como as premissas foram relacionadas e qual o nexo delas com a deciso tomada. g) Princpio da publicidade: no mbito processualstico, o mesmo art. 93, IX, da Constituio Federal, que prev o princpio da motivao das decises prev, em sua primeira parte, o princpio da publicidade. O texto normativo menciona, inicialmente, que todos os julgamentos dos rgos do Poder Judicirio sero pblicos, abrindo, contudo, exceo naqueles casos nos quais a preservao do direito intimidade do interessado no sigilo no prejudique o interesse pblico informao, de forma que a lei poder limitar a presena, em determinados atos, s prprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. O princpio da publicidade no se restringe apenas ao direito processual: tambm interessa, e muito, ao direito administrativo. Trata-se de expediente necessrio para dar transparncia s aes internas dos agentes pblicos e permitir, assim, o controle externo da conduo dos negcios do governo. As excees, portanto, devem estar reguladas especificamente na legislao. h) Princpio da moralidade: no obstante o critrio de legalidade que deve permear todas as atividades da administrao pblica, necessrio observar-se que, como reza o brocardo romano, non omne quod licet honestum est (nem tudo o que legal honesto, em traduo livre). i) Princpio da interveno mnima: comumente, este princpio
est ligado aos interesses do direito penal, dado o impacto das normas jurdicas desta natureza sobre a sociedade. Contudo, a discusso sobre o princpio da interveno mnima pode ser levado a tantas outras esferas do direito, especialmente no que diz respeito s questes econmicas. Nesses casos, o legislador constituinte ora preconiza a atuao do Estado (como, por exemplo, no que diz respeito aos chamados direitos difusos), ora a relativiza (como no que concerne aos aspectos da participao direta do Estado na constituio de empresas estatais, pblicas e de economia mista, tal qual prescrito no art. 173 da Constituio brasileira). j) Princpio da insignificncia: trata-se, na esfera penal, de princpio correlato ao da interveno mnima. Da mesma maneira que, nesse princpio, a origem da idia de insignificncia est ligada interferncia do poder estatal na vida dos sociais. Quando se fala em insignificncia, tem-se em mente, precipuamente, a irrelevncia de uma determinada conduta frente ao Direito. Isto pode se dar, basicamente, de duas formas: a) grande desproporo entre o fato delituoso e a pena correspondente; b) o delito deve ser um bagatelldelikte (delito de bagatela), ou seja, um delito de pouca importncia, consideradas as condies scio-poltico-econmicas em que a conduta se deu; c) a insignificncia no pode ser obtida apenas pela relevncia patrimonial do delito e, sim, sobre a conduta do agente. k) Princpio da adequao social: informa o princpio que, havendo aceitao social em relao determinada conduta, de um lado, limita-se, ento, o campo de liberdade do legislador em transform-la em tipo penal e, de outro, tambm se restringe a atuao do rgo jurisdicional no sentido de aplicar a norma jurdica que tipifica a mencionada conduta. l) Princpio da lesividade: Do brocardo latino nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (em traduo livre, no h crime nem pena sem previso legal anterior). Assim, o princpio da lesividade, em linhas gerais, pode ser invocado para evitar que condutas internas (aqui entendidas como produto da mera vontade, no concretizadas por atos exteriores) e demais condutas que no encontrem respaldo legal, posto que no atingem bens juridicamente tutelados, possam ser alcanados, especialmente no mbito do direito penal.
LINK ACADMICO 7
Jurisdio
1. Viso Geral Viver em sociedade significa viver em conflitos de interesses. H um sem nmero de razes para isto. Seja porque os recursos existentes no contemplam a todos ou porque novas necessidades so criadas diuturnamente ou, ainda, pela prpria estrutura de dominao poltica, o fato que o direito se faz necessrio para permitir no apenas a sobrevivncia do cidado, mas tambm para fazer surgir o melhor de seu potencial. Nessa perspectiva, o Estado exerce papel preponderante: dele a responsabilidade de estabelecer as regras de conduta e de aplicar as sanes correspondentes, liquidando os litgios. Mas, nem sempre foi assim. Via de regra, nas sociedades primitivas, a forma mais tradicional de soluo dos conflitos era baseada na atuao do prprio ofendido: cabia a ele resolver os seus prprios problemas (a famosa mxima prescrita no Cdigo de Hamurabi impunha olho por olho, dente por dente). Alm disso, uma outra forma de se resolverem os conflitos, que ainda hoje admitida em certas situaes, a chamada autocomposio. Difere-se da autotutela qualitativamente: visa composio das partes atravs de trs mecanismos: a) desistncia ou renncia da parte titular do direito material violado; b) submisso ou reconhecimento jurdico do pedido, em que a parte de quem se demanda algo, livremente e sem qualquer sujeio forada, se entrega pretenso do requerente; e c) transao, em que requerente e requerido chegam a um denominador comum, atravs de concesses recprocas. 2. Jurisdio: conceito e caractersticas Jurisdio a funo estatal por meio da qual o Estado se substitui aos titulares dos interesses em conflito, para, imparcialmente, buscar a pacificao do conflito que os envolve, com justia. Essa pacificao feita mediante a atuao da vontade do direito objetivo que rege o caso apresentado em concreto para ser solucionado; e o Estado desempenha essa funo sempre mediante o processo, seja expressando imperativamente o preceito (atravs de uma sentena de mrito), seja realizando no mundo das coisas o que o preceito estabelece (atravs da execuo forada) (cf. CINTRA, Antonio Carlos de Arajo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cndido Rangel. Teoria geral do processo, 9a. ed., So Paulo: Malheiros, 1993, p. 113). A partir da definio apresentada, possvel inferir as caractersticas do fenmeno jurisdicional: a) Carter substitutivo: o Estado deve atuar atravs da jurisdio para evitar que as partes envolvidas estabeleam suas prprias razes ou, ento, pretendendo se satisfazer, acabem por invadir a esfera jurdica alheia. b) Escopo jurdico de atuao do direito: a jurisdio tem por finalidade possibilitar a aplicao do direito material. Nas palavras de Carnelutti, o escopo do processo a justa composio da lide, o que alcanado atravs da concretizao do direito na sentena. 3. Jurisdio: princpios Tradicionalmente, a doutrina entende que os princpios da jurisdio so: a) Inevitabilidade: o direito processual um ramo do direito pblico. Isto implica afirmar que, sendo a funo jurisdicional expresso da soberania do Estado, ela atua independentemente da vontade das partes. O carter de subordinao. Portanto, a vontade do Estado prevalece. b) Indeclinabilidade: este princpio informa que nenhuma leso de direito ser deixada de lado o Estado a conhecer. Trata-se da proibio do non liquet, que obriga, ento, o juiz a solucionar a contenda. No Direito, no h conflito sem soluo. c) Investidura: a atuao jurisdicional do Estado se d atravs de rgos competentes. A investidura procedida a partir do ingresso do juiz no servio pblico, aps aprovao em concurso pblico apropriado, com a fixao da competncia de sua atuao nos termos da lei. Tam-
bm possvel a nomeao, por ato do chefe do Poder Executivo, nas hipteses previstas na legislao. d) Indelegabilidade: o juiz age em nome do Estado e o exerccio da atividade jurisdicional, aps sua investidura, seu, com exclusividade; resta-lhe, ento, vedada a transferncia de funes a outrem. e) Inrcia: a jurisdio no pode ser exercida ex officio, at em funo do princpio da ao. Isto significa que o rgo jurisdicional s age mediante provocao das partes. f) Aderncia: a atividade jurisdicional adstrita por uma delimitao territorial previamente estabelecida na lei. g) Unicidade: a funo jurisdicional una. Sim, ela comporta divises de carter puramente administrativo fala-se, ento, em justia civil, justia penal, justia federal, justia estadual , mas seu carter decorrente da soberania; assim, admitir a compartimentalizao da jurisdio implicaria assumir a existncia de vrias soberanias concorrentes no mesmo pas, o que, evidentemente, no faz sentido. h) Juiz natural: trata-se da proibio de tribunais de exceo. Os juzes so previamente investidos e tm sua autoridade delimitada territorialmente, exatamente para garantir a independncia e imparcialidade no julgamento. 4. Espcies de jurisdio Os critrios para tal abordagem so: a) quanto ao seu objeto (fala-se, ento, em jurisdio civil e penal); b) quanto aos rgos que a exercem (diferencia-se a jurisdio especial da comum); c) quanto posio hierrquica (tem-se, assim, a jurisdio superior e a inferior); e d) quanto fonte do direito (trata-se de jurisdio de eqidade ou de direito). a) Jurisdio civil e jurisdio penal: na verdade, o critrio que prope esta classificao bastante duvidoso, j que, em primeiro lugar, o objeto pode ser no apenas civil ou penal, mas tambm tributrio, comercial, administrativo e assim sucessivamente. Contudo, ele serve para distinguir o caso penal, que encerra pretenses punitivas, dos demais, que, por vezes, so abrangidos sob o guarda-chuva justia civil. Portanto, nesta classificao, o que se leva em conta no a distino dos ilcitos penais e civis (que, por sinal, no diferem tanto); o que se considera a questo da sano, muito mais severas na esfera penal. b) Jurisdio comum e jurisdio especial: trata-se de uma distino eminentemente legal; a Constituio Federal que estabeleceu competncias distintas para a Justia Federal, a Justia Militar, a Justia Eleitoral e a Justia do Trabalho. c) Jurisdio superior e jurisdio inferior: trata-se de um desdobramento do princpio do duplo grau de jurisdio, que, diante da razovel falibilidade do julgador de primeira instncia, prega a possibilidade de re-exame, sob determinadas condies, da causa, por rgo jurisdicional superior ao primeiro. d) Jurisdio de eqidade e jurisdio de direito: trata-se de uma abordagem tambm baseada na hiptese legal. Como o ordenamento jurdico encarado como um sistema, necessrio haver regras para sua integrao, em caso de lacunas. As regras de integrao prevem a possibilidade de lanar-se mo do julgamento por eqidade, ou seja, de se constituir verdadeira jurisdio de eqidade, em contraposio ao padro, que a jurisdio de direito. 5. Jurisdio voluntria e contenciosa O Cdigo de Processo Civil divide a jurisdio civil em contenciosa e voluntria. A primeira inerente ao Poder Judicirio e a situao-parmetro para a soluo de conflitos sociais. A segunda, apesar de no ser, na acepo tcnica do termo, jurisdio, significa a imposio da participao de uma autoridade administrativa civil. Na chamada jurisdio voluntria, portanto, no existem partes litigantes, explica Mattos Barroso (BARROSO, Carlos Eduardo de Mattos. Teoria geral do processo e processo de conhecimento, 3a. ed., So Paulo, Saraiva, 2000, p. 26), mas sim simples interessados na produo dos efeitos do negcio jurdico formal; no existe tambm sentena de mrito, com aplicao do direito ao caso concreto, mas mera homologao formal do acordo de vontades. Assim, a atividade da autoridade, neste caso, no propriamente jurisdicional: funciona muito mais como um fiscal do ato jurdico, de forma a garantir sua validade, nos termos da lei.
Ao
1. Viso geral Diante do exposto no captulo anterior, especialmente no que toca monopolizao do Estado em relao violncia legtima e ao estabelecimento de sua soberania sobre seu territrio, dois princpios fundamentais de direito foram fixados: o da inafastabilidade da justia e o da inrcia. Assim, ao, antes de mais nada, pode ser compreendida como o direito ao (ou poder de) exigir o exerccio da atividade jurisdicional. Trata-se de um direito pblico subjetivo abstrato exercido contra o Estado. ela um direito pois contrape-se ao dever do Estado de resolver os litgios. Direito esse subjetivo porque envolve exigncia deduzida contra o Poder Pblico, visando ao cumprimento da norma geral de conduta tida como violada (direito objetivo). Por fim, abstrato, pois independe da existncia do direito material concreto alegado pelo autor (cf. BARROSO, Carlos Eduardo de Mattos. Teoria geral do processo e processo de conhecimento, 3a. ed., So Paulo, Saraiva, 2000, p. 26). Pode-se definir ao, ainda, atravs da prestao jurisdicional que se objetiva alcanar no processo. As tutelas a serem alcanadas so distintas: podem-se obt-las na forma de tutela cognitiva, via sentena meritria; na forma de tutela executiva, que coage o devedor ao cumprimento das decises do Estado; ou, finalmente, na forma de uma tutela que garanta processualmente a eficcia de futuros processos (tutela cautelar).
2. Condies da ao Feitas as distines necessrias e definidas as questes conceituais, necessrio verificar o que so as chamadas condies da ao. Basicamente, trata-se de um conjunto de requisitos que visam estabelecer, antes do exame da questo material em si, que h condies legtimas para se exigir o provimento jurisdicional. So elas: a) Possibilidade jurdica do pedido: como a expresso permite compreender, o pedido a se postular deve ser possvel nos termos do ordenamento jurdico. Exige-se, portanto, que no esteja vedado aquilo que se deseja alcanar. Mas, note-se que todo pedido que formulado ao rgo jurisdicional, em razo da autonomia do direito de ao, desdobra-se em dois: um pedido imediato para que o Estado julgue a contenda; um pedido mediato que a prpria reparao do dano causado pelo ru. O exame das condies da ao, portanto, privilegia, inicialmente, apenas o pedido imediato. b) Interesse de agir: trata-se de uma equao entre necessidade e adequao, posto que so as caractersticas de um resultado til. Necessidade, nesse caso, significa que a probabilidade do ru atender espontaneamente a pretenso apresentada baixa e que, portanto, sem a interferncia do Estado, o autor corre srios riscos de permanecer lesado. Adequao significa que o que se pede apto a resolver o problema, caso o Estado venha a decidir pela procedncia. Note-se que, em certos casos, a lei deixa ao autor algumas possibilidades distintas de tutela para seu caso. Trata-se da facultatividade tpica do interesse de agir. c) Legitimidade ad causam: nos termos da relao jurdica havida, legtimas so as partes titulares do plo ativo e passivo. Ao autor deve caber, ento, o direito de exigir e, ao ru, o dever de reparar. 3. Elementos da ao Uma metanorma jurdica que se pode invocar no direito processual aquela a qual veda que duas aes idnticas estejam simultaneamente em juzo. Trata-se de imperativo lgico: a proibio da litispendncia. Para que esta seja seguramente afastada, necessrio que os trs elementos da ao, partes, causa de pedir e pedido sejam distintos. a) Partes: autor e ru. O autor formula o pedido, o ru resiste pretenso. b) Causa de pedir: a descrio do conflito de interesses que leva o autor a solicitar a interveno do Estado. A causa de pedir remota a que narra os fatos que compem o conflito, remontando os constitutivos do direito do autor, ou seja, os eventos concretos que demonstrem o surgimento de seu direito. A causa de pedir prxima a descrio da conseqncia jurdica gerada pela leso ao direito do autor (cf. BARROSO, op. cit., p. 37). c) Pedido: como visto, so dois o imediato, relativo tutela do Estado, e o mediato, que diz respeito reparao do dano causado pelo ru. 4. Classificao das aes O critrio para a classificao o tipo de provimento jurisdicional que se invoca do Estado. a) Ao de conhecimento: tem por objetivo obter uma deciso sobre quem possui razo, o autor ou o ru, na contenda. Pode ser, nestes termos: 1) declaratria, quando se obtm apenas a declarao de existncia ou no da relao jurdica, gerando efeitos pretritos (ex tunc); 2) constitutiva, quando, alm da declarao de seu direito, deseja-se criar, modificar ou extinguir uma dada relao jurdica, com efeitos ex nunc (de agora em diante); e 3) condenatria, quando, alm da declarao de seu direito, deseja-se que se impute ao ru uma obrigao de dar, fazer, no fazer ou pagar certa quantia, sob pena de nova demanda, desta feita para satisfao da deciso (execuo). b) Ao de execuo: trata-se de prestao jurisdicional satisfativa, isto , a que visa movimentao do poder de coao do Estado para o cumprimento da obrigao que, reconhecidamente (pois no se discute mrito), conforme demonstra o ttulo executivo (judicial: sentena condenatria; extrajudicial: documentos lquidos e certos da obrigao descumprida), o ru deixou de acatar. c) Ao cautelar: a que se invoca a interveno prvia do Estado no sentido de garantir processualmente a eficcia de uma futura (outra) ao, que corra o risco de no surtir os efeitos desejados por conta da demora na apreciao do pedido principal. d) Ao monitria: visa ao recebimento de quantia certa ou entrega de coisa fungvel, aps a expedio de um mandado de pagamento, semelhana da ao de execuo (cf. BARROSO, op. cit., p. 36). Contudo, sendo interpostos embargos pelo ru, deve a ao assumir caractersticas tpicas de ao de conhecimento.
da vida pblica subjetivo e que, por isso, est em oposio direta com a idia de norma jurdica, que seria, ento objetiva. E, claro, o quadro objetivo preferencial ao subjetivo, j que naquele a lgica implacvel e a razo, ento, prevalece, independente dos calores e dos sentimentos, que levam parcialidade no julgamento. Falar na relao entre Direito e poder, portanto, enseja raciocnios contraditrios: afinal, a despeito das posies expostas, no difcil perceber que sem poder no h que se falar em Direito. A coero, monopolizada pelo Estado, como reflexo de sua soberania, realiza-se, modernamente, atravs da forma jurdica. Alis, tem-se a confiana de que o Direito funciona como um freio, um mecanismo de controle, ao poder do Estado. Mas, como pode o prprio Direito, que posto pelo prprio Estado, control-lo? A lgica implacvel: se o Estado quem pe o Direito e o Direito quem deve control-lo, logo, ningum controla o Estado. Diante desta reflexo, no toa que o pensamento liberal, ento, deva pregar a diminuio do papel do governo na vida das pessoas. Mas isto revela um contra-senso: em primeiro lugar, o Estado no existe. O Estado uma fico jurdica; o que existe so homens concretos. Em segundo lugar, o Estado uma necessidade: os bens produzidos na sociedade no so acessveis a todos. No sendo acessveis a todos, necessrio estabelecer um critrio de distribuio para a prpria manuteno da ordem e da convivncia humana. Este critrio posto pelo Estado, atravs do poder poltico. Desta maneira, o Estado tem diante de si uma tarefa dplice: de um lado, permitir que a classe dominante permanea tendo acesso privilegiado aos bens; de outro, produzir a aparncia de organizao de acesso a tais recursos, como forma de perpetuar a dominao. 2. Patrimonialismo e neo-patrimonialismo Max Weber foi responsvel pela introduo da idia de patrimonialismo na sociologia. Patrimonialismo a expresso de uma dominao tradicional, em que as esferas do pblico e do privado no se diferenciam com nitidez. Basicamente, no se consegue identificar onde comea o interesse pblico e onde termina o privado. Por dominao patriarcal, entenda-se a sobreposio de um grupo sobre outro(s) de maneira aberta, explcita, com recorrncia, inclusive, violncia franca. Este tipo de dominao se desenvolveu ao longo da histria por toda a antiguidade, passando pelo medievo e pela era moderna. Contudo, com a ascenso da classe burguesa, proprietria dos modos de produo, no sculo XVIII, atravs das revolues liberais, por todo o Ocidente, a dominao patriarcal ficou obsoleta. Se, do ponto de vista econmico, a burguesia est identificada com ideais de liberdade, de livre concorrncia, de igualdade, como compactuar com a dominao tradicional, baseada na fora e no costume? A chegada da burguesia ao poder na Europa representa a identificao entre poder poltico e poder econmico, numa conjuno at ento nunca vista na histria. A bandeira filosfica mais evidente deste momento o iluminismo. A confiana na razo iluminada, trao essencial do ser humano, que nos torna todos iguais, passou a ser o tom do discurso burgus. neste bojo que a lei surge como paradigma, como dogma. Ora, ningum deve ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo seno em virtude de lei, vaticina-se! Se a lei igual para todos, todos somos iguais. Se todos somos iguais e tivermos as mesmas possibilidades, que vena o melhor. A falcia deste discurso est latente, mas identificvel: as pessoas no so iguais materialmente. As pessoas no tm o mesmo acesso aos bens. Ento a falcia tornar-nos todos iguais formalmente, atravs das palavras da lei. O art. 5 da Constituio Federal brasileira prescreve a igualdade formal de todos os cidados brasileiros. Pergunta-se: somos? O que Weber nota, ento, que o velho patrimonialismo foi substitudo por um neo-patrimonialismo; a dominao, paulatinamente, se encaminha para a escala burocrtico-racional. Isto significa que a violncia no mais escancarada. A violncia latente. O discurso o da legalidade. Cumpra-se o que est na lei; afinal, ela um dado objetivo. Ora, a lei no feita pelo poder legislativo? No parte da Constituio da Repblica? No parte essencial da poltica? Como, ento, separar o legal e o poltico, se a lei uma das formas fundamentais da ao poltica?, questiona Marilena Chau (cf. CHAU, Marilena. Convite filosofia, 12a. ed., So Paulo: tica, 2000, p. 369). O direito, atravs do movimento codificador, que fetichizou a norma jurdica e a fez dogma, tornou-se o melhor instrumento de dominao. Se, na idade mdia, o suserano olhava o servo nos olhos ao lhe dar alguma ordem, agora, isto no mais necessrio. A norma jurdica uma idia, uma idia de dever-ser. Impessoal. Ela no prescreve condutas individuais, ela o faz genrica e abstratamente. Ao dominador, o melhor argumento possvel: so as leis que mandam, no ele. O que no se faz questo de se mencionar que todo contedo de norma jurdica criado pelo Estado, atravs do Parlamento. Esse Parlamento formado por membros eleitos pelo povo. Portanto, legitimados para designarem a conduta e a sano que melhor lhes convier na norma jurdica. Mas o que no se menciona que, para ser membro do Parlamento, preciso ser um igual. Ter os mesmos bens. Falar a mesma lngua. Gostar dos mesmos passatempos. Viajar para os mesmos lugares. Quem est no poder poltico, ento? Simon Schwartzmann reflete sobre a questo: pensar em Estados modernos como possuindo forte componente neopatrimonial leva a reexaminar a questo da participao poltica nestes Estados. Nas sociedades tradicionais, a participao poltica estava limitada aos nobres, aos cavaleiros, ou homens de bem. Nas sociedades modernas, a participao estendida a todos, mas sua forma e intensidade variam, desde o eleitor bem-comportado que comparece voluntariamente s eleies at o militante que joga sua vida em manifestaes de rua (cf. SCHWARTZMANN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro, 3a. ed.. Rio de Janeiro: Campus, 1988). E, seguindo o raciocnio, uma questo, cuja resposta evidente, se faz necessria: como chegar ao poder poltico sem deter o poder econmico? O interessante que o direito contemporneo oferece um outro mecanismo de controle. Vez por outra, o Estado, ao notar que os conflitos na base da sociedade esto muito acentuados, pode, num julgamento isolado, promover uma idia de mudana. Imagine-se uma panela de presso no fogo eis a sociedade e, quando a presso interna (resul-
tante dos conflitos entre os que possuem e os que no possuem acesso aos bens e meios de produo) sobe demais, possvel reduzi-la acionando sua vlvula. Ou seja, s vezes, necessrio se condenar um igual, para que todos os demais sobrevivam. Sacrifica-se o peo, mantm-se os cavalos, as torres, os bispos, o rei e a rainha. Mas, como comenta Eros Grau, no h direito posto que no esteja pressuposto na infra-estrutura social; vale dizer, nessa linha de pensamento, as decises possveis que um juiz pode tomar frente a um caso concreto j esto determinadas na sua viso de mundo. Assim, mesmo que o aplicador do direito julgue fora da moldura, como admite Kelsen, isto no significa que o sistema, como um todo, corra grandes riscos. Abra-se, neste ponto, um parntese: o que se est dizendo que, mesmo diante da lucidez, o bom burgus no muda o sistema. O bom jurista, aquele conectado com as causas sociais e sensvel s necessidades de ampliao do acesso aos recursos da sociedade, pode, no mximo, acionar a vlvula de escapes algumas poucas vezes mais, num trabalho inglrio por toda vida; isto porque este processo inconsciente posto que ideolgico (aqui, ideologiacompreendida como falseamento da realidade) e diz respeito ao mesmo sistema, que continua em forte vigor. Como nota Pasukanis, o direito e o arbtrio, estes dois conceitos aparentemente opostos, em realidade, so estreitamente vinculados entre si (...) No um paradoxo, pois o direito , como toda troca, um meio de ligao entre elementos sociais apartados (PASUKANIS, Eugeny Bronislanovich. A teoria geral do direito e o marxismo, Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 109). Isto porque a forma jurdica nata do sistema capitalista. Postula o autor que a forma jurdica reflete a mesma lgica de trocas que existe na base econmica da sociedade. Enquanto ela subsistir, no h como pressupor (nos termos preconizados por E dor: podem at trocar as categorias (das categorias burguesas para as proletrias, por exemplo), mas como a forma a mesma, no h como pressupor mudanas no prprio sistema. Deste modo, o Estado esta fico que convenientemente montada para manter a dominao condiciona o exerccio do poder: nele no h que se achar poder poltico para mudana. LINK ACADMICO 8
A coleo Guia Acadmico o ponto de partida dos estudos das disciplinas dos cursos de graduao, devendo ser complementada com o material disponvel nos Links e com a leitura de livros didticos. Introduo ao Estudo do Direito II 2 edio - 2009 Autor: Oswaldo Akamine Jr. Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de So Paulo. Professor do curso de Direito da FACAMP, Uninove e UniRadial-Estcio. A coleo Guia Acadmico uma publicao da Memes Tecnologia Educacional Ltda. So Paulo-SP. Endereo eletrnico: www.memesjuridico.com.br. Todos os direitos reservados. terminantemente proibida a reproduo total ou parcial desta publicao, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorizao do autor e da editora. A violao dos direitos autorais caracteriza crime, sem prejuzo das sanes civis cabveis.
Direito e Poder
1. Viso Geral No raro, possvel ouvir na comunidade jurdica frases como o julgamento de fulano foi poltico e no tcnico ou necessrio buscar a legalidade e no fazer poltica. Alis, apenas para fins de ilustrao, de se notar que o prprio Kelsen, ao escrever sobre a hermenutica jurdica, no ltimo captulo de sua incensada Teoria pura do direito, declara, a certa altura, que aplicar o sentido correto de uma norma jurdica no diz respeito cincia, mas, sim, poltica do direito (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, 2a. ed., So Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 393). Como se v, de uma maneira canhestra, colocam-se em cantos opostos os termos direito (ou norma jurdica, ou legalidade etc.) e poltica. Esta oposio, presente nas trs colocaes anteriores, expressa a crena de que o processo de conduo
Você também pode gostar
- 2014 3Documento5 páginas2014 3Juan Diego ArdilaAinda não há avaliações
- 2002 - Exame de SeleçãoDocumento10 páginas2002 - Exame de SeleçãoNilson JúniorAinda não há avaliações
- 06 - Rbdcivil-Volume-1 - A-Forca-Obrigatuaria-Dos-Contratos-No-Brasil - Paulo Nalin (2014) PDFDocumento26 páginas06 - Rbdcivil-Volume-1 - A-Forca-Obrigatuaria-Dos-Contratos-No-Brasil - Paulo Nalin (2014) PDFFelipe A LouresAinda não há avaliações
- DCD14DEZ1999SUPDocumento592 páginasDCD14DEZ1999SUPPedro MainentiAinda não há avaliações
- Processo Legislativo e Controle Interno e ExternoDocumento46 páginasProcesso Legislativo e Controle Interno e ExternoCristiano FeijãoAinda não há avaliações
- Meios de Luta LaboralDocumento23 páginasMeios de Luta LaboralSara Moniz CarneiroAinda não há avaliações
- ProvidênciaSocialdecreto Do Conselho de Ministros N 27 2010 2 10494Documento10 páginasProvidênciaSocialdecreto Do Conselho de Ministros N 27 2010 2 10494Edmundo CaetanoAinda não há avaliações
- Carta Ao Serasa 2Documento3 páginasCarta Ao Serasa 2MaraAinda não há avaliações
- Elisão - Evasão - Elusão FiscalDocumento19 páginasElisão - Evasão - Elusão FiscalCauê Pereira Martins SantosAinda não há avaliações
- Lei - 8906 - 94 (Estatuto Da Advocacia e Da OAB)Documento40 páginasLei - 8906 - 94 (Estatuto Da Advocacia e Da OAB)CUBANO_RJAinda não há avaliações
- Constituição Federal AnotadaDocumento111 páginasConstituição Federal Anotadasirrafael100% (1)
- 6o Concurso de Magistrados ProvasDocumento9 páginas6o Concurso de Magistrados ProvasAdalto OpcoesAinda não há avaliações
- Principios Gerais Da Adm PublicaDocumento13 páginasPrincipios Gerais Da Adm PublicarosaniaborgesAinda não há avaliações
- Os Direitos Sociais Na Era VargasDocumento7 páginasOs Direitos Sociais Na Era Vargasalberto.portugalAinda não há avaliações
- CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Titulo 2 Capitulo 1 Direitos e Garantias FundamentaisDocumento332 páginasCONSTITUIÇÃO FEDERAL - Titulo 2 Capitulo 1 Direitos e Garantias FundamentaisCharles TeixeiraAinda não há avaliações
- Primeiro ReinadoDocumento2 páginasPrimeiro ReinadoAna Pereira0% (1)
- Capacidade Entre o Fato e o Direito (2) - Simone Eberle - P - 102-141Documento20 páginasCapacidade Entre o Fato e o Direito (2) - Simone Eberle - P - 102-141Felipe A LouresAinda não há avaliações
- Modelo de Ata de Reunião MPDocumento1 páginaModelo de Ata de Reunião MPenkitraderAinda não há avaliações
- 03 - Convenção de Montevideu Sobre Os Direitos e Deveres Dos Estados (26.12.1933)Documento10 páginas03 - Convenção de Montevideu Sobre Os Direitos e Deveres Dos Estados (26.12.1933)Catarina MendesAinda não há avaliações
- LPIS n5 1Documento91 páginasLPIS n5 1Wilson CostaAinda não há avaliações
- Recuperação Judicial - Sucessao - Grupo Econ FraudeDocumento6 páginasRecuperação Judicial - Sucessao - Grupo Econ FraudeAline Navas de CamposAinda não há avaliações
- Direito - Classificação Das Normas JurídicasDocumento5 páginasDireito - Classificação Das Normas JurídicasbeautyH2O7455100% (1)
- Mpu - Analista Adm - Aula 1 - Legislação Aplicada - Flavia BozziDocumento18 páginasMpu - Analista Adm - Aula 1 - Legislação Aplicada - Flavia BozziCesar AugustoAinda não há avaliações
- Lord Byron - O Cerco de CorintoDocumento41 páginasLord Byron - O Cerco de CorintoFabio Cesar Barbosa100% (1)
- Diário OficialDocumento25 páginasDiário OficialGilsemar CavalcantiAinda não há avaliações
- Diario Oficial 1991-07-12 CompletoDocumento24 páginasDiario Oficial 1991-07-12 CompletoClaudio A. Guolo0% (1)
- Casos Praticos - Direito InternacionalDocumento12 páginasCasos Praticos - Direito InternacionalWerther de Fatimah-Octavius67% (3)
- In 13 Sinalização para Abandono de LocalDocumento10 páginasIn 13 Sinalização para Abandono de LocalIgor SchmidtAinda não há avaliações
- Apostila Sexualidade Gênero e Identidade Oficial PDFDocumento16 páginasApostila Sexualidade Gênero e Identidade Oficial PDFMhyrnaAinda não há avaliações