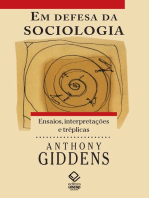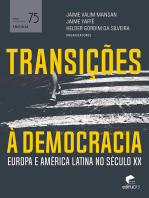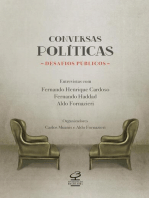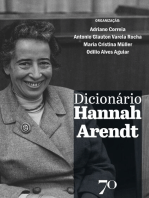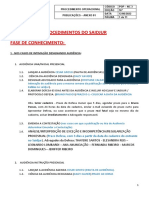Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Filosofia Política Contemporânea Atílio Boron
Enviado por
RicardoPRC0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
197 visualizações405 páginasTítulo original
Filosofia Política Contemporânea Atílio Boron (1)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
197 visualizações405 páginasFilosofia Política Contemporânea Atílio Boron
Enviado por
RicardoPRCDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 405
Filosofia Poltica Contempornea : controvrsias sobre civilizao,imprio e cidadania Titulo
Snchez Vzquez, Adolfo - Autor/a; Gargarella, Roberto - Autor/a; Lizrraga,
Fernando - Autor/a; Vita, lvaro de - Autor/a; Guimares, Juarez - Autor/a; Haddad,
Fernando - Autor/a; Maffa, Diana - Autor/a; Vouga, Claudio - Autor/a; Gonzlez,
Sabrina - Autor/a; Chau, Marilena - Autor/a; Morresi, Sergio - Autor/a; Amadeo,
Javier - Autor/a; Villavicencio, Susana - Autor/a; Aguilar, Enrique - Autor/a; Ciriza,
Alejandra - Autor/a; Araujo, Ccero - Autor/a; Cohn, Gabriel - Autor/a; Boron, Atilio A.
- Autor/a; Boron, Atilio A. - Compilador/a o Editor/a; Rush, Alan - Autor/a; Rossi,
Miguel A. - Autor/a; Kohan, Nestor - Autor/a; Grner, Eduardo - Autor/a; Brando,
Gildo Maral - Autor/a; Moya, Mara Encarnacin - Traductor/a;
Autor(es)
Buenos Aires Lugar
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Editorial/Editor
2006 Fecha
Coleccin
Ciudadana; Civilizacin; Imperialismo; Imperio; Filosofa Poltica; Teora Poltica;
Amrica Latina;
Temas
Libro Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100601023401/filopolit.pdf URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genrica
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es
Licencia
Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Cincias Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar
Filosofia Poltica
Contempornea
Atilio A. Boron
[organizador]
Filosoa poltica contempornea : controvrsias sobre civilizao - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO ; So Paulo : Departamento de Cincia Poltica.
Faculdade de Filosoa, Letras e Cincias Humanas. Universidade de So Paulo, 2006.
424 p. ; 23x16 cm.
Traducido por: Mara Encarnacin Moya
ISBN 987-1183-40-2
1. Filosofa Poltica. 2. Teora Poltica.
CDD 320.5
Outros descritores estabelecidos pela Biblioteca Virtual do CLACSO:
Filosoa poltica / Teoria Poltica / Imperialismo / Cidadania / Liberalismo / Republicanismo /
Ps-modernidade / Democracia / Socialismo / Poltica / Identidade Cultural / Sujeito / Fundamentalismo
Religioso / Justia Internacional / Marxismo / Cooperativismo / Socialismo / Estado
COLECO BIBLIOTECA DE CINCIAS SOCIAIS
Filosoa Poltica Contempornea
Controvrsias sobre civilizao,
imprio e cidadania
Atilio A. Boron
[organizador]
DIANA MAFFA
FERNANDO HADDAD
JUAREZ GUIMARES
LVARO DE VITA
FERNANDO LIZRRAGA
ROBERTO GARGARELLA
ADOLFO SNCHEZ VZQUEZ
ALAN RUSH
MIGUEL A. ROSSI
NESTOR KOHAN
EDUARDO GRNER
GILDO MARAL BRANDO
GABRIEL COHN
CCERO ARAUJO
ALEJANDRA CIRIZA
ENRIQUE AGUILAR
SUSANA VILLAVICENCIO
JAVIER AMADEO
SERGIO MORRESI
MARILENA CHAU
ATILIO A. BORON
SABRINA GONZLEZ
CLAUDIO VOUGA
Departamento de Cincia Poltica
Universidade de So Paulo
Coleccin Biblioteca de Ciencias Sociales
Director Fundador Mario R. dos Santos (in memoriam)
Director de la Coleccin Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo de CLACSO
Traducciones Mara Encarnacin Moya
Edicin en Portugus Srgio Duarte Julio Da Silva
Area de Difusin y Produccin Editorial de CLACSO
Coordinador Jorge A. Fraga
Edicin Florencia Enghel
Revisin de Pruebas Mariana Enghel / Ivana Brighenti
Diseo Editorial Miguel A. Santngelo
Lorena Taibo / Marcelo Giardino
Arte de tapa Miguel A. Santngelo
Divulgacin Editorial Marcelo F. Rodriguez
Sebastin Amenta / Daniel Aranda / Carlos Luduea
Programa de Publicaciones en Portugus
Editor Acadmico del Programa Javier Amadeo
Divulgacin Editorial en Brasil Gonzalo A. Rojas
Rua Artur de Azevedo 736, Pinheiros, So Paulo, Brasil
Telefone (55 11) 3082 7677 / Endero eletrnico <publicarbr@campus.clacso.edu.ar>
Impresin Cromosete Grca e Editora Ltda
CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / Conselho Latino-americano de Cincias Sociais
Av. Callao 875, piso 3 C1023AAB Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel (54 11) 4811 6588 - Fax (54 11) 4812 8459
e-mail <clacso@clacso.edu.ar> - web <www.clacso.org>
Primera edicin en espaol: abril de 2003
Primera edicin en portugus: abril de 2006
ISBN-10: 987-1183-40-2 / ISBN-13: 978-987-1183-40-1
CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES
Queda hecho el depsito que establece la ley 11.723
A responsabilidade pelas opinies expressadas nos livros, artigos, estudos e outras colaboraes
incumbe exclusivamente os autores rmantes, e sua publicao no necessariamente reete os
pontos de vista da Secretaria Executiva do CLACSO.
No permitida a reproduo total ou parcial deste livro, nem seu armazenamento em um sistema
informtico, nem sua transmisso em qualquer formato ou por qualquer meio eletrnico, mecnico,
fotocpia ou outros meios, sem a autorizao do editor.
ndice
Prlogo | 11
PRIMEIRA PARTE
CIDADANIA, REPBLICA E DEMOCRACIA
Gabriel Cohn
Civilizao, cidadania e civismo:
a teoria poltica frente aos novos desaos | 17
Ccero Arajo
Civilizao e cidadania | 31
Alejandra Ciriza
Heranas e encruzilhadas feministas:
as relaes entre teoria(s)
e poltica(s) sob o capitalismo global | 49
Enrique Aguilar
A liberdade poltica em Montesquieu:
seu signicado | 75
Susana Villavicencio
A (im)possvel repblica | 83
Javier Amadeo e Sergio Morresi
Republicanismo e marxismo | 99
SEGUNDA PARTE
LIBERALISMO E SOCIALISMO NA TEORIA
POLTICA CONTEMPORNEA
Marilena Chau
Fundamentalismo religioso: a questo
do poder teolgico-poltico | 125
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
Resgatar o inimigo?
Carl Schmitt e os debates contemporneos
da teoria do estado e da democracia | 145
Cludio Vouga
South of the border: notas sobre
a democracia na Amrica Ibrica | 173
Diana Maffa
Socialismo e liberalismo na teoria
poltica contempornea | 187
Fernando Haddad
Sindicalismo, cooperativismo e socialismo | 193
Juarez Guimares
Marxismo e democracia: um novo campo
analtico-normativo para o sculo XXI | 221
lvaro de Vita
A teoria de Rawls da justia internacional | 239
Fernando Lizrraga
Diamantes e fetiches
Consideraes sobre o desao
de Robert Nozick ao marxismo | 257
Roberto Gargarella
As precondies econmicas do autogoverno | 279
TERCEIRA PARTE
A FILOSOFIA POLTICA E O DISCURSO
DA PS-MODERNIDADE
Adolfo Snchez Vzquez
tica e poltica | 297
Alan Rush
A teoria ps-moderna do Imprio
(Hardt & Negri) e seus crticos | 307
Miguel A. Rossi
A losoa poltica diante do primado
do sujeito e da pura fragmentao | 329
Nstor Kohan
O Imprio de Hardt & Negri:
para alm de modas, ondas e furores | 347
Eduardo Grner
O ramo dourado e a irmandade das formigas
A identidade argentina na
Amrica Latina: realidade ou utopia? | 369
Gildo Maral Brando
Teoria Poltica a partir do Sul da Amrica? | 407
11
Prlogo
A PRESENTE PUBLICAO rene a quase totalidade das exposies
apresentada na Segunda Jornada de Teoria Poltica realizada entre os
dias 28 e 30 de agosto de 2002 na Faculdade de Cincias Sociais da
Universidade de Buenos Aires, evento organizado pelo Conselho La-
tino-americano de Cincias Sociais (CLACSO), pelo Departamento de
Cincia Poltica da Faculdade de Cincias Sociais da Universidade de
Buenos Aires e seu homlogo da Universidade de So Paulo, Brasil. O
tema das jornadas foi Cidadania, civilizao e civismo: a teoria polti-
ca diante dos novos desaos. Os critrios organizativos gerais, assim
como o tema selecionado foram objeto de consenso entre a totalidade
das instituies que o convocaram e reproduzem, no fundamental, a
estrutura das Primeiras Jornadas, realizadas em setembro de 2000 na
Universidade de So Paulo aceitando um convite a nossa Ctedra de
Teoria Poltica e Social da Carreira de Cincia Poltica da UBA. O re-
sultado daquela reunio foi um livro, Teora y Filosofa Poltica. La re-
cuperacin de los clsicos en el debate latinoamericano, publicado pela
editora do CLACSO em maro de 2002.
A inteno fundamental do encontro realizado em So Paulo ha-
via sido analisar e compartilhar as vicissitudes que a reexo latino-
americana padece no marco da losoa e da teoria polticas. As contri-
buies incorporadas no livro mencionado acima do conta da riqueza
e fecundidade desse labor. Aps aquele primeiro desao empreende-
12
Filosofia poltica contempornea
mos esta segunda iniciativa com a aspirao de dar continuidade ini-
ciativa e poder ampliar o marco da reexo e da anlise. Novos colegas
se somaram aos nossos esforos e, felizmente, pudemos contar com a
presena auspiciosa do Professor Adolfo Snchez Vzquez, sem dvida
uma das expresses mais transcendentais da reexo losco-poltica
da Amrica Latina e do mundo de fala hispnica. No marco da Segun-
da Jornada, a Universidade de Buenos Aires entregou a to distinto
colega o ttulo de Doctor Honoris Causa.
O presente livro est dividido em trs partes. Na primeira in-
cluem-se uma srie de trabalhos vinculados de maneira muito ntima
problemtica da cidadania, da repblica e da democracia. Em seu
ensaio, Gabriel Cohn toma como ponto de partida uma referncia de
Theodor Adorno para trabalhar o conceito de civilidade, entendido
como um modo especco de atuar que condensa um momento hist-
rico. Ccero Arajo, por sua vez, pretende mostrar a articulao entre
civilizao e cidadania, e como um determinado conceito de civiliza-
o pode se vincular positivamente a um tipo de exerccio de cidadania
que tende a ganhar importncia crescente na poltica contempornea.
Alejandra Ciriza aporta suas reexes sobre as heranas e encruzilha-
das do feminismo no capitalismo global e as tenses entre as tradies
tericas e os dilemas colocados pelas realidades polticas.
Em seu artigo, Enrique Aguilar explora a clssica distino das
duas liberdades de Constant e suas razes no pensamento de Montes-
quieu, enquanto que em seu ensaio Susana Villavicencio se pergunta
pelo sentido da tradio republicana na Argentina. Encerrando esta
primeira parte, Javier Amadeo e Sergio Morresi avanam em uma in-
dagao sobre a relao entre as transformaes sociais e polticas de
nossa poca e trs dos mais importantes projetos polticos da moderni-
dade: o liberalismo, o republicanismo e o marxismo.
A segunda parte do livro rene uma srie de ensaios sobre as
diversas reformulaes do liberalismo e do socialismo na teoria po-
ltica contempornea. Marilena Chau realiza uma reexo em torno
da persistente presena do fundamentalismo na tradio da losoa
poltica. Claudio Vouga aporta algumas reexes acerca do signicado
da democracia em sua encarnao latino-americana, enquanto Boron
e Gonzlez demonstram as incongruncias de certas teorizaes con-
temporneas que esperam melhorar nossa compreenso da democracia
apelando obra de Carl Schmitt. Em seu ensaio, Diana Maffa aborda
o fascinante tema do lugar das mulheres suas lutas e suas reivindica-
es nos paradigmas tericos do liberalismo e do socialismo. A seguir,
13
Fernando Haddad prope uma reexo sobre o sindicalismo, o coope-
rativismo e o socialismo, enquanto que Juarez Guimares realiza uma
incurso no tema das complicadas relaes do marxismo com a demo-
cracia a partir dos desaos impostos no incio do sculo XXI. lvaro de
Vita concentra-se na anlise das contribuies que se podem esperar
da elaborao de John Rawls sobre a justia internacional, e Fernan-
do Lizrraga examina as formulaes crticas de Nozick ao marxismo.
Esta seo concluda com a exposio de Roberto Gargarella sobre os
pr-requisitos econmicos do autogoverno poltico e da democracia.
A terceira e ltima parte versa sobre a losoa poltica no discur-
so da ps-modernidade. Comea reproduzindo a conferncia magistral
do Profesor Adolfo Snchez Vzquez sobre a tica e o marxismo e a
vigncia do projeto emancipatrio de Marx depois da derrubada do
assim chamado socialismo real. H nesta seo dois ensaios, de Alan
Rush e Nstor Kohan, que tratam do tema do imprio e do imperia-
lismo e seu formidvel impacto sobre a discusso terica contempo-
rnea; a obra de Michael Hardt e Antonio Negri constitui um ponto
de referncia comum para ambas as elaboraes. O ensaio de Miguel
ngel Rossi, por sua vez, recupera a importncia da crtica questo
do sujeito e sua fragmentao, enquanto Eduardo Grner centra-se na
rdua questo da identidade argentina e Gildo Maral Brando prope
uma nova reexo sobre os problemas enfrentados pela elaborao de
uma reexo terico-poltica arraigada na especicidade histrico-es-
trutural da Amrica Latina.
Tal como apontramos no primeiro livro, a publicao destes
trabalhos de nenhuma maneira poder ser considerada como um su-
cedneo da imprescindvel leitura dos clssicos. Nenhum comentaris-
ta, por mais brilhante que seja, pode substituir a riqueza contida nos
textos fundamentais da tradio da losoa poltica. A realizao das
Jornadas que deram lugar a este livro foram resultado de uma empresa
eminentemente coletiva. Como na ocasio anterior, tanto as jornadas
como o livro teriam sido impossveis sem a entusiasta participao e o
exaustivo trabalho dos integrantes de nossas ctedras de Teoria Polti-
ca e Teoria Social I e II da Carreira de Cincia Poltica da Universidade
de Buenos Aires. Pela dedicao e participao nas jornadas que deram
lugar a esta publicao dedicamos nossos mais sinceros agradecimen-
tos ao Diretor do Departamento de Cincia Poltica da UBA, Toms
Vrnagy, e a Miguel ngel Rossi, Paula Biglieri, Liliana A. Demirdjian,
Silvia Demirdjian, Martn Gen, Sabrina T. Gonzlez, Daniel Kersffeld,
Sergio Morresi, Brbara Prez Jaime e Patricio Tierno. Do mesmo
Prlogo
14
Filosofia poltica contempornea
modo, no poderamos deixar de expressar idnticos sentimentos em
relao a nossa equipe que desde o CLACSO aportou sua desinteressa-
da colaborao durante a realizao das jornadas. Todo nosso reconhe-
cimento para Gabriela Amenta, Alejandro Gambina, Natalia Gianatelli,
Mara Ins Gmez, Bettina Levy e Andrea Vlahusic.
Ao nalizar a preparao deste livro cabe mais uma vez expres-
sar nossa satisfao e agradecimento pelo rduo trabalho realizado por
Florencia Enghel e Jorge Fraga na tarefa de correo editorial, desenho
e composio de um livro que quisemos que fosse no s excelente teo-
ricamente mas tambm belo e esmerado do ponto de vista intelectual.
Um agradecimento muito especial a Javier Amadeo e Sabrina Gonz-
lez, que durante muitos anos vm prestando sua inteligente colabora-
o em mltiplas iniciativas vinculadas docncia e investigao no
campo da teoria e da losoa polticas. Eles tiveram, mais uma vez, um
papel de grande destaque na concepo e implementao das jornadas
e na produo deste livro.
Sem o entusiasmo e a perseverana de todos neste empenho,
sem sua inteligncia e dedicao, este trabalho jamais teria sado luz.
A todos eles nosso mais profundo reconhecimento.
Buenos Aires, abril de 2003
17
Gabriel Cohn*
Civilizao, cidadania e civismo:
a teoria poltica frente aos
novos desaos
TOMAREI COMO PONTO DE PARTIDA uma referncia no conven-
cional no campo da reexo poltica. No entrarei no tema pela via da
cidadania, pela via do civismo, nem pela via da civilizao diretamente,
mas pela via daquilo que eu chamaria de civilidade, um modo espec-
co de agir que talvez em uma dimenso especca condense tudo aqui-
lo que nos preocupa neste momento. E a referncia no convencional
que tomarei como ponto de partida um ensaio de Theodor Adorno, o
grande mestre da teoria crtica da sociedade.
Entre os belos pequenos ensaios e aforismos de seu livro Mini-
ma moralia, encontra-se um cujo ttulo tomado ao p da letra seria
tato (mais precisamente, dialtica do tato), mas que na realidade
melhor traduzido por civilidade. Nele est em jogo o que aparen-
temente h de mais trivial a sociabilidade cotidiana mas por um
ngulo muito especial, que d ao texto o seu tom crtico. Trata-se de
uma particular forma social da sensibilidade, a capacidade para rela-
cionar-se com o outro de maneira inteira e com inteiro respeito. Esta
a questo de fundo.
* Professor do Departamento de Cincia Poltica da Universidade de So Paulo (USP).
18
Filosofia poltica contempornea
O que nos importa nas observaes de Adorno? o modo como
ele materialmente localiza o seu tema, quando arma que a civilidade
tem um momento histrico nico. Esse momento aquele em que a
burguesia se libera dos entraves do Ancien Regime, quando as conven-
es que anteriormente pesavam sobre a ao se enfraquecem, mas no
desaparecem de todo, e uma nova forma de individualidade emerge. O
essencial a conjugao entre a emergncia de uma forma histrica de
individualidade e o enfraquecimento, mas no pleno desaparecimento,
das convenes que regem a sociabilidade. Nessas condies a nova
forma de individualidade que vem tona no ca solta sem mais, ela
encontra um cenrio privilegiado para exercer relacionamentos, para
estabelecer contatos sociais ainda demarcados pelas convenes enfra-
quecidas do regime anterior mas no mais subordinados a elas. Essa
dialtica original da civilidade tem como exercer-se porque nesse mo-
mento privilegiado no tolhida em seus momentos constitutivos. No
ocorre a imposio imperativa de um quadro de convenes sobre a
ao individual nem se d a pura e simples presena de uma individu-
alidade desencadeada, solta, sem limites e sem referncias, indetermi-
nada, portanto. essa a dialtica original que ele v como se desgas-
tando medida que as prprias formas especcas que caracterizam a
civilidade vo se emancipando, perdem suas referncias concretas e,
ao se tornarem autnomas, remotas, abstratas, ao invs de gerarem a
justia mtua trazem consigo o germe da injustia. A manifestao de
respeito ao outro torna-se vazia, desprovida de contedo, reinstalando
pelo lado das prprias novas maneiras de relacionamento algo que as
corri precisamente no que tm de civis. Isso prejudica o desenvolvi-
mento do que seria a dialtica mais profunda da civilidade, que o jogo
entre gestos de renncia consciente pelo indivduo, da sua capacidade
consciente de renunciar a certos atos em nome do respeito dignidade
do outro, e, por outro lado, a prpria manifestao da individualidade,
a individuao. Na realidade a civilidade, na perspectiva do Adorno,
envolve uma dialtica complexa entre o juzo consciente de cada qual
sobre at onde se pode chegar, entre essa renncia consciente a certos
atos que possam agredir o outro, ao mesmo tempo o desenvolvimento
de uma individualidade autnoma no circunscrita externamente por
um quadro fechado de convenes.
difcil ler este texto sem lembrar as referncias quilo que C-
cero Arajo, conhece muito bem, o pensamento escocs oitocentista.
neste que um autor como Pocock localiza a reinterpretao das virtu-
des clssicas em termos de maneiras, de manners. Por este prisma o
19
que Adorno est descrevendo aqui evoca uma manifestao peculiar de
modos polidos, de maneiras renadas de comrcio (no sentido lato do
termo) com o outro: precisamente aquela que corresponde a uma for-
ma do exerccio das virtudes clssicas que acaba fundamentando o que
pode ser uma concepo republicana da convivncia dos homens. De
modo que o texto de Adorno, que aparentemente se refere a algo muito
mido, muito no no campo das relaes sociais, atravessado pelo
grande tema de relaes entre os homens marcadas por um respeito
republicano. Essa a porta de entrada que eu elegeria para propor
algumas questes sobre como devemos pensar nossos grandes temas
neste especco momento.
Pocock distingue uma linguagem das virtudes de uma lingua-
gem dos direitos. Em nosso momento presente cabe-nos uma exigncia
difcil, que a de articular essas linguagens. Elas aparecem de vrios
modos nos debates contemporneos, mas no fundamental o nosso pro-
blema que no podemos escolher entre a linguagem das maneiras e
a linguagem das virtudes. Temos que articular o tema das maneiras
como exerccio moderno das virtudes, que de modo muito indireto po-
demos encontrar em Adorno, com o tema dos direitos. Na realidade
ambos se entrelaam na questo da cidadania. Podemos ler, claro,
a cidadania em dois registros. Primeiro, como participao ativa con-
siderando o corpo constitutivo da sociedade no registro das virtudes
republicanas. Depois, como exerccio de direitos no registro das liber-
dades liberais.
Mais uma vez estamos s voltas com um complicado jogo de dois
termos opostos mas inseparveis, agora entre essas duas dimenses da
cidadania. No tentarei acompanhar isso aqui. claro, contudo, que
tambm com referncia cidadania h algo assim como uma dialtica
entre a linguagem do direito e a linguagem das virtudes, entre a lingua-
gem daquilo que se pode reivindicar como prprio e a linguagem dos
modos adequados de se relacionar com aquilo que remete ao conjunto
mais amplo da sociedade. igualmente claro, e da maior importn-
cia, que a linguagem dos direitos tem referncias universais ainda que
abstratas quando tomadas de per si, e que a linguagem das virtudes
tem referncias particulares, de contexto, igualmente abstratas quando
tomadas de per se.
nesse sentido que eu colocaria a questo da civilidade como
uma espcie de conceito sntese do que nos preocupa neste momen-
to. Talvez isso possa ser desenvolvido tomando como referncia dois
paradigmas da poltica, ou do pensamento poltico, naquilo que nos
Gabriel Cohn
20
Filosofia poltica contempornea
preocupa aqui hoje. Por um lado o paradigma que se concentra na
oposio entre guerra e paz, por outro lado aquele que se concentra na
oposio entre separao e ligao. A perspectiva colocada por Adorno,
na qual eu detecto uma espcie de o condutor subterrneo de carter
republicano, tem uma posio clara no que diz respeito ao contraste
entre guerra e paz, a favor da segunda, claro. A posio que v a pol-
tica como confrontamento direto, como guerra, como distino ami-
go-inimigo, evoca de imediato, como representante paradigmtico, a
gura de Carl Schmitt. A posio que colocada por Adorno, ainda que
sem referncia poltica imediata, remete questo da busca innita da
reconciliao das diferenas no interior do corpo social. Assinala algo
a que voltarei mais frente, que a idia ampliada de poltica como o
processo contnuo e nunca encerrado de construo conjunta de uma
ordem pblica, digna de ser vivida. Uma concepo bastante abrangen-
te de poltica, sem duvida. Mas esse paradigma importante, embora
esteja sujeito objeo de que deixa de lado o aspecto conituoso da
vida social. No deixa, entretanto, porque a construo conjunta do
espao pblico digno de ser vivido ao qual eu me referi marcada pelo
conito. Importa que uma construo que envolve a todos, e que no
dispensa as formas de civilidade, mesmo porque o conito no se reduz
ao confronto destruidor.
Ao mesmo tempo, isso permite colocar a concepo da poltica
pelo ngulo da paz (em contraste com a guerra) no mbito de uma dis-
tino mais forte no que diz respeito ao pensamento poltico. Ela gura-
ria nesse passo como a concepo que marca o momento do estabeleci-
mento dos vnculos, da ligao, em oposio que marca na dimenso
poltica o momento da separao. Se projetarmos essa distino sobre
a trajetria do pensamento poltico, certamente o momento moderno
seria aquele em que a nfase est na separao. A idia de separao
est associada, no que estou colocando aqui, introduo em posio
central na questo poltica da idia de interesse. Interesse exatamente
o que se interpe entre as pessoas, o que as vincula, sim, mas separan-
do-as. Nele o momento da separao predomina sobre o momento do
vnculo. Essa a marca do pensamento moderno na poltica, porque
o foco no interesse que leva a se pensar a ao poltica em termos de
escolhas orientadas por preferncias. Por essa via ganha novos contor-
nos um problema central da poltica, que o da organizao. E para
alm da questo da organizao, est o problema da ecincia. Posto
que a ateno se concentra nos interesses dos indivduos, estes apare-
cero como detentores de preferncias, capazes de realizar escolhas, e
21
o problema poltico de como articula-las coloca-se em termos de for-
mas de organizao, da ecincia da organizao e administrao dos
homens. Essa uma maneira eminentemente moderna de pensar a po-
ltica, e contrasta como uma maneira que tem antecedentes clssicos,
relacionada com a idia da poltica como exerccio de certas virtudes
civis. Nesta enfatiza-se a deliberao no lugar das preferncias e das
escolhas. Importa a deliberao, a formao de uma vontade pblica,
e pe-se como problema fundamental, no tanto a organizao ecaz,
mas sim a autonomia e a liberdade. Ora, a questo da civilidade s faz
sentido no interior do paradigma que pensa a poltica pelo ngulo dos
vnculos que se estabelecem entre os homens, e, se me permitirem o
termo, da legitimidade desses vnculos. Est em jogo a capacidade dos
homens de construrem conjuntamente o seu mundo.
Nessas condies claramente se vincula o paradigma da paz
com o paradigma do estabelecimento de vnculos, pelo exerccio da
deliberao civicamente virtuosa. Isso refora essa concepo muito
ampliada de poltica pela qual ela se dene como construo conjun-
ta e conitiva do espao pblico uma tarefa interminvel, sem solu-
o denitiva, um horizonte. Isso uma quimera, diro alguns: uma
concepo da poltica pacicadora e complacente, no mal sentido do
termo, por a no se vai caminhar nada. Minha resposta seria: no sei
se mais quimera do que se eu defendesse aqui certas noes que com
freqncia circulam entre ns, de forte carter normativo e para alm
disso ideolgico, como por exemplo idia da sociedade civil. Nesta
encontramos uma concepo dissimuladamente normativa, marcada
por exigncias tpicas de um certo momento histrico. No entanto, ela
sobrecarrega o nosso debate, e acaba introduzindo muito mais fantas-
magorias na nossa reexo poltica do que se avanarmos at o m e
sustentarmos que a poltica no pode ser pensada sem a sua dimenso
normativa. Quando falo da exigncia da construo conjunta da ordem
pblica isto pelo menos explicitamente normativo, um horizonte
de referncia, e no se refere a uma suposta entidade que realize o
poder em aliana ou em confronto com outras. O mesmo se aplica a
um conceito como opinio pblica, que tambm ainda parece pesar
nas nossas concepes e nos nossos debates. Tambm ela tem seu mo-
mento histrico, que foi esquecido. Tanto quanto sociedade civil, a
noo de opinio pblica emerge em um momento histrico particu-
lar, marcado pelo confronto de um grupo social que busca atrair para
si a capacidade de legitimao com o poder absoluto. um recurso
no embate poltico, assim como a idia de sociedade civil foi explicita-
Gabriel Cohn
22
Filosofia poltica contempornea
mente um meio de luta, inclusive nos processos de redemocratizao
da Europa do Leste. Invocar a opinio pblica signica reivindicar a
legitimidade de uma instncia de poder, no descrever algum grupo
ou organizao. No plano emprico ela se reduz a uma distribuio
de interesses privados, e no chega de per se a justicar a sua referen-
cia pblica. Se quisermos, portanto, pensar em termos de grandes for-
mulaes, devemos estar atentos para a sua carga normativa mais do
que descritiva. Pois estamos s voltas com um instrumental conceitual
que perdeu sua referncia ao momento especco de sua construo,
perdeu sua referncia propriamente poltica, de meio de confrontao
entre vontades divergentes dentro da sociedade, e a reconstruo disso
(que passa pela identicao do momento normativo dos conceitos)
exige um contnuo esforo de reexo. Claro que no trata de desquali-
car as anlises polticas que vo diretamente ao mbito institucional.
Muita coisa pode ser conseguida por este caminho. Paradoxalmente,
quanto mais mergulhamos no mbito institucional mais estamos no
terreno das questes de organizao e administrao, e menos estamos
no terreno daquilo que efetivamente permite dar o tom propriamente
poltico para a reexo.
Gostaria de sustentar aqui que os grandes temas que nos im-
portam hoje, o tema da civilizao, da cidadania, do civismo, tm que
enfrentados por via indireta. Para cobrir o mbito do que importa poli-
ticamente convm ir de modo indireto. Retomo neste ponto a questo
da civilidade, que, ao dizer respeito a modos de orientao da conduta,
remete dimenso cultural, a dimenso do que eu denominaria cultu-
ra poltica. No me rero a uma concepo mais convencional, que de
algum modo vincula a cultura poltica opinio, distribuio de res-
postas a perguntas feitas a um conjunto de indivduos em momentos
dados para, digamos, detectar em que medida se aceita a democracia,
ou em que medida se tem posies autoritrias. um enfoque que eu
no desqualicaria sem mais, mas que no chega no ponto ao qual
eu gostaria de chegar. Pois importa captar a dimenso signicativa, a
dimenso cultural da civilidade, que por sua vez traduz modos espec-
cos de orientao da conduta que oferecem contedo signicativo
cidadania, civilizao e ao cvica.
A cultura, pensada em termos polticos, em termos de cultura
poltica na sua acepo mais ampla, deve tambm ser pensada como
uma tenso intrnseca, dialtica, entre contedos (tratados pelas pes-
quisas convencionais de cultura poltica, ou mesmo de opinio) e pau-
tas subjacentes a esses contedos, que os organizam. Essas pautas,
23
historicamente constitudas como itens do repertrio cultural das so-
ciedades, oferecem a chave para a organizao signicativa da experi-
ncia social. So pautas de interpretao da experincia. A dimenso
da cultura que realmente me parece importante para pensar politica-
mente as questes de conduta social referem-se a essas pautas de in-
terpretao da experincia. Elas no so evidentes, no esto presentes
sem mais, atuam subterraneamente na ao dos homens. Referem-se
quilo que eu chamaria de temas fundantes na experincia social dos
homens localizados dentro de um determinado espao poltico (um
espao poltico nacional, uma sociedade historicamente constituda);
temas fundantes que tm como caracterstica serem profundamente
arraigados e formarem como que o ter no interior no qual se d toda
a percepo e ao poltica dos homens. Na realidade essas pautas de
interpretao, isso que est por trs do modo como espontaneamente
os homens interpretam sua experincia social, historicamente consti-
tuda, essas pautas fornecem registros de interpretao da experincia,
so como chaves de interpretao. So chaves hermenuticas, que nos
alertam contra qualquer concepo substancialista da cultura, que a
veja diretamente em termos de contedos signicativos que circulam
no interior das sociedades. O que est em jogo como esses contedos
se articulam em complexos signicativos determinados e, a partir dis-
so, o modo como a experincia social, uma vez interpretada, por sua
vez organiza novos contedos.
A ttulo de ilustrao vou fazer uma referncia rpida ao que no
meu entender caracteriza um tema fundante, uma pauta fundamental
de interpretao da experincia social com relao ao caso brasileiro.
uma conjectura, mal chega a ser uma hiptese, mas que cada vez
mais me parece plausvel. Ela vai no sentido de que, no caso da socie-
dade brasileira, o tema fundante, a pauta decisiva de interpretao que
se aplica ao conjunto da experincia social, o tema da punio. Esse
tema fundamental da punio traduz-se de muitas maneiras. Uma de-
las resulta numa frase extremamente expressiva: Os inocentes pagam
pelos pecadores. Temos a uma concepo muito peculiar da herana
crist, que est presente ao longo de toda a sociedade. E est presente
de uma maneira muito importante, porque marca um modo de inter-
pretar a experincia segundo um registro que se projeta no plano das
grandes questes que afetam a todos, mas simultaneamente as despo-
litizam, porque envolve a contnua presena da punio. No est em
jogo o perdo, ou a compensao do mal por quem o praticou, mas
a transferncia dos custos, das penas, para o conjunto. A referncia a
Gabriel Cohn
24
Filosofia poltica contempornea
esse conjunto abstrato, indeterminado, sustenta o que, na falta de me-
lhor termo, eu denominaria gesto distributiva dos custos e das penas.
A esfera pblica, que poderia ser a referncia poltica para se reformu-
lar esse grande tema, aparece na ao espontnea do cidado comum
como um espao vazio, uma espcie de rea de despejo, para onde se
transfere uma punio, um custo, ou uma desvantagem que de algum
modo pudesse recair sobre esses ou aqueles cidados. A esfera pblica
no aparece como o campo denso no interior do qual se exerce a ci-
vilidade, as formas e as maneiras sociais e historicamente polidas de
relacionamento respeitoso com o outro, mas aparece como uma rea
vazia, disponvel para se fazer o que, na linguagem utilizada em outro
contexto por Celso Furtado, seria a socializao das perdas. Os cus-
tos so remetidos de maneira indiferenciada para essa rea comum. O
que eu sugiro que isso remete a um ponto fundamental para se falar
da civilidade e da cultura poltica, em qualquer sentido mais forte do
termo, de uma sociedade como a brasileira. (A sugesto, aqui, refere-se
ao caso brasileiro. Seria interessante tentar algo anlogo para o caso
argentino; penso, por exemplo, em formulaes como as de Horacio
Gonzlez sobre o tema da morte na cultura poltica argentina). Penso
que no caso brasileiro a anlise pode avanar bastante se caminharmos
na direo proposta.
Nessa mesma direo, e ainda com referncia ao caso brasilei-
ro, seria possvel vincular o tema da punio a dois outros estilos de
ao na arena pblica, que podem ser identicados como possessivo
e predatrio. O estilo possessivo manifesta-se na prpria concepo
do que pblico (em contraste com o privado) na sociedade. Nessa
concepo, pblico o de todos ou, inversamente, o que no de
ningum. Vale dizer, adota-se o registro privado, da posse exclusiva,
para esvazi-lo de contedo (de todos ou de ningum so ambos ter-
mos vazios), mas no se atinge o nvel de uma concepo do pblico
como referncia compartilhada para a ao, como critrio norteador da
ao. A isso tambm se associa um ponto da maior importncia, que
se manifesta diretamente nas polticas adotadas pelo poder pblico (ou
pelas instncias que se apresentam como tal). Trata-se da tendncia a
fazer curto-circuito de todas as etapas intermedirias, esvaziando ou
neutralizando passos que possam conduzir aos resultados pretendidos,
e comear pelo m. Para usar um exemplo trivial, em que a dimen-
so punitiva tambm manifesta: impe-se multas aos motoristas que
transgridem sinais de trnsito antes de se tratar do estado da prpria
sinalizao, da qualidade das vias pblicas (termo expressivo e car-
25
regado de ambigidade, alis), sem falar da qualidade mecnica dos
veculos e da qualidade civil dos seus usurios. Da at as tcnicas (com
freqncia institucionalizadas como assessoria) de burla e de trans-
ferncia de danos um passo. Entre o estilo possessivo do agente pri-
vado e o curto-circuito entre propsito e resultado pelo poder pblico
instala-se, como denominador comum, o estilo predatrio. A sntese
disso bem ilustrada pela modalidade de ao do poder pblico que
consiste em conceber as penas pecunirias (multas) aos cidados prio-
ritariamente como forma de arrecadao.
O exame feito at aqui permite localizar um dos numerosos de-
saos que temos a enfrentar na cincia poltica e, de modo geral, nas
cincias sociais. Entre muitos outros, temos hoje que trabalhar conjun-
tamente sobre um problema, que julgo de especial importncia: neste
momento cabe empenhar esforos na produo de uma nova e robusta
teoria da experincia social. Desde Marx (e tambm Simmel e os que
se inspiraram nele; e talvez melhor ainda quando se trabalhou com
ambos, como o jovem Lukcs) pouco se produziu com envergadura su-
ciente para fazer frente a essa exigncia. Quando Marx constri con-
ceitos como fetichismo da mercadoria, ele oferece recursos analticos
poderosos, que podem alimentar uma teoria da experincia social, de
como se constitui historicamente uma forma de experincia, de como
ela adquire signicado, de quais so os limites desses signicados
uma concepo da traduo signicativa da experincia no apenas
descritiva mas critica. No mais suciente trabalhar estritamente
com essas categorias, mas talvez tenhamos flego para retrabalhar es-
tas ou avanar em outras. Seja como for, sinto falta de uma teoria da
experincia social.
muito difcil pensar as questes fundamentais da poltica e
aquelas que nos esto preocupando aqui nesses dias, difcil pensar
a questo da cidadania sem um instrumental poderoso para aplicar
questo especca da conduta cidad ou da organizao cidad, ou de
todas as dimenses desse complexo que se chama cidadania, sem dis-
por da base para pensar o fundamento social dessa experincia. Sem
poder, portanto, pensar de modo adequado a natureza especica que
uma experincia desse tipo assume nas condies muito peculiares do
momento presente do capitalismo.
Tomar a questo da cidadania pelo lado dos direitos representa
um avano notvel, ao permitir trabalhar em termos de universaliza-
o. Mas s car nisso leva a uma universalizao abstrata e insucien-
te. Tom-la pelo lado das virtudes oferece uma contextualizao ime-
Gabriel Cohn
26
Filosofia poltica contempornea
diata, mas com o risco sempre presente de car preso ao tpico ou pon-
tual; no limite, de cair no puro e simples relativismo. A nossa questo
consiste em como vincular entre si essas duas dimenses. Consiste em
encontrar modos de pensar a articulao tensa entre a dimenso dos
direitos e aquilo que eu denominei dimenso das virtudes, do exerccio
virtuoso da cidadania. Trata-se, anal, de articular universalizao e
contextualizao.
Minha proposta, neste ponto, que o tema que permite traba-
lhar simultaneamente a dimenso universalista (ou dos direitos) e a
dimenso contextual (ou da cidadania) com referncia ao exerccio da
civilidade ou da organizao civilizatria o da responsabilidade. Tra-
ta-se de termo carregado, que em geral est presente na linguagem con-
servadora, na linguagem da direita, mas neste ponto vale a pena trazer
uma advertncia que j foi feita melhor por outros: no podemos deixar
que as questes fundamentais quem como propriedade intelectual da
direita. Quando trago ao debate esse termo e mesmo lhe atribuo papel
central nesse intricado jogo entre as referncias universais e as refe-
rncias estritamente contextuais o estou usando num sentido muito
especco. O cerne da questo consiste em contrapor responsabilidade
indiferena. Nessa perspectiva a responsabilidade no envolve a mera
capacidade, ou o dever, de responder por algum ato. Envolve tambm
a capacidade, e o dever (tico, no legal) de identicar o interlocutor a
quem responde (que pode ser, no limite, a humanidade toda, em cada
um dos seus representantes). nesse sentido que ela se contrape
indiferena.
Ao falar de indiferena toco no que parece uma marca funda-
mental no funcionamento do sistema poltico e econmico na fase atu-
al do capitalismo. No se trata de caracterizar uma atitude de determi-
nados agentes, mas de algo inscrito no prprio modo de organizao e
de funcionamento das sociedades contemporneas. Nesse sentido eu a
denomino indiferena estrutural. Certamente no um dado novo que
determinados grupos sociais pouco se importem com o que ocorre no
restante da sociedade de que fazem parte, ou que sociedades inteiras
ignorem outras. Mas o que temos atualmente sem precedentes no
apenas em termos de escala, mas tambm pela natureza que esse pro-
cesso assume. Basicamente ele consiste em que os grandes agentes, es-
pecialmente os econmicos, altamente concentrados e com um poder
nunca antes visto na histria, atuam de maneira literalmente monstru-
osa, vale dizer, sem conscincia do alcance do seu poder nem do enca-
deamento dos seus efeitos. No caso dos mega-agentes econmicos que
27
atuam em escala global isso especialmente ntido. Organizados em
termos de seus interesses pontuais variveis, em nome da sua prpria
eccia eles necessariamente concentram a ateno sobre uma gama
limitada de efeitos de suas decises, aqueles efeitos que imediatamen-
te se traduzem em vantagens. Isso, de por si, no os diferenciaria de
empresrios convencionais, salvo pela escala imensamente maior do
seu poder. Ocorre que, nessas condies, eles necessariamente deixam
de concentrar-se sobre a seqncia de efeitos que seus atos acarretam
para alm do seu xito em obter resultados esperados. Dotados de for-
a desmedida, no alcanam nem se preocupam em alcanar o con-
trole pleno do seu poder, cegos aos desdobramentos mais remotos de
suas aes. Esses desdobramentos afetam, claro, populaes inteiras
embora sejam rigorosamente irrelevantes para esses agentes.
Isso suscita em novos termos a questo da responsabilidade.
Exigncia fundamental para se pensar de maneira sria a questo da
poltica e da cidadania, da civilizao e da ao civil, ela ganha agora
um carter especco. Assinala-se com urgncia a sua condio mais
literal, que a capacidade de responder; mas no apenas no sentido de
o agente, individual ou institucional, pode ser cobrado por seus atos,
em alguma variante de accountability. Nas condies contemporneas
a responsabilidade deve ser vista como o que na sua essncia, vale di-
zer, o oposto da indiferena. Isso permite recolocar na mesa a questo
dos interlocutores, da qualicao mtua como interlocutor. Pois no
se trata simplesmente de uma espcie de cobrana moral unilateral,
visto que os agentes mais poderosos so estruturalmente indiferentes
aos efeitos mais remotos das suas decises. Portanto a responsabili-
dade, a exigncia da responsabilidade, passa pela quebra dos meca-
nismos de indiferena estrutural em nossas sociedades. Com isso ela
ocupa posio central na referncia que tomei como ponto de partida,
que a civilidade. E esta remete questo de formas de ao intrin-
secamente polticas, que no encontram limites a no ser no exerccio
do respeito mtuo pelo conjunto dos homens, pela humanidade na sua
acepo cosmopolita. A indiferena estrutural a destruio, o ponto
extremo da negao da civilidade. O que estou tentando sugerir que
a civilidade, a ao civil, no limite a civilizao, sim o fundamento de
qualquer poltica digna de ser levada a srio, pois do contrrio ca-se
restrito ao plano estritamente administrativo, tcnico.
Qual o cenrio melhor para pensar avanos nessas condies?
Vou me permitir um jogo de imaginao, retomando a referncia de
Adorno. A civilidade, diz ele, tem um momento histrico especco,
Gabriel Cohn
28
Filosofia poltica contempornea
de convenes enfraquecidas associadas a individualidades em vias de
se fortalecerem. Pensemos nossa pequena utopia em termos polticos
globais: instituies polticas enfraquecidas, individualidades polti-
cas, particularidades polticas em ascenso. A individualidade no
pensada aqui como o singular solto, mas como a forma determinada
que o todo assume na gura do cidado e de suas formas de organi-
zao. O cenrio bom seria este, de instituies polticas em fase de
enfraquecer-se sem desaparecerem, e avano das formas de individu-
alizao. Avano, portanto, no mbito da efetiva responsabilidade da
constituio de novas pautas civilizatrias. No vai acontecer to logo,
e as questes de organizao e de ao poltica envolvidas so difceis.
Entretanto, se nossa ateno no conseguir ir alm do olhar de Me-
dusa das instituies tal como encontram (uma passvel imagem das
modernas sociedades de controle, diga-se de passagem) jamais avana-
remos um passo. Contudo, se quisssemos simplesmente romp-las, na
suposio de que, uma vez elas destrudas, ns, soltos e desencadeados
sem mais, poderamos exercer nossa racionalidade, tambm estaremos
perdidos. A vida poltica mais ampla, assim como a pequena dimenso
da civilidade, se faz pela busca persistente da autonomia livre, asso-
ciada renncia consciente ao ato de pura agresso destrutiva. Entre
a adeso cega, a fria destrutiva e a indiferena fria h espao para a
posio que v no outro, no conjunto dos outros, os parceiros de uma
construo sem m, a nica que importa, de um mundo em vias de
civilizar-se.
Estamos falando de civilizao, e temos no s o direito como
tambm o dever de falar da barbrie. Porque estamos preocupados
com intervir de maneira reexiva e consciente neste mundo, mesmo
sabendo das enormes diculdades envolvidas. Por exemplo, temos o
direito e o dever de buscar em nossas sociedades, e trazer tona, isso
que eu chamei dos temas fundantes que orientam a interpretao, que
do sentido a experincia dos homens; ou pelo menos entender algo de
como essa coisa funciona.
Mas, fazemos isso contra o pano de fundo de que a barbrie est
a. Ns no estamos vivendo um momento de construo civilizat-
ria, vivemos um momento de barbrie. Como faremos diante disso? O
que, usando um termo empolado, eu denominei indiferena estrutural,
tem como componente central a indiferena e indiferena barb-
rie, no civilizao; civilizao exatamente a ateno ao outro. Isso
est posto, isso envolve um esforo prolongado e ns estamos, sim,
atuando no momento presente num cenrio que oferece espaos rela-
29
tivamente reduzidos de ao global, embora oferea muitos espaos de
ao pontual. Um dos grandes problemas da reexo e da ao social
e poltica do momento presente consiste exatamente em encontrar for-
mas totalizadoras de articulao da multiplicidade de aes pontuais
que se manifestam no interior das nossas sociedades. Isso envolve um
problema, que o de no reproduzir as armadilhas que talvez um pou-
co precipitadamente assinalei em referncia a termos como sociedade
civil ou opinio pblica. No podemos mais apostar na multiplicidade
ou na mera agregao de interesses particulares organizados. Pois uma
coisa a referencia pblica, outra coisa a organizao do interesse
privado. Agora o espao da totalidade est ocupado, este o dado novo
ps-freada do socialismo. Nunca me canso de lembrar, e me permitam
lembrarei mais uma vez, no acho que haja nisso uma injustia com
Rosa Luxemburgo, eu a leio como dizendo o seguinte: quando se colo-
ca a questo do socialismo ou barbrie, o que se est colocando que
a crise do capitalismo sem a alternativa socialista signica barbrie.
Como ela colocava a questo da crise como inevitvel ela colocava a
questo da construo do socialismo como alternativa necessria. Essa
construo no se deu, e a crise eventualmente esteja a instalada, ain-
da que no aberta. O cenrio no bom, sombrio, mas no esma-
gadoramente ruim. Qual nossa tarefa? encontrar o sentido desses
espaos e tentar articul-los, e avanar na busca de um sentido global
para a articulao entre os espaos de ao existentes e sua ampliao,
mas no claro de uma maneira aditiva. No momento falta-nos a capa-
cidade terica e prtica.
Praticamente no est visvel e teoricamente muito difcil: a
capacidade de retomar aquilo que foi o grande tema do marxismo, que
pensar a totalidade sem perder de vista os mltiplos contedos que
se desdobram na sua dinmica interna. Este o momento de levar a
srio a observao do velho Freud: a voz da razo dbil, mas persis-
tente. Ns temos essa tarefa mesmo em tempos sombrios, talvez nem
to sombrios assim, ns temos graus de liberdade. Vamos ter que ser
muito teimosos, muito persistentes, e capazes de reproduzir em escala
ampliada esse ato de consciente loucura que chegar aqui discutir
cidadania, civilizao, civilidade, como se todo o mundo estivesse dis-
cutindo isso fora desta sala. No est; mais um razo para no deixar
de discuti-las.
Gabriel Cohn
31
Ccero Arajo*
Civilizao e cidadania
UM
Este texto pretende indicar como determinado conceito de civili-
zao pode vincular-se positivamente (em sentido normativo) com
um tipo de exerccio da cidadania que, segundo o diagnstico a
ser apresentado aqui, tende a ganhar importncia crescente na
poltica contempornea
1
.
O sentido que vamos dar aqui ao termo civilizao uma apro-
priao parcial daquele que aparece em Norbert Elias, em suas conhe-
cidas abordagens sobre o assunto. Nessa perspectiva, a civilizao
um processo, que nada tem a ver com um plano ou desgnio mas que,
* Professor do Departamento de Cincia Poltica, USP.
1 Esta exposio, cujos argumentos ainda se encontram num estgio bem exploratrio,
se benecia das discusses que um grupo de professores e estudantes de ps-graduao
do Departamento de Cincia Poltica da USP realizou durante o primeiro semestre de
2002, e que serviram de preparao para esta Segunda Jornada de Teoria e Filosoa
Poltica. Um dos assuntos debatidos referia-se precisamente ao termo civilizao. O
debate foi provocado por um texto ainda no publicado de Gabriel Cohn (ver as refe-
rncias bibliogrcas, no nal), e que ele generosamente fez circular entre ns. Houve,
como no poderia deixar de ser, controvrsias sobre o seu signicado, inclusive sobre a
convenincia de empreg-lo. De qualquer modo, o prprio debate que provocou sugere
ricas possibilidades de reexo em torno do tema.
32
Filosofia poltica contempornea
ainda assim, sugere a idia de um acmulo ou crescimento. Esse ac-
mulo explicita-se em duas direes fundamentais: a da especializao
de funes e a da individualizao da vida social. Esses dois desenvol-
vimentos esto relacionados ao controle da violncia no seu sentido
mais elementar, a violncia fsica. O primeiro manifesta-se na forma
de um controle externo, resultante da monopolizao da violncia pela
autoridade poltica; o segundo na forma de um autocontrole da condu-
ta. Permitam-me uma longa citao:
As sociedades sem um monoplio estvel da fora so sempre
aquelas em que a diviso de funes relativamente pequena,
e relativamente curtas as cadeias de aes que ligam os indiv-
duos entre si. Reciprocamente, as sociedades com monoplios
mais estveis da fora, que sempre comeam encarnadas numa
grande corte de prncipes ou reis, so aquelas em que a diviso
de funes est mais ou menos avanada, nas quais as cadeias
de aes que ligam os indivduos so mais longas e maior a de-
pendncia funcional entre as pessoas. Nelas o indivduo pro-
tegido principalmente contra ataques sbitos, contra a irrupo
de violncia fsica em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, forada
a reprimir em si mesmo qualquer impulso emocional para ata-
car sicamente outra pessoa. As demais formas de compulso
que, nesse momento, prevalecem nos espaos sociais pacicados
modelam na mesma direo a conduta e os impulsos afetivos
do indivduo. Quanto mais apertada se torna a teia de interde-
pendncia em que o indivduo est emaranhado, com o aumento
da diviso de funes, maiores so os espaos sociais por onde
se estende essa rede, integrando-se em unidades funcionais ou
institucionais mais ameaada se torna a existncia social do in-
divduo que d expresso a impulsos e emoes espontneas, e
maior a vantagem social daqueles capazes de moderar suas pai-
xes; mais fortemente cada indivduo controlado, desde a tenra
idade, para levar em conta os efeitos de suas prprias aes ou
de outras pessoas sobre uma srie inteira de elos na cadeia social
(Elias, 1993: 198).
A especializao e a individualizao so noes interdependentes: no
h controle externo sem autocontrole, e vice-versa, de modo que elas
se determinam e se reforam mutuamente. Mas o que o autocontrole
tem a ver com a individualizao? O autocontrole leva a uma aguda
percepo de um eu interior, que aparece cada vez mais distinto e
33
confrontado com o mundo exterior, e isso o que o termo quer indi-
car. J o monoplio um subproduto do fenmeno mais geral da divi-
so de funes, que gradualmente induz a uma separao da atividade
econmica e outras atividades sociais, da atividade poltica, vista agora
como uma funo coordenadora dessa crescente variedade de aes
compartimentadas, porm interdependentes. Essa funo coordena-
dora vai constituir um aparato diferenciado, tcnico, administrativo e
militar, em torno da autoridade poltica.
Quais as possveis relaes desse processo com ideais de cidadania?
Se a especializao uma das dimenses centrais da civilizao
e se ela, por sua vez, tem a ver com o controle externo da violncia,
parece-me evidente que h um potencial atrito entre esse vetor e um
antigo ideal do viver civil, liado tradio republicana clssica, para o
qual decisivo o conceito de comunidade poltica. A comunidade pol-
tica (CP) aponta para um conjunto de prticas que no se encaixa bem
na viso de que a poltica uma atividade especializada, uma atividade
de peritos (a poltica no seria comparvel, por exemplo, atividade
do mdico, do arquiteto ou do construtor de navios).
Ns sabemos que esse contraste recorrente em uma das gran-
des polmicas da losoa grega clssica, e serviu de ponto de apoio
para o ataque de Plato democracia ateniense. Mas isso no implica
que a CP tenha de ser concebida como uma comunidade democrtica,
de acesso igual a todos os que so governados por ela. Pois h uma
verso aristocrtica de CP que a concebe como uma associao restrita
ou hierarquizada, dominada por homens prudentes. Mas o homem
prudente no o perito, tal como o arquiteto ou o construtor de na-
vios, mas aquele que detm conhecimento prtico um conhecimen-
to eminentemente moral, e no tcnico. Para justicar a restrio ou
hierarquizao, tal conhecimento reivindicado por um grupo especial
de status, os nobres ou patrcios, herdeiro de uma suposta longa e
sosticada experincia nos negcios pblicos.
Contudo, tanto na verso aristocrtica quanto na antiaristocrtica
(ou plebia, sobre a qual falarei adiante) da CP, esta concebida, por dife-
rentes razes, como a associao por excelncia, o mais importante e dese-
jvel de todos os tipos de vida comunitria. Por isso mesmo, deve ocupar o
ncleo de toda atividade social. Falar em CP, portanto, dizer que a socie-
dade possui um centro moral, que como que sua instncia consciente,
para a qual as questes mais importantes da vida coletiva convergem. Para
usar uma imagem clssica: a CP est para a sociedade assim como a cons-
cincia, a razo e a deliberao moral esto para a pessoa individual.
Ccero Arajo
34
Filosofia poltica contempornea
claro que a idia da especializao da vida social tambm
no se encaixa bem na noo de que a sociedade possui um centro
consciente e moral. Na verdade, ela se encaixa melhor na viso de
que a sociedade fundamentalmente descentrada. O controle ex-
terno da violncia, nesse caso, manifesta-se no como a forma co-
ercitiva daquele centro moral, mas como um resultado de segunda
ordem da prpria diviso social e tcnica do trabalho, a qual incide
no campo da atividade poltico-militar. O monoplio da violncia
pela autoridade poltica signica simplesmente que o emprego da
coero por essa autoridade passou a ser uma funo, de exclusiva
competncia de certos agentes, e no de outros. Nessa perspectiva, a
autoridade poltica menos a expresso de uma comunidade do que
de uma organizao, uma mquina institucional. Para efeitos de
legitimao, essa organizao pode at se apropriar de ideais nor-
mativos que so adequados a uma CP; mas a entidade mesma no ,
nem pode ser, uma comunidade
2
.
DOIS
Mas o que dizer da outra dimenso do processo civilizador destacada
no incio? Em Elias, o autocontrole um condicionador psquico, e
ao mesmo tempo uma adaptao, do e ao controle externo da vio-
lncia. Sem desprezar a importncia de uma teoria psicolgica da
civilizao Elias nitidamente inspirado em Freud nesse ponto,
quero tratar diretamente da concepo de que o autocontrole seja um
controle moral da personalidade, deixando de lado a discusso sobre
os mecanismos inconscientes que o possibilitam. E quero pens-lo
como o resultado de um crescimento da sensibilidade ao argumento
e deliberao racional e moral. Uso sensibilidade para indicar a
fora emocional dessa racionalidade em uma personalidade subme-
tida ao processo civilizador. Nela, a racionalidade moral torna-se um
motivo para agir, menos intenso talvez que outras foras emocionais,
porm mais contnuo e estvel.
Para usar um termo de Hume: a razo moral uma paixo
calma. Por certo, ela impotente quando confrontada diretamente
com as paixes violentas (como a ira e o medo); contudo, como
reexiva e deliberativa, mais apropriada para orientar a personali-
dade na direo de seus interesses permanentes. Em Hume, a sensi-
2 Para mais argumentos nessa direo, ver Arajo (2002).
35
bilidade moral inata, mas que pode crescer ou retrair dependendo
do contexto. Num contexto de permanente ameaa de agresso fsica
ou de aguda carncia material, vo prevalecer as paixes violentas.
s quando se vislumbra a ordem pacca e o progresso material que a
sensibilidade moral pode passar por um processo de renamento ou
polimento, o qual tem efeito retroalimentador na prpria pacicao
e no progresso material.
Penso que essa viso de Hume sugere um interessante dilogo
com o processo civilizador de Elias, em especial no modo de interao
entre o crescimento da especializao da poltica, em detrimento da
clssica e republicana comunidade poltica, e o crescimento do auto-
controle do indivduo, via conduta moral. Ela ilustra muito bem, por
exemplo, o ideal de cidadania cultivada por aquela nobreza cortes que
um dos personagens centrais do estudo de Elias.
Hume explicitamente aponta que o avano do comrcio e da
opulncia na Europa moderna, ao mesmo tempo em que adoa a per-
sonalidade, tambm transforma a comunidade poltica numa maqui-
naria institucional. No que a idia de comunidade desaparea por
completo. Na verdade, ela se despolitiza, a m de ceder espao para
a organizao. Assim, ao invs de insistir numa comunidade poltica,
Hume vai falar de uma comunidade de boas maneiras (manners). As
boas maneiras, embora tenham uma propenso para difundir-se para
todas as camadas sociais, devem concentrar-se no mais alto grau de
sosticao numa comunidade especial, numa espcie de aristocracia
de boas maneiras.
O membro dessa comunidade no mais o homem prudente,
cheio de virtudes polticas, que mencionei acima, mas aquele enlighte-
ned gentleman idealizado em crculos intelectuais europeus setecentis-
tas, cultivador do comrcio e das artes, um tanto alienado para os
padres exigidos por uma autntica comunidade poltica, mas de qual-
quer forma um referencial de conduta social adequada. Apresentando-
se como um grupo de status responsvel pelo controle da qualidade mo-
ral do conjunto, pretende se colocar entre a maquinaria institucional
que circunda a autoridade poltica (o Estado) e a plebe pouco renada.
Segundo essa cosmologia social, sem a mediao desses gentlemen es-
clarecidos, a maquinaria poltica do Estado e a plebe se reforariam
mutuamente, descortinando sombrias probabilidades de um governo
desptico. assim que Hume e seus colegas do Scotish Enlightenment
vo se colocar em defesa, em suas teorias polticas, do ideal da monar-
quia constitucional de Montesquieu.
Ccero Arajo
36
Filosofia poltica contempornea
TRS
Sabemos que esse especco ideal gentleman de cidadania no sobrevi-
veu aos dois sculos seguintes de democratizao da vida social, da po-
ltica inclusive. Em termos normativos, essa democratizao signicou
um reavivamento, mas com novidades importantes, da comunidade
poltica republicana. Estamos falando de um retorno em grande escala
da verso antiaristocrtica, plebia, da comunidade republicana que,
anal, nunca pde ser plenamente praticada na Antiguidade.
Essa comunidade poltica contrasta com sua verso aristocrtica
em dois aspectos fundamentais: a crtica do ideal de bem comum posi-
tivamente determinado e a crtica noo de uma hierarquia natural de
status social, que justicaria o domnio da CP pelos homens prudentes,
os gentlemen politizados. Vejamos como.
O contraste entre a verso aristocrtica e a plebia de comu-
nidade poltica deriva de uma controvrsia no campo da chamada
constituio mista. O argumento da constituio mista visa mostrar
as complicaes tanto do governo aristocrtico puro, por um lado,
quanto do governo popular puro, por outro, e assim apontar para
a excelncia de uma combinao de ambos. O problema do gover-
no aristocrtico que, apesar de favorvel conservao da homo-
geneidade da cidadania o que facilita a percepo e busca do bem
comum, traz o muito provvel risco do despotismo dos aristocratas
sobre o resto da cidade, o que tambm a subverso do bem comum.
Assim, a aristocracia precisa ser contida para no se tornar oligrqui-
ca. Uma das formas de conteno a franquia da comunidade polti-
ca para grupos no aristocrticos.
Mas eis aqui um ponto crucial na verso aristocrtica dessa mis-
tura: a franquia no deve signicar o m das distines de status social.
Por isso, o reconhecimento da cidadania plebe no implica a diluio
de todos os cidados em num nico grupo de status, mas apenas a
unio de plebeus e patrcios, preservando-se suas respectivas iden-
tidades. Esse era o ideal da Concordia ordinum (a concrdia entre as
ordens) de Cicero
3
, o qual est na base de uma das principais restries
de boa parte do pensamento republicano s experincias democrticas
da Antigidade e do Renascimento.
De acordo com esse argumento, o grande problema das demo-
cracias (como a ateniense) que a extenso da cidadania se fazia sem
3 Ver o livro de Neal Wood (1998) a respeito.
37
as devidas precaues para conservar a hierarquia de status. Primeiro,
os cidados, todos, embora continuassem sensveis s distines so-
ciais de status (o que uma marca indelvel da poltica antiga), eram
reunidos igualmente numa mesma ecclesia. No havia nenhum espao
poltico distinto para xar e preservar um padro mais renado, aristo-
crtico no sentido prprio do termo, de exerccio da cidadania: um es-
pao mais apropriado para a inteligncia e menos para os apetites,
embora tambm estes deveriam ter seu lugar, mas em outro espao.
Mais sbio, segundo essa viso, era o ordenamento institucional roma-
no, que possua suas assemblias populares (a principal delas sendo
constituda apenas de plebeus), mas tambm o Senado, um espao de
acesso bem mais difcil mas no inacessvel a gente oriunda de fam-
lias plebias, muito concorrido e seletivo, reservado alta poltica.
As exigncias morais e intelectuais sobre seus membros, por sua vez,
eram tambm muito mais pesadas.
Em segundo lugar, a democratizao da cidadania coloca em
questo a forte homogeneidade do seleto grupo de bons cidados que
caracteriza a repblica aristocrtica. Agora se confrontam na arena
poltica pessoas com padres de vida muito desiguais, com nveis de
riqueza, educao, formao cultural etc., profundamente diferentes.
A possibilidade de desacordo a respeito do que lhes comum aumenta
enormemente e ento multiplicam-se as chances da poltica de fac-
es, essa palavra to execrada na poltica antiga, mas tambm na
poltica moderna at no muito tempo atrs.
Isso, claro, tambm pode acontecer nas constituies mistas,
que so ordenamentos parcialmente democratizados. Mas h dois pe-
rigos mortais no facciosismo da poltica democrtica pura. Primeiro,
uma vez que diferentes camadas sociais, independentemente de seu
status, ganham igual direito de inuncia (por exemplo, igual poder de
voto), esses novos cidados, sendo mais vulnerveis e menos indepen-
dentes materialmente, podem ser muito mais facilmente seduzidos pela
idia de fazer da poltica democrtica um modo de obter recompensas
econmicas prprias, o que os impediria de dar a devida prioridade,
em suas deliberaes, para o que seria benco para a cidade como
um todo. Segundo, essa possibilidade acaba instigando a ambio e o
facciosismo entre os membros da prpria aristocracia, pois os novos
e despossudos cidados se tornam tambm uma nova e abundante
fonte de clientela, atravs da qual lderes de origem aristocrtica, mas
populares, so tentados a submeter o restante dos colegas de mesmo
status. E esse um caminho tanto mais sedutor, quanto mais o aspecto
Ccero Arajo
38
Filosofia poltica contempornea
quantitativo, puramente numrico, do corpo dos cidados, comanda as
decises; e quanto menos o padro de atuao das lideranas individu-
ais monitorado por um espao que promova a identidade de status,
como o Senado, e que iniba as chances de um poltico ambicioso jo-
gar exclusivamente para a multido.
Enquanto a variante aristocrtica da constituio mista enfatiza
os problemas derivados da extenso da cidadania, a variante plebia d
mais importncia aos problemas derivados de sua restrio. Os argu-
mentos dessa ltima vo basicamente na seguinte direo:
1) O desprezo pelas pretenses de excelncia da aristocracia, que
so interpretadas como uma escusa para se desfrutar privilgios
polticos (quando no materiais) exclusivos. Aqui h uma pro-
penso para traduzir os valores associados condio de status
por interesses e, assim, pensar as distines de status como
distines de classe. No por acaso, autores dessa vertente, como
Maquiavel, falam da luta entre patrcios e plebeus simultanea-
mente como uma luta entre ricos e pobres, uma luta entre clas-
ses. Tendem, portanto, a menosprezar a suposta dignidade de
uma hierarquia natural das ordens, de uma hierarquia xa de
status social.
2) A advertncia de que a ambio da aristocracia mais perigo-
sa para a liberdade da Repblica do que as carncias materiais
da plebe. Anal, como Maquiavel famosamente vai registrar, os
ricos querem dominar, enquanto os pobres simplesmente no
querem ser dominados, e isso os torna menos propensos a querer
sacricar a liberdade da Repblica em prol de seus interesses.
Isso quer dizer que a variante plebia despreza inteiramente os pro-
blemas polticos derivados da emergncia da clientela? De modo al-
gum. Ambas as variantes do argumento da constituio mista esto
preocupados com os pr-requisitos da boa cidadania e, logo, com os
problemas que a carncia material podem trazer ao seu exerccio. Mas
enquanto a variante aristocrtica se preocupa com as carncias que
levam eroso de um certo estilo de vida, a outra centra sua reexo
sobre as carncias que levam despossesso. Para essa ltima, a pos-
se diz respeito aos pr-requisitos para o exerccio de uma cidadania
plebia com independncia poltica e autonomia pessoal. Em outras
palavras, para exerc-la sem servilidade a cidados poderosos. A pos-
se o pr-requisito para os bens polticos primrios da auto-estima
e auto-respeito, sem os quais no h como conter a subservincia, a
39
transformao do plebeu independente no cliente. O plebeu despos-
sudo o plebeu politicamente despotencializado, desinado de esti-
ma e respeito prprios. Presa fcil, portanto, no s da aristocracia,
dos ricos enquanto grupo de interesse, como tambm dos aduladores
da multido, das lideranas puramente pessoais, to perigosas para
a Repblica quanto a aristocracia sem freios.
Mas o que dene a posse do plebeu? Na literatura clssica de
vis plebeu, vamos encontrar duas grandes insistncias: a posse das
armas e a posse (modesta) da terra. Essa ltima, em particular, permite
a distino bsica entre uma situao social de carncia, marcada pela
pobreza, que a condio da maioria dos plebeus, mas no necessa-
riamente causadora da vulnerabilidade poltica, e a situao de com-
pleta destituio ou despossesso. Da o ideal plebeu do cidado que
simultaneamente soldado e pequeno fazendeiro. As armas e a terra so
tomados como recursos polticos, recursos de potencializao poltica.
Mas enquanto a posse das armas pensada como uma posse coletiva
os plebeus, como coletividade, so concebidos como uma associao
de homens em armas a posse da terra uma posse pessoal, um pr-
requisito no s da independncia poltica mas da integridade da per-
sonalidade moral (a autonomia), sem a qual nem mesmo a outra posse
(das armas) pode ser exercida adequadamente. No toa que a luta
pela posse da terra, e por sua diviso mais eqitativa, est no centro da
reexo republicana clssica de teor plebeu
4
.
Chamo a ateno para o vnculo especco entre poltica e moral
que essa noo de cidadania implica. Embora ela possa se apresentar
na forma de direitos, a cidadania plebia no simplesmente uma
questo de ter direitos, mas uma questo de adensar poder poltico: po-
der para inuenciar as decises. E como adensar poder se no se tem
privilgios, e muito menos riqueza? Sem tais recursos, o adensamento
s possvel pela construo de uma disposio interna (que emi-
nentemente moral), construda de dentro para fora, digamos assim.
Alis, a alternativa, de fora para dentro, seria agrantemente contra-
ditria com o ideal de independncia poltica. Pois quem d recursos
quem j tem poder. Quem d ou empresta para outro recursos, isto ,
o patrono, tende a ser o maior benecirio da relao entre doador
e recebedor. Quem recebe cria um vnculo especial com o doador, que
4 Modernamente, o paradigma da posse da terra foi sendo aos poucos substitudo pelo
paradigma da posse do trabalho, embora a forma do argumento continuasse muito se-
melhante ao que estou tomando como tpico na literatura republicana clssica.
Ccero Arajo
40
Filosofia poltica contempornea
a dvida, o primeiro passo para, no plano poltico, se estabelecer o
compromisso da clientela. Tal o esforo crtico da cidadania plebia:
gerar poder poltico sem arcar com o nus da dependncia.
QUATRO
impossvel conciliar uma percepo de luta de classes, como ocorre
na verso plebia da constituio mista, com um ideal de concrdia
entre as ordens, que em Ccero, por exemplo, vai fundamentar um bem
comum positivamente determinado. Na Antigidade, a grande autori-
dade que desfrutava a hierarquia das ordens, e a quase naturalidade
da escravido, colocavam travas a uma percepo de luta de classes.
Mas como viabilizar a constituio mista em contexto moderno, no
qual essas travas deixam de existir?
A moderna comunidade poltica plebia, a comunidade nacio-
nal, tomada como uma juno conituosa de duas comunidades de
classe, os ricos e os pobres: os grandes proprietrios de terra e os pe-
quenos, os capitalistas e os trabalhadores e assim por diante. Para que
emerja da a percepo de uma comunidade, o modo de conceber o
bem comum tem de ser modicado: ele negativamente, ao invs de
positivamente, determinado. E isso s possvel pela externalizao
do conito entre as classes.
Essa externalizao resultante do senso de que a ptria, a co-
munidade nacional, est mergulhada num ambiente mais amplo que
hostil, repleto de outras comunidades polticas cujos destinos so con-
trrios entre si. Dito de outro modo: o senso de que, em comparao
a esse contraste entre o interior e o exterior, o qual pe em questo a
prpria existncia delas, a heterogeneidade do povo torna-se pratica-
mente desprezvel. Se, portanto, sua homogeneidade no pode ser res-
tabelecida pela simples postulao da atrao mtua natural entre os
membros, a nica sada projet-la na gura do inimigo da ptria, a
encarnao do bem comum negativamente determinado
5
.
Sendo uma gura coletiva e impessoal, o inimigo da ptria no
aquele a quem se odeia, mas simplesmente o estranho, o membro de
uma outra comunidade nacional. um inimigo pblico, para resga-
tar o conceito schmittiano:
5 Para uma suscinta interpretao das consideraes de Maquiavel sobre a constituio
romana, que so uma referncia bsica desse raciocnio, ver Arajo (2000: 14-17).
41
Inimigo no qualquer competidor ou o adversrio em um con-
ito em geral. Tampouco o adversrio privado que odiamos.
Um inimigo existe s quando, ao menos potencialmente, uma
coletividade de homens que combate confronta-se como uma co-
letividade similar. Inimigo s o inimigo pblico, porque tudo
o que tem relao com semelhante coletividade de homens, par-
ticularmente uma nao inteira, torna-se pblico em razo des-
sa relao. O inimigo hostis, no inimicus num sentido amplo
(Schmitt, 1984: 28).
A gura do inimigo da ptria atinge sua perfeio prtica na poca em
que as comunidades nacionais passam a travar a guerra total. A guer-
ra total demanda o envolvimento de toda a nao contra o inimigo, e
a reunio de todos os recursos humanos e materiais disponveis para
destru-lo. Ao exigir isso, ela estimula a maior externalizao possvel
do conito de classes e, ao mesmo tempo, o mais alto grau de democra-
tizao no sentido de universalizao da cidadania da comunidade
poltica. Ela gera uma ampla, embora tensa, colaborao de classes e
uma transformao na infra-estrutura jurdica da cidadania. Para via-
bilizar a guerra total, as camadas sociais privilegiadas so levadas a um
compromisso de ceder o mais amplo leque de direitos s camadas ple-
bias inclusive o direito de exercer inuncia nas decises fundamen-
tais da comunidade, em troca da mxima disposio dessas ltimas
em derramar sangue, suor e lgrimas em defesa da ptria.
Aqui cabe um esclarecimento. Embora a comunidade poltica
com vis plebeu no seja homognea, mas uma mistura de subcomu-
nidades de classe, ela no propriamente uma organizao no sentido
que conferi a esse termo ao falar de processo civilizador. Ela ainda
pode ser concebida como uma comunidade poltica, isto , uma en-
tidade com um centro deliberativo, com uma clareira comum na
qual as classes em tenso estabelecem os termos de sua convivncia.
Essa tenso torna seus arranjos institucionais muito mais complexos
do que numa comunidade homognea ou de vis aristocrtico, mas
tambm diculta conceber a poltica como uma pervasiva atividade
de peritos, desde que o conito entre as classes e o imperativo de
moder-lo introduz um elemento no especializado e no tcnico nas
decises coletivas.
Nesse quadro, a lealdade do cidado ambgua, pois ele est ao mes-
mo tempo liado a um Estado, que encarna os termos da convivncia entre
as classes e lhe empresta uma identidade nacional, e subcomunidade que
lhe empresta sua identidade de classe. No fundo, essa situao diculta que
Ccero Arajo
42
Filosofia poltica contempornea
a comunidade poltica se autodena como uma associao de indivduos,
desde que a relao com esses ltimos seja profundamente mediada pelas
subcomunidades. O resultado , portanto, no s um obstculo especia-
lizao/mecanizao da poltica, mas tambm sua plena individualiza-
o. Rigorosamente falando, no temos um Estado tal como os pensadores
contratualistas clssicos pensaram este conceito: como uma entidade so-
berana cujos sditos so pessoas individuais, e no grupos.
Por outro lado, na medida em que a sobrevivncia dessa espcie
de constituio mista depende do inimigo da ptria, h uma relao de
interdependncia entre o potencial estado de guerra entre as naes, a
identidade nacional e a identidade de classe. O desbotamento de qualquer
um desses termos tende a provocar um desbotamento dos demais: esfriar
o potencial de guerra signica esfriar a identidade nacional e, logo, a iden-
tidade de classe. A tal encadeamento algum poderia objetar que o ltimo
elo mencionado no se segue dos dois anteriores. Poder-se-ia armar, ao
contrrio do que armo neste ponto, que o conito de classes condiciona
a guerra entre as naes, mas no condicionado por essa ltima. No
seria plausvel que o m da identidade nacional tivesse como efeito no s
implodir a colaborao social interna como levar a uma guerra de classes?
Era exatamente isso, por exemplo, o que esperavam vrios expoentes do
socialismo ao longo da Primeira Grande Guerra.
fato histrico que o desfecho desfavorvel de uma guerra total
levou, nos pases derrotados, ao colapso da colaborao interna e aber-
tura de um conito de classes sem moderaes, quando no revoluo
social, que a guerra total transportada para a luta de classes. Mas isso
no impediu, mesmo aps um interregno de grande autofagia, o restabe-
lecimento da lgica nacional dos conitos. Pois tambm um fato hist-
rico que os conitos polticos mais relevantes dos dois ltimos sculos s
ganharam estrutura, um formato estvel estabilidade que s possvel
quando h espao para o controle da violncia entre os conitantes,
graas arena de interao comum que a idia e a experincia de comu-
nidade nacional propiciaram. Este foi o solo onde brotou um moderno
e produtivo conito de classes. verdade que tambm o limitou; porm,
aquele tipo de limite que possibilita e alimenta o prprio conito, mais
ou menos como a fora e o impulso da pedra no estilingue provm dos
limites dados pelo elstico e pela funda do mesmo estilingue.
Mas qual a relao entre esse quadro de plebeizao da cidada-
nia e o conceito de civilizao que inspira o presente trabalho? Trata-se
de uma relao ambgua. Por um lado, a constituio de uma sociedade
de naes coetneo pacicao intranacional. Na medida em que le-
43
gitima e consolida Estados, ela favorvel ao controle da violncia. Por
outro lado, porm, essa mesma pacicao tem como contrapartida a po-
tencializao da violncia entre as naes, cujo horizonte a guerra total.
E essa ltima tendncia vai no sentido contrrio do processo civilizador.
A resultante dessas duas tendncias contrrias, o saldo de sua interao,
depende da amplitude dos efeitos destrutivos que a guerra produz em
comparao com a dos efeitos construtivos da pacicao interna.
Penso que as experincias das duas guerras mundiais do sculo
passado, e o conseqente advento de armas de destruio total, aponta-
ram para um saldo muito desfavorvel ao controle da violncia. Foram,
por isso mesmo, experincias de guerra total que solaparam o delicado
equilbrio entre guerra, nao e classe, e isso trouxe conseqncias na
avaliao normativa que contemporaneamente se faz da relao en-
tre esses trs termos. No me parece acidental que, na ltima metade
do sculo, fazer a guerra deixou de ser um direito ilimitado de cada
pas, reconhecido internacionalmente. Ao mesmo tempo, assistimos,
no campo do discurso jurdico e diplomtico internacional, a uma per-
da da fora moral da idia de inimigo da ptria (entendido, nunca
demais repetir, como inimigo pblico), desde que a guerra total entre
as naes mais poderosas detentoras dos recursos humanos e mate-
riais de destruio total, passou a ser cada vez menos exeqvel. Se o
surgimento da guerra fria foi um sinal importante nessa direo, seu
esgotamento tornou-se um passo crucial
6
.
CINCO
Estou sugerindo que a conscincia de que a guerra total pode levar des-
truio mtua dos beligerantes gera uma presso normativa para transfor-
mar um certo padro de cidadania. A guerra, deixando de ser uma prtica
tolervel e exeqvel, deixa tambm de ser um fator de alimentao dos
laos internos das comunidades nacionais. Se as relaes de interdepen-
dncia aqui traadas esto corretas, esse acontecimento deve acarretar
um esfriamento da cidadania plebia praticada no formato nao
7
.
6 Note-se, contudo, que a inexeqibilidade da guerra total entre as naes mais pode-
rosas no sinnimo de m da guerra para todas as naes, j que outras formas de
violncia coletiva so possveis.
7 Tambm contribui dramaticamente para esse enfraquecimento a crise geral da posse
coletiva do trabalho, na forma das associaes de defesa material e civil dos trabalhado-
res, que traz de volta o problema da clientela, um fator, como vimos, de enfraquecimento
interno da constituio mista plebia.
Ccero Arajo
44
Filosofia poltica contempornea
Poderamos dizer, estendendo a linha do raciocnio, que a per-
cepo de que a guerra total intolervel apenas a ponta de uma
percepo ainda mais ampla: a do perigo crescentemente mortal do
estado de natureza entre as naes. Para Hobbes, o termo era sinni-
mo de um estado de guerra permanente, e ele o empregava tanto para
indivduos quanto para naes. Ambas eram situaes anrquicas, mas
s a primeira realmente inviabilizava qualquer convvio social. Hobbes
considerava a segunda perfeitamente suportvel:
Mesmo que jamais tivesse havido um tempo em que os indi-
vduos se encontrassem numa condio de guerra de todos
contra todos, de qualquer modo em todos os tempos os reis, e
as pessoas dotadas de autoridade soberana, por causa de sua
independncia vivem em constante rivalidade, e na situao
e atitude dos gladiadores, com as armas assestadas, cada um
de olhos xos no outro [...] Mas como atravs disso protegem
a indstria de seus sditos, da no vem como conseqncia
aquela misria que acompanha a liberdade dos indivduos iso-
lados (Hobbes, 1983: 77; meus grifos).
essa ltima avaliao, grifada, que sofre mudana radical quando se
toma conscincia de que as naes podem inigir danos insuportveis
umas s outras, por agresses diretas (blicas), ou indiretas, como de-
sastres ecolgicos provocados por mos humanas. Quanto mais agudo
esse entendimento, maior o desconforto com o padro de cidadania
praticado em formatos nacionais. O desconforto no gera automatica-
mente novos arranjos institucionais, mas certamente coloca na ordem
do dia a noo de um descompasso crucial entre o desejvel, o ideal
normativo, e os arranjos institucionais efetivamente praticados. Eis a
precisa descrio de Elias:
A diculdade est em que essa tradio de relaes internacio-
nais, que com ligeiras modicaes sobrevive desde a poca do
Estado principesco, traz consigo, no atual estgio de desenvol-
vimento armamentista, perigos que no existiam na poca do
mosquete. A despeito de todas as suas certezas, improvvel que
os generais do alto comando estejam em condies de prever as
conseqncias do uso de armas nucleares. As experincias de ca-
tstrofe de Chernobyl sugerem que o uso de armas nucleares se
revelar destrutivo no apenas para os inimigos, mas tambm
para os amigos e at para a populao do prprio pas. Ainda
planejamos e agimos dentro do contexto tradicional, como se as
45
armas atuais se limitassem a destruir o territrio inimigo. Isso
certamente j no acontece [...] Falar da humanidade como a
unidade global de sobrevivncia perfeitamente realista nos dias
atuais (Elias, 1994: 188-189).
Apesar de reconhecer que o habitus social das pessoas, por sua pro-
penso a identicar-se com subgrupos da humanidade, em especial os
Estados isolados, est aqum dessa realidade, Elias nota sinais de
que comea a surgir identicaes que ultrapassam as fronteiras na-
cionais. A importncia crescente do conceito de direitos humanos, em
oposio aos direitos de soberania e de cidadania dos Estados, o sinal
mais claro nesse sentido. Contudo, da perspectiva do processo civiliza-
dor, essa tendncia contm algo ainda mais signicativo, ao acentuar o
vetor da individualizao da vida social:
J vimos que a evoluo do cl e da tribo para o Estado, como
unidade mais importante de sobrevivncia, levou o indivduo a
emergir de suas anteriores associaes pr-estatais vitalcias [...]
Como podemos ver, a ascenso da humanidade at se tornar a uni-
dade predominante de sobrevivncia tambm marca um avano
da individualizao. Como ser humano, o indivduo tem direitos
que nem mesmo o Estado pode negar-lhe (Elias, 1994: 189).
Como no h nada que force o processo civilizador na direo de
sua expanso, h de se reconhecer que o enfraquecimento da iden-
tidade nacional tambm traz consigo duas possibilidades no sentido
da barbrie, e no da civilizao. A primeira a regresso a tipos de
identidade como a de cl ou de tribo, com os seus diversos modos de
transformar o inimigo pblico Carl Schmitt num inimigo privado, o
caminho mais trivial de fazer com que os conitos sociais tornem-se
feudos interminveis. A outra a passagem do conito moderado de
classes para o conito sem peias, para a guerra total de classes. Em-
bora de motivaes distintas, seu efeito seria hoje pouco diferente da
guerra total entre as naes, e portanto com caracteres similarmente
autodestrutivos
8
.
O processo civilizador s pode caminhar num sentido positivo,
normativamente falando, se ele traz um crescimento do controle da
violncia, se o possibilita e estimula. Para tanto e admitindo que o
conito inerente s interaes humanas necessrio que as partes
8 Para os vnculos entre a guerra total e o terror revolucionrio e contra-revolucionrio,
ver o estudo de Arno Mayer (2000).
Ccero Arajo
46
Filosofia poltica contempornea
conitantes, quaisquer que sejam, renunciem ao emprego unilateral da
fora e aceitem a arbitragem imparcial do elemento poltico. Isso o
que o Estado nacional alcanou com relativo sucesso, porm ao preo
da externalizao da violncia na forma da guerra contra o inimigo da
ptria. Como vimos, um preo que agora se torna impagvel. Porm,
a sada tribal e a guerra de classes so alternativas regressivas. O que
resta, ento?
A alternativa que me parece mais satisfatria, embora imponha cer-
tos sacrifcios para o ideal republicano clssico de comunidade poltica,
nos coloca de volta ao ponto de partida desta reexo: o controle externo
da violncia combinado com o autocontrole pessoal. Por caminhos tortu-
osos, reencontramos o sentido profundo do processo civilizador apontado
por Elias. O controle externo da violncia signica realar, no elemento
poltico, sua funo coordenadora especializada; e o autocontrole pes-
soal reala o polimento, Hume, da sensibilidade moral do indivduo.
Se no primeiro sentido o processo vincula a poltica a uma maquinaria
institucional, com destaque para a administrao tcnica dos conitos
(especialmente no campo jurdico e econmico), no segundo vincula a
poltica moral. Mais do que nunca, os dois sentidos no podem ser inde-
pendentes, porm complementares. E por que deveriam s-lo?
A resposta simples, quase banal. Porque a expanso do proces-
so civilizador, ao mesmo tempo em que torna os conitos sociais mais
intrincados reexo de interaes humanas mais e mais complexas,
tem de transferir maior responsabilidade aos indivduos. Se a maqui-
naria especializada um modo incontornvel de dar conta dessa com-
plexidade, tambm o a autonomia pessoal. Alis, pouca coisa que de-
penda de aes concertadas poderia realmente funcionar hoje em dia
sem pressupor essa autonomia. Ilustra-o bem a experincia cotidiana
do frentico trnsito de automveis:
Carros correm em todas as direes, e pedestres e ciclistas ten-
tam costurar seus caminho atravs da mle de veculos; nos
principais cruzamentos, guardas tentam dirigir o trfego, com
varivel grau de sucesso. Esse controle externo, porm, baseia-
se na suposio de que todos os indivduos esto regulando seu
comportamento com a maior exatido, de acordo com as neces-
sidades dessa rede. O principal perigo que uma pessoa represen-
ta para a outra nessa agitao toda o de perder o autocontrole.
Uma regulao constante e altamente diferenciada do prprio
comportamento necessria para o indivduo seguir seu cami-
nho pelo trfego (Elias, 1993: 196-197).
47
Por outro lado, se verdade que a civilizao traz progresso ma-
terial e tcnico, isso acaba tornando as pessoas, individualmente, mais
poderosas, para o bem ou para o mal: s notar que estragos o pos-
suidor de uma moderna arma de fogo virtualmente qualquer um de
ns capaz de causar. Sendo mais dramtico: j conhecemos bem
o poder fsico que uma quantidade porttil de explosivos de ltima
gerao, mas passvel de fabricao caseira, detm hoje para ameaar
a segurana de centenas ou milhares de pessoas. Mas no precisamos
ir to longe: basta reparar a fora indireta que concentra um simples
motorista de automvel, seja para lhe propiciar maior conforto, seja
para ferir outras pessoas e a si mesmo.
Para que a civilizao signique de fato um ambiente favorvel ao
convvio social, a transferncia de poder que ela possibilita precisa ter,
como contrapartida, um correspondente aperfeioamento da respon-
sabilidade individual e de sua disponibilidade para aquiescer presso
sutil dos compromissos morais. Caso contrrio, maior progresso ma-
terial e tcnico, e maior complexidade social, podem ter como resulta-
do no mais civilizao, e sim mais barbrie. Esta concluso soa-me
inevitvel: a partir de uma determinada etapa de seu crescimento, ou
o processo civilizador rena moralmente os indivduos, ou ele subverte
a si mesmo. Pois a alternativa seria transferir para o controle externo
aquilo que deveria estar sob a alada do autocontrole. Isto , levar ao
paroxismo (e parania) as funes de controle da maquinaria insti-
tucional, sem que haja nenhuma fora social capaz de cont-la. Mas
isso no seria mais do que uma verso high tech daquele to temido
despotismo descrito por Montesquieu e seus seguidores.
O argumento que desenvolvi nesta concluso pode soar um tanto
irrealista, especialmente para quem pensa que o bom funcionamento
das instituies no deve depender da disposio moral dos sujeitos que
interagem com ela. Reconheo que esse um raciocnio muito pode-
roso, e de longa respeitabilidade na teoria poltica. um pressuposto
que informa, em parte, o moderno argumento em favor da constituio
mista. Procurei mostrar, contudo, que os ideais de cidadania e de co-
munidade poltica que a sustentam, e as foras sociais necessrias para
colocar tais ideais em movimento, esto cada vez menos disponveis e se
tornaram mais indesejveis do que desejveis com os desdobramentos
autofgicos da guerra total. Mesmo o esforo de transportar, por analo-
gia, o argumento da constituio mista para o terreno da especializao
e da maquinaria institucional, atravs da teoria dos checks and balances
funes constitucionais que competem com outras funes consti-
Ccero Arajo
48
Filosofia poltica contempornea
tucionais, limitando-se mutuamente apenas colocam panos quentes na
questo crucial. Trata-se de uma outra maneira, mais branda por certo,
de hipertroar o controle externo em detrimento do autocontrole. Sua
mecnica pode at ajudar a retardar o despotismo, mas no evit-lo. Da
que o processo civilizador no mais apenas produz a individualizao,
mas passa a necessitar de sua alta qualidade para prosseguir. Denitiva-
mente, nas condies atuais, nunca o macro dependeu tanto do micro.
BIBLIOGRAFIA
Arajo, Ccero 2000 Repblica e Democracia em Lua Nova (So Paulo) N 51.
Arajo, Ccero 2002 Estado y Democracia em Boron, Atilio e Vita, lvaro de
(orgs.) Teora y Filosofa Poltica. La recuperacin de los clsicos en el
debate latinoamericano (Buenos Aires: CLACSO).
Cohn, Gabriel s/d A Sociologia e o Novo Padro Civilizatrio, mimeo.
Elias, Norbert 1993 O Processo Civilizador. Volume 2: Formao do Estado e
Civilizao (Rio de Janeiro: Zahar).
Elias, Norbert 1994 A Sociedade dos Indivduos (Rio de Janeiro: Zahar).
Hobbes, Thomas 1983 Leviat (So Paulo: Abril Cultural).
Hume, David 1985 Essays, Moral, Political and Literary (Indianapolis: Liberty
Fund).
Mayer, Arno 2000 The Furies: Violence and Terror in the French and Russian
Revolutions (Princeton: Princeton University Press).
Schmitt, Carl 1976 The Concept of the Political (New Jersey: Rutgers
University Press).
Wood, Neal 1988 Ciceros Social and Political Thought (Berkeley: University of
California Press).
49
Alejandra Ciriza*
Heranas e encruzilhadas feministas:
as relaes entre teoria(s) e
poltica(s) sob o capitalismo global
CENRIOS
Se h algo que constitui uma recorrncia nos ltimos tempos a enorme
complexizao dos debates no campo das teorias e da losoa polticas.
Do espectro de assuntos, variados e heterogneos em grande medida, inte-
ressa-nos tomar como eixo de nossas preocupaes a crise de um conjun-
to de categorias e ferramentas tericas para pensar as condies da ao e
as formas de articulao entre teoria e poltica no campo do/s feminino/s.
Embora seja certo que o feminismo nunca constituiu um corpo
homogneo nem do ponto de vista terico nem do ponto de vista das
prticas, a forma sob a qual as velhas antinomias retornam remete, a
meu ver, a um processo de desarticulao de pressupostos que, mesmo
com srias dissidncias, constituam o solo comum do que se entendia
como feminismo nos anos inaugurais da segunda onda: um coletivo
de identicao as mulheres e uma certa proximidade poltica com
tradies progressistas, tanto liberais como da variada esquerda, que
acompanhara as reivindicaes das mulheres. Mais que isso: alheias ao
* Doutora em Filosoa. Pesquisadora do CONICET e professora de graduao e ps-
graduao na Universidade Nacional de Cuyo e em outras universidades. Seus campos
de pesquisa e docncia so a epistemologia das cincias sociais, a losoa poltica e a
teoria feminista.
50
Filosofia poltica contempornea
dilema da representao, ns feministas falvamos por ns mesmas.
Hoje um certo corte atravessa os campos da teoria e da prtica poltica,
ao mesmo tempo em que um limite sinuoso entrelaa ativismos e -
nanciamentos, organizaes no governamentais e agncias, estados e
organismos internacionais. difcil encontrar nas polmicas que ocu-
pam muitas das tericas feministas cada vez mais elaboradas e sinuo-
sas, cada vez mais autonomizadas orientaes que permitam guiar as
prticas em um horizonte que tende por sua vez ao estreitamento das
possibilidades emancipatrias e multiplicao das posies
1
.
De minha perspectiva, as encruzilhadas atuais nos debates feminis-
tas se devem muito ciso entre produes tericas e prticas polticas
feministas e desarticulao em relao dimenso histrica. A perda
de relevncia no tocante s conjunturas prtico-polticas e o abandono do
ponto de vista da totalidade, tal como a entendia Lukcs, assim como o
desvanecimento da densidade histrica, do-se em um duplo registro. Por
um lado, sem dvida, a fragmentao e a instantaneidade esto ligadas aos
prprios suportes a partir dos quais se produz hoje a hegemonia. Por ou-
tro, a acelerao nos processos histricos, a vertigem nas transformaes
sociais, impede encontrar conexes entre o passado e o presente, estilhaa
a histria, desarticula a memria. As identidades polticas (se que ainda
se pode falar de algo semelhante), e mais ainda as dos vencidos, parecem
cada dia mais ancoradas nos avatares das biograas, na morosidade que
as vidas particulares adquiriam em relao velocidade das transforma-
es sociais, que torna possvel a subsistncia de rituais, prticas, utopias
que no parecem outra coisa seno resduos de tempos passados. A coe-
xistncia entre o mais arcaico e o mais novo, entre os resduos do passado
e a ltima novidade tecnolgica, atravessa as estratgias, as crenas, as
identicaes dos sujeitos no terreno da luta poltica. Poderia-se dizer que
a decomposio do registro histrico da experincia produziu uma esp-
cie de perda na direo da caminhada. As mudanas nas relaes entre
histria e memria, na forma pela qual subalternos e subalternas se colo-
cam diante de seu passado, parecem no contribuir para a construo de
uma direo que canalize a prxis emancipatria. Uma direo do estilo
daquela que Benjamin invocava, capaz de procurar uma orientao no
instante de perigo, de iluminar alguma sada no momento da crise. Em
1 Os feminismos tornaram-se, sob a forma de estudos de gnero e inclusive sob a forma
menos civilizada de teorias feministas, parte do campo cientco, cujas regras exigem
que o produto obtido, isto , o conhecimento cientco, seja apresentado como relativa-
mente independente de suas condies sociais de produo (Bourdieu, 1994: 131).
51
1924 Benjamin dizia: At os sinais comunistas constituam em primeiro
lugar o indcio de um sobressalto que despertou em mim a vontade, no
mais como o z at aqui, de mascarar por obra de um retorno ao passado
os aspectos atuais e polticos de meu pensamento, seno a vontade de des-
dobr-los em minhas reexes e faz-lo at o extremo (Witte, 1990: 99).
Trataremos neste trabalho de um dos dilemas histricos do/s fe-
minismo/s: as tenses entre as polticas de justia e as de identidade;
entre a necessidade de reconhecimento da diferena, que nos aproxima
da crtica ao heterossexismo obrigatrio e traa laos de solidariedade
com gays e lsbicas, com travestis e transexuais, e a necessidade de tra-
ar estratgias conjuntas com @as oprimid@as, com @s desiguais mais
do que com os diferentes.
Em um contexto de complexizao e transformao do cenrio,
a questo da diferena abre entre as tericas feministas mltiplas in-
terrogaes e cruzamentos ligados tanto com a questo dos limites do
dimorsmo sexual como com os debates provocados pela interveno
daqueles que no podem se reconhecer nos emblemas do feminismo
histrico (assunto, como Hobsbawm j apontara alguma vez, de mu-
lheres de classe mdia, ocidentais e ilustradas). A impossibilidade de
falar de um feminismo se torna cada vez mais visvel. Inclusive em
pases com uma tradio forte, como os Estados Unidos, as slashers
no acreditam poder expressar seus desejos de um mundo melhor, se-
xualmente liberado, mais igualitrio por meio do feminismo, elas no
sentem que podem falar como feministas, no sentem que o feminismo
possa falar por elas (Jameson, 1996: 213). Existe, ao que parece, um
distanciamento cada vez maior entre feministas acadmicas e feminis-
tas militantes, ao mesmo tempo que no terreno das prticas aparecem
novos sujeitos cujas demandas e estratgias no sempre so suscetveis
de uma vinculao harmnica, mesmo quando estiverem relacionadas
com a questo do corpo, do gnero, da diferena
2
. preciso considerar
2 A crtica em relao s acadmicas no s um fenmeno norte-americano. O receio
em relao especializao constitui um assunto recorrente tambm nos debates femi-
nistas na Argentina, do mesmo modo que a indicao da distncia entre reivindicaes
feministas e demandas das mulheres de setores populares, cuja aproximao ao feminis-
mo foi e conituosa e problemtica. A terceira fase, se consideramos como tal a entrada
em jogo da diversidade das mulheres e das diferentes posies feministas, toca-nos nesse
ponto de modo pleno. No entanto, talvez a diferena com respeito aos pases centrais
resida na debilidade e no carter fragmentrio das experincias feministas em nosso
pas. A esta diversidade entre mulheres (outrora sujeito privilegiado do feminismo) ne-
cessrio somar a emergncia do movimento GLTTB e os estudos queer, simultaneamente
fonte de renovao e de disputa.
Alejandra Ciriza
52
Filosofia poltica contempornea
um fator a mais no que se refere fragmentao terica: ela no se liga
s multiplicidade dos pontos de vista disciplinares, ou complexi-
zao dos modelos tericos de pensamento, mas tambm a processos
histricos que articulam a organizao capitalista do trabalho divi-
so entre trabalho manual e intelectual, e se traduz em processos di-
ferenciais de institucionalizao, especializao e internacionalizao
do trabalho intelectual
3
.
Um duplo movimento atravessa o terreno terico: se por um lado
as polmicas se bifurcam, multiplicam e complexizam perdendo inte-
resse no tocante s reivindicaes imediatas ou s possibilidades de en-
lace com a prtica, por outro os saberes instrumentalizveis revelam-
se como aqueles que efetivamente orientam as intervenes de maior
envergadura, sejam as das organizaes da sociedade civil ou aquelas
promovidas a partir do estado. O terreno poltico no qual nos move-
mos apresenta-se, por detrs de uma aparncia de disperso e frag-
mentao, paradoxalmente homogneo e consistente no que se refere
incorporao das demandas das mulheres. Do lado da desigualdade
vale para as mulheres o mesmo que para as excludas e excludos do
sistema. Do lado da diferena, o sistema quase inexpugnvel, diria, e
no precisamente propcio incorporao de demandas radicais
4
.
A indicao do sculo XX como o do avano das mulheres no
menos ambivalente: enquanto Perry Anderson aponta a relevncia
adquirida pela questo da emancipao das mulheres como relato
principal da poca, ligado a um processo de atenuao da hierarquia
dos sexos graas s presses em escala mundial em favor da incorpo-
3 Vale a pena assinalar a pertinncia que as observaes realizadas pela escola de Frank-
furt neste ponto mantm, tanto no atinente converso da abstrao real em abstrao
cientca, como no que se relaciona ao avano da racionalidade instrumental como for-
ma de organizao material tanto do mundo como das formas de conhecimento acerca
do mundo (Sohn Rethel, 1979). A expanso da instrumentalizao cognitiva implemen-
tada a partir da interveno dos organismos internacionais, assim como a presso que
estes modelos cognitivos exercem atravs da exigncia de padronizao dos conhecimen-
tos e do imperativo de produzir diagnsticos e projetos capazes de cumprir com as exi-
gncias de interveno focalizada e ecaz (o que Popper teria chamado engenharia social
fragmentria), constituem exemplos diante dos quais nos encontramos cotidianamente,
e com respeito aos quais nem sempre dispomos de uma explicao adequada.
4 Duas breves referncias poltica recente constituem prova suciente: por um lado, a
brutal represso policial contra @s piqueteiros e @s trabalhador@s desocupad@s um in-
dicador dos umbrais de tolerncia do sistema frente ao protesto social d@s subaltern@s;
por outro, os decretos da Corte Suprema de justia tentando proibir a anticoncepo
de emergncia, assim como as interferncias recorrentes por parte de juzes e membros
da cmara a respeito do direito d@s adolescentes a receber informao adequada sobre
sexualidade, anticoncepo, etcetera.
53
rao de modicaes antidiscriminatrias, Lipovestsky, em sintonia
com os ares conservadores que por estes tempos correm, no duvida
em destacar o incmodo que sozinho o nome de feminista promove
neste momento ps, associado juridicizao das relaes entre os se-
xos e febre vitimista provocada pelas reivindicaes das mulheres,
ao mesmo tempo que celebra a democratizao dos ideais de beleza
como signo do advento da terceira mulher, essa que em suas palavras
conseguiu reconciliar a mulher radicalmente nova e a mulher sempre
repetida (Anderson, 2000: 5-21; Lipovetsky, 1999: 12)
5
.
Se o campo acadmico est dominado pela multiplicao das pers-
pectivas e pelo abandono das certezas, no plano poltico a instalao de
um sentido comum conservador traa os limites do que se considera poli-
ticamente correto ou possvel. Hoje difcil inclusive mencionar questes
como a do aborto sem enfrentar uma enxurrada de argumentos acerca
dos direitos da criana por nascer e de advertncias (tericas, ticas e po-
lticas) sobre o tipo de conito em questo
6
. Pode-se mencionar menos
ainda os tpicos clssicos para o feminismo, como o prazer (que hoje os-
cila entre os plos ps-modernistas do hedonismo cool, e o muito mais
srio mas no por isso estetizado e retorizado assunto do desejo/do gozo,
modulados em um registro herdado de Lacan) ou a liberdade, assunto
decididamente passado de moda pressionados como estamos pela neces-
sidade de obter alguns direitos em uma conjuntura na qual o inimigo no
deixou de vencer
7
. Direitos, por outro lado, cujo sentido dista de ser aceito
pelo conjunto das feministas como uma ferramenta emancipatria.
Muitas, na esteira de Derrida, pem em questo o valor dos
direitos, concebidos como excessivamente ligados a uma lgica de
5 O que Lipovetsky parece ignorar que a regulao da relao com a natureza, includo
o corpo humano, est tambm subordinada lgica das relaes sociais estabelecidas
sob o capitalismo, isto , a propriedade privada. O capitalismo avanou na privatizao
dos recursos naturais, sobre a regulao das relaes sociais, no domnio e controle das
novas tecnologias, na colonizao e mercantilizao de diversos aspectos da vida huma-
na, includos sonhos e desejos (Kurtz, 2002). indiscutvel que hoje existe a possibilida-
de de realizar modicaes sobre o corpo pela via das intervenes cirrgicas, mas seria
pelo menos ingnuo supor que isto esteja ao alcance de tod@s.
6 Para alguns lsofos polticos trata-se de conitos do tipo um ou outro, em torno de ques-
tes inegociveis como a vida (Hirshman, 1996: 128). A posio , contudo, contestvel.
7 Digo herdado de Lacan, porque em sentido estrito trata-se da transformao de al-
gumas categorias tericas procedentes do campo da psicanlise em ferramentas de
leitura no campo dos estudos culturais e da teoria feminista, ou de sua redenio
em prol de uma interpretao losco-poltica da questo da ideologia e do sujeito
poltico (iek, 1992).
Alejandra Ciriza
54
Filosofia poltica contempornea
propriedade aplicada sobre o prprio corpo e ao que Laura Klein, por
exemplo, no duvidou em denominar como o juridicismo dos 90s,
que nos teria conduzido a uma iluso miservel: a norma jurdica
como panacia existencial que transforma o corpo em coisa, em ob-
jeto de direito sobre o qual se exerce, como sobre um ente qualquer,
a propriedade (Klein, 1999: 77).
TEORIA E POLTICA: DOS DOURADOS ANOS 60 AO FIM DA HISTRIA
Se h mais de um sculo na Tese 11 Marx anunciava que havia chegado
o momento de transformar o mundo, e no somente de interpret-lo,
hoje o distanciamento entre teoria e poltica adquire uma multiplicida-
de de formas que obedecem s mudanas na relao entre economia e
cultura, entre teoria e poltica. O peso dos retrocessos sociais e polti-
cos torna sumamente dicultoso imaginar um projeto emancipatrio.
Se Sartre, em um espao social marcado pelas insurreies estudantis,
pela emancipao norte-africana e pela revoluo cultural chinesa, ha-
via pensado que o marxismo constitua o horizonte obrigatrio de todo
pensamento e havia marcado com crueza as conseqncias da expan-
so colonial do Ocidente, hoje claro que as marcas esto dadas pela
cada do muro, pelo predomnio do neoliberalismo e pela fragmenta-
o das esquerdas. A isso necessrio somar, sem dvida, alguma ex-
pectativa nascente mas ainda incerta
8
. De modo que a resposta acerca
de quais sero as ferramentas tericas para pensar um presente tenso
constitui um espao de disputa.
Debatemos em um terreno que no escolhemos, um terreno no
qual a democracia sem atributos, portanto a que (se diz) brota natu-
ralmente do solo do mercado e da livre competio capitalista se apre-
senta como a panacia de todos os males. A associao democracia-
capitalismo esgrimida com a fora das evidncias irrefutveis ainda
que a experincia de maior xito, a da idade de ouro do capitalismo,
tenha mostrado a excepcionalidade dessa unio, mesmo que se revele
mais ou menos claro que a recesso no tem m, que os processos de
cidadanizao constituem hoje por hoje parte de uma retrica to re-
corrente como vazia. Se luz do que foi dito anteriormente as relaes
entre capitalismo e democracia se mostram cada vez mais de excluso
8 Rero-me emergncia de uma caleidoscpica gama de experincias polticas, lidas
freqentemente como signos da emergncia de novos sujeitos da transformao social.
Negri optou por cham-los a multido, enquanto outros, mais precavidos, falam de
resistncias globais (Hardt e Negri, 2002: 5).
55
recproca, no entanto, preciso contar com essa espcie de sentido co-
mum democrtico que se instalou h mais de vinte anos e impulsiona,
como se se tratasse de algo natural, a crena na anidade entre demo-
cracia, capitalismo e cidadanizao, representada imaginariamente
Marshall como correlao entre proclamao de um direito e gozo de
uma garantia.
A insistncia sobre o assunto da cidadania marca ao mesmo
tempo os limites e as precises em uma conjuntura de retrocessos po-
lticos e ideolgicos. Por um lado deu-se nos ltimos anos uma revita-
lizao disciplinar da losoa poltica. Porm, esta se realiza em um
contexto histrico de declnio dos debates propriamente polticos, em
um ambiente de domnio da economia sobre a poltica. Ao mesmo tem-
po, alguns acontecimentos, talvez em si mesmos triviais, constituem
indicadores sociais e ideolgicos do retrocesso. Direitos sociais que h
vinte anos se imaginava denitivamente conquistados retrocedem sob a
artilharia neoliberal, e o discurso da responsabilidade funde sem pudor
contribuinte, usurio e cidado. Ao mesmo tempo, no caso argentino, a
Igreja catlica regula e obstrui, quando no estabelece, as agendas go-
vernamentais no que se refere aos direitos das mulheres e das crianas.
Recordemos o decreto menemista que institui o dia Da criana por
nascer, a oposio regulao da fertilidade, o bloqueio das tentati-
vas de despenalizao (nem digamos de legalizao) do aborto. Tudo
isso sem sequer tocar em assuntos como o da tolerncia diversidade
sexual. Aquilo que hoje ns feministas debatemos h de se enquadrar
necessariamente neste clima poltico, derivado de derrotas e limites
estruturais que pesam cada vez com maior fora sobre os setores su-
balternos e ns mulheres ainda o somos.
Talvez uma das diculdades no menores para uma teoria e uma
prtica feministas sob a conjuntura atual seja a de manter aquilo que
constitura nossa marca de entrada no espao pblico, ali pelos anos
sessenta: a reivindicao pela visualizao da signicao poltica da
diferena sexual, e o sentido da justia e da igualdade. Ento os femi-
nismos combinavam um estranho amlgama de radicalidade, contes-
tao, marginalidade e exterioridade com relao aos mundos institu-
cionalizados, e um certo ar insurrecional que hoje, ao que parece, se
perdeu. As observaes nesse sentido so conuentes. Com respeito ao
movimento feminista francs diz Franoise Collin: O recente objetivo
da paridade na esfera da representao que anima a cena francesa no
pode ocultar esta revoluo, e de uma certa forma esta inverso: o de-
sao feminista que se desloca da sociedade civil para a representao,
Alejandra Ciriza
56
Filosofia poltica contempornea
e da insurreio para a instituio (Collin, 1999: 33-39). E em tom hu-
morado a argentina Hilda Rais assinala: Depois entramos nas leis do
mercado [...] Assim foi como a economia domstica obrigou a arte a se
converter em prosso, a se constranger a pressupostos cada vez mais
exguos outorgados por mecenas estrangeiros ou autctones por cujos
favores se compete (Rais, 1996: 93).
O clima de emergncia do feminismo esteve enquadrado por
uma poca que poderamos chamar de crise da modernidade madura.
Insurreio, joie de vivre, leve ultrapassagem de limites, transforma-
ram-se (quem melhor para reconhec-lo e assinal-lo do que o conser-
vador Lipovetsky) em af juridicista. No plano da poltica tratava-se
de revoltas juvenis: a irrupo de 68 e sua onda expansiva em nvel
mundial; o rastro de descontentamento, insurreio e protesto de rua
que estremecera toda a Amrica Latina aps o processo revolucionrio
cubano; a derrota norte-americana no Vietn; as guerras de emanci-
pao nacional na frica. No plano da teoria, uma srie de debates
fendiam as noes de conscincia, sujeito e histria. A linguagem ad-
quiria uma enorme relevncia medida que se advertia seu peso na
estruturao das imagens do mundo, das identicaes e dos desejos.
No se tratava mais de uma questo de lgicos ou lsofos empenha-
dos em uma teraputica da linguagem a m de emancipar a losoa do
pesado lastro da metafsica, seno de discorrer e debater acerca de sua
incidncia na organizao do prprio mundo, como produtor de efei-
tos identicatrios sobre os sujeitos, como indutor de experincias e
conhecimentos, como espao de inteligibilidade e sentido, como mate-
rialidade signicante. A linguagem sobre a qual se discute a da lgica
do inconsciente, a que interpela o sujeito e induz prticas e rituais no
espao de inscrio das genealogias familiares, mas tambm a que se
joga no prprio terreno da poltica (Laclau, 1975).
Uma renovao tanto poltica como terica acompanhou a emer-
gncia da chamada segunda onda do feminismo.
A comoo das certezas obrigava os marxistas no s a debater
acerca da especicidade dos processos econmico-sociais em cada for-
mao social, ou as modalidades e efeitos das relaes imperialistas,
mas a polemizar em torno da prpria noo de classe, muito estrei-
tamente ligada ao ressonante assunto do reducionismo economicista.
Uma espcie de nova luz iluminava as relaes culturais, ao mesmo
tempo em que mostrava a especicidade da poltica e dos processos
que amarravam o individual ao coletivo no terreno da linguagem e do
inconsciente. O poltico deixava de consistir em um problema de sujei-
57
tos coletivos constitudos como classe no processo de produo para se
ligar aos territrios imprecisos da reproduo e da vida cotidiana, da
sexualidade e da escola, aos espaos de construo do sentido comum
tanto como das relaes de explorao no trabalho. Por acrscimo, a
advertncia acerca do carter no consciente da ideologia tornava vi-
svel o espectro do desejo, as fantasmticas, interpelaes e reconheci-
mentos jogados na linguagem e no territrio ambguo dos imaginrios
individuais e coletivos. O desenrolar da questo da classe, a crtica do
reducionismo economicista, e a relevncia adquirida pelo tema da he-
gemonia e das signicaes, deslocavam os interesses tericos para a
ordem do simblico e da cultura.
A crtica ps-estruturalista aparecia para no poucos/as inte-
lectuais como um territrio que permitia achar respostas adequadas
s novas questes ao mesmo tempo em que apresentava uma maior
proximidade com as perguntas que as feministas formulavam para
si: o assunto da diferena, das secretas anidades entre logos ociden-
tal e falocentrismo, das formas de inscrio dos mandatos sociais na
subjetividade, das relaes entre corpo e poder, entre diferena sexual
e poltica
9
. Isso contribuiu para produzir a idia de que existia uma
espcie de anidade eletiva entre feminismo e ps-modernidade no
campo da cultura, entre feminismo e ps-estruturalismo no espao
da produo terica, entre feminismo e novos movimentos sociais no
campo da ao poltica.
Nascidas da crise dos sujeitos da poltica clssica e amarradas
comoo da noo de classe, as polticas e a teoria feministas foram
vistas, a partir de um acmulo de circunstncias, como dicilmente
articuladas tradio marxista. Sexismo de um lado e uma diversidade
dicilmente unicvel de outro, assim como interpretaes diversas,
inclusive com respeito dos alcances do poltico e do politizvel, aten-
taram contra as possibilidades do que se poderia chamar, para para-
9 Nesses anos a psicanalista, lsofa e lingista Luce Irigaray se interrogava sobre os
fundamentos simblicos da cultura ocidental e publicava em 1974 Speculum de lautre
femme: exerccio de leitura de um texto clssico de Freud, A feminidade, o livro demons-
tra os supostos falocntricos que articulam a interpretao freudiana acerca da consti-
tuio da subjetividade feminina. O conceito de feminidade elaborado por Freud, segun-
do Irigaray, deriva do uso de um nico modelo de genitalidade, e de uma nica forma
possvel de transitar o complexo de dipo elaborado sobre o padro da experincia do
pequeno varozinho. No s um nico mapa da genitalidade, seno um nico modelo de
desejo e prazer, o masculino, deixa as mulheres ou por debaixo ou por fora do modelo,
que masculino. Desse modo, o a priori e o desejo do mesmo no se sustentam seno
graas dominao que a lgica do mesmo impe sobre as diferentes.
Alejandra Ciriza
58
Filosofia poltica contempornea
frasear a ironia de Paramio, alguma forma de casamento feliz (Stotz
Chinchilla, s/d; Paramio, 1986). E, alm disso, empenhos de mtua re-
negao no constituem novidade alguma. Mabel Bellucci recordava
no faz muito tempo as omisses do manifesto comunista e assinala-
va: O Manifesto Comunista o chamamento emancipao humana
de maior inuncia universal [...] Pese ter pensado a classe trabalhado-
ra como um todo, o sujeito enunciado sero os vares adultos. Neste
documento, os particularismos genricos e etrios tiveram estatuto de
conito [no entanto] existiram pontas demais para passarem desaper-
cebidas da problemtica social de ento: mulheres trabalhadoras, mu-
lheres lutadoras, mulheres escritoras... mulheres clamando por justia
no espao do pblico. Enquanto que no espao do privado, a diviso
sexual do trabalho determinada pela reproduo biolgica foi enten-
dida a partir de representaes patriarcais: como uma diviso natural,
com tudo o que este sentido invoca (Bellucci e Norman, 1998). Se o
sexismo de Marx no deixa lugar para muitas dvidas, no demais re-
cordar, pelo espelho, a renegao que muitas feministas fazem no s
das vinculaes tericas com o marxismo, como de toda relao com a
esquerda, ainda quando no sejam poucas as que provm dessa tradi-
o na Argentina
10
. Os anos oitenta encontrariam muitas feministas na
celebrao entusiasta da crise do marxismo, e no emprenho por subli-
nhar a descontinuidade entre classe e novos sujeitos. A contraposio
entre a ciso leninista entre poltica e mbito privado e o clssico lema
feminista mostravam a impossibilidade de articulao. A isso somava-
se a impugnao que o coletivo de mulheres havia feito da famosa tese
dos dois tempos: um para resolver as contradies de classe, outro para
a emancipao das mulheres (Pasquinelli, 1986).
Quanto aos feminismos, no se trata s das marcas deixadas pe-
las condies de sua emergncia, da heterogeneidade inevitvel ligada
crise dos sujeitos da poltica clssica, das ambivalncias e diculda-
des na hora de articular polticas, mas de uma multiplicao acelerada
da diversidade. As diferenas no se referem s s posies ideolgico-
polticas (a idia j clssica de Norma Stotz Chinchilla de um feminis-
mo liberal, radical e marxista) ou aos assuntos de estratgia ligados
complexizao e ampliao do espectro do movimento (feministas e
10 As concluses do estudo de Valentina da Rocha Lima sobre o exlio brasileiro so
extensivas s experincias realizadas pelas militantes polticas do cone sul durante a
dcada de 70: da militncia poltica na esquerda descoberta, na maioria das vezes
contraditria e dolorosa, do feminismo (Da Rocha Lima, 1984; Ciriza, 1997a).
59
movimento de mulheres, alm das relaes com o movimento GLTTB
Gay, lsbicas, travestis, transexuais, bissexuais) e s estratgias rela-
tivas ao aparelho do estado, seno s nfases diferenciais mediante as
quais se considere a questo da diferena sexual. Se nos anos sessenta
e setenta a especicidade da diferena podia ser lida em termos da
equiparao de direitos e da recuperao de um lugar para as mulheres
na ordem humana maneira como o poderia ter feito Simone de Beau-
voir, a idia de uma experincia feminina especca, ligada ao que nos
anos oitenta (e para a tradio anglo-saxnica) foi chamado de tica
do cuidado, no tardaria em lanar uma aura de suspeita sobre as pr-
prias noes de cultura, humanidade, valores. A prpria experincia
humana seria diferente em um sentido forte. Ns mulheres teramos
sido efetivamente as outras da histria, as portadoras de um princpio
outro de cultura, identidade humana, relao com a natureza e com
outros/outras.
Por conseguinte, seja sob o signo negativo da opresso, ou sob
o signo exultante da radical alteridade diante do mundo de morte
criado pelo sexo guerreiro, a universalidade e onipresena da opres-
so feminina no espao e no tempo deu origem crena na possibili-
dade de uma certa unidade. No se duvidava que o feminismo fosse
(mesmo sob o signo da pluralidade, da variedade das experincias,
da multiplicidade das situaes) a fonte de um novo princpio de
unicao da experincia humana, ligado utopia da irmandade en-
tre as mulheres e descoberta de uma subordinao/alteridade to
radical que nos amalgamava em um destino de opresso comum
11
.
Nos anos setenta e ainda nos oitenta as mulheres construiriam, a
partir da invisibilidade e da excluso do poder, estratgias desti-
nadas descoberta das poderosas articulaes entre sexo e poltica,
entre o pessoal e o poltico. Sob o signo das revoltas juvenis que
percorreram o mundo inteiro, elas conseguiriam novas formas de
protagonismo e reivindicao, ao mesmo tempo em que uma sur-
preendente articulao entre o protesto poltico e a vanguarda cul-
tural, entre a produo intelectual e a prtica poltica.
A encruzilhada atual, em compensao, a da denominada tercei-
ra onda, est marcada de um lado pelo aumento exponencial das desi-
11 Trabalhei sobre esta questo em um escrito anterior dando nfase aos desaos teri-
cos da academizao da produo terica e dos dilemas polticos resultantes do cresci-
mento acelerado ligado incorporao das mulheres de setores populares e do ingresso
do estado (Ciriza, 1997b: 53-168).
Alejandra Ciriza
60
Filosofia poltica contempornea
gualdades sob a expanso do capitalismo global, e de outro, por uma
fragmentao e multiplicao das identidades que deu lugar a uma
multiplicidade de prticas e sujeitos. Em sua fase tardia o capitalismo
implica a excluso de porcentagens crescentes da populao e a con-
centrao de capital em poucas mos, concentrao que vai de mos
dadas com o aumento tanto das desigualdades entre pases centrais e
perifricos como das desigualdades em cada pas.
Sem dvida o cenrio se transformou. Mais de trinta anos de
feminismos nos situam diante de uma forte modicao nas relaes
entre sociedade civil e estado, entre teoria e poltica, entre cultura e
poltica, entre feministas e feministas, diante do desao de encarar o
que entendo como um retorno conservador que impede pr na mesa
algumas das demandas que em outras conjunturas no duvidvamos
levantar; mas tambm diante de uma espcie de paralisia prpria sobre
a qual me parece necessrio reetir.
POLTICAS FEMINISTAS: DAS ARTICULAES ENTRE POLTICA, ECONOMIA
E CULTURA
Esclarecer a forma de relao entre economia, poltica e cultura parece
uma questo relevante no que toca questo das polticas feministas.
Marcados pela disperso inerente s polticas culturais e da identidade,
os feminismos parecem estar habitados pela exacerbao das diferen-
as, sem que seja possvel encontrar um ponto de amarrao ou se-
quer de acordo entre ns. Da imaginria fraternidade entre as mulhe-
res passamos proliferao de posies, converso do feminismo na
quase idioletal verso que cada feminista tenha sobre ele. E isso, que
aparentemente no muito problemtico do ponto de vista terico,
somente um sintoma que se converte freqentemente em um obstculo
no momento de articular as aes. A suscetibilidade narcisista nos faz
passar muitas vezes sem escala nem transio da fraternidade im-
possibilidade de concertar sequer alianas no digamos estratgicas,
o que seria desejar demais mas apenas tticas. O debate na realidade
imenso, mas para sintetizar de algum modo cabe citar a propsito a
perspectiva de Anna Jnasdttir: creio que realista no supor uma
irmandade genuna entre as mulheres; inclusive nem mesmo solidarie-
dade. Talvez a nica unio realista em larga escala seja a aliana para
certos temas. A irmandade, concebida como um lao afetivo de certa
profundidade, de amizade e s vezes de carinho, provavelmente s
possvel entre poucas. A solidariedade, entendida como uma vincula-
o que no pressupe necessariamente amizade pessoal, mas que im-
61
plica compartilhar fardos, pode ser possvel entre muitas. As alianas
limitadas, sejam defensivas ou ofensivas podem ser consideradas como
a unio mnima entre todas as mulheres (Jnasdttir, 1993: 248).
As relaes entre capitalismo global e cultura apresentam uma
dupla face: por um lado a cultura se fragmenta ad innitum e o ps-
modernismo, como mostra Jameson, se organiza como a forma de le-
gitimao cultural do capitalismo tardio; por outro, a cultura-merca-
doria se distancia cada vez mais das possibilidades de produzir alguma
forma de ferida simblica no puro espao do domnio tardo capitalista.
Se as pontes entre capitalismo e cultura, entre vanguardas estticas e
formas de contestao poltica foram de trnsito freqente na chama-
da idade de ouro do capitalismo, e se o modernismo foi uma arte de
oposio: escandaloso, corrosivo, dissonante com respeito ao princpio
de realidade estabelecido, dos valores e do sentido comum dominante,
o ps-modernismo em compensao se apresenta como conciliador.
Dicilmente produzir desacordos e escndalo (Jameson, 1999). Em
um mundo de paixes polticas e estticas amortizadas, pouco o que
escandaliza. Como diz Lipovetsky, nada parece mais distante do clima
de poca do que o distrbio e a confrontao. Contudo, a tenso se
apresenta em outro terreno. Tenso entre um processo cada vez maior
de concentrao capitalista e de unicao econmica que coexiste
com uma fragmentao cultural extrema, uma colonizao capitalista
de todos os cantos do globo e uma reivindicao inclusive exaltada
das especicidades locais de todo tipo (tnicas, culturais, religiosas),
um aumento brutal das desigualdades e uma retirada dos ideais de
compromisso social (Sen, 2000: 21-57). visvel, alm disso, um apelo
constante a acordos e consensos em um clima de crescente ameaa b-
lica e de freqente uso da fora por parte dos poderosos. Esta tenso en-
contra manifestaes inclusive na civilizada Europa, onde a marcha
genovesa foi duramente reprimida pela polcia. Ezequiel Adamovsky
relata: Na marcha soubemos que os meios independentes tambm ha-
viam sido atacados com gases, e comearam a circular os rumores de
que a polcia havia matado um manifestante. No dia seguinte veramos
nos jornais a clara seqncia de fotos nas quais se v como um carabi-
neiro dispara sua pistola a um metro da cabea de um manifestante de-
sarmado para depois passar por cima de seu corpo inerte com as duas
rodas do jipe policial. Chamava-se Carlo Giuliani, era um squatter lho
de um velho e querido dirigente sindical italiano, e morreu com vinte
e trs anos (Adamovsky, 2002: 5). No difcil observar as anidades
Alejandra Ciriza
62
Filosofia poltica contempornea
que este acontecimento apresenta com o assassinato de Kosteki e de
Santilln em junho de 2002 na Argentina.
A capacidade de contestao cultural no velho sentido da sub-
verso no campo das signicaes dissolve-se na mansido da merca-
doria, enquanto as tenses no so menores no plano social: desigual-
dades crescentes e concentrao cada vez maior da riqueza em poucas
mos; perda das garantias que o chamado estado de bem estar ofere-
cia; aumento da pobreza; e queda livre, sem rede, para os desocupados
e excludos do sistema. A brutal evidncia do aumento da ciso social
no produz, como em outros tempos, identidades coletivas claramente
polarizadas em torno de um eixo de conito. Este coexiste com identi-
dades polticas fragmentrias, complexas, difceis de articular
12
.
Se na idade de ouro do capitalismo a tenso entre economia e
poltica ainda encontrava espao de confrontao no campo poltico,
e os debates em torno do futuro da classe trabalhadora implicavam a
crena em alguma forma de articulao entre o que ento se chamava
de os novos sujeitos da poltica e o proletariado, hoje parece que a luta
poltica se dispersa em disputas identitrias que no encontram formas
de articulao. que os cenrios se tornaram complexos. Perdemos
muitos dos parmetros que orientavam e direcionavam os conitos e
as alianas no passado.
A LUTA PELO SOCIALISMO/AS POLTICAS IDENTITRIAS: CAMINHOS QUE
SE BIFURCAM?
Para Ellen Meiksins Wood, a globalizao capitalista, a perda de um
horizonte certeiro voltado para o futuro, a convico das diculdades
inerentes construo de uma sociedade socialista, o m do proleta-
riado clssico, so traduzidos por no poucos integrantes das esquer-
das em termos do abandono da luta anticapitalista. A estratgia a ser
desenvolvida, aquela possvel, dadas as estreitas margens disponveis,
12 impossvel nesta exguas pginas dar conta simultaneamente da profundidade do
processo de excluso e da recorrncia da questo da fragmentao das identidades po-
lticas. No entanto, a virada dos acontecimentos parece mostrar que as armaes de
Garca Canclini relativas nova lgica integrativa e comunicativa das sociedades mass
mediatizadas, nas quais o consenso se organizaria a partir de uma multiculturalidade
padronizada, estavam bastante distantes de um diagnstico aceitvel com respeito s
formas de constituio das identidades polticas. Nada parece apontar nos ltimos pro-
cessos, tanto na Argentina como na ordem mundial, para uma alegre globalizao cultu-
ral nem para uma pacca coexistncia multicultural, pois os processos de concentrao
econmica e de excluso social comeam a ser incompatveis com a lgica integrativa e
comunicativa (Garca Canclini, 1996: 3).
63
consistiria no abandono dos objetivos polticos macro e na busca de
estratgias tendentes a liberar espaos nos interstcios do capitalismo
por meio de lutas ligadas s chamadas polticas da identidade, enquan-
to se deixa de lado o terreno da luta de classes. De sua perspectiva, as
polticas da identidade supem a perda da idia de um enfrentamento
do capitalismo a partir de uma fora poltica inclusiva: a classe como
fora poltica desapareceu e com ela o socialismo como objetivo pol-
tico. Se no nos podemos organizar em escala global tudo o que nos
resta ir ao outro extremo. Tudo o que podemos fazer, aparentemen-
te, nos voltarmos para dentro, concentrando-nos em nossas prprias
opresses locais e particulares (Meiksins Wood, 2000: 111-118).
As polticas da identidade, das quais o feminismo seria uma ex-
presso, ilustrariam precisamente esse tipo de estratgia de desman-
telamento de objetivos polticos e de concesso apaziguada. Porm, se
tomamos ao p da letra as invectivas de Judith Butler contra Nancy
Fraser em uma polmica recentemente publicada na New Left Review,
do que se trataria exatamente de uma evidncia de certa tendncia
marxista a desprezar os novos movimentos sociais acusando-os de ser
portadores de demandas meramente culturais, e de levar a cabo uma
poltica cultural fragmentadora, identitria e particularista
13
.
A acusao de Butler tem a virtude de mostrar uma descrio
correta das polticas da identidade e ao mesmo tempo por em evidn-
cia as limitaes de certos argumentos lanados a partir da esquerda.
Tal como Butler o indica: a nfase no cultural da poltica de esquerda
dividiu a esquerda em seitas baseadas na identidade [...] perdemos um
conjunto de ideais e metas comuns, um sentido da histria comum,
um conjunto de valores comuns, uma linguagem comum e inclusive
um modo objetivo e universal de racionalidade [...] a nfase no cultural
da poltica de esquerda instaura uma forma poltica auto-referencial e
trivial que se limita a fatos, prticas e objetos efmeros no lugar de ofe-
recer uma viso mais slida, sria e global da inter-relao sistemtica
das condies sociais e econmicas (Butler, 2000: 110). Argumentos
que apelam, a partir de um ponto de vista muitas vezes suspeitamente
13 Muitos dos tpicos do debate terico Fraser/Butler so teis para pensar a atual con-
juntura argentina, devido emergncia de novas prticas polticas ligadas exploso
de mobilizaes que inundaram em cascata as ruas e espaos pblicos entre 19 e 21 de
dezembro de 2001. Ao grito de fora todos surgem novas prticas polticas ligadas ao
rechao das formas tradicionais de tomada da palavra, da institucionalidade e da ao.
No entanto, tal como apontei em outro lugar, preciso manter uma postura tensa entre
o velho que no acaba de morrer e o novo que ainda no acaba de nascer.
Alejandra Ciriza
64
Filosofia poltica contempornea
retrgrado e conservador, unidade perdida devido a triviais ofensas
vinculadas ao no-reconhecimento de identidade/identidades. Incapa-
zes de tolerar aquilo que de iconoclasta ainda nestes tempos continua
ligado s demandas feministas, os argumentos esgrimidos a partir de
uma certa esquerda tm um ozinho que os aproxima muito aos da di-
reita cultural mais conservadora. De ambos os lados, denitivamente,
apela-se para o retorno da unidade.
Uma breve referncia ao caso argentino: em 1997 se levou a cabo
o XII Encontro Nacional de Mulheres em San Juan. Os encontros so
um espao compartilhado por feministas e mulheres de setores popula-
res em um ritual que se realiza desde 1985 em distintos pontos do pas.
A feroz oposio da igreja catlica realizao do evento sanjuaniano
esteve impregnada de fumaa de incenso e apelos Sagrada Famlia,
em um clima de evidente hostilidade reivindicao feminista de le-
galizao do aborto, mas tambm pelo trabalho realizado a partir do
interior mesmo do Encontro por alguns partidos polticos que, como o
Partido del Trabajo y del Pueblo, PTP (Partido do Trabalho e do Povo),
tentam a todo custo invisibilizar a discriminao sexista, uma triviali-
dade diante da dureza da situao econmica. Como indica com agu-
deza Marta Vasallo artilharia fundamentalista o Encontro respondeu
pondo o acento no social, connando no canto aquilo que incomoda
e convm ocultar: as ocinas sobre prostituio, aborto, lesbianismo
(Vasallo, 1997: 90).
provvel que as polticas baseadas na luta pelo reconhecimen-
to suponham limitaes. possvel inclusive que o terreno do cultural
implique o abandono e inclusive o desconhecimento das lutas antica-
pitalista. No entanto, no advogando pela unidade, suprimindo as
diferenas como irrelevantes ou desconhecendo as demandas em sua
especicidade que se avana mais rapidamente rumo ao socialismo.
Talvez fosse interessante considerar que a tendncia fragmentao,
mais do que produto somente do jbilo narcisista nas diferenas ou da
resignao diante do avano do capitalismo, obedece prpria lgica
do capitalismo tardio, naquilo de fazer a histria em condies no
escolhidas, mas faz-la.
Concentrao capitalista e fragmentao cultural no so seno
caras da mesma moeda, de modo que a lgica da luta poltica, no meu
entender, no deveria abandonar este carter de aparncia paradoxal
luta no terreno anticapitalista e luta pela identidade ou para diz-lo
maneira de Fraser: polticas da justia e da identidade, ligadas a dife-
rentes ofensas, verdade, mas na maioria das vezes para as mulheres
65
ou os gays, as lsbicas e @s travestis pobres, profundamente imbrica-
das, necessariamente contraditrias e indivisveis.
HERANAS E ENCRUZILHADAS: O QUE UMA REFLEXO A PARTIR DO
MARXISMO PODE APORTAR S FEMINISTAS?
Do que foi dito at aqui se pode inferir que as novas condies trou-
xeram atreladas certas transformaes nas relaes entre poltica e
teoria, entre economia e cultura. Se o panorama pudesse ser sinte-
tizado de alguma maneira diramos (com o risco de simplicar) que
as formas de luta poltica ligam-se demanda de reconhecimento
ao mesmo tempo que os cenrios internacionais constituem, cada
vez mais, espaos de concentrao de recursos tcnicos, cognitivos
e polticos. As polticas feministas bifurcaram-se, por assim dizer:
de um lado especialistas, tcnicas, intelectuais transnacionalizadas;
de outro, aquelas que reclamam pelo reconhecimento das ofensas
ligadas a suas diversas identidades, ou a seu carter de excludas
pelo capitalismo. De um lado, polticas dos direitos ligadas a acon-
tecimentos de alcance internacional, instalao da questo da de-
mocracia e da cidadania como questo central de debate; de outro,
proliferao das diferenas e das identidades, imploso das diferen-
as e das desigualdades
14
. No campo das produes intelectuais a
tenso pode ser esquematizada, talvez de um modo pouco matiza-
do, entre instrumentalizao e estetizao. Estudos chamados cul-
turais e ps-coloniais invadem a cena como herana da contestao
desconstrucionista e ps-estruturalista, enquanto uma onda de pa-
dronizao de projetos e regulao dos nanciamentos instala um
estilo de produo que caberia perfeitamente na tese popperiana
das engenharias sociais fragmentrias. As relaes entre poltica
e economia, entre poltica e teoria, converteram-se em uma espcie
de hieroglco impossvel de decifrar.
Enquanto o capitalismo se apresenta sob a imagem de nica al-
ternativa atravs das narrativas reiteradas dos apstolos do neolibe-
ralismo, muit@as intelectu@ais e acadmic@as produzem formas de
interpretao terica cada vez mais irrelevantes no tocante transfor-
mao do mundo, uma espcie de enigma incompreensvel aos olhos
14 S para citar os acontecimentos internacionais mais ressonantes: a Conferncia Mun-
dial sobre a Mulher realizada em Beijing, o Frum de Organizaes No-Governamen-
tais que teve lugar em Huairou, a avaliao da aplicao da Plataforma de Ao, conhe-
cida como Beijing + 5.
Alejandra Ciriza
66
Filosofia poltica contempornea
d@s sujeit@s estranhos ao campo intelectual; ao mesmo tempo que o
campo da economia se transforma em nico e o mundo mais global do
que nunca, os espaos culturais se apresentam cada vez mais como um
territrio fragmentado.
Teoria e poltica constituem hoje uma unidade impossvel. Frag-
mentao cultural e unidade do capitalismo globalizado, as duas caras
de uma moeda sem outra sorte que esta: ou a crena no azar catastro-
sta, que nos libera de toda reexo acerca das formas de interveno,
de prxis humana, ou a desencantada constatao de uma necess-
ria, inelutvel, queda na barbrie. Provavelmente se poderia resumir a
questo da seguinte maneira, ao custo de uma simplicao brutal: se
o domnio fechou todo o horizonte de prxis poltica transformadora e
o mundo tornou-se um hieroglco indecifrvel, e se por acrscimo de-
cifr-lo de nada serve porque romperam-se as articulaes entre teoria
e prxis poltica, a sada somente pode proceder do azar, de um aconte-
cimento inesperado para alm das foras e das capacidades humanas,
ou a queda na barbrie capitalista um destino inelutvel, anunciado
h mais de trs dcadas, em 1967, pelo lme O planeta dos macacos de
Franklin Schaffner.
As transformaes na ordem econmica implicaram tambm
uma redenio da relao entre economia e poltica. Como arma
Meiksins Wood, a estrutura de produo e explorao do capitalismo
tende a fragmentar a luta de classes, a domestic-la, a torn-la local e
particularista (Meiksins Wood, 2000: 115). Isto : enquanto o capita-
lismo se globaliza, as lutas polticas tendem a ser apresentadas como
questes locais e dispersas, escaramuas circunscritas a um lugar, in-
tempestivas irrupes nas escassas ssuras do capitalismo global. Por
acrscimo, uma profunda ciso entre economia e poltica parece auto-
rizar uma viso que tende a separar e abstrair cada vez mais as consi-
deraes acerca da poltica separando direito e garantia, emancipao
poltica e social, cidadania e mercado, economia e poltica. Isso explica
em boa medida a fragmentao, mas tambm precisamente por isso,
torna imprescindvel uma teorizao das articulaes que existem en-
tre economia e poltica, entre economia e cultura: um olhar que nos
devolva as conexes entre as resistncias globalizao capitalista e
s identidades especcas, que estabelea conexes entre @s squ@tters
europe@s e @s trabalhador@s desocupad@as que na Argentina enfren-
tam tambm uma polcia cada vez mais brutal e repressiva.
A lgica do capitalismo tardio implicou a mercantilizao extre-
ma dos produtos culturais, ao mesmo tempo em que o aprofundamento
67
da diviso entre trabalho manual e intelectual at limites desconheci-
dos. A converso da cultura em mercadoria reprodutvel e dessacrali-
zada, assim como a fragmentao das prticas, conduz, longe do que
sustentam algumas interpretaes em circulao ligadas nfase na
democratizao (Landi, 1986) ou crena em um deslocamento do
campo da produo ao dos consumos (Garca Canclini, 1997), a um do-
mnio direto da economia sobre a cultura, assim como a uma crescente
instrumentalizao dos saberes.
No se trata, como armam alguns ps-modernizantes e des-
construcionistas la page, de um mundo no qual tudo se tornou sim-
blico, ou cultural. Em todo caso cumpriu-se um processo de mxima
abstrao ligado ao domnio direto da economia sobre a cultura, a po-
ltica, a teoria.
Trocamos abstraes, mas a lgica da troca, e da troca mercan-
til, o que constitui hoje, como h mais de duas dcadas apontara Al-
fred Sohn Rethel, a forma da sntese do lao social. Domnio direto da
economia, subordinao do trabalho intelectual s demandas diretas do
capital sob a forma de saberes tcnicos no s referidos s tecnologias
de interveno sobre a natureza como tambm s de administrao das
coisas e dos recursos humanos (Sohn Rethel, 1979; Ciriza, 1999b)
15
.
O mundo do capitalismo tardio simultaneamente o da proli-
ferao das identidades diferenciais no campo da poltica, ligadas, a
diferenas culturais. E tambm um mundo no qual as relaes en-
tre teoria e poltica se desarticulam de maneira acelerada. Os saberes
acadmicos ou se especializam e se vinculam de uma maneira cada
vez mais explcita a requerimentos de tipo tcnico, ou se estetizam,
acoplando-se herana ps-moderna ou ps-estruturalista, apelando
ao que alguns no duvidam em considerar como a forma sublime de
politizao da teoria: a ateno a uma retrica cada vez mais estetizan-
te e, que mal nos pese, no s incompreensvel para os iniciados, seno
freqentemente impotente e estril. preciso assinalar que essa argu-
mentao no supe o rechao das conexes entre arte e poltica nem
a crena na argumentao racional como via nem espao privilegiado.
Porm, do meu ponto de vista, a arte no a nica via de politizao
possvel, nem a cultura o terreno privilegiado de contestao e revolta,
15 A questo das abdicaes polticas da academia foi objeto de uma interessante quan-
tidade de discusses nos ltimos tempos. Pelo menos era esse o entendimento de Marysa
Navarro na VI Jornada de Histria das Mulheres e I Congresso Ibero-americano de Estu-
dos das Mulheres e de Gnero realizado em Buenos Aires em agosto de 2000.
Alejandra Ciriza
68
Filosofia poltica contempornea
ainda quando seja importante. O terreno da memria, a recuperao
das experincias de subalternas e subalternos, a explorao em torno
do inevitvel peso do passado que no se dissolve no ar de uma retrica
mais ou menos potica, constituem dimenses da prtica poltica que
preciso considerar.
Impe-se com urgncia uma leitura que permita advertir as cone-
xes entre prticas e teoria levando em considerao que os processos
que cruzam as relaes entre acadmicas, tcnicas e militantes, entre
tericas e polticas, excedem as fronteiras do feminismo. preciso no
ignorar que os requerimentos da diviso do trabalho nos alcanam e
supem uma recolocao de nossos lugares como intelectuais; que os
processos dos ltimos anos conduziram diferenciao das prticas,
especializao e prossionalizao, institucionalizao e frag-
mentao, autonomizao dos saberes e a uma dependncia muito
mais estreita com respeito s demandas da academia do que com as
demandas do movimento (movimento?) feminista e de mulheres.
Diferentemente do que ocorreu nos dourados anos 60, hoje as
feministas encontram-se concentradas na academia, refugiadas em
ONGs, prossionalizadas em consultorias, institucionalizadas no es-
tado. Diferentemente do que ocorreu ento, os graus de relao com
o estado so estreitos: realizamos nossa poltica e bebemos amargos
desencantos. Diferentemente do que ocorreu nos anos 60, temos leis
e convenes, celebraes e cotas, mas tambm ausncia de garantias
para semelhante proliferao legal e ndices cada vez maiores de ex-
cluso e pobreza, assim como tambm um clima de conservadorismo
visceral que torna impossvel escutar as demandas de outros tempos.
A partir do marxismo como campo terico h aquelas de ns
que temos algo para dizer. Algo mais do que recomendaes relativas
demanda de unidade e supresso das polticas da identidade, algo
mais do que debates a propsito do carter lateral ou decisivo para o
capitalismo das ofensas relacionadas com a identidade sexual e o he-
terossexismo obrigatrio. Talvez o que ns feministas que procedemos
da tradio marxista possamos aportar seja um ponto a partir de cujo
horizonte se pode encontrar os nexos entre economia e cultura, entre
globalizao tardo-capitalista e fragmentao cultural e poltica como
cenrios produzidos ao longo de um processo histrico no linear nem
progressivo, que desembocou sob o capitalismo tardio na conjuno
entre desigualdade crescente na ordem econmica e social e passiva-
o cultural, entre aumento das desigualdades e imploso das diferen-
as. Isto, contudo, no implica a aceitao da exigncia de unidade e
69
supresso da especicidade das demandas de quem, a partir de identi-
dades diferenciais, contestam o heterossexismo obrigatrio.
Neste ponto no deixa de ser relevante recordar aquilo da his-
tria e a dimenso histrica e determinada das prticas. Os anos 60
deixaram como herana uma crtica ao reducionismo economicista e
unicao repressiva das diferenas. A indicao do carter hetero-
gneo dos sujeitos da revoluo nos deixou uma srie de observaes
relevantes acerca das relaes entre produo e reproduo, entre con-
dies estruturais e diviso sexual do trabalho. As novas interpretaes
permitiram compreender a vinculao entre corpo e poltica, entre tra-
balho produtivo e reprodutivo, entre patriarcado e capitalismo, mas
tambm advertiram o quanto de patriarcal habitava e ainda habita na
tradio. A demanda de unidade, assumida em termos de tentativa de
supresso da diferena, se sustenta em uma espcie de expectativa de
retorno unidade perdida sob o signo de uma nova ortodoxia que mi-
nimize a questo da diferena sexual colocando-a como reivindicao
secundria ante as urgncias da hora. Conhecemos os efeitos hist-
ricos de obedincias e ortodoxias. Talvez seja preciso record-los. A
advertncia nal do trabalho de Butler com respeito ao desprezo mar-
xista pelo meramente cultural deveria constituir um incentivo, assim
como sua asseverao relativa compreenso desta violncia (fecha-
da na imposio sistemtica da unidade contra homossexuais e rpro-
bos de todo tipo) motivou a adeso ao ps-estruturalismo de parte da
esquerda (Butler, 2000: 121).
O acerto de Butler quando objeta as posies que atribuem aos com-
bates contra o heterossexismo obrigatrio um carter meramente cultural
no implica, contudo, que sua posio seja adequada no que se relaciona
ao tipo de teoria necessria para uma interpretao das condies sob
as quais nos cabe tentar hoje transformar o mundo. Os entusiasmos des-
construtivos podem ser lidos na chave de complemento da eccia ins-
trumental dos decisores de organismos internacionais. Porm, a pardia
sokaliana relativa ao idioleto obrigatrio para circular no campo das cin-
cias sociais pode ser e isso me parece em boa medida indubitvel uma
mostra de ortodoxia reducionista de esquerda marxista primitiva, uma
impostura na qual, como mostrou Roberto Follari, se entrecruzam assun-
tos de ndole disciplinar e poltica, mas tambm um sintoma dos efeitos
que muitas vezes trazem consigo as polticas de reconhecimento e a reclu-
so no mundo acadmico. Desconstruir no equivalente a politizar, po-
lticas culturais no signicam de modo, algum nem imediato, inovao
poltica. Nada h de privilegiado na perspectiva ps-moderna.
Alejandra Ciriza
70
Filosofia poltica contempornea
Certamente tampouco na perspectiva marxista. A herana crtica
dos anos 60 no de modo algum obrigatria. Porm, a meu ver, uma
assuno seletiva do legado pode abrir o horizonte para as tenses no
resolvidas do presente, para a tolerncia diante da incerteza do mo-
mento histrico e diante da impossibilidade de compreenso discursi-
va ou lgica das prticas. interessante recordar que, como indica Del
Barco: No existe um conceito puro, apartado do real, nem tampouco
um real puro. Trata-se da heteronomia material que cinde a unidade
baseada no sujeito transcendente. Uma vez produzida a imploso do
espao teolgico do sujeito o pensamento constitui-se como a forma
concreta de um real descentrado e disperso (Del Barco, 1979). Impos-
svel unidade do sujeito, impossvel unidade entre prtica e teoria.
As lgicas secretas que fazem de um produto cultural uma mer-
cadoria, e de uma demanda identitria um efeito das leis do mercado,
constituem uma trama complexa que faz com que muitas vezes o o
se perca no intrincado labirinto do capitalismo tardio. Por isso inte-
ressante considerar o apelo unidade e ao privilgio do prprio olhar
maneira de um sintoma. preciso uma certa vigilncia que permita
advertir que no somente as velhas tradies tericas se nutrem de ape-
los unidade ou do espectro da plenitude. O espectro da plenitude no
s ameaa os ortodoxos marxistas, ansiosos de recuperar a unidade da
classe, mas tambm gays e lsbicas, travestis e transexuais quando bus-
cam no campo da poltica uma resposta plena a demandas muito ligadas
prpria subjetividade como que para constituir uma demanda plena-
mente politizvel. Uma das diculdades indubitveis para uma poltica
feminista e para uma articulao adequada entre esquerda cultural e
social que a ancoragem das demandas questo do reconhecimento,
do ponto de vista prtico, costuma conduzir, se no existe uma perspec-
tiva poltica mais ampla que permita advertir as cises e diferenas em
sociedades complexas, a polticas de subjetividades apartadas
16
.
De alguma maneira o que costuma estar presente o pedido de
inscrio plena de nossas subjetividades no espao da poltica, a im-
possibilidade de diferenciar entre demanda narcisista de completude e
16 No posso deixar de apontar, em consonncia com o que foi indicado por Fraser,
que as relaes entre economia e cultura, entre economia e poltica, no so simples
de apreender sob o capitalismo tardio: Nas sociedades capitalistas [...] uma institu-
cionalizao de relaes econmicas especializadas permite uma relativa desvincu-
lao da distribuio econmica em relao s estruturas de prestgio [...] portanto
[...] a falta de reconhecimento e a distribuio desigual no so totalmente intercam-
biveis (Fraser, 2000: 125).
71
demanda poltica. O jogo poltico nas sociedades avanadas, inclusive
para ns feministas, implica formalizao e abstrao, negociao e
renncias, posto que se trata de demandar em um espao marcado pela
histria, pela luta de classes, pela desigualdade, processos histricos
que, entre outras coisas, deixaram um brutal saldo de desigualdades,
injustias e derrotas cristalizadas em estruturas sociais e lgicas auto-
nomizadas, alm de uma injusta, e na maioria das vezes desapiedada,
desconsiderao d@s diferentes. Nem o que dizer quando se trata de
desiguais e diferentes.
De meu ponto de vista, enquanto herdeira fragmentria e sele-
tiva de uma tradio complexa e mltipla, interessa-me recuperar o
olhar para a histria como produto das prticas humanas; o apelo
relao entre passado e presente, assim como a necessidade de instalar-
se no terreno da histria e de construo da memria como assuntos
urgentes no tocante edicao de hegemonia. A recuperao das ge-
nealogias e das derrotas dos subalternos, essas derrotas que alimentam
o dio inextinguvel opresso, , deste ponto de vista, uma tarefa li-
gada busca de direo e orientao para uma prxis emancipatria
(Benjamin, 1982; 108).
A histria, esse territrio aberto prxis, isso que @s seres hu-
manos fazemos ainda que em condies que no escolhemos, essa fer-
ramenta indispensvel para mostrar a genealogia humana demasiado
humana de uma prtica ou uma instituio, constitui um lugar es-
tratgico. Da, como indica Jameson, que a idia do m da histria se
apresente como um ideologema to poderoso, uma expresso e repre-
sentao ideolgica de nossos dilemas atuais
17
.
Uma perspectiva histrica sem dvida indispensvel para ad-
vertir que, em um pas como a Argentina, onde to difcil a distribui-
o de direitos civis, uma poltica de direitos para gays e lsbicas, tra-
vestis, transexuais e bissexuais constituiria um avano, ainda quando
haja quem suspeite das polticas dos direitos e ainda quando no se
possa deixar de indicar seus inocultveis limites. Mas nossas polticas
17 Embora o sentido em que Jameson discorre em Fim da arte ou m da histria
(1999) seja diferente do apontado aqui, sua reexo conui com a nossa. A propsito de
Fukuyama e seu clebre texto, Jameson indica que o que Fukuyama mostra em seu escri-
to a fronteira de expanso do capitalismo, a impossibilidade de estender-se para alm
uma vez cumprida de maneira radical a expanso mundial do mercado capitalista, uma
vez completada a converso de todo objeto em mercadoria, uma vez esgotada as possibi-
lidades de colonizao e privatizao da natureza, uma vez fechada a fuga para adiante
do progresso. Tambm os limites de nossa imaginao poltica diante do futuro.
Alejandra Ciriza
72
Filosofia poltica contempornea
no se podem deter ali. O aumento das desigualdades golpeia as mu-
lheres de setores populares, enquanto sombra do triunfo poltico e
ideolgico do neoliberalismo retornam os ideais domsticos.
No meio do caminho entre avanos legais que ameaam em se
converter em letra morta da lei se no contamos com a fora poltica
para sustent-los, e polticas da identidade que muitas vezes do alen-
to estetizao da teoria e fragmentao ad innitum de demandas
que no so diretamente politizveis, as feministas argentinas, ou pelo
menos algumas de ns, aquelas que nos reconhecemos como herdei-
ras de uma dupla e no sempre articulvel tradio, deveramos tentar
recuperar, a partir de nossas heranas tericas e polticas, o impulso
para a persecuo de nossas utopias de justia e igualdade e a reivin-
dicao insistente do respeito pelas diferenas, ainda que seguras da
inextinguvel tenso que traz em si a inscrio da questo da diferena
no campo do marxismo.
BIBLIOGRAFIA
Adamovsky, Ezequiel 2002 Imgenes de la nueva y de la vieja izquierda.
Impresiones de viaje (Londres, Gnova, Mosc, Buenos Aires) em El
Rodaballo (Buenos Aires) N 14.
Anderson, Perry 2000 Renovaciones em New Left Review (Madrid) N 2.
Bellucci, Mabel y Norman, Viviana 1998 Un fantasma recorre El Maniesto:
El fantasma del feminismo, mimeo.
Benjamin, Walter 1982 (1941) Tesis de Filosofa de la Historia em Para una
crtica de la violencia (Mxico: Premia editora).
Boron, Atilio A. 1997 Estado, capitalismo y democracia en Amrica Latina
(Buenos Aires: EUDEBA).
Bourdieu, Pierre 1994 El campo cientco em Redes, Revista de estudios
sociales de la ciencia (Buenos Aires) Vol. 1, N 2.
Butler, Judith 2000 El marxismo y lo meramente cultural em New Left
Review (Madrid) N 2.
Ciriza, Alejandra 1997a Derechos humanos y derechos mujeriles. A 20 aos
del golpe de estado de 1976 em Veinte aos despus. Democracia y
derechos humanos. Un desafo latinoamericano (Mendoza: EDIUNC).
Ciriza, Alejandra 1997b Desafos y perspectivas. Qu feminismo hoy em
Cuyo, Anuario de Filosoa Argentina y Americana (Mendoza) Vol. 14.
Ciriza, Alejandra 1999a Democracia y ciudadana de mujeres. Encrucijadas
tericas y polticas em Boron, Atilio A. (comp.) Teora y losofa
poltica. La tradicin clsica y las nuevas fronteras (Buenos Aires:
CLACSO/EUDEBA).
73
Ciriza, Alejandra 1999b La situacin de los/las intelectuales. Condiciones
materiales de existencia y diferencia de gnero en la produccin de
saber em Pginas de Filosofa Universidad Nacional del Comahue
(Mendoza) Ao VI, N 8.
Clarn 2002 La crisis en los bolsillos: la peor distribucin de la riqueza desde
que hay datos (Buenos Aires) 31 de marzo.
Collin, Franoise 1999 El diferendo entre los sexos. Las teoras
contemporneas em Travesas (Buenos Aires) Ao 6, N 8.
Da Rocha Lima, Valentina 1984 Las mujeres en el exilio. Volverse feminista,
mimeo.
Del Barco, Oscar 1979 Concepto y realidad en Marx em Dialctica (Mxico)
Ao IV, N 7.
Fraser, Nancy 2000 Heterosexismo, falta de reconocimiento y capitalismo,
una respuesta a Judith Butler em New Left Review (Madrid) N 2.
Garca Canclini, Nstor 1996 Comunidades de consumidores. Nuevos
escenarios de lo pblico y la ciudadana em Gonzlez Stephan,
Beatriz (comp.) Cultura y tercer mundo. Cambios en el saber acadmico
(Caracas: Nueva Sociedad).
Garca Canclini, Nstor 1997 Consumidores y ciudadanos. Conictos
multiculturales de la globalizacin (Mxico: Grijalbo).
Hardt, Michael y Negri, Antonio 2002 (2000) Imperio (Buenos Aires: Paids).
Hirshman, Albert 1996 Los conictos sociales como pilares de la sociedad de
mercado democrtica em Agora (Buenos Aires) Ao 2, N 4.
Irigaray, Luce 1974 Speculum de lautre femme (Pars: Minuit). [Traduccin al
espanhol: Speculum (Madrid: Salts)].
Jameson, Fredric 1996 Sobre los estudios culturales em Cultura y tercer
mundo. Cambios en el saber acadmico (Caracas: Nueva Sociedad).
Jameson, Fredric 1999 El giro cultural (Buenos Aires: Manantial).
Jnasdttir, Anna J. 1993 El poder del amor. Le importa el sexo a la
democracia? (Madrid: Ctedra).
Klein, Laura 1999 Los jinetes del derecho frente al muro de la naturaleza
em Travesas (Buenos Aires) Ao 6, N 8.
Kurtz, Robert 2002 La privatizacin del Mundo em Folha de So Paulo
(Brasil) 14 de Julio. Em <http://www.argenpress.info>.
Laclau, Ernesto 1975 Poltica e ideologa en la teora marxista (Mxico: Siglo
XXI).
Landi, Oscar 1986 Medios, transformacin cultural y poltica (Buenos Aires:
Legasa).
Lipovetsky, Gilles 1999 La tercera mujer (Barcelona: Anagrama).
Meiksins Wood, Ellen 2000 Trabajo, clase y estado en el capitalismo global
em OSAL (Buenos Aires) N 1, junio.
Alejandra Ciriza
74
Filosofia poltica contempornea
Paramio, Ludolfo 1986 Feminismo y socialismo: races de una relacin
infeliz em Labastida, Jaime (comp.) Los nuevos procesos sociales y la
teora poltica contempornea (Mxico: Siglo XXI).
Pasquinelli, Carla 1986 Movimiento feminista, nuevos sujetos y crisis del
marxismo em Labastida, Jaime (comp.) Los nuevos procesos sociales y
la teora poltica contempornea (Mxico: Siglo XXI).
Rais, Hilda 1996 No comis vidrio em Travesas (Buenos Aires) Ao 4, N 5.
Sen, Amartya 2000 Compromiso social y democracia: las demandas de
equidad y el conservadurismo nanciero em Barker, Paul (comp.)
Vivir como iguales (Barcelona: Paids).
Sohn Rethel, Alfred 1979 Trabajo manual y trabajo intelectual. Crtica de la
epistemologa (Bogot: El Viejo Topo).
Stotz Chinchilla, Norma s/d Ideologas del feminismo liberal, radical y
marxista, mimeo.
Vasallo, Marta 1997 Qu hace una feminista en un encuentro como este?
em Travesas (Buenos Aires) Ao 5, N 6.
Veca, Salvatore 1995 Individualismo y pluralismo em Flores DArcais, Paolo
et al. Modernidad y poltica. Izquierda, individuo y democracia (Caracas:
Nueva Sociedad).
Witte, Bernd 1990 Walter Benjamin. Una biografa (Barcelona: Gedisa).
iek, Slavoj 1992 El sublime objeto de la ideologa (Buenos Aires: Siglo XXI).
75
Enrique Aguilar*
A liberdade poltica em Montesquieu:
seu signicado
[...] todos os antigos respeitos viam-se ameaados.
Montesquieu no desejava perturb-los,
mas sua obra atuaria sem ele
Los orgenes intelectuales de la revolucin francesa
Daniel Mornet
A EXPRESSO Repblica e Democracia: entre a antiguidade e o mun-
do moderno, que serviu de ttulo para a sesso da Segunda Jornada de
Teoria e Filosoa Poltica na qual este trabalho foi apresentado, revela-
se o sucientemente estimulante como para dar origem a uma ampla
variedade de estudos relativos, por exemplo, s acepes dos vocbulos
em jogo, s duas latitudes histricas mencionadas, diversidade de
discursos que versam sobre o particular, e inclusive feliz recuperao
que o debate contemporneo vem fazendo das fontes mais representa-
tivas do republicanismo.
Inicialmente, o ttulo acima levou-me a pensar em Benjamin
Constant, que, como ningum ignora, popularizou a distino entre
as chamadas duas liberdades, poltica e civil, ou antes antiga e mo-
derna, conforme ele as denominou. No me referirei aqui a seu cle-
bre discurso de 1819, pronunciado em vsperas eleitorais, quando o
prprio Constant era candidato, circunstncia esta que induziu alguns
* Diretor da Escola de Cincias Polticas, Universidade Catlica Argentina (UCA).
76
Filosofia poltica contempornea
intrpretes a tachar de oportunista a veia republicana de suas ltimas
linhas, como se na verdade no tivesse sido a experincia bonapartista
a que ensinara o autor at que ponto a liberdade individual no pode
sobreviver sem algum tipo de compromisso cidado (Holmes, 1984:
19-22; Aguilar, 1998: 193-196).
O trabalho, em compensao, estar centrado em Montesquieu,
cuja concepo da liberdade preparou, sem dvida, o caminho para a
distino de Constant. Comecemos recordando, com efeito, as linhas
iniciais do Livro XI de O Esprito das leis, onde o autor se ocupa da
equivocidade intrnseca a esse vocbulo para concluir que denitiva-
mente cada povo chamou liberdade ao Governo que se ajustava mais
a seus costumes ou suas inclinaes (Montesquieu, 1987: 106).
Assim como nas democracias, acrescenta Montesquieu, se
confundiu freqentemente o poder do povo com sua liberdade
(1987): o autogoverno coletivo, por um lado, frmula que imediata-
mente nos remete ao mundo antigo e ao paradigma da poltica base-
ada na virtude, e por outro a liberdade, que em seu atributo bsico
ser entendida por Montesquieu no em termos participativos seno
como um sentimento de conana na segurana individual. Para ilus-
trar este contraste basta remeter ao captulo Algumas instituies
dos Gregos (IV, 6), descritivo desse contexto de educao na virtu-
de, frugalidade, exigidade do territrio e indignidade das prosses
comerciais, propcio para o exerccio de uma cidadania ativa, e, em
sentido oposto, ao captulo Da constituio da Inglaterra (XI, 6) do
qual fcil inferir at que ponto Montesquieu, ainda que no usasse
a expresso liberdade moderna, tinha conscincia dela ao deni-la
textualmente como a tranqilidade de esprito que nasce da opinio
que tem cada um de sua seguridade, ao qual acrescentava: E para
que exista a liberdade necessrio que o Governo seja tal que ne-
nhum cidado possa temer nada do outro (1987: 107).
Vista a partir do Livro XI, a teoria alinhavada nos Livros II ao
V, segundo a qual a liberdade poltica depende, em sua manifestao
democrtica, das condies de possibilidade vigentes nas austeras re-
pblicas antigas, parece ter sido deslocada. que sua residncia na
Inglaterra haveria de sugerir a Montesquieu a idia de que a liberdade
pode ser tambm resultado, na falta daquelas condies, de uma dis-
posio institucional adequada (Sabine, 1975: 407). Por conseguinte,
o livro XI marcar, como bem precisou Natalio R. Botana, a distncia
entre dois mundos diversos: o que dera contexto repblica democr-
tica como expresso de uma forma pura de governo, e o mundo da mo-
77
dernidade, exposto mediante um regime misto que dispe os poderes
e as foras sociais em recproco controle, ao mesmo tempo que d livre
curso s paixes antes contidas em um modelo estreito (Botana, 1984:
24). Dito de outra maneira, a distncia que medeia entre uma liber-
dade concebida sobre a base de um sujeito virtuoso em unio moral
com o corpo poltico e a liberdade moderna que, por sua vez, ter de
abandonar essa exigncia de participao e de bem pblico, inscrita na
alma do cidado, para repousar sobre o sentimento subjetivo de segu-
rana individual (1984: 35).
Linhas acima, dentro do mesmo captulo 6 do Livro XI, Mon-
tesquieu havia proposto outra denio na qual a liberdade parece ser
identicada com a obedincia lei. Diz assim: a liberdade poltica
no consiste em fazer o que cada um queira. Em um Estado, isto , em
uma sociedade na qual h leis, a liberdade s pode consistir em poder
fazer o que se deve querer e em no estar obrigado a fazer o que no se
deve querer. E em seguida: necessrio tomar conscincia do que
a independncia e do que a liberdade. A liberdade o direito de fazer
tudo o que as leis permitem, de modo que se um cidado pudesse fazer
o que as leis probem, j no haveria liberdade, pois os demais teriam
igualmente esta faculdade (Montesquieu, 1987: 106).
Observa-se aqui uma aparente tenso entre dois componentes:
subjetivo o primeiro, na medida em que se refere opinio que cada
cidado tem sobre sua prpria segurana, e objetivo o segundo, por-
que identica a liberdade com a legislao. a tenso, como tambm
se escreveu, entre o direito positivo e a vericao pelos indivduos
do sentido deste para sua capacidade de determinar-se a si mesmos
(Agapito Serrano, 1989: 101-103). Isaiah Berlin chegou a armar que
Montesquieu props a segunda denio ( qual volta, entre outros
fragmentos, no captulo 20 do Livro XXVI) esquecendo seus momen-
tos liberais (Berlin, 1974: 160), uma vez que em seu interior se escon-
deria avant la lettre a pretenso rousseauniana segundo a qual o fato de
forar os indivduos a se acomodar norma correta fazer coincidir a
liberdade com a lei no seria sinnimo de tirania seno de libertao.
Da que, posto a indagar o que pensava Montesquieu acerca da liberda-
de, Berlin prera explorar outros aspectos (por exemplo, suas crticas
ao despotismo, Inquisio ou escravido) que a seu juzo lanariam
mais luz sobre sua escala de valores (Berlin, 1992: 228-232).
Outra a interpretao de Pierre Manent, para quem estas de-
nies, longe de oporem-se ou contradizerem-se, tendem a ser pro-
gressivamente sinnimas (Manent, 1990: 141-43). Com efeito, reite-
Enrique Aguilar
78
Filosofia poltica contempornea
remos que para Montesquieu a liberdade por um lado o direito de
fazer o que as leis permitem: a harmonia visto de outro ngulo ou
ainda a identidade entre os desejos individuais e a poltica governa-
mental (Macfarlane, 2000: 49). inegvel que as leis podem encobrir,
eventualmente, atos de opresso. Mas parece claro que Montesquieu
est pensando em leis inseridas em um marco constitucional e, em
ltima instncia, baseadas em relaes imutveis e objetivas de justia,
anteriores, por conseguinte, s convenes humanas. Antes que as leis
tivessem sido dadas havia relaes de justia possveis. Dizer que s o
que as leis positivas ordenam ou probem justo ou injusto, o mesmo
que dizer que antes que se houvesse traado algum crculo todos os
seus raios no eram iguais, l-se ao comeo da obra (Montesquieu,
1987: 8). Sem entrar na discusso do grau de consistncia que existe
em um pensamento aberto tanto diversidade histrica quanto ao re-
conhecimento de valores universais, podemos concluir do que foi dito
que, em um regime livre (com equilbrio de poderes sociais e polticos,
segundo se depreende da leitura que Montesquieu fez da Inglaterra), a
lei, que compreende normas objetivas, deveria ampliar a independn-
cia individual dos cidados ao liber-los do medo e atuar como barrei-
ra de conteno frente violncia (Starobinski, 1989: 118-119)
1
.
Em sntese, a liberdade poltica, considerada em relao ao cida-
do, consistiria na segurana pessoal que este experimenta ao abrigo
das leis e de uma Constituio que, entre outras coisas, aponte limites
precisos ao do governo. Como dir Constant, caracterizando a li-
berdade dos modernos: segurana nos gozos privados e nas garantias
concedidas pelas instituies a estes mesmo gozos (Constant, 1988:
76). Essa liberdade, sobre a qual Montesquieu se estende no Livro XII e
inclusive no XIII a propsito das conseqncias da tributao, poder
ser engendrada tambm por exemplos recebidos, tradies, costumes e
especialmente por leis penais que garantam a inocncia, ou em caso de
culpabilidade, penas que no sejam lhas do capricho do legislador
seno da ndole particular de cada delito (Montesquieu, 1987: 130).
1 A relao entre universalismo e particularismo histrico um dos temas que despertou
maiores polmicas em torno de Montesquieu. Entre outros estudos, recomendo espe-
cialmente o captulo sobre Montesquieu de As Etapas do pensamento sociolgico, de Ray-
mond Aron (1996: 62-72), mais favorvel, a princpio, que a interpretao de Durkheim
quem, como se sabe, considerava Montesquieu ainda prisioneiro de uma concepo an-
terior (Durkheim, 2001: 39). Remeto tambm a um captulo de Meinecke, inteiramente
dedicado a Montesquieu, que me parece imprescindvel na hora de situar o autor entre
os precursores do historicismo (Meinecke, 1982: 107-157).
79
E o que dizer da liberdade em sua relao com a Constituio?
A pergunta nos translada frmula da distribuio harmnica dos po-
deres que o autor desenvolve com base no modelo ingls. Sabe-se que,
para Montesquieu, o desejo de dominao no se inscreve, como em
Hobbes, na natureza do homem, seno que surge uma vez estabele-
cidas as sociedades, isto , quando existem motivos para se atacar
ou para se defender (Montesquieu, 1987: 9). Em outras palavras, o
poder nasceria somente a favor de uma posio social ou poltica que
procura certo poder (Manent, 1990: 131). Da a importncia de que
pela disposio das coisas, o poder freie o poder (Montesquieu, 1987:
106), segundo a clebre armao do Livro XI, resultado que se ob-
tm primordialmente mediante a construo de diversas salvaguardas
institucionais e constitucionais no sistema poltico. Esta a liberdade
que Montesquieu acreditou ver estabelecida nas leis da Inglaterra, in-
dependente de que o povo ingls a desfrutasse ou no de fato (1987:
114)
2
. Em qualquer caso, a diviso e equilbrio dos poderes, a represen-
tao do povo na cmara baixa e o corpo de nobres limitando o monar-
ca a partir da cmara alta e o sistema judicial, apresentavam-se para
ele como recursos necessrios para assegurar a liberdade do cidado
(Botana, 1991: 187). A isso caberia acrescentar, somente a ttulo indi-
cativo, posto que escapam ao propsito deste trabalho, as favorveis
conseqncias polticas que Montesquieu v na expanso do comrcio,
tratadas fundamentalmente no Livro XX, e que no estudo j consagra-
do de Hirshman constituem um aporte importante a sua tese poltica
central (Hirschman, 1978: 78-88).
Montesquieu compreendeu a liberdade no sentido moderno de
Constant. Se um dos imperativos de nosso tempo encontrar o modo
de resgatar a liberdade dos antigos como garantia (assim o queria o
prprio Constant) que igualmente proteja e aperfeioe nossas moder-
nas liberdades civis, a concepo que tentei resenhar parece insu-
ciente. Do mesmo modo, na medida em que seja vlido o contraste
marcado por Sandel entre uma tradio intelectual, o liberalismo
que comea por se perguntar de que maneira o governo deve tratar
seus cidados, e por outro lado o republicanismo, que se interroga
pelos modos em que os cidados podem alcanar seu autogoverno
2 De novo estamos na presena de um tema amplamente debatido. a leitura de
Montesquieu el realidade inglesa da poca ou antes responde a um tipo ideal?
Prescindirei aqui da questo e a ttulo ilustrativo remeto to somente a Juan Vallet de
Goytisolo (1986: 357-398).
Enrique Aguilar
80
Filosofia poltica contempornea
(Gargarella, 2001: 50), no parece difcil localizar Montesquieu ao ter
contribudo como o fez para consolidar uma linguagem menos atenta
fonte do poder do que a seu exerccio ou, inversamente, mais preo-
cupado pelo poder como ameaa da liberdade do que pelo consenso
que legitima sua origem.
Sendo assim, esta concepo da liberdade poltica como seguran-
a de cada um sob a proteo das leis deixa completamente de lado em
nosso autor todo contedo participativo? A esto, certamente, as pgi-
nas sobre a virtude como princpio da repblica democrtica. No en-
tanto, como indicou Althusser, em tempos de luxo e comrcio a virtude
se tornou to descabida que se teria que desesperar de seus efeitos se
estes no pudessem ser alcanados por regras mais rpidas (Althusser,
1959: 77). Alm disso, no so por acaso iguais em densidade as pginas
sobre a moderao que se pode esperar em uma repblica aristocrtica
ou a honra requerida pelas monarquias, destinadas estas ltimas a se-
rem resgatadas, em favor das associaes intermedirias e como freio
tirania majoritria, pelas doutrinas liberais do XIX? Apenas se for neces-
srio lembrar que Montesquieu ainda est longe da frmula de integra-
o entre o interesse pblico e o privado a que Tocqueville chegar em
seu momento. E, desde logo, sua concepo certamente tributria de
Locke da liberdade dentro da lei ou, o que o mesmo, da lei como cons-
titutiva da liberdade liberty to follow may own will in all things, where
the rule prescribes not (Locke, 1993: 126; Dedieu, 1909: 172-175) no se
mostra assimilvel de um republicano como Rousseau para quem a lei
tem antes de tudo uma nalidade formativa (que excede, por essa razo,
a mera busca da coexistncia pacca) com vistas realizao de nossa
natureza cidad (Bjar, 2001: 84-85).
No obstante isso, nestes tempos de globalizao e domnio uni-
versal da economia, tempos de apatia, consensos quebrados e contesta-
o generalizada da poltica, um fenmeno que se estende a numerosos
pases, talvez devamos prestar maior ateno ao modo como Montes-
quieu reconstri o mundo clssico, o mundo da virtude denida por ele
como o amor s leis, ptria e igualdade, que mais do que uma s-
rie de conhecimentos um sentimento endereado ao bem geral que
pode experimentar o ltimo homem do Estado tanto como o primeiro
(1987:33). Permitam-me citar in extenso esta passagem do Livro III:
Os polticos gregos que viviam em um Governo popular no re-
conheciam outra fora que os pudesse sustentar a no ser a da
virtude. Os polticos de hoje no nos falam seno de fbricas, de
comrcio, de nanas, de riquezas e at mesmo de luxo.
81
Quando a virtude desaparece, a ambio entra nos coraes ca-
pazes de receb-la e a cobia se apodera de todos os demais. Os
desejos mudam de objeto: o que antes se amava, j no se ama;
se o indivduo era livre com as leis, agora cada um quer ser livre
contra elas; cada cidado como um escravo fugido da casa de
seu amo; chama-se rigor ao que era mxima; chama-se estorvo
ao que era regra; chama-se temor ao que era ateno. Chama-se
avareza frugalidade e no ao desejo de possuir. Outrora os
bens dos particulares constituam o tesouro pblico, mas quan-
do se perde a virtude, o tesouro pblico se converte em patri-
mnio dos particulares. A repblica um despojo e sua fora
j no mais do que o poder de alguns cidados e a licena de
todos (Montesquieu, 187:20).
No captulo 27 do livro XIX de O esprito das leis, referindo-se incidn-
cia das leis sobre os costumes e ao carter de uma nao, Montesquieu
advertiu acerca do perigo que nos povos modernos os homens acabem
sendo meros confederados em lugar de concidados. Como sustenta
Pierre Manent (1990: 149), esta alternativa pode ser formulada de di-
versas maneiras: somos membros independentes da sociedade civil ou
cidados de um Estado? Pertencemos ao espao transnacional do mer-
cado ou ao territrio de uma nao? Ambas as coisas, a resposta. Se
aceitamos esta dual condio, Montesquieu nos deixar satisfeitos. Se,
pelo contrrio, pretendemos super-la, dicilmente podemos renunciar
a Rousseau.
BIBLIOGRAFIA
Agapito Serrano, Rafael de 1989 Libertad y divisin de poderes (Madrid:
Tecnos).
Aguilar, Enrique 1998 Benjamin Constant y el debate sobre las dos
libertades em Libertas (Buenos Aires) N 28.
Althusser, Louis 1959 Montesquieu, la politique et lhistoire (Paris: PUF).
Aron, Raymond 1996 (1967) Montesquieu em Las etapas del pensamiento
sociolgico (Buenos Aires: Fausto) Vol. I.
Bjar, Helena 2001 Republicanismo en fuga em Revista de Occidente
(Madrid) N 247.
Berlin, Isaiah 1974 (1958) Dos conceptos de libertad em Libertad y necesidad
en la historia (Madrid: Revista de Occidente).
Berlin, Isaiah 1992 (1955) Montesquieu em Contra la corriente (Madrid:
Fondo de Cultura Econmica).
Enrique Aguilar
82
Filosofia poltica contempornea
Botana, Natalio R. 1984 La tradicin republicana (Buenos Aires:
Sudamericana).
Botana, Natalio R. 1991 La libertad poltica y su historia (Buenos Aires:
Sudamericana/Instituto Torcuato Di Tella).
Constant, Benjamin 1988 De la libertad de los antiguos comparada a la de los
modernos em Del espritu de conquista (Madrid: Tecnos).
Dedieu, Joseph 1909 Montesquieu et la tradition politique anglaise en France
(Paris: Libraire Victor Lecoffre).
Durkheim, Emile 2001 Contribucin de Montesquieu a la constitucin de la
ciencia social em Montesquieu y Rousseau. Precursores de la sociologa
(Madrid: Mio y Dvila).
Gargarella, Roberto 2001 El republicanismo y la losofa poltica
contempornea em Boron, Atilio A. (comp.) Teora y losofa poltica.
La tradicin clsica y las nuevas fronteras (Buenos Aires: CLACSO).
Goytisolo, Juan Vallet de 1986 Montesquieu. Leyes, gobiernos y poderes
(Madrid: Civitas).
Hirschman, Albeto O. 1978 (1977) Las pasiones y los intereses (Mxico: Fondo
de Cultura Econmica).
Holmes, Stephen 1984 Benjamin Constant and the Making of Modern
Liberalism (New York: Yale University Press).
Locke, John 1993 Two Treatises of Government (Vermont: Everyman).
Macfarlane, Alan 2000 The Riddle of the Modern World. Of Liberty, Wealth and
Equality (Wiltshire, Great Britain: Macmillan Press).
Manent, Pierre 1990 (1987) Historia del pensamiento liberal (Buenos Aires:
Emec).
Meinecke, Friedrich 1982 El historicismo y su gnesis (Mxico: Fondo de
Cultura Econmica).
Montesquieu 1987 Del Espritu de las Leyes (Madrid: Tecnos).
Mornet, Daniel 1969 Los orgenes intelectuales de la revolucin francesa
(Buenos Aires: Paids).
Sabine, George H. 1975 Historia de la Teora Poltica (Mxico: Fondo de
Cultura Econmica).
Starobinski, Jean 1989 (1953) Montesquieu (Mxico: Fondo de Cultura
Econmica).
84
Filosofia poltica contempornea
(Ingenieros, 1957: 71). Dito de outra maneira, era necessrio passar
por uma repblica possvel centralizada e tutelar para chegar a uma
repblica real onde a liberdade poltica se realizasse plenamente. Essa
tentativa de fundar a Repblica de cima, retomando a expresso de
Halperin Donghi, constitui um legado carregado de ambivalncias, j
que os valores republicanos de civilidade e de civismo revelam-se vincu-
lados a um regime no inclusivo onde somente alguns eram legtimos
portadores da capacidade de governo. As elites da quais dependem os
projetos de nao se encontravam mais prximas da idia de Guizot de
soberania da razo que a de soberania do povo, e legitimam na ra-
cionalidade de suas propostas uma interveno poltica que retalhava a
distribuio igualitria de capacidades entre povoadores nativos.
Certamente esta questo no exclusiva de nossa experincia
republicana, j que a discusso acerca da capacidade de juzo e de ao
poltica das massas populares ocupa um lugar destacado nos debates
constitucionais das repblicas modernas tanto nos Estados Unidos
como na Frana. Mas a peculiaridade das repblicas sul-americanas
surge desta soberania desacoplada, na qual o povo real os habitantes
destes territrios ligados ainda ao passado colonial ou sumidos na na-
tureza americana no corresponde a seu conceito, o povo ideal su-
posto nas teorias do contrato. Esse hiato inicial, responsvel por prin-
cpios de legitimao opostos e em enfrentamento, baliza a histria
do pas. Poderamos entender que muitos dos diagnsticos do dcit
de cidadania com os quais a cincia poltica denominou a falta de
referncia s instituies polticas nos regimes democrticos de hoje
encontram algum grau de explicao nesse espelho da histria.
Sem dvida as razes so hoje diferentes para que a Rep-
blica no seja na Argentina o que deveria ser. Tampouco os dis-
cursos sobre a necessidade de republicanizar a Repblica so os
mesmos em sua natureza, estrutura e funo em relao queles de
Sarmiento, Alberdi ou Ingenieros. Mas o que me interessa constatar
aqui a reiterada referncia incapacidade da repblica para ser
um princpio de ordem poltica ou um referente claro da identidade
nacional. Diferentemente do que ocorre em outros debates atuais
sobre a tradio republicana, como os do comunitarismo nos Es-
tados Unidos ou os do republicanismo francs, nos quais se discu-
tem os fundamentos ou as origens de um republicanismo realmente
existente, a repblica proposta entre ns de modo negativo, no
s pela apario sistemtica de ditaduras que a quebram (sabemos
desde Aristteles que a tirania a degenerao da repblica) mas
85
tambm porque quando existe de direito no existe de fato, como
seria o caso na atualidade. De certa forma, a idia de Repblica e a
prpria tradio republicana so formuladas na Argentina pela au-
sncia, pela debilidade ou por falta.
Desta formulao inicial derivam os motivos deste trabalho: pri-
meiramente podemos nos interrogar pelo sentido da tradio republi-
cana na Argentina na singularidade daquele momento fundacional. Em
segundo lugar, na Argentina do fora todos, em um momento em que
a crise da poltica se manifesta em uma conscao do espao pblico
da repblica, em um dramtico distanciamento dos representantes de
seus representados e em uma espcie de apropriao da soberania, ou
no fato de que as decises que nos envolvem esto nas mos de um
grupo de expertos e fora do alcance de um debate e de uma participa-
o cidad: ao que apelamos com o republicanismo? Que signicado
adquire esta tradio no contexto poltico atual?
Diante destas formas de excluso, alcana toda sua magnitude a
questo do sujeito da repblica. O que um sujeito poltico republica-
no? O que um defensor da repblica?
A FUNDAO DA REPBLICA
UM REGIME DA RAZO
O republicanismo pode ser denido como um regime poltico legal-
mente constitudo e fundado sobre princpios racionais que se sinteti-
zam no trptico liberdade, igualdade, fraternidade. Como conjunto
de princpios, idias e prticas, tem sua fonte no movimento iluminista
que pe o direito natural e a teoria do contrato como fonte da sobera-
nia e base da legitimidade. Tanto Montesquieu como Rousseau conce-
bem o governo republicano como aquele no qual o poder soberano
exercido pelo povo e em que se governa ao amparo da lei. Dali se depre-
ende que a diferena deste regime poltico com respeito monarquia
que o precede dada pela separao do poder do corpo do monarca,
seu transposio ao corpo social, e em conseqncia a desimbricao
da lei e do poder do soberano e sua fundamentao em princpios ra-
cionais (Lefort, 1990). Ainda quando a Repblica se revele monrquica
durante um perodo (para Montesquieu o governo da Repblica pode
ser monrquico ou democrtico), o rei um representante e o povo
fonte da soberania.
As reexes de lsofos e polticos iusnaturalistas acerca da na-
tureza do lao social e dos fundamentos do Estado foram permeando
Susana Villavicencio
86
Filosofia poltica contempornea
pouco a pouco os discursos da sociedade em seu conjunto e legitiman-
do a noo universalista e republicana do cidado, em detrimento da
concepo particularista e patrimonial de delidade pessoa do rei.
O binmio homme et citoyen atravessa desde ento as bases da
cidadania moderna (Nicolet, 1992), e d forma ao novo regime pol-
tico. O cidado republicano um indivduo cuja vontade racional se
expressa na capacidade de juzo autnomo, e o regime republicano o
adequado a uma humanidade que ingressa na maioridade de idade.
Deste modo, a repblica moderna se inscreve em uma tradio
que remete polis grega, res publica romana, e experincia das re-
pblicas do renascimento italiano. Do mesmo modo que esta, volta a
sentar as bases da comunidade poltica na racionalidade, mas diferen-
temente do mundo clssico, no qual a comunidade poltica anterior
na ordem ontolgica em relao ao cidado, a modernidade antepe o
indivduo como fonte autnoma do poder. Esta fonte do poder poltico
no indivduo ser relevante para as duas perspectivas rivais da poltica
moderna, a republicana e a liberal. Se para a primeira os cidados so
caracterizados por sua participao na formao da vontade coletiva,
para a segunda os cidados representam uma esfera autnoma de ao
privada, cujos direitos e liberdades devem ser garantidos frente a qual-
quer forma de exerccio do poder. Estas bases loscas so a garantia
do funcionamento de um regime de liberdade poltica e da formao
do Estado de direito.
Sendo assim, se estes princpios, por sua universalidade, podem
referir-se noo de repblica de um modo geral, falar de tradies
republicanas implica o desdobramento singular de tais princpios na
histria poltica de cada nao. A histria da Repblica, freqentemen-
te confundida com a do Estado, se entretece, assim, com a do repu-
blicanismo como conjunto de valores, instituies e prticas que iro
surgindo na trama histrica e daro forma a uma tradio particular.
Nesse sentido, as tradies polticas nas quais se arraigam os
princpios inuem na formao singular de cada sistema poltico e ex-
plicam tambm os destinos diversos da repblica. As repblicas que no
sculo XIX foram os espelhos nos quais se olharam as novas repblicas
sul-americanas principalmente a Frana e os Estados Unidos com-
binam em suas prticas e suas instituies os princpios de liberdade
e igualdade de modo que do lugar a formas republicanas diferentes
entre si. A persistncia de atitudes prprias do Antigo Regime que To-
cqueville registra na nova repblica francesa, e a tendncia igual-
dade que retrata no esprito americano, abrem dois caminhos que se
87
bifurcam a partir dos mesmos princpios na construo de um sistema
poltico que persiste at hoje.
Para Claude Nicolet, a diferena entre os liberais e os republica-
nos franceses est presente na crena, compartilhada na sociedade, de
que o bem pblico resulta da adeso ativa de cada um na vida poltica
e no depende somente da sociedade civil (Nicolet, 1992: 33). Este o
sentido da virtude das repblicas antigas das quais fala Montesquieu,
ou da preeminncia do interesse geral sobre os interesses particulares
que Rousseau defende em O Contrato Social. Para o republicanismo,
embora haja uma coincidncia com a doutrina liberal na incorporao
da representao poltica nos textos constitucionais, o funcionamento
de um sistema poltico depende especialmente da vontade, da qua-
lidade e da moral dos homens que o compem. Deste modo, o regi-
me republicano no reconhece nenhuma diferena fundamental entre
governantes e governados. Portanto, a sociedade e o regime poltico
vo estar em uma relao estreita, sem que exista uma autonomia ver-
dadeira do social ou do econmico. Da tambm que a preocupao
pelas condies sociais do regime poltico sero prioritrias: no se
pode conceber um sistema republicano sem uma certa civilidade, sem
valores cvicos entre seus membros.
Seguindo a opinio de Odille Rudelle, podemos a esta altura ar-
mar que a Repblica mais do que um regime institucional. Enquanto
modelo poltico, representa no somente determinadas formas de aces-
so ao poder e de ao poltica ou de relao dos poderes pblicos entre
si. A Repblica, diz a autora, constitui uma espcie de ecossistema
social em que todos os elementos esto em uma estreita simbiose um
com o outro: representaes mentais, fundamentos loscos, refern-
cias histricas, valores, disposies institucionais, organizao e estru-
turas sociais, prtica poltica (Berstein e Rudelle, 1992: 7).
Esta idia de uma interdependncia dos elementos que consti-
tuem o republicanismo pode ser frutfera para analisar os avatares da
constituio de um regime republicano na Amrica Latina. Os ideais
loscos marcam fortemente os projetos polticos das elites republi-
canas. assim que o sonho losco de uma democracia republicana
reiterado e reformulado nos momentos fundacionais da nao, dando
lugar a um imaginrio da Repblica e a uma linguagem povoada de
motivos republicanos que operam como suporte das prticas polticas.
Em segundo lugar, porque ao diagnstico dos males latino-americanos,
presente nos discursos polticos do sculo XIX, consubstancial a idia
de uma interveno poltica de cima que ser considerada legtima,
Susana Villavicencio
88
Filosofia poltica contempornea
posto que para o republicanismo somente uma vontade poltica pode
gerar as condies de defesa do bem de todos.
UM LEGADO AMBIVALENTE
Os processos de constituio de uma ordem poltica republicana, uma
vez produzida a ruptura com o regime colonial, foram peculiares e
complexos nos pases da Amrica do Sul.
Como indicado no incio, a formao de uma base social de cida-
dos requerida para a consolidao da nao republicana foi durante
o sculo XIX um processo iniciado desde cima pelas elites ilustradas, e
em muitos casos resistido ou recebido com indiferena pela populao.
Estudos recentes sobre a formao das repblicas sul-americanas, como
os de Murilo de Carvalho (1987) para o caso do Brasil, Carmen Mc Evoy
(1997) para o Peru ou Fernando Escalante Gonzalbo (1998) para o Mxi-
co, coincidem em explicitar o divrcio existente entre as formas polticas
do iderio republicano e o funcionalismo real de um sistema poltico
que arrastava modalidades de ao remanescentes do colonialismo, ou
respondia a formas orgnicas de relao, os chamados hbitos do cora-
o, que constituam o cimento das sociedades latino-americanas.
Com efeito, se percorremos os textos dos lsofos e dos polti-
cos sul-americanos do sculo XIX, nos encontramos reiteradamente
com a declarada (im)possibilidade da repblica, devida, a seu prprio
juzo, aos obstculos com os quais a vontade de organizao republica-
na chocava cada vez mais pela ausncia de uma base social que desse
sustento a essa forma de governo. A expresso que Murilo de Carvalho
retira das notcias publicadas nos primeiros dias da Repblica no Bra-
sil para dar ttulo a seu livro Os Bestializados descreve o sentimento de
surpresa e de alienao do povo com respeito ao estabelecimento da
Repblica, mas expressa tambm a perplexidade e a desconana das
elites polticas diante da resistncia das massas nacionais s formas
modernas de organizao poltica. Esta rejeio no podia seno lhes
conrmar a inadequao do povo soberano ao lugar que lhe caberia
nas teorias do contrato social e no imaginrio da nao cvica.
Desse modo, estes problemas referentes instaurao da ordem
poltica na Argentina depois da independncia tm sido abordados rei-
teradamente pelos estudos histricos e historiogrcos. Neles predo-
mina uma perspectiva de interpretao dos processos polticos que tem
seu eixo de anlise nos diversos projetos que foram sendo concebidos
como resposta ao problema da fundao da nao e das formas que se
encontraram em sua implementao. Neste sentido, o imprescindvel
89
estudo de Natalio Botana sobre a tradio republicana na Argentina
mostra como as iniciais iluses destes mentores da ordem poltica fo-
ram se convertendo em denies cada vez mais prximas do conser-
vadorismo. Se em 1853 Sarmiento sonha em transplantar a Repblica
de Story e Tocqueville, uma repblica da virtude contida no municpio,
vinte anos mais tarde justica uma Repblica forte com o auxlio de
Thiers e Taine (Botana, 1997). Desse choque entre a teoria e a prti-
ca, nos diz o autor, nasceu uma concepo sarmientina da repblica
na qual convivem trs vertentes: a tradio liberal que chegou at ele,
transbordante de porvir; o fato inevitvel para Sarmiento de uma re-
pblica forte, construtora do monoplio da fora no Estado nacional,
que combate os restos ainda viventes daqueles personagens retratados
em Facundo, e por m impregnando tudo, a tradio mais longnqua,
que a idia moderna de liberdade criticava acerbadamente, de uma
repblica inspirada na virtude cvica do cidado consagrado coisa
pblica (Botana, 1997: 200).
Alberdi, devedor da frmula doutrinria de Guizot, ver a so-
luo na distino entre liberdade poltica e liberdade civil. Sendo
a liberdade poltica uma questo de capacidade, o problema de seu
estabelecimento na Argentina requeria uma frmula mista de go-
verno forte com direitos civis amplos e direitos polticos restringi-
dos, frmula de transio necessria para o desenvolvimento das
bases sociais da repblica. Do contrrio, essa liberdade poltica ge-
neralizada pelo sufrgio conformava uma soberania de fato inepta
para intervir como criadora de uma soberania de direito prevista na
constituio (Botana, 1997: 345).
Estas posturas que impregnavam o iderio republicano na Ar-
gentina carregando-o de ambigidades so reveladoras de uma tendn-
cia, pronunciada nas elites nacionais, a negar o povo real por sua in-
capacidade para preencher as determinaes de seu prprio conceito.
O paradoxo desta postura dos dirigentes identicados com os modelos
republicanos que, tendo partido da idia de emancipao do povo,
pela qual romperam com os laos coloniais, encontraram-se diante de
uma segunda batalha, aquela das cidades frente ao campo, ou da po-
ltica moderna republicana, democrtica e liberal frente aos hbitos
polticos herdados do colonialismo dos setores populares. Emancipar
ser ento, para estes atores, equivalente a civilizar, porque a incorpo-
rao de novos hbitos de pensamento e de ao cobrava neles o signi-
cado de pr-se altura da civilizao, liberando o povo dessas outras
correntes que os perpetuavam na situao de atraso e de anarquia.
Susana Villavicencio
90
Filosofia poltica contempornea
Os projetos de emancipao de Sarmiento e de Alberdi, para nos
referir a esses dois grandes artces de nossa nacionalidade, so contra-
postos
1
, mas ambos coincidiram na relao necessria entre sociedade
e regime poltico. Para ambos o regime republicano no podia subsis-
tir em uma sociedade isolada e desintegrada. A imagem do deserto
a povoar, a cultivar, a atravessar pelas diferentes vias do progresso,
ao mesmo tempo a descrio de uma realidade nacional e a metfora
do sentimento que experimentavam frente a uma situao que busca-
ram resolver por meio de diferentes propostas de polticas econmicas,
agrrias, populacionais, imigrao, de educao.
Mas a tradio republicana que nutriu com seu iderio muitos
destes projetos permanece marcada por esse hiato inicial que advm
do elitismo de seus fundadores.
Deste modo, o modelo poltico das elites que deu lugar a prti-
cas tuteladas de ao poltica e a uma cidadania restringida conforma
uma herana ambivalente no seguinte sentido: os valores do civismo,
civilidade e legalidade prprios do republicanismo, assim como a idia
de cidadania que deveria encarn-los, mantm-se referentes s prticas
da excluso da repblica restringida. Esta postura inicial tambm
est na base de princpios de legitimidade opostos cuja confrontao,
com distintos graus de violncia e intolerncia, baliza nossa histria
poltica. Em outros momentos fundacionais, como foi a dcada de 80,
a interrogante acerca das condies de possibilidade da repblica res-
surgir com a marca da cincia dada pela hegemonia positivista. As
massas imigrantes, convocadas como mo-de-obra necessria para o
crescente desenvolvimento industrial, haviam despertado com novas
inquietudes, agora de conotao social, e novas urgncias, o sono
reiterado de republicanizar a repblica.
O REGRESSO DO CIDADO
Atualmente podemos reconhecer uma revalorizao do republicanis-
mo no discurso poltico e no debate terico. A revalorizao desta
tradio poltica tem a nosso juzo uma signicao diferente daque-
la da repblica da excluso, e surge de motivos diferentes. Dois ele-
mentos conuem nesta constatao. Se nos momentos fundacionais
os problemas a serem resolvidos eram os que o delineava construir
1 conhecida a polmica mantida por Alberdi e Sarmiento sobre os projetos de desen-
volvimento para o pas aps a Organizao Nacional. A esse respeito ver Natalio Botana
(1997) e Tulio Halperin Donghi (1995).
91
uma repblica democrtica ou a passagem da repblica aristocrtica
a uma democrtica, hoje, tendo transitado por sucessivas quebras da
democracia e por no menos distores de seu sentido e de suas ins-
tituies, a questo que se coloca , antes, como fazer a democracia
mais republicana. O outro motivo responde ao que denominamos o
regresso do cidado, depois de vrios anos de predomnio de um
pensamento sociolgico que privilegiou modelos interpretativos do
poltico baseados nos determinantes estruturais.
H, com efeito, diversos retornos nas cincias sociais de um
discurso que pe o acento na dimenso de agncia (ODonnell, 2000;
2002) que subjaz idia de cidadania, ou melhor, que se interroga pelas
condies de constituio do sujeito poltico
2
na democracia. Em nos-
so pas, este regresso da tradio republicana e seus valores de civis-
mo, legalidade e responsabilidade est fortemente unido ao processo
de democratizao iniciado na dcada dos 80, que colocou a reexo
sobre a abertura do espao pblico e cidadania no centro do debate
poltico. Recentemente, luz da crise da poltica representativa e das
aes empreendidas por distintos atores sociais, redescobre-se uma ca-
tegoria no muito evidente em um pas com tradies populistas como
o nosso: a de sociedade civil. Todos estes motivos tem o denominador
comum de introduzir uma tradio que, sem dvida e de maneira com-
plexa, jogou um papel essencial na formao de nosso sistema poltico.
Recentes estudos sobre o republicanismo argentino, iniciados a partir
do campo dos estudos histricos
3
, tm o mrito de lanar nova luz so-
bre uma tradio poltica que havia permanecido velada aps a marca
do elitismo inicial.
Podemos acrescentar, tambm, que hoje so outros os males que
aigem a repblica, e que no contexto da crise de representao e de
retirada do Estado, a interrogao sobre o signicado do republicanis-
mo, de sua tradio ou de seus valores mostra uma estreita vinculao
com a preocupao pela manuteno de um espao pblico no qual
esta questo possa ser formulada sem enfrentamentos, sem predom-
nio de interesses privados ou corporativos nem exerccio do domnio
de um sobre outros. O que signica, ento, o sujeito republicano? Ou,
2 Para um maior desenvolvimento da constituio do sujeito poltico democrtico ver os
artigos que aparecem na compilao de nossa autoria, Quiroga et al. (1999). A esse res-
peito, os trabalhos recentes sobre a democracia de Etienne Balibar (1992) e de Jacques
Rancire (2000) revelam-se fundamentais para abordar esta temtica.
3 Referimo-nos aos trabalhos realizados por Hilda Sbato, Jorge Myers, Marcela Terna-
vasio e Pilar Gonzalez Bernaldo, entre outros.
Susana Villavicencio
92
Filosofia poltica contempornea
como dissemos no incio, se o cidado a base de uma democracia
republicana, quais so hoje as condies de uma cidadania ativa?
A PRIMAZIA DO SUJEITO
Podemos dizer que, no debate atual da losoa e da teoria poltica, o
republicanismo representa a armao de uma atitude tica na pol-
tica, uma vontade de defesa do interesse pblico frente ao domnio
dos interesses econmicos que hoje formam um verdadeiro cosmo-
politismo do dinheiro, ou melhor, a necessidade de fortalecer o Es-
tado de direito frente ao arrasamento dos direitos mais elementares
dos indivduos, a defesa da dimenso institucional e do contrapeso de
poderes frente usurpao do espao pblico da repblica e das novas
formas de despotismo de faces que dominam o mundo da poltica.
Mas, tambm, o apelo ao republicanismo retoma a reexo sobre as
condies de formao de uma sociedade civil cvica, do domnio do
interesse geral frente aos interesses particulares e do retorno de um
sujeito democrtico participativo.
Entendemos que na formao do Estado democrtico as tra-
dies modernas liberalismo, republicanismo e democracia con-
uram e no se deram somente no modo da contradio excludente
(ODonnell, 2000; 2002; Offe, 1990), decorre da que os cidados em um
Estado democrtico so ao mesmo tempo 1) a fonte ltima da vonta-
de coletiva, na formao da qual esto chamados a participar em uma
variedade de formas institucionais; 2) os sujeitos sobre os quais esta
vontade deve ser cumprida e cujos direitos e liberdades civis prescreve,
estabelecendo uma esfera autnoma da ao privada, social, cultural
e econmica, restringida autoridade estatal; e nalmente 3) clientes
que dependem dos servios, dos programas e dos bens coletivos provi-
dos pelo Estado para assegurar seus meios de sobrevivncia materiais,
morais e culturais e de bem-estar na sociedade (Offe, 1990).
As contradies que supem as formas institucionais nas quais
estes trs componentes se plasmam foram discutidas reiteradamente
na teoria poltica. Assim, por exemplo, a tenso existente entre a con-
cepo liberal da cidadania, para a qual esta supe um status ou um
conjunto de direitos vividos de forma antes positiva, e a concepo
democrtico-republicana, que supe pelo contrrio uma responsabili-
dade com o pblico assumida ativamente, que se renova na oposio
entre as noes de accountability e civility (Barber, 1984; 2000).
No entanto, o que o republicanismo aporta hoje so os elementos
loscos que do base autonomia do sujeito, sua capacidade de
93
juzo e de ao poltica, e que mostram a primazia da dimenso das
pessoas e o vnculo inescindvel dos direitos civis, polticos e sociais
para enfrentar os problemas na democracia. Nesse sentido a noo de
agncia reconhece a importncia da autonomia e da responsabilidade
do sujeito na democracia. A presuno de agncia constitui cada indi-
vduo em uma pessoa legal, um portador de direitos subjetivos. A pes-
soa legal faz eleies, e responsabilizada por elas, porque o sistema
legal pressupe que autnoma, responsvel e razovel um agente
(ODonnell, 2002: 19).
A noo de agncia pode, em nosso entender, abrir-se para dois
tipos de reexo. Por um lado, a noo de sujeito autnomo pessoa,
que est na base da agncia, supe uma capacidade de juzo poltico
que se acha seriamente comprometida nas situaes em que o avano
de diversas formas de poder privado arrasa as condies sociais de seu
exerccio. Aqui, os conceitos de direitos civis, sociais e polticos reve-
lam sua ntima vinculao. Com efeito, a retrao dos direitos sociais
que marginalizam setores cada vez maiores da populao no repre-
senta uma esfera isolada da capacidade de exerccio dos direitos pol-
ticos. O mesmo sucede com os direitos civis, sem os quais os cidados
vivem em uma situao de indefensibilidade e o Estado de direito se
torna uma declarao nominal. Deriva-se disto que as condies de
existncia de um sujeito poltico democrtico estaro referidas tanto
declarao de direitos que fazem uma sociedade democrtica como
existncia do estado e das garantias que oferea a seus cidados
4
.
O VALOR DEMOCRTICO DA CONFIANA
Um segundo tipo de reexo sobre as condies de um sujeito pol-
tico democrtico coloca a questo da conana no cidado, inver-
tendo a atitude inicial do republicanismo elitista que havia partido
da desconana nos setores populares. Uma participao ativa do
cidado na defesa do interesse pblico que hoje se reclama supe o
valor da conana.
A conana tem um desenvolvimento nas cincias sociais que vai
desde a anlise da atitude psicolgica bsica em relao ao outro que
nos permite a convivncia, at os comportamentos socialmente incor-
4 Alm do citado trabalho de ODonnell, que inicia uma nova e fecunda linha de investi-
gao, os trabalhos de Amartya Sen mencionados pelo autor e as anlises sobre a situa-
o dos direitos no marco da globalizao de Mireille Delmas Marty (2002) mostraram-
se para ns de grande interesse.
Susana Villavicencio
94
Filosofia poltica contempornea
porados que consentem o funcionamento de mecanismos complexos
como o mercado, o dinheiro ou os dispositivos tecnolgicos da vida
moderna. No entanto, referida dimenso poltica, a conana tem
outra estrutura. A conana fundamentalmente uma relao inter-
subjetiva que se desenvolve atravs de aes no tempo: a conana se
oferece, se aceita, se desenvolve. Da sua importncia na relao
dos atores polticos entre si e na formao de uma classe poltica (Lech-
ner, 1987: 64; Luhmann, 1996). Do mesmo modo, a conana intervm
na formao de um espao pblico democrtico, instaurando uma in-
tersubjetividade constitutiva da sociabilidade democrtica. Nesta pers-
pectiva se situa o artigo que Laurence Cornu dedica conana como
valor democrtico. A liberdade poltica, diz a autora, necessita para
existir de duas condies efetivas: uma lei que garanta as liberdades e
que proteja o espao da ao poltica [...] Mas parte a lei, a liberdade
necessita tambm de atos que a instituam de outra maneira, que a in-
terpretem e a mostrem vivvel, e que permitam sua transmisso: atos
de coragem, atos de conana
5
(Cornu, 1999: 48).
Uma primeira questo da conana concerne ento ao cidado,
e ser central nos debates polticos sobre o sufrgio. Com efeito, a uni-
versalizao do sufrgio, que talvez o dado mais importante da cida-
dania moderna, pe em questo a conana na capacidade do cidado
para manejar os assuntos pblicos. Da a importncia que concomitan-
temente a educao teve para os pensadores republicanos, a m de que
o cidado seja virtuoso e capaz de sacricar seu interesse particular ao
bem comum. Entre ns, Sarmiento foi um slido defensor da educao,
a qual concebia como garantia da emancipao e freio da tirania. Um
povo no educado permanecia, a seu juzo, fora do processo de civiliza-
o da humanidade. E por isso considera a educao popular a primeira
ferramenta de emancipao e a converte em sua paixo pessoal.
Mas a conana ambgua e est sempre exposta aos riscos que
lhe faz correr sua contrapartida, a desconana que se costuma mos-
trar particularmente realista. Tal como lembra o dito popular, a con-
ana mata o homem, e portanto no pode ser cega nem ingnua. No
mbito da poltica, para ser efetiva, a conana tem que estabelecer
controles; no se pode deixar ao azar. Cornu distingue em sua anlise
5 Seguimos nesta anlise as reexes de Laurence Cornu (1999). O conceito de sujeito que
desenvolve em seu trabalho sobre a conana vincula-se concepo do poltico iniciada
por Hannah Arendt. Para um desenvolvimento do tema da conana poltica ver o traba-
lho de Niklas Luhmann (1996) e as referncias ao tema de Norbert Lechner (1987).
95
duas formas do poltico referentes conana e desconana. Em
uma, a desconana gera uma forma do poltico em cujo extremo est
a sujeio absoluta, o domnio autoritrio; mas tambm a idia da
poltica dominada pelo especialista, de uma poltica afastada da cida-
dania e colocada fora de um espao de visibilidade e de debate. No
fundo, nesse espao de deciso reservado ao saber especializado tam-
bm est a desconana. Esta atitude est difundida na modalidade
gestionria do poltico imposta pelo modelo neoliberal, e que afasta a
deciso dos espaos deliberativos da democracia a favor dos saberes
reservados e tcnicos.
Na outra forma do poltico h um realismo da conana. Uma
conana que no seja ingnua, diz a autora, tem que conhecer as ca-
ractersticas daqueles fenmenos capazes de arruinar os direitos do
homem, de arrasar com eles, tem de conhecer seus efeitos e a possibi-
lidade de se produzirem e encontrar os meios de impedi-los (Cornu,
1999: 47). Impedir os impedimentos da liberdade, do mesmo modo que
Kant denia o direito como o obstculo ao obstculo da liberdade,
a funo das instituies. H instituies que devem delimitar as res-
ponsabilidades e organizar o poder de modo a limitar a possibilidade
de usurpao e prevenir os abusos. Estas seriam as instituies que
previnem horizontalmente o abuso do poder (separao de poderes);
outras instituies devem multiplicar as chances de condutas racionais
(educao). Tal o sentido da lei no discurso republicano: conser-
var os direitos e no somente proclam-los. Em um momento em
que a crise da repblica ameaa com o arrasamento das instituies,
uma reexo sobre o republicanismo supe tambm resgatar o sentido
da legalidade. por isso que pensamos que a questo da conana e
da desconana na fundao da repblica recebe renovado interesse.
Entre outras coisas, porque supe a defesa das instituies frente ao
abuso de poder ou a tentao do poder ilimitado dos governantes, mas
tambm alerta sobre o entusiasmo nas aes de massa.
Da anlise dos debates acerca da inveno da Repblica na Fran-
a, Cornu deduz uma mudana de campo da conana. Em uma teoria
do poder forte, os governados devem ter conana e obedecer queles aos
quais delegaram o poder. Mas aqui trata-se dos governantes que devem
responder o que lhes foi conado provisoriamente. A desconana, de sua
parte, tambm muda de campo, e no uma acusao hostil ou odiosa,
seno uma anlise crtica racional. A desconana no se traduz tampou-
co em uma apropriao da soberania por nenhuma assemblia nacional
que absolutiza igualmente o poder e o subtrai do juzo democrtico.
Susana Villavicencio
96
Filosofia poltica contempornea
Voltando, ento, pergunta inicial pelo sujeito poltico, podemos
responder do interior dessa tradio republicana: o sujeito o cidado
e a cidadania se traduz em uma intersubjetividade livre de domnio
ou em uma sociabilidade em conana, e se plasma na lei como ni-
ca garantia da continuidade dos direitos. Perguntar hoje pelo sentido
do republicanismo, inscrever-se nesta tradio, supe ressignicar
mais do que reproduzir estes princpios e dar-lhes um sentido na prti-
ca, porque para alm dos princpios, das instituies e de sua histria,
a vida democrtica julgada a partir de prticas concretas referidas
a uma certa capacidade de relacionar-se a propsito dos assuntos co-
muns. A vida democrtica depende de uma certa vida do debate pbli-
co a partir de modos cidados de entender e habitar o espao poltico.
BIBLIOGRAFIA
Balibar, Etienne 1992 Les frontires de la dmocratie (Paris: La dcouverte).
Barber, Benjamin 1984 Strong Democracy (California: University of
California Press).
Barber, Benjamin 2000 Un lugar para todos. Cmo fortalecer la democracia y la
sociedad civil (Buenos Aires: Paids).
Berstein, Serge et Rudelle, Odille 1992 Le Modle Rpublicain (Paris: PUF).
Botana, Natalio 1997 La tradicin republicana (Buenos Aires: Sudamericana).
Cornu, Laurence 1999 La conanza como cuestin democrtica em
Quiroga, Hugo; Villavicencio, Susana e Vermeren, Patrice (comps.)
1999 Filosofas de la ciudadana, sujeto poltico y democracia (Rosario:
Homo Sapiens).
De Carvalho, Jos Murilo 1987 Os bestializados. O Rio de Janeiro e a Repblica
que no foi (So Paulo: Companhia das Letras).
Delmas Marty, Mireille 2002 Les systmes de droit entre globalisation et
universalisme des droits de lhomme em Barret-Ducrocq, Franoise
(ed.) Quelle Mondialisation? (Paris: Academie Universelle des Cultures/
Grasset).
Gonzalbo, Fernando Escalante 1998 Ciudadanos imaginarios (Mxico: El
Colegio de Mxico).
Halperin Donghi, Tulio 1995 Una Nacin para el desierto Argentino (Buenos
Aires: Centro Editor de Amrica Latina).
Halperin Donghi, Tulio 1998 Para qu la inmigracin? em El espejo de la
historia (Buenos Aires: Sudamericana).
Ingenieros, Jos 1957 La evolucin de las ideas argentinas (Buenos Aires:
Elmer Editorial).
97
Lechner Norbert 1987 El realismo poltico: una cuestin de tiempo em
Lechner, Norbert (ed.) Qu es el realismo en poltica? (Buenos Aires:
Catlogos).
Lefort, Claude 1990 Democracia y advenimiento de un lugar vaco em La
invencin democrtica (Buenos Aires: Nueva Visin).
Luhmann, Niklas 1996 Conanza (Barcelona: Anthropos).
Mc Evoy, Carmen 1997 La utopa republicana. Ideales y realidades en la
formacin de la cultura poltica peruana 1871-1919 (Per: Ponticia
Universidad Catlica del Per).
Nicolet, Claude 1992 La Republique en France (Pars: Seuil).
ODonnell, Guillermo 2000 Teora democrtica y poltica comparada em
Desarrollo Econmico (Buenos Aires) Vol. 39, N 156.
ODonnell, Guillermo 2002 Human developement, human rights and
democracy. Taller Calidad de la democracia y desarrollo humano en
Amrica Latina, PNUD, Documento de Trabajo 1.
Offe, Claus 1990 Tesis sobre la teora del Estado em Contradicciones en el
Estado de bienestar (Mxico: Alianza).
Quiroga, Hugo; Villavicencio, Susana e Vermeren, Patrice (comps.) 1999
Filosofas de la Ciudadana, sujeto poltico y democracia (Rosario:
Homo Sapiens).
Rancire, Jacques 2000 Citoyennet, culture et dmocratie em
Elbaz, Mikhal et Helly, Denise Mondialisation, citoyennet et
multiculturalisme (Paris: LHarmattan/Universit de Laval).
Susana Villavicencio
99
Javier Amadeo* e Sergio Morresi**
Republicanismo e marxismo
PADRES CIVILIZATRIOS E PROJETOS POLTICOS
O presente trabalho pretende esboar algumas intuies tanto descriti-
vas como normativas que possam ser adequadas para pensar a relao
entre as transformaes sociais e polticas de nossa poca e trs dos
mais importantes projetos polticos da modernidade, o liberalismo, o
republicanismo e o marxismo.
Gostaramos de retomar a idia expressa por Gabriel Cohn
(2001) de que nos encontramos em um umbral civilizatrio, isto ,
no limite de passagem de um padro civilizatrio a outro. Para Cohn o
atual modelo civilizatrio proposto pelo capitalismo esgotou-se, e aca-
bada a fora civilizatria do capitalismo o que resta deste sua fase de
barbrie, que se expressa contemporaneamente atravs da indiferena,
ou como a chama o autor da indiferena estrutural, entendendo-a
como uma atitude dos agentes centrais da produo capitalista, uma
atitude que implica a falta de responsabilidade com respeito aos efeitos
* Licenciado em Cincia Poltica pela Universidade de Buenos Aires (UBA). Doutor em
Cincia Poltica pela Universidade de So Paulo (USP).
** Licenciado em Cincia Poltica pela Universidade de Buenos Aires (UBA). Candidato
a Doutor em Cincia Poltica pela Universidade de So Paulo (USP).
100
Filosofia poltica contempornea
sociais de sua ao. Isto possvel graas aquisio de prerrogativas
por parte das pessoas jurdicas empresas, basicamente que hoje tm
tantos direitos como os cidados (provavelmente mais em termos efe-
tivos, devido ao respaldo econmico que sustenta suas exigncias), mas
sem a contrapartida das obrigaes. Em virtude das grandes transfor-
maes do capitalismo atual, os monoplios e as grandes empresas
adquiriram uma importncia fundamental na arena das decises fun-
damentais da vida econmica e social. A massa de recursos com que
contam as grandes empresas transnacionais faz com que suas decises
possam transformar-se em ameaas mortais para a estabilidade ma-
croeconmica e polticas das naes. As decises de investimento dos
grandes conglomerados tm um efeito direto sobre o destino, inclusive
a vida, de milhes de pessoas. A globalizao permitiu que as decises
privadas das empresas tenham uma repercusso imediata, funesta
em muitos casos, sobre o pblico. A indiferena estrutural implica a
destruio dos laos sociais, e por m, o ponto extremo da negao da
civilidade. A crise civilizatria do capitalismo tambm faz sentir seus
efeitos desestruturantes na esfera da poltica, reduzindo esta luta dos
interesses privados.
Ainda que de certo modo a restrio do espao poltico seja um
fenmeno concomitante ascenso da burguesia, somente com a glo-
balizao entendida como a fase atual do capital internacionalizado
enquadrado em um contexto de capitalismo neoliberal que a poltica
se v limitada a pouco mais do que a busca inescrupulosa de ganhos ao
nvel global, a um conjunto de grandes negcios e negociatas onde os
povos no podem, no querem, nem tm porque se reconhecer (Gr-
ner, 2002). Esta degradao da poltica ao jogo de interesses privados
se completa com o mais insidioso e macabro de todos os ideologemas
da ps-modernidade: a democratizao global, cuja idia de alcanar
a cidadania global viu-se tristemente desmentida pelos fatos. Os ele-
mentos anteriores articulam-se com a privatizao absoluta da prtica
poltica, a qual se v reduzida a um espao de consumo entre diversas
mercadorias polticas, cada vez mais indiferenciadas, e onde assisti-
mos reduo do indivduo e do cidado gura do consumidor.
Deslocando a cidadania, os mega-organismos econmicos pri-
vados transnacionais tomaram o papel protagnico nas decises dos
governos e dos Estados neoliberais. Estes fatos, como sustenta Marile-
na Chau no seu artigo neste volume, indicam que estamos diante da
privatizao da polis e da repblica. O efeito fundamental dessa priva-
tizao a despolitizao da vida social. Assim, continua a autora, a
101
privatizao do espao pblico e a despolitizao so sinais alarmantes
de que podemos estar diante do risco do m da poltica.
Outro dos elementos centrais onde se expressa a crise civilizatria
do capitalismo nas violentas irrupes de fundamentalismo religioso,
nacional ou tnico, os quais se transformaram no grande perigo da ci-
vilizao ocidental, ou seja, das potncias centrais benecirias da glo-
balizao. Como se esses fenmenos, arma Grner (2002), fossem um
inesperado e inexplicvel raio caindo em um dia sereno, e no um estrito
ainda que perverso produto da dialtica de expanso mundial, que vitimi-
za regies que no podem ser incorporadas ao subproletariado mundial
de forma ordenada. Os chamados fundamentalismos no so nenhuma
regresso a formas culturais arcaicas e superadas pela modernidade; pelo
contrrio, so a conseqncia necessria da fase de acumulao do ca-
pitalismo e das formas de sociabilidade propostas por este.
Antes da crise civilizatria do capitalismo contemporneo, o
desao que nos prope Gabriel Cohn (2001), e que gostaramos de
retomar, consiste em aprofundar a democracia, no sentido da amplia-
o das reas de relevncia na sociedade para o debate, recolocando
fundamentalmente o tema da economia poltica na discusso, e en-
fatizando o tema da responsabilidade. Em suma, hora de restabe-
lecer os laos entre democracia e civilizao, revalorizando a gura
da cidadania e exigindo que as realizaes da democracia estejam
altura das promessas intrnsecas de seus conceitos. A tarefa propor
de um modo consciente e comprometido os contornos de uma for-
ma de relacionamento social que no seja a mera reiterao daquela
atualmente hegemnica. A abordagem que propomos para repensar
os enormes desaos colocados pelo momento atual passa por uma re-
valorizao da poltica como lugar para pensar a emancipao e pro-
por uma forma de sociabilidade civilizada, ou seja, uma sociabilidade
mais republicana. Nossa proposta que a sada do atoleiro passa por
restabelecer no pblico aquilo que foi privatizado, e fortalecer o es-
pao pblico e a ao poltica para poder repensar uma relao entre
economia e poltica, onde a primeira esteja subordinada segunda,
ou seja, s decises de um sujeito coletivo.
O ESGOTAMENTO DA FORA CIVILIZATRIA DO PROJETO POLTICO LIBERAL
Em um breve estudo no qual se prope a expor o liberalismo, John
Gray (1994) argumenta que embora seja impossvel explic-lo, pois ele
mesmo carece de uma essncia ou natureza que o dena, possvel tra-
ar um esquema a partir da identicao dos traos que distinguem a
Javier Amadeo e Sergio Morresi
102
Filosofia poltica contempornea
tradio. No entanto: como separar o caracterstico do acidental? Como
podemos escolher dentre as to numerosas idias e prticas reputadas
como liberais aquelas que so necessrias e sucientes para falar de
liberalismo? Norberto Bobbio j havia assinalado esta diculdade. De
acordo com o politlogo italiano, as diculdades que experimentamos
com nosso objeto se devem em grande parte a que o liberalismo no
uma ideologia que deve ser contemplada de acordo com um grande
autor e seus seguidores ou detratores (como at o presente o caso
do socialismo com Marx), seno levando em considerao uma ampla
multiplicidade de idias que vo desde Locke at Tocqueville, de Kant a
Stuart Mill e de Dewey a von Hayek. Assim, pois, trata-se de encontrar
uma caracterizao o sucientemente ampla de modo a serem inclu-
das nela idias dessemelhantes (algumas vezes at o ponto da contra-
dio), mas que ao mesmo tempo seja o sucientemente restritiva de
modo a delimitar realmente algo e no se manter aberta a tudo. Este
liberalismo bsico, arma Bobbio, poderia ser denido assim: Como
teoria econmica, o liberalismo partidrio da economia de mercado;
como teoria poltica simpatizante do Estado que governe o menos
possvel ou, como se diz hoje, do Estado mnimo (reduzido ao mnimo
indispensvel) (Bobbio, 1991: 89).
A assero de Bobbio nos parece certeira porque cobre quase
completamente nossas expectativas de incluso e excluso. Certamente
no todos os autores reconhecidos como liberais so defensores do li-
vre mercado em sentido estrito, e alguns deles nem sequer chegaram a
conhec-lo na forma que hoje o consideramos, como o caso de Locke.
No entanto, as excees so to contadas que nos parece que a frase
do italiano no perde por isso nada de sua agudeza. Por outro lado,
ao dizer que o liberalismo partidrio de um Estado mnimo, Bobbio
acerta em cheio: h uma fronteira que o Estado liberal no deveria
jamais atravessar, o livre mercado. No entanto, no se conhece socie-
dade liberal alguma na qual o Estado no interra em maior ou menor
medida no mercado (destruindo monoplios naturais, provendo bens
pblicos no puros, etc.), e so poucos os lsofos polticos que se atre-
vem a sustentar a todo custo uma idia semelhante. Do mesmo modo,
notrio que alguns estados respeitaram o mercado, adquirindo eles
mesmos um tamanho descomunal, como o caso dos fascismos.
Sendo assim, se partimos da base de que o liberalismo no ,
como pretendem alguns de seus defensores, uma idia a-histrica
seno uma cosmoviso enraizada em um certo perodo, poderemos
perceber que h limites recorrentes que justamente esto alinhados
103
com os dois que acabamos de mencionar mais acima. Assim, quando
dissermos que o liberalismo defensor da economia de mercado e
do estado mnimo, o que queremos dizer que o liberalismo protege
a propriedade privada, incluindo a propriedade privada dos meios
de produo; ergo, protege a existncia de um mercado de trabalho;
procura um Estado de poderes limitados (Estado de direito ou cons-
titucional); e inclina-se por um Estado de funes limitadas (Estado
mnimo na acepo moderna)
1
.
Os problemas inerentes ao paradigma liberal j haviam sido
advertidos por Hegel, mas foi Marx quem mais longe levou a crtica,
atacando no s os efeitos do modelo como tambm seus princpios
radicais, suas razes mais proticas e prometedoras.
Em A questo judaica, Marx aborda a relao entre a emanci-
pao poltica e a emancipao humana. O limite da emancipao
poltica (liberal) se manifesta no fato de que o Estado pode livrar-se
de seus limites sem que o homem se liberte realmente, converten-
do-se o primeiro em uma espcie de mediador entre o homem e sua
liberdade. Todas as premissas da vida egosta da sociedade civil per-
manecem de p. Onde o estado poltico alcanou seu verdadeiro de-
senvolvimento, o homem leva (no plano do pensamento, mas tambm
no plano da realidade) uma vida dupla: uma celestial e outra terrena.
Por um lado, a vida na comunidade poltica na qual se sente parte de
um ser coletivo; por outro, a vida na sociedade civil, onde atua como
um particular e considera-se a si mesmo e a seus congneres como
meios, degradando-se e convertendo-se no joguete de poderes que lhe
parecem estranhos e indecifrveis.
Na sociedade burguesa, a vida poltica s aparncia, exceo
momentnea da vida essencial da sociedade mercantil. Deste modo,
torna-se compreensvel a crtica de Marx liberdade garantida na De-
clarao dos Direitos do Homem e do Cidado como a liberdade pr-
pria do homem concebido maneira de uma mnada isolada. Nesta
1 O liberalismo uma doutrina do estado limitado tanto em relao s suas funes
como a seus poderes. A noo comum que serve para representar o primeiro o estado
de direito; a noo comum que serve para representar o segundo o estado mnimo.
Embora o liberalismo conceba o Estado tanto como estado de direito como estado mni-
mo, pode se dar um estado de direito que no seja mnimo (por exemplo, o estado social
contemporneo) e tambm se pode conceber um estado mnimo que no seja estado de
direito [como o Leviat hobbesiano] que ao mesmo tempo absoluto no mais amplo
sentido da palavra e liberal na economia. Enquanto o estado de direito se contrape ao
estado absoluto, o estado mnimo se contrape ao mximo (Bobbio, 1991: 17).
Javier Amadeo e Sergio Morresi
104
Filosofia poltica contempornea
linha de pensamento, o direito do homem liberdade no se baseia na
unio do homem com o homem, seno, pelo contrrio, na separao
do homem em relao a seus semelhantes. A liberdade o direito a
essa separao, o direito de um indivduo delimitado, limitado a si
mesmo. Assim, a aplicao prtica do direito humano liberdade o
direito humano propriedade privada. Para Marx o direito de proprie-
dade privada o mais importante da sociedade liberal, pois implica o
direito do agente a desfrutar de seu patrimnio e dispor arbitrariamen-
te dele, independente da sociedade, sem responsabilidade diante dela.
A liberdade individualista e sua aplicao liberal constituem o
fundamento da sociedade burguesa; uma sociedade que faz com que
todo homem encontre no outro no a realizao de sua liberdade, mas
seu limite intransponvel.
A tradio liberal descansa em um indivduo que se erige em pe-
dra fundamental de toda ordem social. O estado, o mercado e a comu-
nidade so entidades que se apresentam como um produto da interao
dos agentes. No entanto, para que estes organismos supraindividuais
sejam aceitos como legtimos, o liberalismo exige que os particulares
que os conformam atuem livremente, isto , de acordo com os padres
herdados das formulaes hobbesianas, sem interferncia externa.
Esta noo da liberdade individual (liberdade moderna ou nega-
tiva, de acordo com a clssica formulao de Constant retomada por
Berlin) habita claramente no espao privado, no interior moral de cada
pessoa fsica e no econmico de cada pessoa jurdica. justamente
este desdobramento em direo ao privado o que possibilitou o sur-
gimento de um sujeito que, diferentemente daquele da repblica ou
daquele projetado pelo socialismo, se satisfaz excluindo mais do que
incluindo seus congneres. Isto cruelmente patente nas verses deon-
tolgicas do liberalismo cujo caso paradigmtico provavelmente o
libertarianismo de Nozick mas tambm transparece em algumas teo-
rias conseqencialistas como tambm o , para tomar outro exemplo
contemporneo, a escola de Virginia.
Embora em princpio a idia seja discutvel, cremos, seguindo
as formulaes de Marx, que preciso partir do individualismo para
chegar a uma concepo de liberdade individual moderna ou negativa
(atomstica em seu extremo, ainda que nem sempre se tenha apresen-
tado assim). Por sua vez, esta noo de liberdade necessria para
oferecer economia de mercado e ao estado que essa sociedade requer
fundamentos e defesas. Com efeito, difcil imaginar uma base distinta
ao indivduo para o esquema liberal e sua noo de racionalidade.
105
No entanto, isto no um aspecto que caiba criticar a priori.
Cabe aqui uma passagem de Dunn:
Ter individualidade ter algo distintivo e ser um indivduo no
outra coisa a no ser o destino humano comum. Mas ser indi-
vidualista abraar esse destino com uma exaltao suspeitosa:
fazer da necessidade um vcio. Ter individualidade ao menos
como aspirao no seno fazer o que nos prprio [...] Mas
ser individualista algo que tende a no considerar os interesses
dos demais ou negar a presena de todo compromisso afetivo
fundamental para com todos. Ter individualidade uma cate-
goria quase puramente esttica e, por ltimo, uma categoria
armativa. Ser individualista claramente uma categoria moral
com uma forte deriva para o negativo (Dunn: 1996, 55).
Com isto queremos dizer que, ao armar que o modelo liberal est
esgotado, no estamos nos referindo a que seu fundamento, o conceito
de indivduo, no requeira nossa ateno. Referimo-nos, em compen-
sao, a que a forma que adquiriu o individualismo, seja ele moderado
ou extremo, nos faz girar recorrentemente sobre a idia de liberdade
negativa e, em conseqncia, sobre uma organizao social na qual
liberdade e propriedade cam ao nal equiparadas, de tal maneira que
um homem mais livre quanto mais propriedades ele tem ou quanto
menos propriedades tm seus congneres
2
.
Certamente, a condio de proprietrio para o exerccio da li-
berdade quase to antiga como a teoria poltica: aquele que no
dono de seu corpo (escravo) no pode ser livre; quem no pode es-
tender sua propriedade para alm de suas mos (servo) no pode ser
livre; quem no pode plasmar sua propriedade em uma obra acabada
e no pode vend-la (proletrio) no pode ser livre. E dado que um
povo livre est formado de homens livres, este somente pode ser con-
formado por aqueles que tenham uma igual propriedade e, portanto,
uma igual liberdade.
Embora aqui nos encontramos com uma verso ridiculamente
reducionista da liberdade, teremos que aceitar esse reducionismo, se-
quer como um momento dialtico da liberdade, pois como bem adver-
tiu Hegel em sua Filosoa do direito, as liberdades negativas precisam
2 Isto salta aos olhos nos autores neoliberais, mas tambm pode ser rastreado em algu-
mas obras de pensadores do liberalismo igualitrio. Veja-se como exemplo a crtica que
Anderson (2002) faz a Rawls.
Javier Amadeo e Sergio Morresi
106
Filosofia poltica contempornea
dele e de sua institucionalizao. Alm disso, por sua vez, essas liber-
dades negativas no so a negao, mas sim o pressuposto da liberdade
positiva, comunal ou coletiva em um moderno mundo democrtico.
Como arma Wellmer: a liberdade negativa muda seu carter quando
se converte em preocupao comum. Pois ento no s queremos cada
um nossa prpria liberdade, como tambm perseguimos um mximo
de autodeterminao para todos (1996: 73).
Desse modo, caberia perguntar por que seria necessrio mudar
de paradigma para chegar idia de liberdade positiva. No h pos-
sibilidade de defender o indivduo dentro do liberalismo sem cair no
individualismo negativo assinalado mais acima por Dunn?
Por acaso o liberalismo revisionista ou o contemporneo libera-
lismo igualitrio no representam vias no totalmente exploradas para
se chegar meta de uma sociedade mais livre, igualitria e democrti-
ca? Cremos que no. No s porque empiricamente isto no tem sido,
seno tambm porque logicamente no teria por que s-lo.
Na medida em que o liberalismo continue baseando-se em um
indivduo possuidor dos meios de produo, e ento em uma distribui-
o crescentemente desigual da propriedade e da liberdade, mantendo
sempre a equiparao de ambas, parece impossvel realizar a passagem
do individualismo proteo dos indivduos dentro de uma comuni-
dade positivamente livre. Certamente h interessantes argumentos em
contrrio, mas cabe ento perguntar at que ponto estas idias esto
dentro do projeto liberal e quanto devem ao republicanismo (Pettit,
1999: 124) ou ao iderio marxiano (Bidet, 1993: 108-125).
O PROJETO REPUBLICANO: A POLTICA COMO LUGAR DA EMANCIPAO
Ao longo da histria moderna aparecem o que se pode chamar de res-
surgncias maquiavelianas, que devem ser vistas como a emergncia
de uma verdadeira corrente de pensamento poltico e losco. Esta
sugesto apresentada por Pocock em sua sugestiva obra The machia-
vellian moment (1975), consagrada ao momento maquiaveliano que
sacudiu a apresentao clssica da losoa poltica moderna, at en-
to inteiramente dominada pelo modelo jurdico-liberal, revelando a
existncia de outro projeto poltico, cvico, humanista e republicano.
Retomando o clssico texto de Hans Baron sobre o humanismo cvi-
co, Pocock traz luz outra losoa poltica moderna, que se estende
desde o humanismo renascentista italiano at a revoluo americana,
passando por Maquiavel e Harrington. Esta losoa poltica arma a
natureza essencialmente poltica do homem e atribui como nalidade
107
da poltica no mais a diviso restringida da defesa dos direitos indivi-
duais, seno a execuo dessa politicidade bsica do homem na forma
de participao ativa, enquanto cidado, na esfera pblica.
O humanismo cvico, arma Baron (1966), produz uma ruptu-
ra signicativa nas linhas existentes de pensamento poltico. No novo
pensamento poltico, a repblica tinha tempo, porque no reetia mais
a simples correspondncia com uma ordem natural eterna; era orga-
nizada de forma diferenciada; e uma mente que aceitasse a repblica
e a cidadania como realidade principal devia comprometer-se com a
separao implcita entre ordem poltica e ordem natural. A Repblica
era mais poltica do que hierrquica; era organizada para alcanar a
soberania e a autonomia e, portanto, sua individualidade e sua particu-
laridade. Criadora potencial da histria, a repblica , simultaneamen-
te, subtrada eternidade, exposta crise, transitria; ainda mais, no
universal, ela se manifesta como uma comunidade histrica especca.
A forma-repblica, que resulta da vontade de criar, distante do cristia-
nismo, uma ordem mundana secular, submetido contingncia do
acontecimento; est por isso exposta nitude temporal, prova do
tempo. A opo da repblica a nica forma de politia que permite
satisfazer as exigncias do homem animal poltico, destinado a se de-
senvolver no vivere civile, e as exigncias de uma historicidade secular.
Trata-se, graas escolha da repblica, de conceber a comunidade po-
ltica longe da dominao e do acesso temporalidade prtica. Contra
a rejeio da temporalidade, prpria do Imprio ou da Monarquia uni-
versal, a idia republicana est ligada a uma assuno do tempo, e mais
ainda de uma ao humana que, desdobrando-se no tempo, trabalha
efetivamente para separar a ordem poltica da ordem natural.
Desde os tempos de Plato e Aristteles houve uma discusso
interminvel entre os mritos de algum dedicar-se a uma vida ativa
na atividade social (vita ativa) ou a viver em uma forma filosfica
buscando o puro conhecimento (vita contemplativa). O pensamen-
to florentino inclinou-se em favor da vita ativa, especificamente
do vivire civile, uma forma de vida dedicada aos temas cvicos e
atividade da cidadania. Um praticante da vita contemplativa pode
escolher contemplar as hierarquias imutveis do ser e encontrar
seu lugar na ordem eterna sob um monarca, o qual cumpria o pa-
pel de guardio do cosmos divino; mas um expoente da vita ativa
est comprometido com a participao e a ao em uma estrutura
social que graas conduta individual torna possvel a cidadania.
Assistimos neste perodo, pois, a uma redescoberta, por um lado, da
Javier Amadeo e Sergio Morresi
108
Filosofia poltica contempornea
histria e da possibilidade de que os homens faam a histria; e por
outro, a redescoberta da cidadania (Baron, 1966).
O humanismo cvico, enquanto continuador da tradio ate-
niense, declarava que a comunidade poltica era auto-suciente, isto
, universal, e concebeu a atividade de governar no como uma tarefa
que implicava a racionalidade isolada de um governante especializa-
do, seno como uma conversao perptua entre cidados compro-
metidos com a comunidade. Desta forma, os particulares, mediante
a participao na comunidade poltica, podiam alcanar a universali-
dade. Na escala dos valores construda pelos autores do humanismo
cvico, a universalidade aparecia como imanente participao na
rede da vida social e da linguagem. A associao entre cidados era
um bem necessrio, colocado no mais alto da escala de valores; era
um pr-requisito para alcanar a universalidade, recuperando desta
forma a tradio grega e aristotlica que enfatizava que a poltica era
a forma mais alta de associao humana. A base losca do vivere
civile estava na concepo de que era na ao, na produo de obras
e feitos de todos os tipos, que a vida do homem alcana a estatura
daqueles valores universais que lhe so imanentes. O homem ativo
arma-se a partir do compromisso total de sua personalidade na vida
social, coisa que o homem dedicado vita contemplativa s pode co-
nhecer atravs da introspeco interior. A ao permite ao homem
alcanar a universalidade, e a poltica a forma de ao que possui a
universalidade (Pocock, 1975).
Os homens do humanismo descobriram em Aristteles, par-
ticularmente em sua obra A Poltica, um lsofo poltico criador de
um corpo de pensamento sobre a cidadania e a relao desta com a
repblica; e deste ponto de vista o pensamento aristotlico revela sua
importncia para os humanistas e pensadores italianos, em busca dos
meios para reivindicar a universalidade e a estabilidade do vivire civile.
A partir da separao entre ao e contemplao, Aristteles concebe
a atividade na qual o cidado governa e governado como a forma
mais alta da vida humana; algum em uma comunidade de iguais que
tomam decises que afetam a todos. O indivduo participa na determi-
nao do bem geral, beneciando-se a partir dos valores obtidos pela
sociedade e, ao mesmo tempo, contribuindo mediante sua participao
pblica na manuteno dos valores sociais. Uma vez que a atividade
poltica est relacionada com o bem universal, ela mesma um bem
de ordem superior a outros bens, e o indivduo, desfrutando de sua ci-
dadania, desfruta de um bem universal, relaciona-se com a universali-
109
dade. A cidadania uma atividade universal e a polis uma comunidade
universal (Aristteles, 1989). O universal e o particular encontram-se
no mesmo homem. A poltica, do mesmo modo que o pensamento de
Marx, constitui-se desta forma no elo que permite ao homem elevar-se
para alm da vida cotidiana e alcanar a universalidade. A repblica
democrtica, entendida enquanto relao poltica e democrtica entre
os homens a forma poltica apropriada para que o homem se reen-
contre com seu ser genrico.
Como arma Pocock (1975), a teoria da polis foi fundamental
na teoria constitucional das cidades italianas e dos humanistas ita-
lianos. No caso das comunas italianas oferecia um paradigma ade-
quado, pois explicava como um corpo poltico, concebido como uma
cidade composta por pessoas interativas e tambm por normas uni-
versais e institucionais tradicionais, podia ser mantido unido. Para os
humanistas cvicos, partidrios do vivere civile, a teoria aristotlica
sobre a polis oferecia uma elaborao indispensvel para seus obje-
tivos polticos: Aristteles descrevia a vida social humana como uma
universalidade de participao em vez de uma universalidade de con-
templao. Os homens particulares e os valores particulares, por eles
perseguidos, se encontravam na cidadania, isto , em uma prtica co-
mum compartilhada mediante a qual pudessem buscar e desfrutar do
valor universal de atuar promovendo o bem comum, e da proceder
busca dos bens menores.
Obviamente a teoria desenvolvida pelos humanistas cvicos im-
plicava um alto preo, na medida em que impe altas demandas e
altos riscos. A repblica devia ser uma comunidade de cidados e de
valores, caso contrrio corria-se o risco de que uma parte governasse
em nome do todo. A cidadania pensada como a atividade central da
vida social, uma atividade que implicava um alto custo, mas ao mes-
mo tempo altos ganhos, no s desde o ponto de vista da totalidade,
seno tambm benefcios em termos de realizao do indivduo, de
realizao na comunidade.
O papel central das formas de sociabilidade cvicas tambm
recuperado por Maquiavel, inclusive em O Prncipe, sua obra menos
republicana. Nesta obra o orentino analisa a relao da virtude dos
cidados com a estabilidade da politia e vice-versa. Poltica e moral-
mente o vivire civile a nica defesa contra a fortuna, e um pr-requi-
sito da virtude no indivduo. Na concepo de Maquiavel, se o m do
homem a cidadania, sua natureza original se desenvolve, de forma
irreversvel, mediante a experincia do vivere civile. Podemos ver na
Javier Amadeo e Sergio Morresi
110
Filosofia poltica contempornea
concepo maquiaveliana, especialmente nos Discursos, uma sociolo-
gia da liberdade baseada fundamentalmente na noo do vivere civile,
e tambm no conceito de cidado armado como fundamento de uma
repblica livre, ou seja, do papel das armas na sociedade. Como ar-
ma Pocock (1975), o pensamento de Maquiavel pode ser relacionado
com a tradio de Savonarola, e neste ponto a noo de virtude cvica
toma um signicado mais profundo. A virtude (e o m) do homem
ser um animal poltico; a repblica a forma na qual o homem pode
desenvolver sua prpria virtude, e a funo da virtude impor forma
matria fortuna. A repblica , em outro sentido, uma estrutura da
virtude: em uma forma poltica na qual a habilidade de cada cidado
de colocar o bem comum diante do prprio, de forma tal que a busca
do bem comum se transforma em uma pr-condio do bem de cada
um, a virtude de cada homem salva a dos outros da corrupo, e da
presena da fortuna.
A repblica, entendida enquanto relao poltica entre cidados,
busca a realizao da totalidade, da virtude do todo, a partir da inter-
relao entre seus cidados.
O momento maquiaveliano pensado como o movimento pelo
qual pensadores e sujeitos polticos trabalham na reativao da vita
activa dos antigos, mais precisamente do bios politikos, vida consa-
grada s coisas polticas, em oposio vida contemplativa. Esta re-
abilitao da vida cvica, ou seja, da vida na cidade e para a cidade,
repousa na armao aristotlica segundo a qual o homem um ani-
mal poltico que no pode alcanar sua excelncia seno em e pela
condio de cidado.
Esta descoberta da poltica implica uma revoluo mental
em relao ao homem medieval: enquanto este ltimo se vale da
razo para que se revelem a ele. Graas contemplao, as hierar-
quias eternas de uma ordem imutvel, no seio da qual estava desti-
nado a um lugar xo. O partidrio do humanismo cvico, enquanto
operava um deslocamento da vida contemplativa para a vida ativa,
descobria uma nova congurao da razo, suscetvel, pela ao, de
criar uma nova ordem humana, poltica, dando uma forma ao caos
do universo da contingncia e da particularidade. Orientado a uma
tomada de decises em comum, esse novo modo de existncia cvica
reconhecia a natureza verbal do homem, e tendia a conceber o aces-
so verdade como fruto dos intercmbios livres nos quais a retri-
ca, to presente na cidade antiga, retomava seu papel. Por ltimo,
o partidrio do humanismo cvico concebia a essncia do homem
111
como fundamentalmente poltica, e esta como a forma de alcanar
a universalidade (Pocock, 1975; Abensour, 1998).
Como armamos no comeo, nossa vontade tentar resgatar
a grande tradio do pensamento republicano, mas a partir de uma
abordagem que tambm recupere a viso da poltica elaborada por
Marx. Neste sentido buscamos entender os textos polticos de Marx
como uma obra de pensamento, ou seja, uma obra orientada por uma
inteno de conhecimento, e para a qual a linguagem fundamental.
Na linha traada pelo trabalho de Miguel Abensour (1998), nossa per-
gunta busca indagar uma dimenso pouco sistematizada da obra de
Marx, uma interrogao losca sobre o poltico, sobre a essncia do
poltico, fortemente acentuada nos escritos do perodo de 1842-1844
3
,
mas que no continua com a mesma intensidade no resto da obra do
lsofo alemo.
Esta dimenso pode ser resgatada ligando a obra de Marx lo-
soa poltica moderna, inaugurada por Maquiavel. Pode-se armar que
o jovem Marx, na interrogao losca sobre o poltico, mantm uma
relao essencial com Maquiavel, na medida em que este ltimo o fun-
dador de uma losoa poltica moderna, normativa, isto , que repousa
sobre outros critrios e outros princpios de avaliao que os da losoa
poltica clssica. A idia que pretendemos sustentar que a concepo
de poltica, de prtica poltica, de ideal do cidado, e de modelo de ao
do humanismo cvico, tm anidades com os pensados por Marx. A idia
de cidado implcita no modelo de vida ativa conserva importantes rela-
es com a idia de homem como ser genrico enquanto sujeito poltico.
A recuperao por parte dos humanistas italianos dos conceitos de vita
activa e de vivere civile corresponderiam a uma redescoberta por parte de
Marx da poltica e da inteligncia da poltica. Tanto para os republicanos
renascentistas, como para Marx, a poltica entendida como prxis a
forma de alcanar a universalidade.
O PROJETO MARXISTA: A POLTICA COMO ELEMENTO DA UNIVERSALIDADE
Retomemos agora a interrogao apaixonada de Marx pela poltica.
Em sua tentativa de descobrir a essncia da poltica moderna o l-
sofo alemo orienta-se por um lado para os gregos, a partir de uma
3 As obras a que nos referimos so: os artigos de jornal de Marx publicados na Gazeta
Renana, A questo judaica, Manustricos Econmicos-loscos, Crtica da Filosofa do
Estado de Hegel e Crtica losoa do direito. Introduo.
Javier Amadeo e Sergio Morresi
112
Filosofia poltica contempornea
concepo holista da sociedade, por outro aos franceses modernos, e
por ltimo h um claro vnculo com a problemtica da Repblica. A
busca do poltico no lsofo de Treveris vai na direo de uma comuni-
dade poltica no seio da qual o homem possa realizar suas verdadeiras
potencialidades, um lugar onde a emancipao social possa superar os
estreitos limites da emancipao poltica. Para Marx, a verdadeira coi-
sa pblica encontra-se para alm da separao do ser pblico e priva-
do; nela tudo o que privado chegou a ser uma questo pblica, e tudo
o que universal transformou-se em um assunto privado de cada um.
Na idia de Marx de verdadeira democracia se encontra uma velha
herana do passado europeu, o velho ideal de comunidade. O modelo
implcito a idia da cidade antiga com sua identidade das existncias
privada e pblica, na qual a qualidade do homem e a qualidade do ci-
dado no so coisas distintas seno coisas idnticas. Isto mesmo a
fonte originria da idia de sociedade sem classe, como Marx chamava
verdadeira democracia.
Gostaramos de recuperar a leitura que Miguel Abensour (1998)
realiza da obra de Marx, Crtica losoa do Estado de Hegel (adiante
Crtica de 1843)
4
quando arma que o lsofo alemo aproximou-se
da inspirao republicana e maquiaveliana, elevando a cena poltica
para alm da faticidade da vida cotidiana, principalmente consagrada
reproduo da vida. A busca de Marx tem como objetivo introduzir
o meio prprio da poltica, ajudar a pensar a essncia do poltico e
delimitar sua particularidade. Existe para Marx uma sublimidade do
momento poltico, uma elevao da esfera poltica, em relao a outras
esferas, que lhe prpria; representa um para alm.
No poltico legtimo reconhecer os caracteres da transcendn-
cia: uma situao que vai alm das outras esferas, uma diferena de
nvel e uma soluo de continuidade em relao s outras esferas da
vida social, valorizada por Marx quando acentua seu carter lumino-
so, o carter exttico do momento poltico: A vida poltica a vida
area, a regio etrea da sociedade civil burguesa (Marx, 1973: 137).
No poltico, e pelo poltico, o homem entra no elemento da razo uni-
4 Crtica de 1843, o manuscrito foi escrito provavelmente durante o vero de 1843, e
publicado por Riazanov em 1927 no primeiro tomo de sua edio completa da obra de
Marx e Engels. O mesmo um trabalho preparatrio, isto , comentrios realizados
pargrafo por pargrafo, onde Marx empreende uma crtica quase linear da Filosoa do
Direito de Hegel, mais exatamente da 3 seo da III parte consagrada ao Estado (direito
pblico), do pargrafo 261 ao 313. A Crtica losoa do Estado de Hegel no deve ser
confundida com a Crtica da losoa do direito. Introduo.
113
versal e faz a experincia, enquanto povo, da unidade do homem com
o homem. O estado poltico que tambm poderamos entender como
a esfera pblica se desdobra como o elemento onde se realiza a epi-
fania do povo, o lugar onde o povo se objetiva enquanto ser universal,
ser livre e no limitado, ali onde o povo aparece, para ele mesmo,
como ser absoluto, como ser divino. O projeto de Marx na Crtica de
1843, continua Abensour (1998), pensar a essncia do poltico em
relao ao sujeito real, que o demos. Isto quer dizer que a busca da
essncia do poltico e a busca da verdadeira democracia coincidem
necessariamente, ou mesmo se fundem. Interrogar sobre a essncia
do poltico nos leva essncia da democracia; ressaltar a diferena
especca da democracia em relao a outras formas de regime o
mesmo que se confrontar com a prpria lgica da coisa poltica. A
verdadeira democracia, entendamos como democracia que alcana
sua verdade enquanto forma de politeia, a poltica por excelncia, a
apoteose do princpio poltico. De onde se conclui que compreender
a lgica da verdadeira democracia alcanar a lgica da coisa polti-
ca. A busca da essncia do poltico, enquanto escolha da democracia
como forma suscetvel de expor o segredo dessa essncia, no para
Marx uma escolha menor. A relao entre a atividade do sujeito, o
demos total, e a objetivao constitucional na democracia, diferente
da que se efetua em outras formas de estado. As relaes se traduzem,
na democracia, por outra articulao entre o todo e as partes, o que
acarreta um efeito fundamental que vale como critrio distintivo da
democracia: a objetivao constitucional, a objetivao do demos sob
a forma de uma constituio, a objeto de uma reduo.
Na Crtica de 1843, Marx inverte Hegel totalmente. Prefere pen-
sar o poltico na perspectiva da soberania do povo. O povo o Estado
real. Em vez de perceber a democracia como o sinal de um povo que
permanece em um estado arbitrrio e inorgnico, Marx, pelo contr-
rio, considera a forma democrtica como o coroamento da histria
moderna, o telos pelo qual se entende o conjunto das formas polticas
modernas. A democracia enquanto forma particular de estado (e no
to-somente enquanto verdade de todas as formas de Estado) revela a
essncia de qualquer constituio poltica, o homem socializado.
Na monarquia, a totalidade, o povo, classicado em uma de
suas maneiras de existir: a constituio poltica; na democra-
cia, a constituio mesma aparece simplesmente como uma
determinao nica, a autodeterminao do povo. Na monar-
quia temos o povo da constituio; na democracia, a consti-
Javier Amadeo e Sergio Morresi
114
Filosofia poltica contempornea
tuio do povo. A democracia o enigma decifrado de todas as
constituies. Nela a constituio no s em si, segundo sua
essncia, seno tambm segundo sua existncia, segundo sua
realidade constantemente referida a seu fundo real: ao homem
real, ao povo real, e postulada como sua prpria obra. A cons-
tituio aparece como o que : um produto livre do homem
(Marx, 1973: 80, nfase no original).
Hegel parte do Estado, e faz do homem o Estado subjetivado; a de-
mocracia, arma Marx, parte do homem e faz do Estado o homem
objetivado. Do mesmo modo que a religio no cria o homem, mas o
homem cria a religio, a constituio no cria o povo: o povo cria a
constituio. De um certo ponto de vista, a democracia para todas
as formas polticas como o cristianismo para todas as religies.
O cristianismo a religio por excelncia, a essncia da religio, o
homem deicado em forma de religio particular. Do mesmo modo,
a democracia a essncia de toda constituio poltica, o homem
socializado como constituio particular , para as outras constitui-
es, como o gnero a suas espcies. Marx arma que a diferena
fundamental da democracia que o homem no existe por causa da
lei, seno que a lei por causa do homem; uma existncia humana,
enquanto que nas outras formas polticas, o homem a existncia
legal (Marx, 1973: 81, nfase no original).
Para Marx, com a democracia assiste-se constituio do povo,
no sentido jurdico e metajurdico, recebendo o povo o trplice estatu-
to: princpio, sujeito e m.
Nessa relao de si para si, que se executa na autoconstituio do
povo, a autodeterminao, a constituio, o Estado poltico representa
apenas um momento; certamente um momento especial, mas s um
momento. O povo apresenta essa particularidade de ser um sujeito que
ele mesmo seu prprio m. Assim essa autoconstituio do povo que
no se cristaliza em nenhum pacto, que no deve se cristalizar em ne-
nhum contrato, culmina em um elemento de idealidade. A esfera polti-
ca colocada sob o signo da idealidade, na medida em que o povo no
corresponde a uma realidade sociolgica, no tem nada de social, mas
se mantm inteiro em seu querer-ser poltico. A grandeza do povo sua
existncia. Na forma democrtica pode se pensar o reencontro entre o
princpio material e o princpio formal, enquanto na democracia se d
a verdadeira unidade entre o universal e o particular.
Marx remonta o pensamento poltico spinoziano em relao
problemtica da democracia, opondo-se escolha hegeliana da mo-
115
narquia constitucional como ponto culminante das formas polticas, e
escolhendo a democracia para esse lugar proeminente. Para Spinoza a
democracia a forma de regime, de instituio social que parece mais
natural e o que mais se aproxima liberdade que a natureza concede
a cada indivduo (Spinoza, 1986: 341). Da que a prioridade e pree-
minncia que Spinoza atribui a essa forma de comunidade poltica,
em sua exposio: a democracia, sendo o regime mais racional e mais
livre, a comunidade poltica por excelncia, sendo os regimes aristo-
crticos ou monrquicos apenas formas derivadas e insucientemen-
te elaboradas da instituio poltica. Para Marx, como para Spinoza,
a democracia o regime mais natural e aparece como paradigma de
politeia, como modelo da vida poltica verdadeira; precisamente na
medida que, para Marx, a essncia da poltica no pode ser reduzida ao
plo exclusivo da relao senhor-escravo. Pelo contrrio, consiste na
prtica da unio dos homens, na instituio sub specie rei publicae, de
um estar-junto orientado para a liberdade, ou na prtica da atividade
mediadora dos homens. Neste sentido, o elemento poltico na ver-
dade apreendido por Marx como um elo especco, irredutvel a uma
dialtica das necessidades, ou a uma derivao da diviso social do
trabalho, como um momento que uma sociedade humana, destinada
liberdade, no pode dispensar, sob pena de cair novamente no mundo
animal, viver e multiplicar-se. Neste, e por este elemento, destaca-se o
lugar onde o homem real, enquanto povo, universalidade dos cida-
dos, expe-se permanentemente prova da universalizao. A pro-
blemtica que Marx prope especicamente poltica, colocando em
jogo, no nvel poltico, uma teoria da soberania, e no nvel, losco
um pensamento da subjetividade. Contra Hegel que, tentando satis-
fazer o princpio moderno da subjetividade, faz do homem o Estado
subjetivado, para Marx trata-se de demonstrar que pelo contrrio, na
democracia, o homem como ser genrico, o povo, o demos chega no e
pelo Estado, objetivao (Abensour, 1998).
O momento democrtico da Crtica de 1843 est em ntima re-
lao com a realizao prtica da democracia evidenciada na Comuna
de Paris. Marx nos incita a pensar em uma situao paradoxal, na qual
o desaparecimento do estado poltico somente pode intervir dentro e
atravs da plena conscincia de uma comunidade poltica acedendo a
sua verdade. Em resumo, a desapario do Estado poderia coincidir
com a apario de uma forma poltica que tem aos olhos de Marx a
qualidade de ser a forma poltica mais perfeita.O desaparecimiento do
Estado seria acompanhado do contraste entre o Estado poltico e a de-
Javier Amadeo e Sergio Morresi
116
Filosofia poltica contempornea
mocracia. Algumas obras de Marx assinalam este problema. Na Misria
da Filosoa (1847), evocando a sociedade sem classes ps-revolucion-
ria, Marx anuncia que no haver mais poder poltico propriamente
dito; idia que desenvolvida mais plenamente na Crtica do Programa
Alemo, onde arma:
A liberdade consiste em transformar o Estado, rgo erigido
sobre a sociedade, em um rgo integralmente subordinado
sociedade. Da se levanta imediatamente a questo: que trans-
formao sofreria a forma-Estado na sociedade comunista? Uma
resposta tentativa deveria ser buscada na Repblica social: A
comuna deveria ser um organismo parlamentar, seno uma cor-
porao de trabalho, executiva e legislativa ao mesmo tempo [...]
Eis aqui seu verdadeiro segredo: a Comuna era, essencialmente,
um Governo da classe operria, fruto da luta da classe produtora
contra a classe apropriadora, a forma poltica por m descoberta
para levar a cabo dentro dela a emancipao econmica do tra-
balho (Marx, 1980: 67).
Como Marx pensa esta contradio entre democracia e Estado? Con-
siderando uma situao revolucionria, diferentemente da resposta
jacobina que implica um reforo do Estado, a tradio comunalista,
claramente expressa na Guerra civil na Frana, diferente da ante-
rior, atribui como tarefa da revoluo destruir o poder do Estado,
substituindo-o por um novo elo poltico, a ser inventado no prprio
processo revolucionrio. Isto ser possvel porque os homens da
Comuna se apresentam como um sujeito para si mesmo, como seu
prprio m. Como vontade poltica ela busca sua prpria manifes-
tao poltica: A grande medida social da Comuna foi sua prpria
existncia e sua prpria ao. Suas medidas concretas no podiam
expressar menos que a linha de conduta de um Governo do povo e
pelo povo (Marx, 1980: 73).
O advento da revoluo democrtica implica formular o pro-
blema do Estado: O grito de repblica social, com o qual a re-
voluo de fevereiro foi anunciada pelo proletariado de Paris, no
expressava mais do que a vaga aspirao de uma repblica que no
acabasse s com a forma monrquica da dominao, seno com a
prpria dominao de classe. A Comuna era a forma positiva desta
repblica (Marx, 1980: 62).
O crescimento da verdadeira democracia implica o desapare-
cimento do Estado. Quanto mais a democracia se aproxima de sua ver-
117
dade, isto , da constituio de uma comunidade poltica, mais o Es-
tado decresce, deixa de exercer sua funo primordial, sua funo de
dominao. Mais tarde, em carta a Bebel, Engels explicita a idia nes-
tes termos: enquanto o proletariado necessite ainda do Estado, dele
no necessitar no interesse da liberdade, seno para submeter seus
adversrios, e to logo se possa falar de liberdade, o Estado deixar de
existir. Por isso ns proporamos dizer sempre, em vez da palavra Es-
tado, a palavra Comunidade (Gemeinwesen) uma boa e antiga palavra
alem que equivale francesa comune (Engels, 1955: 36).
O caminho de desaparecimento do Estado no implica um cami-
nho de socializao acabada, que equivaleria a um desaparecimento da
poltica. Pelo contrrio, mantm a poltica, mas como um momento,
em uma coexistncia com outras esferas da vida social, com outros
momentos da objetivao do sujeito real. Para Marx a lio da Comu-
na que a emancipao social dos trabalhadores no se pode efetuar
a no ser por meio de uma forma poltica que Marx chama em vrias
passagens de constituio comunal. Trata-se de uma forma poltica
singular, destinada a escapar da autonomizao das formas, no so-
mente porque os membros da Comuna so responsveis e revogveis
em qualquer momento, mas sobretudo porque essa forma se consti-
tui, alcana sua particularidade, confrontando o poder do Estado, em
uma insurreio permanente contra o Estado-aparelho, sabendo que
toda recada, sob a forma de dominao do Estado,qualquer que seja
seu nome ou sua tendncia, signicaria imediatamente seu decreto de
morte: O regime da Comuna teria devolvido ao organismo social to-
das as foras que at ento o Estado parasita vinha absorvendo, o qual
se nutre s expensas da sociedade e entorpece seu livre movimento
(Marx, 1980). Esse o trao distintivo da Constituio da Comuna en-
quanto forma poltica. nessa posio contra o Estado que essa cons-
tituio passa a existir.
Retomemos o ponto central que Marx formula na Crtica da lo-
soa do Estado de Hegel, seguindo Abensour (1998): o homem no se
reconhece enquanto homem, o homem no se reconhece enquanto ser
universal, o homem s homem entre os homens quando tem acesso
esfera poltica, na medida em que participa do elemento poltico do
elemento poltico em termos democrticos. sub specie rei publicae, e
somente assim tem acesso a seu destino de ser social. A constituio
atua ao mesmo tempo como elemento revelador e puricador. Longe de
pensar que o advento da societas torna obsoleta a civitas, pelo acesso
civitas que se produz a emergncia da societas. Ou inclusive, no
Javier Amadeo e Sergio Morresi
118
Filosofia poltica contempornea
porque o homem um animal social que ele se d uma constituio,
mas porque ele se d uma constituio, porque um zoom politikom,
que revela seu ser, efetivamente o homem socializado. A essncia
poltica, isto , o homem socializado, mostra a essncia do homem tal
como se pode manifestar, na medida que se libera precisamente dos
limites da sociedade civil burguesa e das determinaes que dela recor-
rem. No atravs das relaes que se engendram na sociedade civil
que o homem consegue cumprir seu destino social. Pelo contrrio,
lutando contra elas, rechaando-as politicamente, em sua qualidade de
cidado de um Estado poltico, que ele pode conquistar sua essncia
de ser genrico. Atravs da experincia poltica, vivida pelo homem
enquanto cidado, este se abre verdadeira experincia universal,
experincia essencial da comunidade, experincia de unidade do ho-
mem com o homem. Subordinada ao princpio do prazer, a sociedade
civil burguesa produz elos; mas estes permanecem afetados por uma
irremedivel contingncia.
Somente a desvinculao, no nvel da sociedade civil burguesa,
permite a experincia de uma ligao genrica mediante a entrada da esfe-
ra poltica. Marx escreve em relao com sua signicao poltica que: o
membro da sociedade civil burguesa se desfaz de seu estado, de sua posi-
o privada real. somente na esfera poltica que o membro da sociedade
signica homem: que sua determinao como membro do Estado, como
essncia social, aparece como sua determinao humana (Marx, 1973).
Marx chega a conceber esse acesso existncia poltica, esse
ato poltico, sob a forma de uma decomposio da sociedade civil; po-
der-se-ia dizer de uma dessocializao, duplicada por uma verdadeira
sada de si mesma da sociedade civil, de um xtase: seu ato poltico
[...] um ato da sociedade civil burguesa, que escandaliza e provoca o
xtase desta. Evidentemente Marx pensa as relaes da esfera poltica
como o que se faz passar pelo social sob o signo da descontinuidade.
Para Marx a constituio, isto , o Estado poltico, no vem completar
uma sociabilidade imperfeita, que estaria em gestao na famlia e na
sociedade civil, seno que se situa em posio de ruptura com uma
sociabilidade no essencial: O estado da sociedade civil burguesa no
tem nem a necessidade, isto , um momento natural, nem a poltica,
como seu princpio. Ele uma diviso de massas que se formam de
maneira fugaz e cuja prpria formao uma formao arbitrria, e
no uma organizao (Marx, 1973: 123). O lugar poltico se constitui
como um lugar de mediao entre o homem e o homem, como um
lugar de catharsis em relao a todos os laos no essenciais que man-
119
tm o homem distanciado do homem. Chegamos ao paradoxo de que o
homem faz a experincia do ser genrico, na medida em que se desvia
de seu estar-a social e que se arma em seu ser cidado, ou antes, em
seu dever ser cidado. O demos poltico ou no nada.
RETORNANDO AO POLTICO
A ao democrtica pensada por Marx na Crtica da losoa do Estado de
Hegel implica a extenso do espao pblico, a nica forma de Estado que
permite essa extenso, uma experincia da universalidade, a negao
da dominao e a constituio de um espao pblico isonmico. O agir
democrtico pode fenomenalizar-se no espao pblico enquanto tal, se
modalizar no conjunto da vida do povo. Somente a generalizao do atu-
ar democrtico consegue realizar a unidade do universal e do particular.
Mas este reconhecimento no se pode dar em uma esfera poltica enten-
dida em termos de uma esfera pblica liberal; necessrio transcender
os estreitos limites impostos pelo projeto poltico liberal para conseguir
o reconhecimento do homem enquanto ser genrico.
A poltica liberal esvazia o espao poltico e impossibilita o re-
conhecimento. O espao poltico liberal transforma o homem em um
obstculo para outro, ao entender a liberdade como liberdade negati-
va, ao entender o outro como algum que impossibilita o exerccio de
minha liberdade. O estado de direito, que Marx critica brilhantemen-
te em A questo judaica, expressa sua imperfeio original e aparece
como ele , um dispositivo que busca subtrair o indivduo do arbtrio
do poder, e desde o comeo se posiciona como salvaguarda jurdica
do indivduo, e no como inveno de um vivere civile, de uma ao
poltica orientada para a criao de um espao pblico e a constituio
de um povo de cidados. O estado de direito revela seu verdadeiro per-
tencimento ao paradigma jurdico liberal. Pelo contrrio, o paradigma
republicano nos permite pensar a poltica e a democracia em outros
termos. Sem rechaar o contedo formal da democracia expresso no
estado de direito, a viso republicana nos permite abrir a democracia
a um objetivo diferente daquele que leva autonomizao e absoluti-
zao do indivduo, na medida em que a forma jurdica mantm uma
distncia entre a justia formal e a justia material. A democracia to
domesticada e banalizada pela experincia liberal pode ser uma for-
ma que institua politicamente o social e que simultaneamente se volte
contra o Estado, como se nessa oposio coubesse democracia abrir
de uma maneira mais fecunda uma brecha que permitisse a inveno
da poltica. A democracia, pensada nos termos da comuna, a socie-
Javier Amadeo e Sergio Morresi
120
Filosofia poltica contempornea
dade poltica que institui um vnculo humano atravs da luta entre os
homens e que, enquanto instituio, volta origem, tentando sempre
redescobrir a liberdade. imprescindvel elaborar um pensamento da
liberdade com novas exigncias, isto , a liberdade no pode mais ser
pensada contra a lei, seno a partir dela, em harmonia com o desejo de
liberdade que a faz nascer. A liberdade no pode mais ser concebida
contra o poder, seno com o poder, compreendido de outra maneira,
como poder de atuar em consenso. Sobretudo, dado que a liberdade
no pode mais se erguer contra o poltico, de modo a se livrar dele, mas
o poltico adiante o prprio objeto do desejo de liberdade, a poltica,
vivicada por essa inspirao, pensada, desejada, longe de qualquer
idia de soluo, praticada como uma interrogao sem m sobre o
mundo e sobre o destino dos mortais (Abensour, 1998).
Portanto, recuperar o lugar da poltica fundamental para pen-
sar formas alternativas de sociabilidade que no passem pelo mercado,
que passem pela poltica.
Porque o lugar poltico deve voltar a se constituir como o lugar
de mediao entre o homem e o homem. No atravs das relaes
que se engendram na sociedade civil que o homem consegue cumprir
seu destino social, atravs da experincia poltica vivida pelo homem
enquanto cidado que este se abre verdadeira experincia universal,
experincia essencial da comunidade, experincia de unidade do
homem com o homem. Trata-se, portanto, da subverso da poltica en-
tendida em termos liberais.
Em uma poca ambgua, contraditria e terrvel, em que se com-
binam o mximo de desenvolvimento tcnico do capitalismo com a
mxima catstrofe social, moral e cultural, parece vericar-se a som-
bria profecia dos clssicos do marxismo: onde no h reino da liberda-
de haver inevitavelmente barbrie. Evitar a barbrie passa hoje pela
reconstruo do poltico como um lugar de reunio e criao; passa
pelo fortalecimento da poltica entendida como espao de construo
coletiva; passa pela reconstruo de um padro civilizatrio orientado
para a autonomia do demos. Passa por que no dizer? por um projeto
humanista e socialista.
BIBLIOGRAFIA
Abensour, Miguel 1998 A democracia contra o estado. Marx e o momento
maquiaveliano (Belo Horizonte: UFMG).
Anderson, Perry 2002 Anidades Seletivas (So Paulo: Boitempo).
121
Aristteles 1989 La Poltica (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales).
Baron, Hans 1966 The crisis of the early italian renaissance (Princeton:
Princeton University Press).
Bjar, Helena 2000 El corazn de la repblica. Avatares de la virtud poltica
(Barcelona: Paids).
Bidet, Jacques 1993 (1990) Teora de la modernidad (Buenos Aires: Letra
Buena/El cielo por asalto).
Bobbio, Norberto 1991 (1984) El futuro de la democracia (Mxico : Fondo de
Cultura Econmica).
Cohn, Gabriel 2001 A sociologa e o novo padro civilizatorio, mimeo.
Dunn, John 1996 La agona del pensamiento poltico occidental (London:
Cambridge University Press).
Engels, Friedrich 1955 Carta a August Bebel em Marx, Karl e Engels,
Friedrich Obras Selectas (Mosc: Editorial Progreso) Tomo I y II.
Gray, John 1994 (1986) Liberalismo (Madrid: Alianza).
Grner, Eduardo 2002 El n de las pequeas histricas. De los estudios
culturales al retorno (imposible) de lo trgico (Buenos Aires: Paids).
Maquiavelo 1996 Discursos sobre la primera dcada de Tito Livio (Madrid:
Alianza).
Maquiavelo 2000 El Prncipe (Madrid: Alianza).
Marx, Karl 1967 Sobre la cuestin juda em Marx, Karl e Engels, Friedrich
La sagrada familia (Mxico: Grijalbo).
Marx, Karl 1973 Crtica de la losofa del Estado de Hegel (Buenos Aires:
Claridad).
Marx, Karl 1980 La guerra civil en Francia (Mosc: Progreso).
Marx, Karl 1994 El Capital. Crtica de la Economa Poltica (Mxico DF: Siglo
XXI).
Pettit, Philip 1999 (1997) Republicanismo. Una teora sobre la libertad y el
gobierno (Barcelona: Paids).
Pocock, J. G. A. 1975 The machiavellian moment. Florentine political thought
and the atlantic republican tradition (Princeton: Princeton University
Press).
Skinner, Quentin 1998 Liberdade antes do liberalismo (So Paulo: UNESP/
Cambridge University Press).
Spinoza, Baruch 1986 Tratado teolgico-poltico (Madrid: Alianza).
Wellmer, Albrecht 1996 Finales de partida: la modernidad irreconciliable
(Madrid: Ediciones Ctedra/Universidad de Valencia/Frnesis).
Javier Amadeo e Sergio Morresi
125
Marilena Chau*
Fundamentalismo religioso:
a questo do poder
teolgico-poltico
A CONDIO PS-MODERNA
Em seu livro Depois da paixo poltica, Josep Ramoneda, escreve:
No Ocidente houve um empenho para construir um novo inimigo,
porque o medo sempre uma ajuda para o governante. O inimigo
o Outro, o que pe em perigo a prpria identidade, seja a amea-
a real ou induzida. O temor ao Outro favorece a coeso nacional
em torno do poder e faz com que a cidadania seja menos exigente
com os que governam, que so tambm os que a protegem. Em
um primeiro momento, parecia que o fundamentalismo islmico
estava destinado a ser o novo inimigo [...] Mas as ameaas eram
demasiado difusas para que a opinio pblica propagasse a idia
de que o islamismo era o novo inimigo. De modo que se optou por
um inimigo genrico: a barbrie. Quem o brbaro? O que rejei-
ta o modelo democrtico liberal cujo triunfo foi proclamado por
Fukuyama como ponto nal da histria [...] O que no se adapta
ao modelo triunfante ca denitivamente fora da realidade pol-
* Doutora e Professora de Histria da Filosoa e de Filosoa Poltica do Departamento
de Filosoa da Universidade de So Paulo (USP).
126
Filosofia poltica contempornea
tico-social. Ou no chegou barbrie do que acode com atraso ao
encontro nal, ou no chegar nunca barbrie do eternamente
primitivo que se afunda no reino das trevas [...] Como o brbaro
no uma alternativa e sim um atraso, restam apenas a duas pos-
sibilidades: ou sua paulatina adaptao ou sua denitiva excluso.
Todavia, a coeso social pelo medo se mantm porque necess-
rio defender-se da especial maldade dos brbaros: da a necess-
ria (quase sempre fundamentada) satanizao daquele ao qual se
atribui a condio de brbaro (Ramoneda, 2000: 22-23).
Ramoneda escreveu antes de 11 de setembro de 2001. Depois dessa data,
islamismo e barbrie identicaram-se e a satanizao do brbaro consoli-
dou-se numa imagem universalmente aceita e inquestionvel. Fundamen-
talismo religioso, atraso, alteridade e exterioridade cristalizaram a nova -
gura da barbrie e, com ela, o cimento social e poltico trazido pelo medo.
Tomemos, porm, uma outra perspectiva. Na Tese 7 de Sobre o
conceito de histria, Walter Benjamin escreve:
Todos os que at hoje venceram participam do cortejo triunfal,
em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que
esto prostrados no cho. Os despojos so carregados no cortejo,
como de praxe. Esses despojos so o que chamamos de bens cul-
turais [...] todos os bens culturais que ele [o materialista histri-
co] v tm uma origem que ele no pode contemplar sem horror.
Devem sua existncia no somente ao esforo dos grandes gnios
que os criaram, como corvia annima de seus contempor-
neos. Nunca houve um monumento de cultura que tambm no
fosse um monumento da barbrie. E assim como a cultura no
isenta de barbrie, no o , tampouco, o processo de transmis-
so da cultura. Por isso, na medida do possvel, o materialista
histrico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a histria a
contrapelo (Benjamin, 1985: 225).
Essa passagem de Benjamin rica em sentido, mas aqui ela nos inte-
ressa por um motivo particular, qual seja, o de situar a barbrie no in-
terior da cultura ou da civilizao, recusando a dicotomia tradicional,
que localiza a barbrie no outro e o situa no exterior. Pelo contrrio,
a tese de Benjamin coloca a barbrie no s como o avesso necessrio
da civilizao, mas como o pressuposto dela, como aquilo que a civi-
lizao engendra ao produzir-se a si mesma como cultura. O brbaro
no est no exterior, mas interno ao movimento de criao e trans-
misso da cultura, o que causa horror quele que contempla o cortejo
127
triunfal dos vencedores pisoteando os corpos dos vencidos e conhece o
preo de infmia de cada monumento da civilizao.
Acerquemo-nos, pois da barbrie contempornea.
Examinando a condio ps-moderna, David Harvey (1992) ana-
lisa os efeitos da acumulao exvel do capital, isto , a fragmentao
e disperso da produo econmica, a hegemonia do capital nanceiro,
a rotatividade extrema da mo-de-obra, a obsolecncia vertiginosa das
qualicaes para o trabalho em decorrncia do surgimento incessante
de novas tecnologias, o desemprego estrutural decorrente da automa-
o, a excluso social, econmica e poltica. Esses efeitos econmicos
e sociais da nova forma do capital so inseparveis de uma transfor-
mao sem precedentes na experincia do espao e do tempo. Essa
transformao designada por Harvey com a expresso compresso
espao-temporal, isto , o fato de que a fragmentao e a globalizao
da produo econmica engendram dois fenmenos contrrios e si-
multneos: de um lado, a fragmentao e disperso espacial e temporal
e, de outro, sob os efeitos das tecnologias de informao, a compresso
do espao tudo se passa aqui, sem distncias, diferenas nem fron-
teiras e a compresso do tempo tudo se passa agora, sem passado e
sem futuro. Na verdade, fragmentao e disperso do espao e do tem-
po condicionam sua reunicao sob um espao indiferenciado e um
tempo efmero, ou sob um espao que se reduz a uma superfcie plana
de imagens e sob um tempo que perdeu a profundidade e se reduz ao
movimento de imagens velozes e fugazes.
Acrescentemos descrio de Harvey algo que no pode ser es-
quecido nem minimizado, ou seja, o fato de que a perda de sentido
do futuro inseparvel da crise do socialismo e do pensamento de es-
querda, isto , do enfraquecimento da idia de emancipao do gnero
humano ou a perda do que dizia Adorno nas Mnima Moralia, quando
escreveu que o conhecimento no tem nenhuma luz seno a que bri-
lha sobre o mundo a partir da redeno. Perdeu-se, hoje, a dimenso
do futuro como possibilidade inscrita na ao humana enquanto poder
para determinar o indeterminado e para ultrapassar situaes dadas,
compreendendo e transformando o sentido delas.
Voltil e efmera, hoje nossa experincia desconhece qualquer
sentido de continuidade e se esgota num presente vivido como ins-
tante fugaz. Essa situao, longe de suscitar uma interrogao so-
bre o presente e o porvir, leva ao abandono de qualquer lao com o
possvel e ao elogio da contingncia e de sua incerteza essencial. O
contingente no percebido como uma indeterminao que a ao
Marilena Chau
128
Filosofia poltica contempornea
humana poderia determinar, mas como o modo de ser dos homens,
das coisas e dos acontecimentos.
Essa imerso no contingente e no efmero deu origem a senti-
mentos e atitudes que buscam algum controle imaginrio sobre o uxo
temporal. De um lado, provoca a tentativa para capturar o passado
como memria subjetiva, como se v na criao de pequenos museus
pessoais ou individuais (os lbuns de fotograas e os objetos de fa-
mlia), porque a memria objetiva no tem qualquer ancoradouro no
mundo; de outro, leva ao esforo para capturar o futuro por meios
tcnicos, como se v com o recrudescimento dos chamados mercados
de futuros, que proliferam em tudo, do milho e do bacon a moedas e
dvidas governamentais, associados com a secularizao de todo tipo
de dvida temporria e utuante, ilustram tcnicas de descontar o futu-
ro do presente (Harvey, 1992: 263).
Mais profundamente, o fundamentalismo religioso e a busca da
autoridade decisionista na poltica so os casos que melhor ilustram o
mergulho na contingncia bruta e a construo de um imaginrio que
no a enfrenta nem a compreende, mas simplesmente se esfora por
contorn-la apelando para duas formas inseparveis de transcendn-
cia: a divina ( qual apela ao fundamentalismo religioso) e a do gover-
nante ( qual apela ao elogio da autoridade poltica forte).
Se podemos dizer que Marx e Baudelaire foram os que melhor
exprimiram o pensamento e o sentimento da modernidade o pri-
meiro por armar que a liberdade no escolha contingente, mas
a conscincia da necessidade, e o segundo por denir a arte como
captura do eterno no corao do efmero, podemos tambm dizer
que a ps-modernidade a renncia a essas idias e sentimentos, sem
que, entretanto, a maioria das sociedades deixe de buscar imaginaria-
mente substitutos para o necessrio e o eterno. No por acaso, ambos
ressurgem nas vestes da religio e, portanto, a necessidade aparece
como destino ou fatalidade e o eterno se apresenta como teofania,
isto , revelao do deus no tempo.
O fundamentalismo religioso opera como uma espcie de retorno
do reprimido, uma repetio do recalcado pela cultura porque esta, no
tendo sabido lidar com ele, no fez mais do que preparar sua repetio.
De fato, que fez a modernidade ao propor e realizar o desen-
cantamento do mundo? De um lado, procurou controlar a religio,
deslocando-a do espao pblico (que ela ocupara durante toda a Idade
Mdia) para o privado. Nessa tarefa, foi amplamente auxiliada pela Re-
forma Protestante, que combatera a exterioridade e automatismo dos
129
ritos assim como a presena de mediadores eclesisticos entre o el e
Deus, e deslocara a religiosidade para o interior da conscincia indivi-
dual. De outro, porm, tratou a religio como arcasmo que seria ven-
cido pela marcha da razo ou da cincia, desconsiderando, assim, as
necessidades a que ela responde e os simbolismos que ela envolve. Jul-
gou-se que a modernidade era feita de sociedades cuja ordem e coeso
dispensavam o sagrado e a religio, e atribuiu-se ideologia a tarefa de
cimentar o social e o poltico.
Dessa maneira, a modernidade simplesmente recalcou a religio-
sidade como costume atvico, sem examin-la em profundidade. Sob
uma perspectiva, considerou a religio algo prprio dos primitivos ou
dos atrasados do ponto de vista da civilizao, e, sob outra, acreditou
que, nas sociedades civilizadas adiantadas, o mercado responderia s
necessidades que, anteriormente, eram respondidas pela vida religiosa,
ou, se se quiser, julgou que o protestantismo era uma tica mais do que
uma religio, e que o elogio protestante do trabalho e dos produtores
cumpria a promessa crist da redeno. Sintomaticamente, a moderni-
dade sempre menciona o dito de Marx a religio o pio do povo,
esquecendo-se de que essa armao era antecedida por uma anlise
e interpretao da religiosidade como esprito de um mundo sem es-
prito (a promessa de redeno num outro mundo para quem vivia
no mundo da misria, da humilhao e da ofensa, como a classe ope-
rria), e como lgica e enciclopdia populares (uma explicao coe-
rente e sistemtica da Natureza e da vida humana, dos acontecimentos
naturais e das aes humanas, ao alcance da compreenso de todos).
Em outras palavras, Marx esperava que a ao poltica do proletariado
nascesse de uma outra lgica que no fosse a supresso imediata da
religiosidade, mas sua compreenso e superao dialtica, portanto,
um processo tecido com mediaes necessrias.
Justamente por sequer cogitar nas mediaes e supor que seria
possvel a supresso imediata da religio, a modernidade, depois de
afastar as igrejas e de alojar a religio no foro ntimo das conscincias
individuais, deu ao mercado o lugar de efetuao da racionalidade. Ora,
no nosso presente ps-moderno, o que a racionalidade do mercado?
Podemos reduzi-la a um punhado de traos: opera provocando e
satisfazendo preferncias individuais induzidas pelo prprio mercado,
as quais seguem a matriz da moda, portanto, do efmero e do descar-
tvel; reduz o indivduo e o cidado gura do consumidor; opera
por excluso, tanto no mercado da fora de trabalho, no qual o tra-
balhador to descartvel quanto o produto, como no de consumo
Marilena Chau
130
Filosofia poltica contempornea
propriamente dito, ao qual vedado o acesso maioria das populaes
do planeta, isto , opera por excluso econmica e social, formando,
em toda parte, centros de riqueza jamais vista ao lado de bolses de
misria jamais vista; opera por lutas e guerras, com as quais efetua
a maximizao dos lucros, isto , opera por dominao e extermnio;
estende esse procedimento ao interior de cada sociedade, sob a forma
da competio desvairada entre seus membros, com a v promessa de
sucesso e poder; tem suas decises tomadas em organismos supra-na-
cionais, que operam com base no segredo e interferem nas decises
de governos eleitos, os quais deixam de representar seus eleitores e
passam a gerir a vontade secreta desses organismos (a maioria deles
privados), restaurando o princpio da razo de Estado e bloqueando
tanto a repblica como a democracia, pois alarga o espao privado e
encolhe o espao pblico. Nesse mercado, a hegemonia pertence ao ca-
pital nanceiro e transformao do dinheiro de mercadoria universal
ou equivalente universal em moeda sem lastro no trabalho. Finana e
monetarismo introduzem uma entidade mstica muito mais misteriosa
do que as mais misteriosas entidades religiosas: a riqueza virtual. A
virtualidade, alis, o modo no s de expresso da riqueza, mas tam-
bm da forma da competio entre os oligoplios e entre os indivduos,
pois se realiza como compra e venda de imagens e como disputa entre
imagens, de sorte que no se refere a coisas e a acontecimentos, mas
a signos virtuais sem realidade alguma. Aqui, rigorosa e literalmente,
tudo o que slido desmancha no ar.
O encolhimento do espao pblico se d com as medidas toma-
das para liquidar o Estado do bem-estar e resolver a crise scal do
Estado, isto , sua incapacidade para, simultaneamente, nanciar o ca-
pital e a fora de trabalho, o primeiro por meio de investimentos e a se-
gunda por meio do salrio indireto, ou seja, dos direitos sociais (frias,
salrio famlia, salrio desemprego, previdncia social, sade e educa-
o pblicas gratuitas, etc). O Estado ps-moderno, isto , neoliberal,
diminui institucionalmente no plo ligado aos servios e bens pblicos
e, portanto, corta o emprego do fundo pblico para os direitos sociais,
canalizando a quase totalidade dos recursos para atender ao capital.
Se articularmos o modo de operao do mercado e o encolhimento do
Estado na rea dos direitos sociais, veremos a barbrie contempornea
em pleno curso: a excluso econmico-social, a misria, o desemprego
levam a desigualdade e a injustia sociais ao seu mximo, tanto nas
relaes entre classes em cada pas, como nas relaes internacionais.
131
Dessa maneira, se articularmos a secularizao moderna que
simplesmente lanou a religiosidade para o espao privado e esperou
que a marcha da razo e da cincia ndariam por eliminar a religio,
o mercado ps-moderno que opera por extermnio e excluso e com a
fantasmagoria mstica da riqueza virtual e dos signos virtuais, o Estado
neoliberal caracterizado pelo alargamento do espao privado e enco-
lhimento do espao pblico dos direitos, e a condio ps-moderna de
insegurana gerada pela compresso espao-temporal na qual o medo
do efmero leva busca do eterno, podemos compreender que a bar-
brie contempornea provoque o retorno do recalcado ou do reprimido,
isto , o ressurgimento do fundamentalismo religioso no apenas como
experincia pessoal, mas tambm como interpretao da ao poltica.
Alm disso, o conjunto de traos do mercado, a presena poltica de
mega-organismos econmicos privados transnacionais nas decises dos
governos e o Estado neoliberal indicam que estamos diante da privati-
zao da polis e da res publica. Essa privatizao produz como primeiro
efeito a despolitizao. De fato, a ideologia ps-moderna inseparvel da
ideologia da competncia, segundo a qual, os que possuem determinados
conhecimentos tm o direito natural de mandar e comandar os demais
em todas as esferas da existncia, de sorte que a diviso social aparece
como diviso entre os especialistas competentes, que mandam, e os de-
mais, incompetentes, que executam ordens ou aceitam os efeitos das
aes dos especialistas. Isso signica que, em poltica, as decises so to-
madas por tcnicos ou especialistas, via de regra, sob a forma do segredo
(ou, quando publicadas, o so em linguagem perfeitamente incompreen-
svel para a maioria da sociedade) e escapam inteiramente dos cidados,
consolidando o fenmeno generalizado da despolitizao da sociedade. A
privatizao do espao pblico e a despolitizao so sinais alarmantes de
que podemos estar perante o risco do m da poltica. Este m pode estar
anunciado no s pela ideologia da competncia, mas tambm pela sua
contraparte, a teologia poltica, que sustenta os fundamentalismos reli-
giosos. Com efeito, se seguimos o comando do tcnico competente, por
que no haveramos de seguir o de um lder religioso carismtico, que fala
uma linguagem at mais compreensvel (a lgica e enciclopdia populares
de que falava Marx)? A transcendncia da competncia tcnica correspon-
de transcendncia da mensagem divina a alguns eleitos ou iniciados, e
no temos por que nos surpreender com o entrecruzamento entre o fun-
damentalismo do mercado e o fundamentalismo religioso.
Mas no s isso. O trao principal da poltica, trao que se mani-
festa na sua forma maior, qual seja, na democracia, a legitimidade do
Marilena Chau
132
Filosofia poltica contempornea
conito e a capacidade para aes que realizam o trabalho do conito,
aes que se efetuam como contra-poderes sociais de criao de direi-
tos e como poderes polticos de sua legitimao e garantia. Aqui, ainda
uma vez, o retorno dos fundamentalismos religiosos nos coloca diante
de um risco de imensas propores. Por que? Em primeiro lugar, por
que, tendo a modernidade lanado a religio para o espao privado,
hoje o encolhimento do espao pblico e o encolhimento do espao
privado podem dar novamente s religies o papel da ordenao e da
coeso sociais. Em segundo lugar, por que a histria j mostrou os
efeitos dessa ordenao e coeso promovidas pela religio.
De fato, as grandes religies monotestas judasmo, cristianismo e
islamismo no tm apenas que enfrentar, do ponto de vista do conheci-
mento, a explicao da realidade oferecida pelas cincias, mas tm ainda
que enfrentar, de um lado, a pluralidade de consses religiosas rivais e,
de outro, a moralidade laica determinada por um Estado secular ou pro-
fano. Isso signica que cada uma dessas religies s pode ver a cincia
e as outras religies pelo prisma da rivalidade e da excluso recproca,
uma oposio no tem como exprimir-se num espao pblico democr-
tico porque no pode haver debate, confronto e transformao recproca
em religies cuja verdade revelada pela divindade e cujos preceitos, tidos
por divinos, so dogmas. Porque se imaginam em relao imediata com o
absoluto, porque se imaginam portadoras da verdade eterna e universal,
essas religies excluem o trabalho do conito e da diferena e produzem a
gura do Outro como demnio e herege, isto , como o Falso e o Mal.
No , portanto, casual em nossos dias, o sbito prestgio de
Carl Schmitt: a poltica entendida como guerra dos amigos contra os
inimigos e como vontade e deciso secreta do soberano, cuja ao
incontestada, correspondem perfeitamente maneira como os fun-
damentalismos religiosos concebem a poltica como batalha entre o
bem e o mal e a atividade soberana como misso sagrada porque
comandada por Deus. Os discursos de Sharon, Bin Laden e Bush so
as expresses mais perfeitas e mais acabadas da impossibilidade da
poltica sob o fundamentalismo das religies monotestas reveladas.
Com elas, a poltica cede lugar violncia como puricao contra o
Mal, e os polticos cedem lugar aos profetas, isto , aos intrpretes da
vontade divina, chefes infalveis.
Dessa maneira, o desencantamento do mundo, obra da civiliza-
o moderna, se v s voltas com o misticismo do mercado e a violn-
cia da teologia poltica. Em outras palavras, com a barbrie interna
ao civilizatria.
133
A CRTICA DO PODER TEOLGICO-POLTICO EM ESPINOSA
Antes de nos aproximarmos da crtica espinosana teologia poltica,
convm, de maneira muito breve e sumria, recordar algumas das po-
sies tericas exemplares a respeito da relao entre f e razo, teo-
logia e losoa, tomando como referncia o cristianismo (ainda que
posies semelhantes possam ser encontradas tanto no judasmo como
no islamismo). Destaquemos cinco delas:
- a de Paulo e Agostinho, que pode ser resumida na oposio pau-
lina, segundo a qual a f escndalo para a razo e a razo es-
cndalo para f, no podendo haver comrcio e colaborao entre
ambas. Acrescentemos armao paulina a concepo agosti-
niana de ordem csmica como hierarquia dos seres na qual o grau
superior sabe mais e pode mais que o grau inferior, que por isso
mesmo lhe deve obedincia. No que da respeito ao homem, alm
de seu lugar na hierarquia universal, h tambm uma hierarquia
entre os componentes de seu ser, tal que o corpo o grau mais
inferior, seguido da razo e esta suplantada pelo esprito ou pela
f. Aqui, no s a razo est subordinada f, como nada diante
dela. Por isso mesmo, a teologia s pode ser negativa;
- a de Toms de Aquino, para quem a razo natural de origem
divina, assim como de origem divina a revelao ou luz sobrena-
tural. Ora, a verdade no contradiz a verdade, portanto, embora a
revelao seja superior razo, ambas no se contradizem, mas
a revelao completa e supera a razo. A teologia positiva como
teologia racional e subordinada teologia revelada, a qual, para o
entendimento humano, s pode ser negativa e objeto de f;
- a de Abelardo e Guilherme de Ockham, os quais preciso separar
verdades de f e verdades de razo, admitindo a existncia de um
saber prprio da f e outro prprio da razo, independentes e que
no se contradizem no porque a verdade no contradiz a verdade,
mas porque nada tm em comum. No havendo relao alguma
entre f e razo, no podem completar-se nem contradizer-se;
- a de Kant, quando prope a religio nos limites da simples ra-
zo, isto , quando, depois de separar razo pura terica e razo
pura prtica, coloca os contedos da f e da religio na esfera da
razo prtica. Dessa maneira, exprimindo o esprito da moderni-
dade, Kant circunscreve a religio esfera da vida prtica e re-
cusa validade para uma teologia racional ou especulativa, assim
como para a teologia revelada;
Marilena Chau
134
Filosofia poltica contempornea
- a de Hegel, para quem a religio um momento da vida do Es-
prito Absoluto, passando das religies da exterioridade (greco-
romana e judaica) da interioridade (cristianismo) e tendo no
protestantismo sua gura mais espiritualizada, mais alta e nal
cuja verdade se encontra na losoa. Podemos dizer que a posi-
o hegeliana a inverso nal da posio paulina-agostiniana.
Essas cinco posies so tomadas no interior da religio e da f. Todas sal-
vam a religio, seja excluindo a razo, seja recorrendo a uma hierarquia
entre f e razo, seja estabelecendo uma separao em face da razo,
seja por meio da losoa da histria, isto , da interiorizao do tempo
judaico-cristo como um tempo dramtico ou referenciado, teleolgico,
epifnico e teofnico, de tal maneira que a losoa hegeliana o ponto
culminante da racionalizao da religio e da sacralizao da razo.
A essas posies interiores religio, cabe contrapor a dos liber-
tinos dos sculos XVI e XVII e a dos philosophes da Ilustrao, com os
quais o desencantamento do mundo se realiza no exterior da religio, isto
, pela idia de que as religies (sobretudo as reveladas) so ignorncia,
atraso, obstculo civilizao e institudas com uma nica nalidade,
qual seja, a dominao poltica por meio do engodo e do logro. Nessa
perspectiva, a razo ou a losoa no salvam a religio, mas a destroem
ou, no caso dos defensores da tolerncia, a excluem do espao pblico e
a transferem para o interior da conscincia, na qualidade de escolha ou
preferncia subjetiva, isto , de opinio que, enquanto opinio, deve ser
tolerada, desde que no interra no espao poltico, no qual sua presen-
a causa de fanatismo, sectarismo e sedio, isto , barbrie.
A posio de Espinosa se distingue de todas essas. verdade que,
como Abelardo e Ockham, julga que f e razo esto separadas e que,
portanto, teologia e losoa so inteiramente diferentes. verdade que,
como Kant mais tarde, afasta religio e teologia do campo especulativo e
as coloca no campo prtico. verdade tambm que, como os Ilustrados
mais tarde, considera a f ou a religio uma opinio de foro ntimo que
deve ser tolerada, desde que no interra no espao pblico provocando
violncia e terror. E verdade que, como os libertinos, estabelece uma li-
gao necessria entre teologia e dominao poltica por engodo e logro.
Todavia, essas semelhanas escondem diferenas profundas. Ockham
separara duas esferas de saber; Espinosa demonstra que a separao en-
tre losoa e teologia no uma separao entre dois tipos de saber,
pois a teologia no um saber, e sim um no-saber. Kant retira religio e
teologia do campo especulativo, mas lhes d funes prticas no campo
da salvao e da esperana; Espinosa retira religio e teologia do campo
135
especulativo, admite que qualquer religio (revelada ou no) a busca
imaginria de salvao, e arma que a funo prtica da teologia no a
da religio, pois esta busca imaginariamente a salvao, enquanto aque-
la pretende conseguir a servido humana. Diferentemente dos libertinos
e dos Ilustrados, no julga a religio uma forma arcaica ou primitiva do
esprito humano, mas a relao necessria da imaginao humana com
a contingncia e com o medo que esta gera. E por m, diferentemente de
libertinos e Ilustrados, que afastam a religio e a teologia como formas
de engodo e logro, Espinosa busca a gnese de ambas e a maneira como
constituem os alicerces ou os fundamentos de um determinado tipo de
poder, o poder teolgico-poltico. Sem destruir esses alicerces e funda-
mentos, toda crtica da religio e da teologia corre o risco de mant-las
sem que se perceba que esto sendo mantidas porque seus fundamentos
no foram destrudos.
Para compreendermos o surgimento da religio e do poder teol-
gico-poltico, preciso remontar sua causa primeira: a superstio.
Se os homens pudessem, em todas as circunstncias, decidir
pelo seguro, ou se a fortuna se lhes mostrasse sempre favorvel,
jamais seriam vtimas da superstio. Mas, como se encontram
freqentemente perante tais diculdades que no sabem que de-
ciso ho de tomar, e como os incertos benefcios da fortuna que
desenfreadamente cobiam os fazem oscilar, a maioria das vezes,
entre a esperana e o medo, esto sempre prontos a acreditar
seja no que for [...] At julgam que Deus tem averso pelos sbios
e que seus decretos no esto inscritos em nossa mente, mas sim
nas entranhas dos animais, ou que so os loucos, os insensatos,
as aves, quem por instinto ou sopro divino os revela. A que pon-
to o medo ensandece os homens! O medo a causa que origina
e alimenta a superstio [...] os homens s se deixam dominar
pela superstio enquanto tm medo [...] nalmente, quando os
Estados se encontram em maiores diculdades que os adivinhos
detm o maior poder sobre a plebe e so mais temidos pelos reis
(Espinosa, 1925: 5; 1988: 111).
O medo a causa que origina e alimenta a superstio e os homens s
se deixam dominar pela superstio enquanto tm medo. Mas de onde
vem o prprio medo?
Se os homens pudessem ter o domnio de todas as circunstncias
de suas vidas, diz Espinosa, no se sentiriam merc dos caprichos da
fortuna, isto , do acaso ou da sorte. Que o acaso? A ordem comum da
Marilena Chau
136
Filosofia poltica contempornea
Natureza tecida com os encontros fortuitos entre as coisas, os homens e os
acontecimentos. Os homens se sentem merc da fortuna porque tomam
essa ordem comum, imaginria, como se fosse a ordem necessria da rea-
lidade. De onde vem a ordem comum? Da maneira como interpretam a re-
alidade conforme suas paixes, pois estas so a forma originria, natural
e necessria de sua relao com o mundo. O desejo, demonstra Espinosa
na tica, a prpria essncia dos seres humanos. Paixes e desejos so as
marcas de nossa nitude, de nossas carncias e de nossa dependncia do
que nos exterior e que escapa de nosso poder. Por isso mesmo, a aber-
tura do Tratado Teolgico-Poltico prope uma hiptese se os homens ti-
vessem poder e controle sobre todas as circunstncias de suas vidas, que
ser negada e de cuja negao vemos emergir a superstio.
Como no possuem o domnio das circunstncias de suas vidas e
so movidos pelo desejo de bens que no parecem depender deles pr-
prios, os humanos so habitados naturalmente por duas paixes, o medo
e a esperana. Tm medo que males lhes aconteam e que bens no lhes
aconteam, assim como tm esperana de que bens lhes aconteam e de
que males no lhes aconteam. Visto que esses bens e males, no pare-
cendo depender deles prprios, lhes parecem depender inteiramente da
fortuna ou do acaso, e como reconhecem que tais coisas so efmeras,
seu medo e sua esperana jamais acabam, pois assim como coisas boas
lhes vieram sem que soubessem como nem por que, tambm podem desa-
parecer sem que saibam as razes desse desaparecimento; e assim como
coisas ms lhes vieram sem que soubessem como nem por que, tambm
podem desaparecer sem que saibam os motivos de sua desapario.
A gnese da superstio encontra-se, portanto, na experincia
da contingncia. A relao impondervel com um tempo cujo curso
ignorado, no qual o presente no parece vir em continuidade com o
passado e nada, nele, parece anunciar o futuro, gera simultaneamente
a percepo do efmero e do tempo descontnuo, a incerteza e a impre-
visibilidade. Desejantes e inseguros, os homens experimentam medo e
esperana. De seu medo nasce a superstio. Com efeito, a incerteza e a
insegurana geram a procura de sinais que permitam prever a chegada
de bens e males; essa busca gera a credulidade em signos; a creduli-
dade leva busca de sistemas de signos indicativos, isto , de press-
gios e a busca de pressgios, crena em poderes sobrenaturais que,
inexplicavelmente, enviam bens e males aos homens. Dessa crena em
poderes transcendentes misteriosos, nascer a religio.
Assim, por medo de males e da perda de bens, e por esperana
de bens e de sua conservao, ou seja, pelo sentimento da contingncia
137
do mundo e da impotncia humana para dominar as circunstncias
de suas vidas, os homens se tornam supersticiosos, alimentam a su-
perstio por meio da credulidade e criam a religio como crena em
poderes transcendentes ao mundo, que o governam segundo decretos
humanamente incompreensveis. Por que ignoram as causas reais dos
acontecimentos e das coisas, por que ignoram a ordem e conexo ne-
cessrias de todas coisas e as causas reais de seus sentimentos e de
suas aes, imaginam que tudo depende de alguma vontade onipoten-
te que cria e governa todas as coisas segundo desgnios inalcanveis
pela razo humana. Por isso abdicam da razo como capacidade para
o conhecimento da realidade e esperam da religio no somente essa
explicao, mas tambm que afaste o medo e aumente a esperana.
Mas Espinosa prossegue: se o medo a causa da superstio,
trs concluses se impem. A primeira que todos os homens esto
naturalmente sujeitos a ela, e no, como armam os telogos, porque
teriam uma idia confusa da divindade, pois, ao contrrio, a supers-
tio no efeito e sim causa da ignorncia a respeito da deidade. A
segunda que ela deve ser extremamente varivel e inconstante, uma
vez que variam as circunstncias em que se tem medo e esperana, va-
riam as reaes de cada indivduo s mesmas circunstncias e variam
os contedos do que temido e esperado. A terceira que s pode ser
mantida ou permanecer mais longamente se uma paixo mais forte a
zer subsistir, como o dio, a clera e a fraude. Facilmente os homens
caem em todo tipo de superstio. Dicilmente persistem durante mui-
to tempo numa s e na mesma. Ora, diz Espinosa, no h meio mais
ecaz para dominar os homens do que mant-los no medo e na espe-
rana, mas tambm no h meio mais ecaz para que sejam sediciosos
e inconstantes do que a mudana das causas de medo e esperana. Por
conseguinte, os que ambicionam dominar os homens precisam estabi-
lizar as causas, as formas e os contedos do medo e da esperana. Essa
estabilizao feita por meio da religio:
Por isso que estas [as massas] so facilmente levadas, sob a
capa da religio, ora a adorar os reis como se fossem deuses,
ora a execr-los e a detest-los como se fossem uma peste para
todo o gnero humano. Foi, de resto, para prevenir esse perigo
que houve sempre o cuidado de rodear a religio, fosse ela ver-
dadeira ou falsa, de culto e aparato, de modo a que se reves-
tisse da maior gravidade e fosse escrupulosamente observada
por todos (Espinosa, 1925: 5; 1988: 111).
Marilena Chau
138
Filosofia poltica contempornea
Ociantes dos cultos, senhores da moralidade dos crentes e dos gover-
nantes, intrpretes autorizados das revelaes divinas, os sacerdotes
buscam xar as formas fugazes e os contedos incertos das imagens
de bens e males e das paixes de medo e esperana. Essa xao de
formas e contedos ser tanto mais ecaz quanto mais os crentes acre-
ditarem que sua fonte a vontade do prprio Deus revelada a alguns
homens sob a forma de decretos, mandamentos e leis. Em outras pala-
vras, a eccia no controle da superstio aumenta se os contedos de
medo e esperana surgirem como revelaes da vontade e do poder de
uma divindade transcendente. Isso signica que as religies reveladas
so mais potentes e mais estabilizadoras do que as outras. A potncia
religiosa torna-se ainda mais forte se os diferentes poderes que gover-
nam o mundo forem unicados num nico poder onipotente o mo-
notesmo uma religio mais potente do que o politesmo. A fora da
religio aumenta, se os crentes estiverem convencidos de que o nico
deus verdadeiro o seu e que ele os escolheu para enviar suas vontades.
Em outras palavras, uma religio monotesta mais potente quando
seus is se consideram eleitos pelo deus verdadeiro, que lhes promete
bens terrestres, vingana contra seus inimigos e salvao numa outra
vida, que ser eterna. E, por m, a fora dessa religio ainda maior
se seus crentes acreditarem que o deus se revela, isto , fala aos is,
dizendo-lhes qual sua vontade a religio monotesta da eleio de
um povo e do deus revelado a mais potente de todas.
Ora, a vontade divina revelada ter um poder muito mais forte
se a revelao no for algo corriqueiro e ao alcance de todos, mas algo
misterioso dirigido a alguns escolhidos os profetas. Assim, o ncleo
da religio monotesta revelada a profecia, pois dela provm a uni-
dade e a estabilidade que xam de uma vez por todas os contedos do
medo e da esperana. Essa xao assume a forma de mandamentos
ou leis divinas, que determinam tanto a liturgia, isto , as cerimnias e
os cultos, como os costumes, hbitos, formas de vida e de conduta dos
is. Numa palavra, a revelao determina as formas das relaes dos
homens com a divindade e dos homens entre si. Por outro lado, a pro-
fecia tambm a revelao da vontade divina quanto ao governo dos
homens: a divindade decreta as leis da vida social e poltica e determina
quem deve ser o governante, escolhido pela prpria divindade. Numa
palavra, as religies monotestas reveladas ou profticas fundam pol-
ticas teocrticas, nas quais o governante governa por vontade do deus.
isto que, no judasmo e no cristianismo, aparece no texto de um livro
sagrado, os Provrbios, no qual se l: todo poder vem do Alto/Por mim
139
reinam os reis e governam os prncipes. isso tambm que aparece
no cristianismo com o chamado princpio petrneo das Chaves, ou o
que se l no Evangelho de Mateus: Tu s pedra e sobre esta pedra edi-
carei a minha Igreja. E as portas do inferno no prevalecero contra
ela. Eu te darei as Chaves do Reino. O que ligares na terra ser ligado
no cu; o que desligares na terra ser desligado no cu.
Todavia, ainda que as profecias estejam consignadas em escritos
sagrados inviolveis as religies monotestas reveladas so as trs re-
ligies do Livro, judasmo, cristianismo e islamismo, o fato de que es-
ses escritos sejam a fonte do poder teocrtico os transforma em objeto
permanente de disputa e guerra. Essa disputa e essa guerra se realizam
em torno da interpretao do texto sagrado, seja em torno de quem tem
o direito de interpret-lo, seja em torno do prprio contedo interpre-
tado. na disputa e guerra das interpretaes que surge a gura do
telogo. Isso signica que a teologia no um saber terico ou espe-
culativo sobre a essncia de Deus, do mundo e do homem, e sim um
poder para interpretar o poder do deus, consignado em textos.
A teologia denida pela tradio judaica e crist como cin-
cia supranatural ou sobrenatural, pois sua fonte a revelao divina
consignada nas Sagradas Escrituras. Ora, Espinosa considera que a
losoa o conhecimento da essncia e da potncia de Deus, isto ,
o conhecimento racional da idia do ser absolutamente innito e de
sua ao necessria. Em contrapartida, considera que a Bblia no
oferece (nem sua nalidade faz-lo) um conhecimento racional es-
peculativo da essncia e potncia do absoluto, e sim um conjunto
muito simples de preceitos para a vida religiosa e moral, que podem
ser reduzidos a dois: amar a Deus e ao prximo (os preceitos da jus-
tia e da caridade). No h na Bblia conhecimentos especulativos
ou loscos porque, arma Espinosa, uma revelao um conheci-
mento por meio de imagens e signos com que nossa imaginao cria
uma imagem da divindade com a qual possa relacionar-se pela f. Eis
porque no h que se procurar nas Sagradas Escrituras especulaes
loscas, mistrios loscos, exposies racionais sobre a essn-
cia e a potncia de Deus, pois ali no esto: o Antigo Testamento o
documento histrico de um povo determinado e de seu Estado, hoje
desaparecido, a teocracia hebraica; o Novo Testamento o relato his-
trico da vinda de um salvador, de sua vida, de seus feitos, de sua
morte e de suas promessas a quem o seguir.
Uma vez que os escritos sagrados das religies no se dirigem
ao intelecto e ao conhecimento conceitual do absoluto, no h neles
Marilena Chau
140
Filosofia poltica contempornea
fundamento terico para o aparecimento da teologia, entendida como
interpretao racional ou especulativa de revelaes divinas. Eis por
que, aparentando dar fundamentos racionais s imagens com que os
crentes concebem a divindade e as relaes dela com eles, o telogo
invoca a razo para, depois de garantir por razes certas sua inter-
pretao do que foi revelado, encontrar razes para tornar incerta
a razo, combatendo-a e condenando-a. Os telogos, explica Espino-
sa, cuidaram em descobrir como extorquir dos Livros Sagrados suas
prprias ces e arbitrariedades e por isso nada fazem com menor
escrpulo e maior temeridade do que a interpretao das Escrituras.
No s isso. Se nesse labor algo os aige,
no o temor de atribuir ao Esprito Santo algum erro e de se
afastar do caminho da salvao, mas sim que outros os apanhem
em erro e, desse modo, tenham sua autoridade calcada pelos
ps dos adversrios e sejam alvo de escrnio. Porque, se os ho-
mens fossem sinceros quando falam das Escrituras, outra seria
sua regra de vida: suas mentes no andariam agitadas com tanta
discrdia, no se combateriam uns aos outros com tanto dio,
nem seriam arrastados por um to cego e temerrio desejo de
interpretar as Escrituras e de inventar coisas novas na religio
(Espinosa, 1925: 115; 1988: 207).
Recorrendo razo ou luz natural quando dela carece para impor
o que interpreta e expulsando a razo quando esta lhe mostra a fal-
sidade da interpretao, ou quando j obteve a aceitao do seu
ponto de vista, a atitude teolgica em face da razo desenha o lugar
prprio da teologia: esta um sistema de imagens com pretenso
ao conceito com o escopo de obter, por um lado, o reconhecimento
da autoridade do telogo (e no da verdade intrnseca de sua inter-
pretao) e, por outro, a submisso dos que o escutam, tanto maior
se for conseguida por consentimento interior. O telogo visa ob-
teno do desejo de obedecer e de servir. Dessa maneira, torna-se
clara a diferena entre losoa e teologia. A losoa saber. A teo-
logia, no-saber, uma prtica de origem religiosa destinada a criar e
conservar autoridades pelo incentivo ao desejo de obedincia. Toda
teologia teologia poltica.
Intil para a f pois esta se reduz a contedos muito simples e
a poucos preceitos de justia e caridade, perigosa para a razo livre
que opera segundo sua necessidade interna autnoma, danosa para a
poltica que trabalha os conitos sociais em vista da paz, da segurana
141
e da liberdade dos cidados, a teologia no apenas diferente da lo-
soa, mas a ela se ope. Por isso, escreve Espinosa, nenhum comrcio
e nenhum parentesco pode haver entre losoa e teologia, pois seus
fundamentos e seus objetivos so inteiramente diferentes.
Como se observa, Espinosa no diz que a religio um imagin-
rio arcaico que a razo expulsa, nem diz que a superstio um defeito
mental que a cincia anula. No se trata de excluir a religio nem de in-
clu-la na marcha da razo na histria e sim trata-se de examinar criti-
camente o principal efeito da religio monotesta revelada, qual seja, a
teologia poltica. Espinosa indaga como e porque h superstio, como
e por que a religio domina os espritos e quais so os fundamentos do
poder teolgico-poltico, pois se tais fundamentos no forem destru-
dos, a poltica jamais conseguir realizar-se como ao propriamente
humana em condies determinadas.
Ao iniciarmos nosso percurso, enfatizamos que a contingncia, a
insegurana, a incerteza e a violncia so as marcas da condio ps-
moderna ou da barbrie neoliberal e do decisionismo da razo de Es-
tado, e que so elas responsveis pela despolitizao (sob a hegemonia
da ideologia da competncia e do encolhimento do espao pblico)
e pelo ressurgimento dos fundamentalismos religiosos, no somente
na esfera moral, mas tambm na esfera da ao poltica. Se acompa-
nharmos a interpretao espinosana, podemos destacar os seguintes
aspectos: a experincia da contingncia, gerando incerteza e insegu-
rana, alimenta o medo e este gera superstio; a nitude humana e
a essncia passional ou desejante dos humanos os coloca na depen-
dncia de foras externas que no dominam e que podem domin-los;
para conjurar a contingncia e a nitude, assegurar a realizao dos
desejos e diminuir o carter efmero de seus objetos e estabilizar a
instabilidade da existncia, os humanos conam em sistemas imagin-
rios de ordenao do mundo: pressgios, deuses, religies e reis, isto
, conam em foras e poderes transcendentes; para no car ao sabor
das vicissitudes da fortuna, aceitam car merc de poderes cuja for-
ma, contedo e ao lhes parecem portadores de segurana, desde que
obedecidos diretamente ou tenham seus representantes obedecidos. A
religio racionaliza (em sentido psicanaltico) o medo e a esperana;
a submisso ao poder poltico como poder de uma vontade soberana
secreta, situada acima de suas vontades individuais, racionaliza o per-
mitido e o proibido. Essa dupla racionalizao mais potente quando
a religio monotesta, revelada e destinada a um povo que se julga
eleito pelo deus. A potncia dessa racionalizao poltico-religiosa
Marilena Chau
142
Filosofia poltica contempornea
ainda maior, se alguns peritos ou especialistas reivindicarem a compe-
tncia exclusiva e o poder para interpretar as revelaes (portanto as
vontades divinas), decidindo quanto ao contedo do bem e do mal, do
justo e do injusto, do verdadeiro e do falso, do permitido e do proibido,
do possvel e do impossvel, alm de decidir quanto a quem tem o direi-
to ao poder poltico e s formas legais da obedincia civil.
Essa dominao religiosa e poltica teologia poltica; aquele
que a exerce, enquanto especialista competente, avoca para si o conhe-
cimento das vontades divinas e domina os corpos e os espritos dos -
is, governantes e governados o telogo poltico. O poder poltico, na
medida em que provm de revelaes divinas, de tipo teocrtico, isto
, o comando, em ltima instncia, do prprio deus, imaginado an-
tropocentricamente e antropomorcamente como um super-homem,
pessoa transcendente dotada de vontade onipotente, entendimento
onisciente, com funes de legislador, monarca e juiz do universo.
Para Espinosa, tratava-se, de um lado, de compreender as neces-
sidades a que a religio responde e, de outro, de demolir aquilo que pro-
vm dela como efeito poltico, isto , a teologia poltica. Em termos espi-
nosanos, demolir os fundamentos do poder teolgico-poltico signica:
- compreender a causa da superstio, isto , o medo e a esperan-
a produzidos pelo sentimento da contingncia do mundo, das
coisas e dos acontecimentos, e sua conseqncia necessria, isto
, a religio como respostas incerteza e insegurana, isto ,
como crena numa vontade superior que governa os homens e
todas as coisas;
- compreender como surgem as religies reveladas para xar formas
e contedos da superstio, a m de estabiliz-la e us-la como ins-
trumento de ordenao do mundo e de coeso social e poltica;
- realizar a crtica da teologia sob trs aspectos principais: a) mos-
trando que intil para a f, pois a Bblia no contm verdades te-
ricas ou especulativas sobre Deus, o homem e o mundo, mas pre-
ceitos prticos muito simples adorar a Deus e amar o prximo,
que podem ser compreendidos por todos. O Antigo Testamento,
o documento histrico e poltico de um Estado particular de-
terminado, o Estado hebraico fundado por Moiss, no podendo
servir de modelo e regra para Estados no hebraicos. Por sua vez
o Novo Testamento uma mensagem de salvao individual cujo
contedo tambm bastante simples, qual seja, Jesus o Messias
que redimiu os homens do pecado original e os conduzir glria
143
da vida eterna, se amarem uns aos outros como Jesus os amou; b)
criticando a suposio de que h um saber especulativo e tcnico
possudo por especialistas em interpretao dos textos religiosos,
mostrando que conhecer a Bblia conhecer a lngua e a histria
dos hebreus, e, portanto, que a interpretao dos livros sagrados
uma questo de lologia e histria e no de teologia; e c) mos-
trando que a particularidade histrico-poltica narrada pelo docu-
mento sagrado no permite que a poltica teocrtica, que o anima,
seja tomada como paradigma universal da poltica, pois apenas
a maneira como um povo determinado, em condies histricas
determinadas, fundou seu Estado ao mesmo tempo que sua reli-
gio, sem que sua experincia possa ou deva ser generalizada para
todos os homens em todos os tempos e lugares; por conseguinte
toda tentativa teolgica de manter a teocracia como forma poltica
ordenada por Deus fraude e engodo;
- examinar e demolir o fundamento do poder teolgico-poltico,
qual seja a imagem antropomrca de um deus imaginado como
pessoa transcendente, dotado de vontade onipotente e intelec-
to onisciente, criador, legislador, monarca e juiz do universo. A
Parte I da tica , simultaneamente, a explicao da gnese ima-
ginria do antropomorsmo e do antropocentrismo religioso e
teolgico, e sua destruio pela demonstrao de que Deus no
pessoa transcendente cujas vontades se manifestam na criao
contingente de todas coisas e na revelao religiosa, mas a a
substncia absolutamente innita cuja essncia e potncia so
imanentes ao universo inteiro, o qual se ordena em conexes ne-
cessrias e determinadas, nele nada havendo de contingente. Em
outras palavras, somente a crtica da transcendncia do ser e do
poder do Absoluto e da contingncia de suas aes voluntrias
pode desmantelar o poder teolgico-poltico;
- encontrar os fundamentos da poltica na condio humana ou
nos homens tais como realmente so e no como os telogos
gostariam que eles fossem, ou seja, a poltica no uma cincia
normativa que depende da religiosidade do homem, para o qual
o deus teria enviado mandamentos e a denio do bem e do
mal, com a qual se construiria a imagem do bom governante
virtuoso, que recebe mandato divino para dirigir e dominar as
paixes dos homens. A poltica atividade humana imanente ao
social, que institudo pelas paixes e aes dos homens em con-
dies determinadas;
Marilena Chau
144
Filosofia poltica contempornea
- uma vez que a origem do poder poltico imanente s aes dos
homens e que o sujeito poltico soberano a potncia da massa
(multitudinis potentia) e que esta decide agir em comum mas
no pensar em comum, o poder teolgico-poltico duplamente
violento: em primeiro lugar, porque pretende roubar dos homens
a origem de suas aes sociais e polticas, colocando-as como
cumprimento a mandamentos transcendentes de um vontade di-
vina incompreensvel ou secreta, fundamento da razo de Esta-
do; em segundo, porque as leis divinas reveladas, postas como
leis polticas ou civis, impedem o exerccio da liberdade, pois no
regulam apenas usos e costumes, mas tambm a linguagem e o
pensamento, procurando dominar no s os corpos, mas tam-
bm os espritos;
- na medida em que o poder teolgico-poltico instrumentaliza a
crena religiosa para assegurar obedincia e servido voluntria,
fazendo com que os homens julguem honroso derramar seu san-
gue e o dos outros para satisfazer ambio de uns poucos, esse
poder exerccio do terror.
BIBLIOGRAFIA
Benjamin, Walter 1985 O conceito de histria em Obras escolhidas. Magia e
tcnica. Arte e poltica (So Paulo: Brasiliense).
Espinosa 1925 Tratactus theologico-politicus em Spinoza Opera
(Heideliberg: Carl Gebhardt) Tomo III. [Em portugus: 1988 Tratado
Teolgico-Poltico (Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda)].
Harvey, David 1992 A condio ps-moderna (So Paulo: Loyola).
Ramoneda, Josep 2000 Depois da paixo poltica (So Paulo: Editora Senac).
145
Atilio A. Boron* e Sabrina Gonzlez**
Resgatar o inimigo?
Carl Schmitt e os debates
contemporneos da teoria do estado
e da democracia
POR QUE CARL SCHMITT?
Neste trabalho, propomo-nos a avaliar a eventual contribuio que o pen-
samento de Carl Schmitt poderia supostamente aportar para o aprofun-
damento de nossa compreenso sobre o estado e a democracia no capi-
talismo contemporneo. Devemos confessar que esta tentativa nasce da
perplexidade que nos produz a constatao do auge schmittiano em uma
literatura que se nutre tanto de autores de prospia liberal como de ou-
tros provenientes do outro conm do arco ideolgico que assegura ter
encontrado nas elaboraes conceituais do terico alemo ferramentas
imprescindveis para superar o atual impasse da teoria poltica. Diante
desta moda schmittiana nossa insatisfao dupla. Por um lado, nos
preocupa a relevncia que se concede obra de um autor que sem a menor
dvida pertence ao ncleo duro do pensamento autoritrio e reacionrio
* Secretrio Executivo do Conselho Latino-americano de Cincias Sociais (CLACSO).
Professor regular titular de Teoria Poltica e Social da Faculdade de Cincias Sociais,
Universidade de Buenos Aires (UBA). Pesquisador do CONICET.
** Licenciada em Cincia Poltica pela Universidade de Buenos Aires (UBA). Docente e
pesquisadora da Faculdade de Cincias Sociais, Universidade de Buenos Aires (UBA).
146
Filosofia poltica contempornea
do sculo XX. Parafraseando a clssica distino de Schmitt entre amigo
e inimigo, parece-nos que pretender fortalecer a penetrao e o rigor da
reexo sobre a democracia indo ao resgate de um dos mais inamados
inimigos tanto no terreno das idias como na prtica concreta da Alema-
nha do perodo entre guerras constitui um enorme erro de apreciao e
uma mostra eloqente do estado de confuso que reina no campo do pen-
samento supostamente progressista e contestatrio. Neste sentido, acredi-
tamos ser importante apontar que uma coisa tentar um dilogo crtico
com o pensamento schimittiano, ao que mal nos poderamos opor, e outra
bem distinta cair, em alguns momentos, em uma escandalosa sobrevalo-
rizao dos mritos de sua obra. No se trata de ignorar as contribuies
tericas que se geram margem do pensamento democrtico liberal ou
da tradio socialista. Mas imprescindvel assinalar que Schmitt jamais
abjurou de sua lealdade com o regime poltico que produziu a mais hor-
rorosa tragdia poltica do sculo XX. Dupla insatisfao, dizamos tam-
bm, porque um conjunto de intelectuais e tericos que se reconhecem no
campo da esquerda e que so, ou melhor, foram referentes tericos im-
portantes do mesmo, so protagonistas fundamentais da dolorosa reabili-
tao deste pensador nazi. Quando no poucos intelectuais conservadores
e neoconservadores se detiveram alarmados s portas do edifcio terico
schmittiano, muitos dos que provinham do marxismo e outras variantes
do pensamento crtico adentraram ao mesmo irresponsvel e despreocu-
padamente, sem medir as conseqncias de seus atos.
Podemos dizer, em conseqncia, que a moda schmittiana
reconhece vrias fontes de inspirao. Comecemos mencionando
aqueles que estudaram a obra de Schmitt com rigor e sem rudos,
alheios a momentneos humores, mas no nosso entender na equi-
vocada convico de que existiriam nos escritos do pensador ale-
mo elementos de grande valor para a reconstruo da teoria pol-
tica. Na Argentina, o exemplo mais destacado oferecido pela obra
de Jorge E. Dotti (2000)
1
. Em segundo lugar, a moda schmittiana
1 Julio Pinto, em seu prlogo a Carl Schmitt: su poca y su pensamiento aponta os alvos prin-
cipais deste itinerrio. Desde o Dilogo crtico de Jos Aric em 1984 at a reabilitao
proposta de posies de esquerda por Giacomo Marramao h um longo perodo, s possvel
graas ao lamentvel extravio terico e prtico sofrido pelo marxismo italiano desde a d-
cada dos 80 e em cuja confuso a gura de Schmitt surge como a de um gigante intelectual
capaz de resolver os novos enigmas da poltica que a herana gramsciana se revelava incapaz
de resolver (Pinto, 2002: 8-9). De todos modos, saudamos a apario do livro compilado por
Jorge E. Dotti e Julio Pinto (2002), assim como a publicao de Carl Schmitt en la Argentina
(Dotti, 2000), ambos muito mais cautelosos que nossos colegas europeus na apreciao das
contribuies da obra do autor alemo teoria poltica contempornea.
147
se nutre tambm disso que com sua sabedoria Plato denominava
o af de novidades, isto , uma atitude fortemente marcada pelo
esnobismo e pela brilhante superficialidade daqueles, que a exem-
plo dos sofistas, substituam a reflexo medular por engenhosos jo-
gos de linguagem diante da necessidade de demonstrar que se est
a par do que discutem os crebros bem pensantes de seu tempo.
Para aqueles que caram sob esta influncia, o exame da obra de
Schmitt no precisa de outra justificao alm do fato de que apa-
rentemente todo mundo est falando dela. No entanto, devemos
reconhecer que nossa maior preocupao centra-se na terceira das
musas inspiradoras desta moda schmittiana, as exuberantes exal-
taes que o pensamento schmittiano conseguiu concitar desde a
celebrrima crise do marxismo, convertida em prspera inds-
tria acadmica e em uma segura avenida para o reconhecimento
material e espiritual de um vasto exrcito de intelectuais desiludi-
dos deixados em posies um tanto incmodas pelas vertiginosas
mudanas histrico-polticas ocorridas nas duas ltimas dcadas
do sculo passado. Uma maneira oportuna de expiar as culpas do
passado e de demonstrar uma renovada abertura intelectual o so
ecletismo to apreciado pelo pequeno mundo acadmico parecia
ser a insensata sobrevalorizao que muitos ex-marxistas efetuam
da obra de tericos que at no faz muito tempo se encontravam
nas antpodas de seu pensamento.
Uma das condies de existncia do marxismo foi a crtica
permanente e incessante de outras teorias. Portanto, longe de nos-
sa inteno propor uma atitude de indiferena diante da produo
schmittiana. No h nada no mundo mais antimarxista do que o
empenho sectrio daquelas boas almas esquerdistas que acreditam
que se pode ser um bom marxista lendo to s os autores que se
inscrevem nessa tradio. Mas se esta atitude merece toda nossa
reprovao, o mesmo ocorre com aquela que adotam os que, frus-
trados diante da esterilidade do dogma, superestimam temeraria-
mente toda produo intelectual alheia tradio marxista pelo
nico fato de s-la. Os casos de Chantal Mouffe e de grande parte
dos restos em decomposio do marxismo italiano so exemplos
paradigmticos desta variante. Considere-se que um pensador to
importante dessa corrente como Giacomo Marramao quem duran-
te anos pontificou urbi et orbi sobre qual devia ser a leitura corre-
ta do legado de Antonio Gramsci se voltou de corpo e alma nada
menos que recuperao do, segundo ele, injustamente esque-
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
148
Filosofia poltica contempornea
cido Carl Schmitt
2
. O caso de Mouffe se inscreve na mesma linha
involutiva, atribuindo obra do pensador nazi uma estatura e uma
densidade que crescem em proporo direta com o irreparvel des-
caminho em que caiu a antiga partisan de maio do 68 parisiense.
Em um texto de 1993, esta autora, seguindo os conselhos da direita
neoconservadora, declarou morto o marxismo. Isto, claro, trazia
um problema atrelado: a desapario do lxico das cincias sociais
de toda noo referida ao antagonismo social. Por sorte, assegura
Mouffe, dispomos do arsenal de conceitos schmittianos para dar
conta dos antagonismos prprios da vida social e, de passagem,
aproveitando-nos de sua incisiva crtica, para fortalecer a demo-
cracia liberal diante de seus detratores (Mouffe, 1993: 2).
A atual crise das democracias capitalistas e a decomposio te-
rico-prtica do liberalismo poltico parecem ser os fatores que deto-
naram a desmedida proeminncia alcanada pela obra deste jurista
alemo. Diante de panoramas to despojados de alternativas, poucos
parecem ser capazes de resistir tentao que supe a possibilidade de
recuperar opes do passado sem interrogar muito pelas credenciais
dos reabilitados. No obstante, se bem seja certo que os signos de de-
cadncia das atuais democracias so to evidentes como nefastos no
mundo desenvolvido e na periferia seria difcil assimilar esta decli-
nante trajetria com a experimentada pelo parlamentarismo republica-
no de Weimar. Cabe perguntar, pois, qual o denominador comum que
vincularia os desafortunados processos em curso nos anos 20 e 30 na
Alemanha do sculo XX com os que reaparecem nas ltimas dcadas
do sculo passado, e que motivam uma surpreendente exegese do pen-
samento schmittiano ante a qual no podemos apresentar nada menos
do que nosso mais rotundo ceticismo.
DE CONTEXTOS SCIO-HISTRICOS E BIOGRFICOS
Um axioma fundamental de nossa perspectiva intelectual diz que no
se pode entender a obra de um autor margem das circunstncias e
avatares que marcaram seu tempo e sua prpria biograa. No se pode
2 Para Marramao o decisionismo de Schmitt tem o mrito de dar conta, em um alto
nvel de conhecimento terico [...] a assincronia entre ratio econmico-produtiva e or-
denamento poltico institucional (1980). Custa compreender como uma questo como
esta, elaborada com muito maior clareza desde os escritos juvenis de Marx e Engels,
possa aparecer ante os olhos do terico italiano como uma contribuio decisiva teoria
poltica. Trata-se, portanto, de um comentrio to pomposo como banal, mas que reete
o esprito da poca e a inacreditvel sobrevalorizao que a obra de Schmitt recebeu.
149
entender cabalmente a magnca construo utpica de Plato em A
Repblica se no consideramos o contexto que presidiu sua elabora-
o. bvio que este no basta para produzir uma obra dessa enver-
gadura, mas cria as condies imprescindveis para sua concreo. Da
mesma forma, compreender a obra de Maquiavel sem prestar ateno
s circunstncias que a Itlia do renascimento atravessava e as que
derivavam da prpria insero do autor em tais lutas no pode seno
conduzir a lamentveis equvocos. O tom sombrio que contagia toda a
obra de Hobbes somente produto de um trao de sua personalidade
ou tem a ver com o fato de que aquela se desenvolve durante o perodo
mais trgico e sangrento da histria inglesa? O surgimento do materia-
lismo histrico compreensvel margem da instaurao do modo de
produo capitalista e da conformao de um proletariado industrial?
Sem cair em um ingnuo determinismo, que do contexto histri-
co conduziria sem mediaes criao de uma obra-prima do pensa-
mento poltico (ou da escultura, da literatura, da msica, etc.), o certo
que as produes culturais de uma poca requerem, para sua cor-
reta decifrao, a articulao do texto e do contexto, da palavra com
a cena, do pensamento com a histria. No caso de Schmitt os dados
de denio do contexto so particularmente desafortunados, tanto no
social como em relao sua participao nele. Durante sua prolon-
gada existncia, Schmitt que morre quase centenrio em 1985, tendo
nascido em 1888 foi testemunha e ator de um pas como a Alemanha,
que transitou desde o Imprio Alemo, conduzido pelo assim chamado
Chanceler de Ferro Otto von Bismarck, at o comeo da desintegra-
o da diviso alem resultante do segundo ps-guerra, passando pe-
las derrotas na Primeira Guerra Mundial, o stio de Berlim, a diviso
da Alemanha, a estabilizao e recuperao da Repblica Federal, a
Guerra Fria e a construo do Muro de Berlim. Nascido e educado
no seio de uma famlia catlica da pequena burguesia de Westfalia,
sua carreira acadmica e poltica foi realmente impressionante e no
pouco chamativa se considerarmos que suas leves oscilaes polticas
no transcenderam os limites de sua formao originria. Mais ainda,
se alguma iniciativa adotou com o passar dos anos foi justamente a
de acentuar ainda mais sua identidade reacionria ao manifestar sua
intensa adeso ao regime nazi e sua incondicional lealdade para com o
Fhrer. Ao revs do que ocorrera com muitos de seus colegas, no pero-
do de ps-guerra Schmitt recusou cumprir sequer com as mnimas for-
malidades impostas pelos aliados e pelo governo da Repblica Federal
Alem para satisfazer os requisitos da desnazicao, em um gesto
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
150
Filosofia poltica contempornea
que revelava tanto persistncia de suas velhas crenas como sua ine-
xvel resistncia diante do que considerava um poder ilegtimo. E mais,
com relao ao primeiro preciso reconhecer que nosso autor nun-
ca se desculpou publicamente por sua cumplicidade com os horrores
do Nacional Socialismo (Sheuerman, 1999: 4). Ter sido por isso que
Gyorg Lukcs conclui, em seu clssico estudo, que [e]m Carl Schmitt
se revela ainda com maior clareza, se for cabvel, como a sociologia
alem desemboca no fascismo (1983: 528-537).
CRISE DA DEMOCRACIA E DECOMPOSIO DO LIBERALISMO
Tal como se observa do exposto mais acima, impossvel desconhecer
que a inuncia intelectual de Carl Schmitt na Alemanha chegou a seu
ponto mais alto nos anos 30, quando os fragores da catastrca de-
composio da Repblica de Weimar e o surgimento, desenvolvimento
e consolidao dos movimentos fascistas na Europa golpeavam dura-
mente as democracias liberais. Como assinala Carlos Strasser: a cita-
da fama de Schmitt foi originalmente o produto daquele momento po-
ltico to particularmente receptivo de idias antiliberais e autoritrias
como as suas (Strasser, 2001: 631). Como correlato, no plano terico
consagrava-se a supremacia da poltica por cima de outras esferas da
vida social, e sobretudo, como instncia resolutiva dos conitos sociais.
No por casualidade o perodo de entreguerras assistiu o orescimento
de teorias e concepes fortemente irracionalistas e ao mesmo tempo
altamente impugnadoras da validez do dogma democrtico imperante
nessa poca. O exemplo talvez mais categrico deste novo clima de
opinio oferecido pela popularidade pstuma adquirida por Wilfre-
do Pareto e George Sorel embora em menor medida neste ltimo;
encontramos um reexo mais atenuado deste clima de poca na obra
de Max Weber e sua postulao de uma democracia plebiscitria com
fortes acentos autoritrios
3
.
Aps a derrota dos regimes fascistas, a vigorosa recomposio do
capitalismo keynesiano conjuntamente com as necessidades derivadas
da guerra fria e a competio com o campo socialista em ascenso
marcaram uma espcie de respiro para os capitalismos democrticos.
Mas o idlio foi curto. Aps os anos dourados, o esgotamento do ciclo
3 importante deixar assentado que existem diferenas relevantes entre os autores referidos
Schmitt, Pareto, Sorel e Weber sobre as quais, no entanto, s podemos realizar alguns co-
mentrios breves a m de no nos afastarmos da reexo central do presente artigo.
151
expansivo de ps-guerra e a proliferao de movimentos contestatrios
no corao do sistema capitalista internacional tanto como em sua pe-
riferia marcaram o incio de renovados embates contra as opes de-
mocrticas. No foram poucos os crticos que desde ento observaram
o progressivo esvaziamento que sofriam as instituies democrticas
nos capitalismos metropolitanos. Sobressaem neste ponto desde as
anlises pioneiras de autores como Herbert Marcuse, Nicos Poulantzas
e C. B. Mcpherson at aquelas realizadas por um autor como Sheldon
Wolin em sucessivos artigos e notas editoriais da revista Democracy.
O interessante que este consenso em torno da crise democrtica nos
capitalismos avanados foi to marcado e ostensivo que no s atraiu
a ateno das principais cabeas da esquerda como tambm dos mais
lcidos representantes da direita conservadora. Entre estes ltimos, o
trabalho de Samuel Huntington e seus associados na Comisso Trilate-
ral sobre a crise das democracias e as contradies colocadas por sua
tendncia ingovernabilidade ps em relevo os alcances da involuo
poltica nas sociedades capitalistas.
Desde ento, as democracias liberais foram se consagrando como
rituais formais cada vez mais carentes de signicados e contedos que
outorguem um pleno sentido expresso. Na periferia do sistema, e
muito particularmente na Amrica Latina, esta deteriorao foi espe-
cialmente percebida no alargamento da brecha entre as promessas e
expectativas geradas pelos discursos democrticos aps as traumticas
experincias ditatoriais que assolaram o conjunto da regio e a realida-
de das democracias de livre mercado que efetivamente reuniam as pio-
res caractersticas formuladas no panegrico de Francis Fukuyama.
De qualquer modo, e para resumir, se algo ca claro como ba-
lano da era neoliberal aberta no mundo desenvolvido com o advento
ao poder de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos
Estados Unidos que os capitalismos democrticos
4
foram se desde-
mocratizando paulatinamente at transformarem-se em regimes cada
vez menos responsveis ante as expectativas e demandas da cidadania
e com formidveis poderes de deciso concentrados na cspide do es-
tado e margem de qualquer controle parlamentar ou judicial. Mais
recentemente, Noam Chomsky apontou exatamente na mesma direo
4 Para aprofundar a contradistino entre capitalismo democrtico e a confusa ex-
presso de democracia capitalista convidamos a retomar a reexo desenvolvida em
Tras el Bho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de n de siglo
(Boron, 2000: 161-164).
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
152
Filosofia poltica contempornea
ao demonstrar como a democracia norte-americana o para os ricos,
mas de nenhuma maneira para a imensa maioria da populao desse
pas
5
. No plano terico, o reexo desta situao foi a consagrao, no
contexto das cincias sociais de inspirao liberal, de uma viso empo-
brecida da democracia, reduzida no saber convencional da academia a
um mero mtodo para eleger qual grupo da classe dominante dever se
encarregar de exercer este domnio. Permitam-nos dois esclarecimen-
tos. Em primeiro lugar, dizemos reexo, mas de nenhuma maneira
postulamos uma relao meramente especular seno uma relao de
carter complexo e marcada pela presena de numerosas mediaes
de diverso tipo. Em segundo lugar, note-se que esta diversidade que
aparentemente oresce nas cincias sociais ortodoxas na realidade
no tal, dado que as distintas formulaes das teorias da democracia
(e das supostas transies para a democracia) so todas elas tributrias
da obra de Joseph Schumpeter.
A CRISE DO MARXISMO E SUAS CONSEQNCIAS
Sendo assim, se por um lado este renovado interesse pela obra de Carl
Schmitt tem como pano de fundo o surgimento de uma pletora de
correntes neoconservadoras que acompanharam o auge das prticas
polticas crescentemente regressivas dos capitalismos democrticos,
por outro, tambm se assenta sobre o confuso cenrio da esquerda
intelectual contempornea
6
. S assim se pode compreender a surpre-
endente apresentao realizada por ningum menos que Jos Aric
de uma nova edio de O Conceito do Poltico publicada durante seu
exlio mexicano. Em tal texto Aric sustentava: parecia ser uma ne-
cessidade incontornvel a de justicar a presena em uma editora
democrtica de quem em geral era considerado como um pensador
poltico nazi por sua adeso ao partido nacional-socialista e, essen-
cialmente, pela justicao terica que ele deu prtica e s institui-
es do nazismo (Aric, 1984: ix).
5 Resta esclarecer que a totalidade das diversas formulaes desta teoria remetem, inexo-
ravelmente, concepo radicalmente errnea da democracia como um simples mtodo
elaborada por Joseph Schumpeter e hegemnica, at o dia de hoje, nas cincias sociais.
Criticamos a teorizao schumpeteriana em outro lugar, razo pela qual remetemos o
leitor interessado no tema a consultar os argumentos do caso em Boron (2000).
6 O tema da crise do marxismo, cavalo de batalha do pensamento neoconservador,
mereceria um tratamento exaustivo que no podemos oferecer aqui. Uma aproximao
ao tema se encontra em Boron (2000).
153
Aric defendeu ardorosamente sua opo poltica e editorial
diante dos preconceitos ocasionados por uma viso maniquesta da
cultura que segundo ele se encontrava sintetizada na obra de Lukcs
dedicada ao pensamento irracionalista. A imperiosa necessidade de re-
valorizar a poltica, escanteada pelo estril economicismo que prevale-
cia em amplas franjas do pensamento marxista, levou Aric a qualicar
este pensamento como reacionrio e, ao mesmo tempo, prosseguidor
de Marx. Seria esta ltima considerao a que valeria o esforo de
uma considerao sria e minuciosa de sua obra, o que constitui um
trocadilho vazio de qualquer signicado, mas de indubitvel atrativo
nos campos minados de esnobismo intelectual
7
.
Em nosso entender, alguns dos problemas de interpretao que
Aric aponta remetem ao crasso erro de perspectiva que informa sua
avaliao sobre os mritos da obra schmittiana. Com efeito, Aric ti-
nha razo quando nos propunha, seguindo uma indicao de Umberto
Cerroni, que o pensamento crtico deve medir-se com a grande cultura
burguesa e com pontos mais elevados de sua produo intelectual. En-
ganava-se, todavia, quando assegurava que a obra de Schmitt um de
desses pontos pois deixou uma marca incontornvel na vida espiritual
do sculo XX (Aric, 1984: xxi). No existe comparao possvel entre
a inuncia projetada por guras tais como Nietzche e Weber, para
citar os exemplos que coloca Aric, e a obra de Schmitt. E tampouco se
encontra esta ltima, no plano da teoria poltica, a par da riqueza con-
tida nas reexes weberianas. A prpria radicalidade da redescoberta
schmittiana em ns do sculo passado revela a real falta de gravitao
de seu pensamento durante a maior parte do sculo XX. E ainda depois
de sua tardia apario, sua inuncia no transcendeu o campo so-
cialmente estreito da intelectualidade progressista desiludida e de ne-
nhuma maneira se converteu em uma inuncia capaz de colorir com
tonalidades prprias de seu discurso o clima cultural de nosso tempo.
Na realidade, as razes que Aric postula para nos introduzir na
anlise dos textos schmittianos no so convincentes. No demonstra
(na realidade, no poderia ter demonstrado) que a injeo da suposta-
mente fresca seiva vital do pensamento schmittiano no doente corpus
7 Dito isto sem desmerecer a importante contribuio que Jos Aric zera para a di-
fuso do pensamento marxista clssico e a obra de seus principais expoentes desde os
Cuadernos de Pasado y Presente (originalmente publicados em Crdoba, Argentina) e
pela Editora Siglo XXI no Mxico durante seus anos de exlio. Seu trabalho no campo da
interpretao terica, em compensao, no merece a mesma valorao.
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
154
Filosofia poltica contempornea
terico do marxismo poderia salvar-lhe a vida. Fica claro que o an-
terior no signica que o estudo de qualquer pensador relevante no
constitua por si s um desao interessante, mas da a supor que se
poderiam achar na obra de Schmitt os ingredientes que o marxismo re-
quereria para sair de suas tantas vezes proclamada morte h uma dis-
tncia insustentvel. Esta , no entanto, a postura de Chantal Mouffe,
que no s cai nesse erro seno em um ainda muito mais grave. Porque
se Aric e certamente muitos outros pretendia encontrar uma sada
crise do marxismo pela via de um paradoxal enxerto terico como
o da obra schmittiana, as pretenses de nossa autora vo muito mais
longe. Segundo suas prprias palavras, o reexame da obra de Schmitt
nos permitiria repensar a democracia liberal, com vistas a fortalecer
suas instituies (Mouffe, 1999: 1). Depois de declarar no prlogo de
sua compilao que todos os autores que nela participam so liberais
de esquerda de um tipo ou de outro e que no se trata de ler Schmitt
para atacar a democracia liberal seno para nos perguntarmos como
poderia ser aperfeioada (1999: 6), no artigo central de sua contribui-
o se apressa a deixar assentado que tentar utilizar as perspectivas
da crtica (schmittiana) ao liberalismo a m de consolid-lo ao mes-
mo tempo em que reconhecemos que no foi este, naturalmente, seu
objetivo (Mouffe, 1999: 52). Nada haveria de censurvel nesta atitude
a no ser pelo pequeno detalhe de que esta operao de salvao do
liberalismo tanto em seus aspectos tericos como em sua encarna-
o histrica, a democracia liberal pretende ser lanada a partir do
campo do pensamento crtico que constitui sua negao superadora,
e mais precisamente a partir do materialismo histrico. certo que
quase no restam vestgios do pertencimento de Mouffe a este campo,
algo que j era evidente na obra em co-autoria com Ernesto Laclau h
quase vinte anos e da qual demos conta em outro lugar (Boron, 2000:
73-102). Seria intelectualmente muito mais honesto propor um resgate
do liberalismo a partir do liberalismo, sem aditamentos de esquer-
da que s acrescentam confuso s mentes das boas almas inocentes.
Certamente, nenhum de ns se sente aludido por essa convocatria
para aperfeioar as instituies do liberalismo: afortunadamente, as
distintas derrotas no campo da prtica no nos zeram lanar para
a borda a tradio marxista seno que nos desaaram a desenvolver
seus pontos dbeis, a abrir novas avenidas ali onde os espaos estavam
fechados e a restabelecer a veracidade de velhas certezas que gozavam
de nossa imerecida conana. Mas no trocamos de time e continua-
mos acreditando que a democracia liberal, mesmo que aperfeioada
155
como o deseja Mouffe com os inuxos vigorantes de Schmitt, continua
sendo uma forma estatal para a qual uma classe dominante prevalece
por, e oprime a, todas as demais formas com o propsito de garantir
a indenida reproduo de uma ordem social essencialmente injusta,
exploradora e predatria, e ante tal constatao nossa intransigncia
no tem atenuante algum. No temos a menor inteno de consolidar
o liberalismo; o que queremos super-lo.
EXISTE UMA TEORIA POLTICA SCHMITTIANA?
Realizamos at aqui um detalhado percurso com a nalidade de si-
tuar Schmitt, tanto como a recuperao de seu pensamento, em um
contexto scio-histrico que lhe desse contedo e expresso poltica a
sua teoria e aos alcances e conseqncias dela mesma. No entanto, e
dado que a obra de Schmitt concebida por seus atuais propagandistas
como um aporte fundamental para a compreenso de nosso tempo,
resta uma questo decisiva. Trata-se precisamente de averiguar se exis-
te ou no uma teoria do estado na obra schmittiana, e neste sentido
deveramos poder dar resposta a trs perguntas bsicas, pilares de toda
teoria do estado
8
: quem governa? Como governa? Para quem governa?
Lamentavelmente, as respostas que o autor oferece diante destas
perguntas so sucientemente ambguas para deixar um sabor amargo
e uma sensao de extrema insatisfao. Mas importante ir por par-
tes. Em primeiro lugar, vejamos a questo de quem governa. Segundo
nosso autor, a essncia do poltico se dene no enfrentamento essencial
constitudo pela dupla amigo e inimigo. Nesse momento crucial da po-
ltica, a autoridade soberana aquela que detm o poder de derrogar
arbitrariamente direitos, garantias e liberdades com a nalidade de
reconstruir uma ordem debilitada pela irrupo dos agentes da desor-
dem e da dissoluo social. O resultado praticamente uma re-edio
da tautologia de matriz hobbesiana: governa quem pode submeter seus
rivais e pe m guerra de todos contra todos. Neste sentido, e dado
que a preocupao schmitittiana , antes de tudo, a de quem pode efe-
tivamente exercer esse poder de denio para o enfrentamento que
se dirime no sistema interestatal, so contornadas as caractersticas
sociolgicas, polticas, econmicas ou culturais do ocupante de tur-
no no interior dos diferentes estados nacionais. Em conseqncia, ali
8 Ver, para seu melhor tratamento, o captulo 5 de Estado, capitalismo y democracia en
Amrica Latina em Boron (1997).
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
156
Filosofia poltica contempornea
onde Marx precisava que quem governava era a classe dominante, We-
ber aduzia que mandava quem controlava a maquinaria poltico-admi-
nistrativa do estado, inclusive Pareto mostrava claramente que quem
exercia esse poder era a elite dirigente; Schmitt no responde de forma
alguma, ou em todo caso admite respostas mltiplas a esta pergunta.
Isto , pode-se tratar de uma pessoa ou, eventual e transitoriamente,
de uma ditadura policial, contanto que prevalea efetivamente sobre o
resto, imponha sua vontade sobre o conjunto da sociedade e demons-
tre de tal forma sua capacidade decisria; da o decisionismo sch-
mittiano. Nem a classe, nem a elite, nem o aparelho burocrtico nem
muito menos a hegemonia so conceitos que aludam a provveis bases
e fontes do poder poltico. No h nenhum aporte terico que permita
a identicao dos elementos sobre os quais se funda sua autoridade.
O sustento pareceria ser a pura vontade do poderoso e sua habilida-
de para se impor aos demais. Sociologicamente falando, em conseq-
ncia, estamos diante de uma teoria que se dene por sua nulidade.
As cruciais perguntas que Maquiavel expusera em sua clebre carta a
Francesco Vettori e que desde ento se converteram em um verdadeiro
cnone da indagao poltica moderna, como se adquirem os princi-
pados, como se mantm, [e] por que se perdem
9
, permanecem sem
resposta na construo schmittiana. Idntica falncia encontramos no
tema crucial da sucesso da liderana, central na preocupao we-
beriana, e que no encontra paralelos na anlise schmittiana. O tempo
poltico parece deter-se e suspender-se indenidamente no momento
de exceo. Paradoxalmente, tudo o que vive de fora desse momento
de exceo, os chamados tempos normais, so considerados como
neutralizao ou despolitizao. Schmitt no tem nada a dizer para
tais momentos.
No que diz respeito segunda pergunta, como se governa, a
resposta de Schmitt mostra claramente seu profundo desprezo pela ex-
perincia de Weimar e sua crtica implacvel ao parlamentarismo. A
simplicidade da resposta bastante eloqente: governa-se decidindo,
ncando em um segundo plano o enquadramento institucional ou toda
discusso sobre as bases de legitimidade. Estamos em um terreno onde
a nica coisa que se mostra relevante a capacidade de tomar decises,
omitindo-se qualquer considerao de tipo democrtico legal, consti-
tucional ou institucional. Neste sentido, a noo to exaltada do povo
9 Ver Maquiavel a Francesco Vettori, 10 de dezembro de 1513 (Maquiavel, 1979: 118).
157
soberano reduzida a uma graciosa formalidade completamente ca-
rente de eccia pela qual, por denio, nada se pode interpor ante a
vontade do poderoso. A prpria noo do liberalismo clssico, de um
contrato que obriga tanto aos sditos como aos prncipes, desapare-
ce completamente na paisagem schmittiana. Todo contrato supe que
ambas as partes esto obrigadas e que o governante um mandatrio
do povo soberano, noes estas que so inadmissveis para o pensa-
mento de Schmitt.
Em relao ltima pergunta, para quem se governa, a res-
posta schmittiana : para o povo amigos que necessita ser prote-
gido de seus inumerveis hostis inimigos com vistas sua sobre-
vivncia. O governo deve governar, isto , decidir, e fazer isto para
garantir a existncia de uma comunidade poltica mais ilusria e
simblica do que real diante da ameaa colocada por seus inume-
rveis hostis que pululam no sistema internacional. Nesse sentido,
governa para preservar a continuidade histrica de um volk, toda
outra considerao secundria devido a que qualquer outro as-
pecto da vida poltica nacional e internacional se refunde na lgica
antittica do amigo e do inimigo. Vejamos um pouco mais detalha-
damente os aspectos apontados acima.
SOBRE A OPOSIO AMIGO/INIMIGO COMO A ESPECIFICIDADE DA POLTICA
No gera pouco desconforto encontrar toda a maravilhosa complexi-
dade do poltico e da poltica, que o gnio grego deslumbrara h j
vinte e cinco sculos, reduzida na obra schmittiana oposio radical
e intransigente contra o inimigo. Se em Plato e Aristteles o poltico e
a poltica remetiam a tudo o que concerne vida da polis, ao cidado,
[ao] civil, [ao] pblico, e tambm socivel e social, como destaca em
sua entrada sobre poltica Norberto Bobbio em seu clebre Dicciona-
rio (Bobbio et al., 1982: 1242), na obra do pensador alemo a poltica
se converte em um sucedneo imperfeito e insuciente da guerra. As
anidades de sentido que vinculam Schmitt com a ortodoxia nazi
no so em nada casuais nem muito menos surpreendentes. Com efei-
to, Adolf Hitler costumava referir-se poltica como a arte de levar a
cabo a luta vital que uma nao necessita para sua existncia terrena.
Como veremos, o conceito de luta vital encaixa-se perfeitamente no
discurso schmittiano, em sua obsesso por reduzir a poltica e o pol-
tico oposio entre amigo e inimigo e por assegurar nao em seu
caso, claramente, Alemanha as condies materiais e territoriais que
garantam sua existncia.
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
158
Filosofia poltica contempornea
Vejamos como Schmitt formula a questo da especicidade
da poltica:
A especca distino poltica qual possvel referir as aes
e os motivos polticos a distino amigo [Freund] e inimigo
[Feind]. Ela oferece uma denio conceitual, isto um crit-
rio, no uma denio exaustiva ou uma explicao do conte-
do [...] O signicado da distino de amigo e inimigo o de
indicar o extremo grau de intensidade de uma unio ou de uma
separao, de uma associao; ela pode subsistir terica e pra-
ticamente sem que, ao mesmo tempo, devam ser empregadas
todas as demais distines morais, estticas, econmicas ou de
outro tipo (Schmitt, 1984a: 23).
certo que, tal como arma Schmitt, esta contraposio entre amigo/
inimigo oferece uma denio conceitual, isto , um critrio, no uma
denio exaustiva ou uma explicao do contedo. No entanto, em
que pese a esta advertncia do terico alemo, seu critrio de denio
da poltica exerce tal fascinao sobre seu pensamento que acaba na
realidade esgotando todo o contedo da vida poltica. Fora de tal critrio
j no h mais nada. A poltica ca reduzida luta de uns contra outros.
E se em algum mbito da vida h luta, quaisquer que sejam seus conte-
dos religioso, econmico, tnico, cultural, etc., este se volatiza e ad-
quire necessariamente uma natureza poltica. Desta maneira, a poltica
se converte em uma forma despojada de contedos ou, melhor, em uma
forma indiferente diante de seus eventuais contedos.
Para fundar a importncia da distino amigo/inimigo como
constitutiva da essncia da poltica Schmitt nos remete a outras distin-
es igualmente signicativas e fundantes, em distintos planos, da vida
social. Assim, nos diz:
Admitamos que no plano moral as distines de fundo sejam
bom e mau; no esttico, belo e feio; no econmico, til e prejudi-
cial ou rentvel e no rentvel (Schmitt, 1984a: 22-23).
Segundo Schmitt, o que torna especca a poltica o extremo grau
de intensidade que marca a oposio amigo/inimigo. por isso que,
prossegue nosso autor,
no h necessidade de que o inimigo poltico seja moralmente
mau ou esteticamente feio; no deve necessariamente se apre-
sentar como competidor econmico e talvez possa parecer van-
tajoso concluir negcios com ele. O inimigo simplesmente o
159
outro, o estrangeiro e basta para sua essncia que seja existen-
cialmente, em um sentido particularmente intensivo, um pou-
co outro ou estrangeiro, de modo que, no caso extremo sejam
possveis com ele conitos que no possam ser decididos nem
atravs de um sistema de normas pr-estabelecidas nem me-
diante a interveno de um terceiro descomprometido e por
isso imparcial (Schmitt, 1984a: 23).
Em conseqncia, como se pode apreciar, sobrevoa nestas denies
uma concepo absolutista da poltica como uma esfera muito especial
que prevalece sobre todas as demais e independente de todas elas.
Como notrio, uma semelhante concepo da poltica no tem alter-
nativa seno, como seu pressuposto necessrio, a guerra e, portanto, a
violncia (Schmitt, 1984a: 31). Guerra e poltica so duas caras de uma
nica moeda. Neste sentido, a formulao de Schmitt muito mais
radical e no s o reverso da moeda do de von Clausewitz, para quem
a guerra era a continuao da poltica por outros meios. Porque se
para este a continuidade da poltica para alm da guerra estava fora de
questo, para Schmitt a sobrevivncia da primeira somente possvel
com a condio da permanncia da segunda. A guerra o desenlace
natural e inexorvel da contraposio amigo/inimigo, embora o autor
alemo reconhea que esta confrontao no esttica e vai mudando
ao longo do tempo.
Por outra parte, Schmitt defende, desta vez com razo, que toda
teoria poltica se sustenta em uma particular viso antropolgica. Di-
gamos em consonncia com isto que o bom selvagem rousseaunia-
no e o homo economicus maximizador das utilidades e das vantagens
individuais so duas das guras principais com que conta a reexo
terico-poltica. A generosidade, altrusmo e inocncia do primeiro se
contrapem ao egosmo e inescrupulosidade do segundo. bvio
que a tradio marxista se funda na imagem rousseauniana, enquanto
que o pensamento liberal-burgus tributrio da outra concepo
10
.
Por sua vez, a viso schmittiana se constitui a partir da exaltao do
momento hobbesiano da guerra de todos contra todos e da assuno
de que o mesmo, longe de ser uma situao transitria e excepcional,
10 Poderamos situar a viso antropolgica de Maquiavel entre Rousseau e Adam Smith
com uma inclinao para o primeiro, mas sem a radicalidade com a qual o genebrino
formula sua proposio como talvez mais prxima realidade. Mas este um tema
distinto, que nos levaria muito longe e que no podemos abordar aqui. Schmitt trata o
tema em O conceito do poltico (1984a: 56-61).
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
160
Filosofia poltica contempornea
a essncia da vida poltica. Assim temos uma terceira viso, a do homo
homini lupus, que pela mo do terico alemo culmina na absoluta
primazia do enfrentamento amigo/inimigo:
Em um mundo bom entre homens bons domina naturalmente
somente a paz, a segurana e a harmonia de todos contra todos:
os sacerdotes e os telogos so aqui to supruos como os pol-
ticos e os homens de estado (Schmitt, 1984a: 61).
Do que se conclui que:
Se os distintos povos, religies, classes e demais grupos huma-
nos da Terra fossem to unidos de modo a tornar impossvel e
impensvel uma guerra entre eles, se a prpria guerra civil, ainda
no interior de um imprio que compreendesse todo o mundo,
no fosse mais levada em considerao, para sempre, sem sequer
como simples possibilidade, se desaparecesse at a distino en-
tre amigo-inimigo, inclusive como mera eventualidade, ento
existiria somente uma concepo do mundo, uma cultura, uma
civilizao, uma economia [...] no contaminados por poltica,
mas no haveria mais nem poltica nem estado. Se possvel que
surja tal estado do mundo e da humanidade, e quando, no o
sei. Mas agora, no existe (Schmitt, 1984a: 50-51).
Concluso: desaparecida a guerra, a poltica se desvanece no ar. Em
suas prprias palavras: um globo terrestre denitivamente pacicado,
j seria um mundo sem a distino entre amigo e inimigo, e como con-
seqncia disso, um mundo sem poltica (Schmitt, 1984a: 32). por
isso que em um breve prlogo de 1963 reimpresso de O conceito do
poltico nosso autor formulava a seguinte pergunta retrica:
Como seria possvel, ento, suspender uma reexo sobre a dis-
tino entre amigo e inimigo em uma poca que produz meios
de destruio nuclear e simultaneamente tende a cancelar a dis-
tino entre guerra e paz? (Schmitt, 1984a: 13).
A resposta evidente, e estava contida na prpria pergunta: no h
distino entre paz e guerra e, naturalmente, entre esta e a poltica. O
crculo se fecha hermeticamente.
Outro dos corolrios da radical contraposio amigo/inimigo
o da hiperpolitizao da vida social. Depreende-se desta concepo
que tudo poltico, e que tudo seria suscetvel de despertar as inten-
sas animosidades que a luta poltica suscita. Se produz no interior do
pensamento schmittiano um sugestivo paradoxo. Com efeito, quem co-
161
meara seu livro O conceito do poltico propondo uma radical distino
entre estado e poltica, ao postular corretamente que a segunda remete
a um campo de atividades mais amplo e inclusivo que o primeiro, aca-
ba reenviando toda a poltica ao seio do estado na medida em que o
soberano isto , quem controla a maquinaria estatal o personagem
central na batalha contra os inimigos internos e externos. Assim, por
exemplo, Schmitt defende que:
Todos os setores at aquele momento neutros religio, cul-
tura, educao, economia cessam de ser neutros no sentido
de no estatais e no polticos. Como conceito polemicamente
contraposto a tais neutralizaes e despolitizaes de setores
importantes da realidade aparece o estado total prprio da iden-
tidade entre estado e sociedade, jamais desinteressado frente a
nenhum setor da realidade e potencialmente compreensivo de
todos. Como conseqncia, nele tudo poltico, ao menos vir-
tualmente, e a referncia ao estado no basta para fundar um
carter distintivo especco do poltico (Schmitt, 1983a: 19-20,
aspas e itlicas no original).
Deste modo, a teorizao schmittiana do estado total se ajusta niti-
damente ao dictum que Benito Mussolini proclamara ao dizer tudo
dentro do estado, nada fora do estado. Mas isto tambm supe, em-
bora aqui transitemos em um terreno mais resvaladio, que nas outras
esferas da vida social, principalmente na econmica, no existiriam
oposies capazes de dar origem a uma contraposio amigo/inimigo
ou que, no caso de existir, estas deixariam de ter um carter econmico
para transformar-se em antagonismos de carter poltico toda vez que
se estivesse pondo em questo a sobrevivncia de um povo.
Em sntese, a concepo schmittiana da poltica se apresenta
como uma espcie de reverso da teoria kelseniana do direito. Se Kel-
sen, a partir do positivismo jurdico, postulava a existncia de uma
teoria pura do direito como uma sbia geometria de normas e regu-
laes jurdicas, Schmitt na realidade formula uma teoria pura da
poltica, esvaziada de todo contedo e suscetvel de adquirir aquele que
um governante esteja disposto a introduzir. Se para Kelsen a formali-
dade da norma constitua o direito, para Schmitt este no seno o
resultado da vontade poltica que se desdobra na deciso do soberano.
Este formalismo politicista do jurista nazi conduz a uma radical sepa-
rao e isolamento da poltica de outras esferas da vida social. Para dar
um exemplo, que poderia ser facilmente multiplicado: como se articu-
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
162
Filosofia poltica contempornea
lariam as oposies polticas do amigo/inimigo com as que se derivam
dos antagonismos classistas assentados fundamentalmente no terreno
econmico? No h resposta para isso. A poltica no remete a outra
coisa que a si prpria.
O ESTADO SCHMITTIANO
Sob uma tese reconhecida pelo prprio autor alemo como de formu-
lao um tanto abstrata, este critica a equiparao entre o estatal e o
poltico que a democracia parlamentar liberal supe e arma:
O conceito de estado pressupe o de poltico. Para a linguagem
atual, o estado o status poltico de um povo organizado sobre
um territrio delimitado. Com base em seu signicado etimol-
gico e em suas vicissitudes histricas o estado uma situao
que serve de critrio no caso decisivo, e constitui por isso o status
exclusivo, frente a muitos possveis status individuais e coletivos
(Schmitt, 1984a: 15).
O olhar crtico schmittiano concentra-se em apontar a perda de sentido
do exerccio da representao moderna liberal. Sintetizando, embora o
parlamento seja um rgo representativo e o mesmo decida em nome do
povo verdadeira fonte de legitimidade, este carece de vontade posto que
o exerccio da mesma se encontra mediado pela palavra de seus represen-
tantes. Segundo Schmitt, este mesmo mecanismo de representao da
soberania o que careceria de signicao, j que diante de uma situao
crtica este manto de racionalidade formal despe-se de sua natureza im-
pessoal e annima. Em seu funcionamento cotidiano, o parlamento de-
mocrtico liberal funciona segundo uma lgica mercantil de troca e no
de acordo com os imperativos de deciso da lgica poltica. Schmitt radi-
caliza sua postura frente s crticas formuladas por Max Weber contra a
burocracia parlamentar. Em seu entender, a frgil democracia de Weimar
exps cruamente a perda de justicao histrico-prtica da prpria idia
de democracia liberal. Neste sentido, Schmitt no presta particular aten-
o participao, mas antes, est especialmente preocupado pela repre-
sentao e seu questionamento fundamental foca o desenvolvimento da
burocracia parlamentar. Em seu livro Sobre o parlamentarismo d conta
de como, inibido na hora de tomar decises, o parlamento alemo cou
refm das indenies ao ter feito do aspecto deliberativo sua norma de
funcionamento liberando-se de toda a responsabilidade em matria de
deciso. Precisamente por sua xao no meramente deliberativo, o par-
lamento no faria poltica no sentido schmittiano do termo.
163
Schmitt radicaliza sua postura diante das crticas que Max Weber
formulara democracia parlamentar. Este ltimo concebia a possibi-
lidade de realizao de uma instncia de poltica positiva na atividade
parlamentar que a postura schmittiana nega taxativamente. Em ltima
instncia Weber considera um parlamento forte como o bero even-
tual de futuras lideranas. Schmitt, em compensao, considera todo
parlamento como um elemento negativo, inexoravelmente associado
idia que Weber tem sobre o parlamento impotente, somente capaz de
exercer uma poltica negativa (Weber, 1996: 1097). Em uma palavra,
se em Weber o carisma complementa o parlamento sem aboli-lo, em
Schmitt o carisma est destinado a suplantar o parlamento. Como ve-
mos a crtica de ambos a esta instituio que certamente havia sido
antecipada em seus traos mais gerais pelos escritos de Marx sobre a
Comuna de Paris e os de Lnin sobre o poder sovitico chega muito
mais longe na tica de Schmitt do que na de Weber comprometendo a
mesma concepo da democracia proposta pelo primeiro.
Mas falar do estado impossvel sem recorrer aos conceitos de
inimigo e guerra. No comeo dos anos 60 Schmitt reconheceu a neces-
sidade de construir uma denio mais precisa da noo de inimigo
que levasse em considerao os diversos tipos de inimigos possveis
convencional, real, absoluto na qual trabalhavam no momento de
apario da reimpresso mencionada (1963) Julien Freund (Universi-
dade de Estrasburgo) e George Schwab (Universidade de Columbia)
11
.
Desse modo, como antecipamos, o prprio autor admite que a
distino amigo/inimigo no remete a uma explicao do contedo,
mas acrescenta que no deve ser por isto considerada uma metfora
nem um smbolo. A advertncia taxativa, no se trata de co nem
de normatividade, seno da plausibilidade concreta de que todo povo
dotado de existncia poltica se dena com base neste critrio. Neste
sentido, o inimigo sempre pblico, quem nos combate (o hostis) e
no simplesmente quem nos odeia (inimicus).
O inimigo no o competidor ou o adversrio em geral. O ini-
migo no sequer o adversrio privado que nos odeia devido
11 Neste sentido, entendemos que a recuperao do pensamento de Carl Schmitt em um
contexto como o latino-americano dos anos 60 implica um questionamento da democra-
cia como sistema social e revises que sem cair no pacismo obsoleto tentaram transfor-
mar a relao amigo/inimigo absoluto em amigo inimigo real como forma de uma possvel
recuperao do humano ante o perigo da destruio total da humanidade. Tentaremos
analisar e corroborar a pertinncia de tais intuies.
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
164
Filosofia poltica contempornea
a sentimentos de antipatia. O inimigo somente um conjunto
de homens que combate, pelo menos virtualmente, ou seja,
sobre uma possibilidade real, e se contrape a outro agru-
pamento humano do mesmo gnero. O inimigo somente o
inimigo pblico, posto que tudo o que se refere a semelhante
agrupamento, e em particular a um povo ntegro torna-se p-
blico (Schmitt, 1984a: 25).
Perguntamo-nos, ento, o que ou quem define os agrupamentos
para configurar o enfrentamento amigo-inimigo? A resposta no se
faz esperar, e ratifica a absoluta centralidade do estado no pensa-
mento schmittiano:
Ao estado, enquanto unidade substancialmente poltica, com-
pete o jus belli, ou seja, a possibilidade real de determinar o
inimigo e combat-lo em casos concretos e por fora de uma
deciso prpria. , portanto, indiferente com que meios tc-
nicos ser realizada a guerra, qual a organizao militar exis-
tente, quantas possibilidades ter de ganhar a guerra, na con-
dio de que o povo politicamente unicado esteja disposto a
combater por sua existncia e independncia: ele determina,
pela fora de uma deciso prpria, em que consiste sua inde-
pendncia e sua liberdade [...] O Estado como unidade poltica
concentrou em suas mos uma atribuio imensa: a possibili-
dade de fazer a guerra e, por conseguinte, de dispor freqen-
temente da vida dos homens. Com efeito, o jus belli contm
uma disposio deste tipo; isso implica a dupla possibilidade
de obter dos membros do prprio povo a disponibilidade de
morrer e de matar, e de matar os homens que esto do lado do
inimigo (Schmitt, 1984a: 41-42).
Recapitulando, a resposta schmittiana remete faculdade decis-
ria do soberano como ultima ratio poltica inclusive para conside-
rar na excepcionalidade, a suspenso ou a supresso dos direitos
e garantias individuais e exigir de seus cidados a entrega de sua
prpria vida e a eliminao concreta de outros indivduos, seres
humanos. O estatalismo de Schmitt culmina em uma concepo
religiosa, onde o estado se converte, como Moloch, em uma cruel e
sanguinria deidade cuja fria somente se aplaca ofertando a vida
dos inocentes. que para Schmitt, todos os conceitos de destaque
da moderna teoria do Estado so conceitos teolgicos seculariza-
dos (Schmitt, 1975: 65).
165
SOBRE A DEMOCRACIA NA TEORIZAO SCHMITTIANA
Ao chegarmos a este ponto, parece-nos pertinente desenvolver a noo
que Schmitt oferece sobre a democracia. Comearemos assinalando o
aberto contraste com a viso que Plato oferecera em A Repblica. Este
esgrime com sutil ironia seu desprezo pela democracia direta ateniense
ao dizer que:
possvel que seja o mais belo dos sistemas de governo. Como
um manto listrado, tecido com ls de todas as cores, este sistema
em que se misturam todas as caractersticas bem pode ser um
modelo de beleza. Pelo menos [...] aqueles que admiram os obje-
tos listrados, como costuma ocorrer com as mulheres e as crian-
as, talvez o considerem efetivamente belo (Plato, 1988: 557c).
No entanto, o entendimento do fundador da Academia no chega a car
obscurecido ao ponto de desconhecer como prprias do regime demo-
crtico a multiplicidade, a diversidade e a pluralidade. Antes, reconhe-
ce explicitamente a proliferao das diferenas. Em aberta oposio a
este clssico, Schmitt no s no inclui o diferente em sua denio de
democracia seno que, antes, se apressa em apontar a homogeneida-
de como uma necessria caracterstica deste regime nas sociedades de
massas de princpios do sculo passado. Para que no exista lugar para
dvidas, em sua concisa denio aconselha a intransigente elimina-
o de tudo aquilo que escape dita unidade homognea:
Toda democracia descansa sobre o princpio no s da igualdade
entre iguais como tambm sobre o tratamento desigual dos dife-
rentes. A democracia requer, portanto, primeiro, a homogeneida-
de, e, em segundo lugar em caso de ser necessria a eliminao
ou erradicao do heterogneo (Schmitt, 1988: 9)
12
.
No necessrio ser muito perspicaz para decifrar os sinistros al-
cances prticos de semelhante formulao, sobretudo se se leva em
considerao o momento histrico e o contexto poltico no qual foi
produzida. Dado que Schmitt no era um inocente professor de geo-
metria explicando a natureza do tringulo issceles como uma forma
essencial impassvel ante as contingncias da histria, da a justicar
12 Every democracy rests on the principle that not only are equals equal but unequals
will not be treated equally. Democracy requires, therefore, rst homogeneity and second
if the need arises elimination or eradication of heterogeneity.
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
166
Filosofia poltica contempornea
a poltica nazi do holocausto do povo judeu, como Schmitt o zera
explicitamente e sem nenhuma espcie de arrependimento posterior,
h apenas um pequeno passo. No s isso seno que, por acrscimo,
a partir de uma tal considerao se podem justicar as sucessivas
limpezas tnicas acontecidas em Ruanda e nos Balcs como parte
de um genuno e valioso esforo para assegurar a imprescindvel ho-
mogeneidade que um estado democrtico demanda. Como no car
perplexos diante dos comentrios de alguns de nossos contemporne-
os como Mouffe, por exemplo que mesmo depois de ler estas linhas
tm a ousadia de sustentar que nossas atuais democracias ocidentais,
certamente em crise, podem encontrar na proposta schmittiana um
bom declogo de conselhos para sua melhora e depurao? Como
reconciliar a exuberante proliferao de identidades diversas e ml-
tiplas celebrada na obra da citada autora, ou sintetizada no ambguo
conceito da multido proposto por Antonio Negri, Michael Hardt e
Paolo Virno, com a recorrncia a um autor como Schmitt que prope
aniquilar toda forma de diversidade e estabelecer mediante uma ver-
dadeira limpeza tnica a pureza originria de um povo no conta-
minado por seus inimigos internos?
Esta preocupao pela homogeneidade do povo como condi-
o necessria de todo estado soberano leva Schmitt a considerar a
problemtica do inimigo interno. Constata que nas repblicas gregas
e no direito estatal romano existia o conceito de hostis e junto com ele
dispositivos legais mais ou menos efetivos para combat-los: dester-
ro, proscrio, expulso, ilegalizao. Em uma asseverao que tem
clarssimas ressonncias nazis, Schmitt aponta que estas disposies
se aplicam a quem o estado declarou inimigo. Examina a legislao
grega e a romana, mais precisamente a prtica dos jacobinos e o Co-
mit de Sade Pblica durante a Revoluo Francesa e em especial
sua declarao de que tudo o que est fora do soberano inimigo [...]
Entre o povo e seus inimigos no h nada em comum salvo a espada.
Sugestivamente este autor passa a analisar a histria poltica dos he-
reges, assegurando que estes no podem ser tolerados nem sequer no
estado ainda que sejam paccos; [...] homens como os hereges no po-
dem ser paccos (Schmitt, 1984a: 42-43). importante assinalar aqui
que esta observao de Schmitt est longe de ser simplesmente uma
hiprbole terica posto que deve ser lembrado que nosso autor aderiu
com entusiasmo expulso dos judeus e dos suspeitos de simpatizar
com idias esquerdistas de todos os mbitos da administrao pblica
alem pouco tempo depois da chegada de Hitler ao poder (Scheuer-
167
man, 1999: 17). Tratava-se, como se pode ver, de uma atitude poltica
que encontrou sua traduo no plano da teoria.
Como se apreende claramente de seus escritos, e durante uma
continuidade ininterrupta que se estende ao longo de boa parte do s-
culo XX, intil tentar encontrar na obra schmittiana as sementes de
um pensamento democrtico. Propor-se tal tarefa equivale a embarcar
em um projeto semelhante aos trabalhos de Ssifo caso seja lembra-
do que em um texto da transcendncia de sua Teoria da Constituio
Schmitt formula uma crtica integral tanto ao prprio conceito de
democracia como aos regimes democrticos que so sua encarnao
terrena (Schmitt, 1982: 221-273). Esta empresa abordada por Sch-
mitt de uma perspectiva claramente reacionria, inspirada na obra dos
grandes pensadores da reao clerical-feudal diante dos extravios da
revoluo francesa como De Maistre, Bonald e Donoso Corts
13
. Da
que no seja nada surpreendente o fato de que no citado texto Schmitt
formulasse uma tese to radicalmente incompatvel com um projeto
democrtico como a seguinte:
Resumindo em poucas palavras, cabe dizer: o povo pode acla-
mar; no sufrgio secreto, somente pode eleger candidatos que
lhe so apresentados, e contestar Sim ou No a um problema
formulado com preciso, que o submete (Schmitt, 1982: 269, it-
licas no original).
Em outras palavras, o povo ca reduzido ao papel de um coro que
no pode discutir nem deliberar. Apenas pode se manifestar a favor
ou contra o que lhe proposto a partir do poder. E o faz pela via da
aclamao, ou respondendo com um sim ou com um no a uma per-
gunta formulada pelo governante. Tambm pode eleger, mas dentro
do que lhe oferecido. No pode inventar nada, nem forar uma
alternativa que no aparece no menu daqueles que governam em
seu nome. Em um texto posterior, Legitimidade e Legalidade, Schmitt
leva sua postura at um extremo ainda mais marcante ao dizer que
o povo no pode aconselhar, deliberar ou discutir. Tampouco pode
governar ou administrar, nem criar normas. Somente pode sancio-
nar por meio de seus Sins os esboos de normas que so apresenta-
13 Referindo-se ao espanhol, Schmitt observa de forma laudatria em Teologia Poltica
que Donoso no perde nunca a grandeza segura de si mesma que convm a um sucessor
espiritual dos grandes inquisidores. Perguntamo-nos se os modernos epgonos de Sch-
mitt meditaram o sucientemente acerca de opinies como esta (Schmitt, 1975).
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
168
Filosofia poltica contempornea
dos para sua considerao. Pode menos ainda formular perguntas,
seno que somente pode responder sim ou no s questes que lhe
so submetidas (Schmitt, 1999: 201).
O ar de familiaridade que esta proposta schmittiana tem que
coloca, paradoxalmente, nas mos do exaltado povo homogneo de
seus escritos a possibilidade menos que mdica de dizer sim ou no
ao que lhe pergunta o soberano com a tese shumpeteriana que arma
que a democracia no outra coisa a no ser um mtodo que serve para
que o povo tenha a possibilidade de aceitar ou rechaar os homens que
havero de govern-lo, mais do que contundente. Da a ntima cone-
xo entre esta formulao e as que depois se revelariam hegemnicas
na cincia poltica norte-americana pela mo de Joseph Schumpeter
e sua teoria elitista da democracia como um mtodo. Como assina-
la Scheuerman, tanto o economista austraco como o jurista alemo
encontravam-se entre 1925 e 1928 na Universidade de Bonn (Scheuer-
man, 1999: 183). As crticas de Schmitt experincia da repblica de
Weimar era bem conhecida por Schumpeter e h evidncia de que am-
bos autores trocaram escritos, interagiram com certa freqncia du-
rante os anos em que professaram o ensino nessa universidade. Ambos
eram relativamente da mesma idade Schumpeter nascido no ano da
morte de Marx, 1883, e Schmitt em 1888, compartilhavam a mesma
aliao religiosa catlica e certamente as mesmas inclinaes antide-
mocrticas (Scheuerman, 1993: 197). No de estranhar, pois, a radi-
cal desvalorizao que a democracia sofre nas mos de Schumpeter,
j antecipada em alguns de seus escritos da dcada de 20 e raticada
plenamente no que talvez constitua sua maior obra: Capitalismo, So-
cialismo e Democracia. Esta desvalorizao da democracia, convertida
em um simples mtodo para determinar quem dominar o povo, en-
contra suas razes mais profundas na densa argumentao schmittiana
denegridora das capacidades populares de autogovernar-se.
Contudo, estas semelhanas entre as teorizaes de ambos os
autores no deveriam dar lugar a uma fcil equiparao das mesmas
toda vez que na obra do economista austraco o processo de formao
de liderana poltica cesarista e plebiscitria passa por uma instncia
eleitoral que embora bem limitada qualitativamente distinta do si-
lncio com o qual a constituio dessa liderana aparece na obra sch-
mittiana. Em todo caso, no deixa de ser sumamente preocupante que
o mainstream da cincia poltica norte-americana se encontre ainda
dominado por autores como Schumpeter e, indiretamente, Schmitt,
cujas fundamentaes so radicalmente incompatveis com uma teoria
169
com a qual certos quadros intelectuais ento vinculados com a tradio
do materialismo histrico voltam seus olhos para Schmitt em busca de
remdios para os males que aigem sua teoria.
ELEMENTOS PARA UM BALANO
Gostaramos de oferecer, nesta seo conclusiva, alguns elementos para
uma crtica proposta de Carl Schmitt que pode ser elaborada a partir
da teoria marxista. Por razes de espao nos limitaremos nesta ocasio
a esboar o que seriam as linhas centrais de tal crtica.
Primeiro, nos interessa particularmente enfatizar como a existncia
de relaes de dominao e explorao no interior do campo dos amigos
diluda quando no desconhecida no marco da contradio abstrata e for-
mal entre amigo/inimigo. Isto , uma vez produzida a diferenciao entre
uns e outros a teorizao schmittiana ca girando no vazio. O estado ho-
mogneo est liberado de todo tipo de conitos? No h novos enfren-
tamentos que surgem do campo dos amigos, produto das contradies
estruturais da ordem social capitalista? No estamos na presena de uma
tipicao a-histrica e metafsica da vida social inassimilvel para qual-
quer teorizao fundada no materialismo histrico? Os amigos, so tais
em relao a quem, e que temas? O resultado do diagnstico schmittiano
a postulao de uma ordem social e estatal na qual todo antagonismo
da vida social se esfuma por completo, com o qual suas funes legiti-
madoras da sociedade capitalista cam a nu. At que ponto esta imagem
corresponde realidade social? No necessrio indagar muito sobre este
ponto para comprovar seu carter fantasioso e o ocultamento produzido
pelos fundamentos opressivos e exploradores da sociabilidade burguesa.
Segundo, o formalismo da dade schmittiana amigo/inimigo parece
sobrevoar por cima das mudanas histricas e se aplicar, em conseqn-
cia, tanto para decifrar a dinmica dos estados na antiguidade clssica
como para compreender as particularidades dos estados capitalistas ao
longo do sculo XX. A sucesso dos diferentes modos de produo no
altera a centralidade deste antagonismo constitutivo da vida poltica, in-
diferente ante as mutaes experimentadas pelo conjunto da vida social.
Do mesmo modo, sua utilizao tambm pretende abarcar igualmente
tanto os conitos e clivagens que se produzem dentro do estado nacional
como os que se do no sistema inter-estatal. Tem alguma utilidade um
quadro conceitual que se move em tal nvel de generalidade?
Terceiro, a teorizao schmittiana revela-se insuciente para dar
conta da enorme complexidade do estado moderno, mbito fundamental
e insubstituvel da dominao de classes na sociedade capitalista. Toda a
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
170
Filosofia poltica contempornea
densa problemtica da hegemonia e da dominao ca reduzida ao for-
malismo da oposio radical amigo/inimigo. Desaparecem do enquadra-
mento analtico o papel da cultura e da ideologia, os aparelhos ideolgicos
do estado e da dinmica da opinio pblica, como tambm os partidos,
sindicatos e movimentos sociais e, no plano estatal, o jogo das instituies
e agncias burocrticas do estado. Semelhante esquema pode servir para
renovar e recrear o legado da teoria marxista da poltica?
Recapitulando: a obra de Schmitt importante e merece ser estu-
dada. O pensamento crtico se nutre de sua permanente polmica com
os pontos mais altos do pensamento conservador ou reacionrio. Nesse
sentido, Schmitt um interlocutor que no pode nem deve ser ignorado.
Isto no signica, no entanto, cair na ingnua aceitao de seu papel
messinico como provedor de uma nova chave interpretativa capaz de
tirar a teoria marxista de sua suposta prostrao. Os problemas que Sch-
mitt identicou em sua longa obra so relevantes e signicativos, embora
haja um claro exagero de seus mritos. Muitos desses problemas haviam
sido reconhecidos antes por autores como Wilfredo Pareto, Max Weber
e, em certo sentido, o prprio Schumpeter. Outros haviam sido objeto de
anlise por parte de Marx, Engels e Lnin. Seu diagnstico no sempre
certeiro, sua avaliao dos problemas da democracia liberal no pe-
netra no corao desta ordem poltica assentada sobre uma relao de
explorao sintetizada na teoria da mais-valia que sistematicamente
ignorada ao longo de toda sua obra. Em outros casos, encontramos em
seus escritos aberturas anacrnicas baseadas em uma leitura da losoa
poltica medieval, a antiguidade clssica ou o pensamento contra-revo-
lucionrio que no permitem compreender o carter cabal dos proble-
mas que hoje afetam os capitalismos contemporneos.
Mas se o diagnstico dos problemas foi defeituoso, o que pen-
sar da proposta de resoluo de tais problemas proposta por Schmitt?
Neste ponto a resposta no poderia ser mais negativa. Tal como ob-
serva Scheuerman, a debilidade da lei no deveria dar como resultado
jogar fora o imprio do direito; as fraquezas do parlamentarismo no
deveriam resultar na exaltao do autoritaritarismo plebiscitrio; a
crise da esfera pblica no deveria conduzir a sua radical absoro
pelo estado; a estatizao do capitalismo contemporneo, cujas ra-
zes Schmitt prefere ignorar, no deve rematar em um decisionismo
irresponsvel, e assim sucessivamente.
Schmitt diagnosticou srios problemas dentro da democracia li-
beral existente, mas em cada conjuntura sua prpria resposta te-
rica exacerbou os problemas. Sua adeso ao Nacional Socialismo
171
vividamente ilustra os perigos intrnsecos a suas respostas moral e
intelectualmente quebradas frente aos problemas enfrentados pela
democracia liberal em nosso sculo (Scheuerman, 1999: 254).
Conclumos, pois, perguntando como possvel colocar, como o fazem
tantos ps-marxistas (na realidade, ex-marxistas), que Schmitt pode
ser um aporte signicativo na tarefa de recriar uma concepo da demo-
cracia adequada s necessidades de nosso tempo? Um autor que cai no
estatalismo mais absoluto, que carece de uma teoria do estado, que de-
grada a democracia a nveis de um tragicmico simulacro e que oferece
uma verso empobrecida da vida poltica, pode ser efetivamente consi-
derada como um farol esclarecedor na atual crise da teoria e da losoa
polticas? Parece-nos que seria conveniente antes acudir a outras fontes,
e que no ser no legado schmittiano onde haveremos de encontrar a
soluo aos problemas que afetam a teoria marxista da poltica.
BIBLIOGRAFIA
Aric, Jos 1984 Prlogo em Schmitt, Carl El concepto de lo poltico (Buenos
Aires: Folios).
Bobbio, Norberto et al. 1982 Diccionario de Poltica (Mxico: Siglo XXI).
Boron, Atilio A. 1997 Estado, capitalismo y democracia en Amrica Latina
(Buenos Aires: Ocina de Publicaciones del CBC-UBA).
Boron, Atilio A. 2000 Tras el Bho de Minerva. Mercado contra democracia
en el capitalismo de n de siglo (Buenos Aires: Fondo de Cultura
Econmica).
Dotti, Jorge E. 2000 Carl Schmitt en la Argentina (Rosario: Homo Sapiens).
Dotti, Jorge E. e Pinto, Julio (comps.) 2002 Carl Schmitt: su poca y su
pensamiento (Buenos Aires: EUDEBA).
Lukcs, Gyorg 1983 (1953) El asalto a la razn. La trayectoria del
irracionalismo desde Schelling hasta Hitler (Mxico: Grijalbo).
Maquiavelo, Nicols 1979 Maquiavelo a Francesco Vettori, 10 de diciembre
de 1513 em Cartas Privadas de Nicols Maquiavelo (Buenos Aires:
EUDEBA).
Marramao, Giacomo 1980 Schmitt e il arcano del potere. Paper apresentado
no Seminrio de Padua.
Mouffe, Chantal 1993 The return of the political (London: Verso).
Mouffe, Chantal (ed.) 1999 The Challenge of Carl Schmitt (London/New York:
Verso).
Pinto, Julio 2002 Prlogo em Dotti, Jorge E. e Pinto, Julio (comps.) Carl
Schmitt: su poca y su pensamiento (Buenos Aires: EUDEBA).
Platon 1988 La Repblica (Buenos Aires: EUDEBA).
Atilio A. Boron e Sabrina Gonzlez
172
Filosofia poltica contempornea
Scheuerman, William 1999 Carl Schmitt. The End of Law (Lanham: Rowman
and Littleeld Publishers).
Schmitt, Carl 1975 Estudios Polticos (Madrid: Docel).
Schmitt, Carl 1982 Teora de la Constitucin (Madrid: Alianza Editorial).
Schmitt, Carl 1984a El concepto de lo poltico (Buenos Aires: Folios).
Schmitt, Carl 1984b Teora del partisano (Buenos Aires: Folios).
Schmitt, Carl 1988 The Crisis of Parliamentary Democracy (Cambridge:
Massachusetts Institute of Technology).
Schmitt, Carl 1999 Legalidad y Legitimidad em Scheuerman, William Carl
Schmitt. The End of Law (Lanham: Rowman and Littleeld Publishers).
Strasser, Carlos 2001 Schmitt, Carl em Di Tella, Torcuato et al. Diccionario
de Ciencias Sociales y Polticas (Buenos Aires: Emec).
Weber, Max 1996 Economa y sociedad (Mxico: Fondo de Cultura
Econmica).
173
Cludio Vouga*
South of the border: notas sobre a
democracia na Amrica Ibrica
Si nada se repite igual
todas las cosas son ltimas cosas
Si nada se repite igual
todas las cosas son tambin las primeras
Roberto Juarroz
INTRODUO
A questo central que pretendo abordar : por que hoje nos pases da
Amrica Ibrica a democracia poltica est ameaada ou em crise pro-
funda e, por que as massas populares parecem de tal forma apticas
ante tais ameaas? Sobretudo, parecem atnitos diante dessa situao
os homens e mulheres das geraes mais velhas que sofreram na luta
pela democracia, de forma mais amena alguns, outros mais violenta,
com o cerceamento das idias ou do prprio corpo.
Ao longo da ltima dcada e meia, essa democracia que vemos
ameaada tem-se mostrado extremamente injusta para com essas mes-
mas massas. A situao de misria estagnante na melhor das hipteses,
e na maioria dos casos, no fez seno piorar. Em qualquer hiptese, au-
mentou muito a distncia social entre los que mandan y los de abajo.
* Professor do Departamento de Cincia Poltica, Universidade de So Paulo (USP), Brasil.
174
Filosofia poltica contempornea
Tentarei desenvolver dois argumentos que espero demonstrar con-
vergentes: o primeiro o de que a democracia tem que ser pensada em si-
tuao, isto , no seu contexto. Ou seja, a democracia no pode ser apenas
um jogo formal que se passa nas nuvens etreas da Cincia Poltica. Se a
democracia no diz respeito diretamente a contedos, como nos ensina
o mestre Bobbio, a eles, entretanto, no pode car totalmente alheia, so-
bretudo se os contedos resultantes do jogo democrtico desembocam na
fome, sofrimento e humilhao de milhes de seres humanos.
Acredito que a democracia, para ter uma implantao profunda
em nossas sociedades, tem de decorrer, como nos ensina o conde de
Tocqueville, de nosso territrio, clima, costumes, leis, enm das carac-
tersticas peculiares a nossas subculturas nacionais onde sobressaem
nossas razes ibricas. Antes de tudo, a democracia, despida de conte-
dos que seja, no pode admitir, como dizia o poeta, que nadie escupa
sangre pa que otro viva mejor
1
.
O segundo o argumento de que nessa recherche de nossa demo-
cracia a primeira coisa a ser jogada no lixo o legado americano, isto ,
dos Estados Unidos da Amrica do Norte (EUAN). Armo, com nfase,
que a primeira e maior mazela poltica da Amrica Ibrica nos ltimos
cento e cinqenta anos tem sido o regime presidencialista importado
do referido pas.
Lembrando o ttulo do livro de Michelangelo Bovero (2002),
onde, alis, encontramos fortes argumentos contra o presidencialismo,
se quisermos nos prevenir contra o governo dos piores, precisamos em
primeiro lugar e antes de mais nada nos colocarmos contra o regime
presidencialista que, como vamos argumentar, longe de ser um para-
digma apenas um caso excepcional que apenas tem funcionado num
lugar e em condies histricas bastante determinadas.
ADJETIVAR A DEMOCRACIA
J se passa treze anos da queda do Muro de Berlim e onze do desmo-
ronamento da Unio Sovitica e cada vez mais os EUAN se comportam
arrogantemente como potncia hegemnica, impondo sua vontade
particular que visa apenas ao enriquecimento sempre maior de seus
grupos econmicos, nos ltimos tempos aqueles que apoiaram Bush Jr.
na sua campanha. Talvez estejamos evoluindo para o Imprio onde as
naes importam menos como querem Hardt e Negri (2001). certo,
1 O verso de Atahualpa Yupanqui na cano Preguntitas sobre Dios.
175
entretanto, que ainda vivemos a idade do imperialismo, todavia no
mais dos imprios no plural
2
.
Vamos percebendo, melhor hoje do que ontem, que a luta pela
democracia no pode esgotar-se no formalismo apontado. Os mais ing-
nuos pensam talvez, que por ser um valor universal dele todos os demais
decorreriam. Outros, no to ingnuos, defendem, como defendiam du-
rante as ditaduras militares, dever ser o objetivo nico das lutas polti-
cas. Entretanto, na Amrica Ibrica a luta pela democracia, sem que se
fosse um passo alm, signicou estreitar por demais os limites das lutas
populares, deixando de lado a luta contra o imperialismo, o que corres-
pondia perfeitamente aos interesses dos EUAN. Em nossos pases regi-
mes democrticos foram derrubados por inspirao norte americana. As
ditaduras militares que os sucederam, cumprido o seu ciclo, foram subs-
titudas por regimes de democracia formal, ainda uma vez por inuncia
norte americana. claro que, sobretudo nos pases mais importantes a
dinmica interna das sociedades tem um papel fundamental, ca entre-
tanto a sensao de que a luta pela democracia foi apenas um ato do te-
atro da poltica da potncia norte americana, teatro em que ns ramos
os fantoches e eles os manipuladores. Porque passadas suas fronteiras
a nica preocupao da nao do norte sempre foi a de enriquecer-se e
armar-se, estando as duas coisas intimamente ligadas.
Os atentados s liberdades individuais que se tornaram possveis de-
pois do ataque s torres de Nova Iorque, sem que o mundo reagisse altura,
no o eram antes da queda do muro, no mundo bipolar do equilbrio, quan-
do a Unio Sovitica era um adversrio real, com um modelo de sociedade
alternativa (monstruosa que fosse). Sobretudo com um exrcito, msseis
nucleares, submarinos atmicos e no como agora essa quimera, esse ter-
rorismo fantasmagrico, esse bando medieval de homens a cavalo que so
os taliban, to convenientes para a farsa do 11 de setembro de 2001
3
.
Depois de um breve perodo subseqente ao m da URSS, a belle
poque da globalizao, quando o mundo pareceu cheio de esperanas,
cedo veio a dureza sem precedentes da nova explorao por parte do impe-
rialismo ianque. Imperialismo de novos tempos claro, para o qual o siste-
ma nanceiro internacional mais adequado do que as velhas companhias
2 No sentido de minha observao ver Boron (2002).
3 Vericar a instigante argumentao desenvolvida por Osvald Le Winter (2001: 103-
112 e 127-130), sobretudo: 11 de setembro de 2001. Problemas com a Verso Ocial e
Bush Beneciou-se com as Bombas Voadoras?.
Cludio Vouga
176
Filosofia poltica contempornea
bananeiras e onde o velho Foster Dulles pareceria um menino de coro de
igreja diante dos homens que dominam o Partido Republicano atual.
No antigo mundo bipolar, onde o poder americano era balance-
ado pela potncia sovitica e sua ideologia, tentadora para o que ento
se chamava terceiro mundo, s vezes havia ajuda aos pases pobres em
nome da solidariedade democrtica para que no cedessem tentao
bolchevique. Tudo isso, porm, terminou. Sem o fantasma do comunis-
mo internacional, a solidariedade deixou de pagar dividendos e a nica
linguagem que passou a ser falada foi a linguagem do business, cujas
regras cada vez mais passaram a ser estabelecidas unilateralmente nos
escritrios da potncia imperial.
Quando o macartismo, a democracia terminou por vencer por-
que era vendida como o valor da Amrica e os pases eram induzidos a
adotar esse valor, para combater o socialismo identicado com a forma
sovitica do totalitarismo. Hoje, sem adversrio, sem modelo alterna-
tivo de sociedade, o mercado parece fazer parte da natureza. Porm o
mercado nada mais do que o sistema das mercadorias que, como bem
mostrou Marx em texto clssico, no fazem parte do mundo natural,
mas so uma relao social de dominao
4
.
As aparncias no mais enganam. A mscara caiu e o governo de
Bush Jr. pode simplesmente de forma aberta convocar os cidados a
delatar e espionar. As fronteiras do Imprio esto fechadas para aque-
les de pele mais escura e a garantia dos direitos humanos s vale para
justicar invases ou golpes de estado.
Urge que ns da Amrica Ibrica percebamos claramente que o
desencanto que se vai apoderando dos povos de nossos pases no o de-
sencanto com a democracia, como se os regimes militares tivessem sido
melhores ou indiferentes. Ditaduras militares que assassinaram nossos
compatriotas e arrasaram nossos pases por inspirao dos do norte,
que treinaram os torturadores, equiparam as polcias e exrcitos para
realizar a represso interna. No, no o desencanto com a democracia
que assistimos nesse inverno de nosso descontentamento, mas sim com
a democracia de modelo americano do norte, plutocrtica e antisocial.
As democracias transplantadas, como j mostrou Tocqueville, esto
fadadas ao fracasso. As democracias que na Amrica Ibrica podem medrar
so aquelas que estiverem de acordo com nossos territrios e clima, com
nossas tradies, com nossos costumes, com nossas leis, com nossa cultura
e no com princpios ou regras formais que os ianques querem nos impor
4 Ver Le caractre ftiche de la marchandise et son secret em (Marx 1959: Livro I, Cap. 1).
177
mas no as seguem eles prprios, vistas as fraudes eleitorais em inmeros
condados da Florida em favor de Bush, perpetradas pelo governo de seu
irmo e que terminaram por garantir sua vitria (Le Winter, 200: 69-102).
a democracia dos povos ibricos em suas variantes espanhola
e portuguesa aquela que queremos e nos esforaremos por desenvolver.
Por mais que estudiosos ianques, na verdade muitos deles agentes dis-
farados da CIA ou outros organismos de inteligncia, tentem nos fazer
acreditar o contrrio, a tradio ibrica no apenas o mandonismo,
a arbitrariedade, as sociedades escravocratas e exploradoras, o caudi-
lhismo, o autoritarismo implantado ou internalizado nas classes domi-
nantes ociosas. Tudo isso faz parte de nossa herana e a lembrana das
ditaduras militares recente e viva na carne de alguns de ns para que
pudssemos esquecer. Sim, esse um lado de nossa tradio.
claro que as escolas do Panam e da Virgnia, onde os repressores e
torturadores de nuestramerica eram treinados e doutrinados por funcion-
rios do governo ianque, civis e militares, tm parte importante em toda essa
histria recente. Alis, nunca demais lembrar, e devemos repeti-lo sem-
pre, que vrios desses especialistas em Amrica Latina que doutrinavam
policiais e militares, vrios destes, com nome e sobrenome, hoje andam
por a realizando palestras e conferncias, at mesmo em nossas universi-
dades, se pavoneando como especialistas para nos ensinar a democracia
5
.
5 Um dos casos mais signicativos ter sido o do Sr. Lincoln Gordon, convidado pelo Progra-
ma de seminrios do curso de relaes internacionais, da Universidade de So Paulo para
realizar uma conferncia sobre o tema: Brasil e Estados Unidos: dos anos 60 ao sculo XXI.
Apresentado no convite para o seminrio como ex-Embaixador dos Estados Unidos no Brasil,
certamente o Sr. Gordon bem mais que isso. No um inocente scholar, trata-se de um dos
conspiradores que em 1964 derrubaram, atravs de golpe de Estado, o governo constitucio-
nal brasileiro. Mas h pior: no livro que esteve lanando no Brasil quando de sua visita, o Sr.
Gordon transcreve telegrama por ele enviado ao governo de seu pas em maro de 1964 onde
entre outras coisas arma: Dada a absoluta incerteza a respeito do momento em que pode
ocorrer um incidente detonador (poderia ser amanh ou qualquer outro dia), recomenda-
mos: a) que se tomem o quanto antes medidas para preparar um fornecimento clandestino
de armas que no sejam de origem norte-americana, para os que apiam Castelo Branco em
So Paulo, logo que se saiba quais so essas necessidades, e os arranjos ocorram. Hoje nos
parece que o melhor meio de fornecimento um submarino sem marcas de identicao,
com desembarque noturno em locais isolados do litoral, no Estado de So Paulo, ao sul de
Santos, provavelmente perto de Iguape ou Canania; b) isso deveria ser acompanhado pela
disponibilidade de POL (bruto, acondicionado, ou ambas as formas podem ser necessrias),
evitando tambm identicao do governo dos Estados Unidos, e os fornecimentos deveriam
aguardar o incio das hostilidades ativas. Providncias nesse sentido (Dentel 13281) devero
ser tomadas imediatamente (Em <(http://www.estado.estadao.com.br/editorias/2002/11/10/
cad036.html>).Tal ao, incitando explicitamente seu pas a desrespeitar os acordos de Gene-
bra, no faz parte das atribuies de um embaixador, caracteriza isto sim o Sr. Gordon como
um criminoso de guerra. E este criminoso de guerra foi convidado para proferir uma confe-
rncia na maior universidade brasileira com todas as honras acadmicas.
Cludio Vouga
178
Filosofia poltica contempornea
E tambm mais, h os ianques de mos limpas que nunca iriam se
imiscuir com o horror do assassinato e da tortura, os que na luta contra o
comunismo apenas compraram, subornaram, mimosearam intelectuais
6
,
institutos de pesquisa, donos de jornais, reprteres, lideranas sindicais
ou estudantis etc. Tambm esses tm algo a ver com esse lado de nossa
histria presente e passada. Anal todas as mazelas apontadas no so
apenas o fruto de nossas peculiaridades, mas tambm ou sobretudo da
ao deliberada dos agentes do pas amigo do norte.
Mas nossa tradio no s o caudilhismo e o autoritarismo,
e agora falo principalmente pensando no Brasil que conheo melhor,
mas tenho a certeza de que exemplos iguais ou semelhantes podem ser
encontrados ao longo da Amrica de lngua castelhana, do Rio Grande
Terra do Fogo, passando pelo Caribe, Amaznia e Andes, de tal forma
que no temo generalizar. Nossa tradio tambm o autogoverno e a
slida organizao da sociedade civil, infelizmente desconhecidas do
conde de Tocqueville
7
que se impressionou com o exemplo muito mais
plido das townships da Amrica Inglesa. Nossa tradio a da solida-
riedade e da importncia da comunidade, vindas no s do catolicis-
mo de nossos antepassados portugueses e espanhis, mas tambm das
culturas africanas e indgenas, mais umas ou outras, dependendo das
regies por onde foram ltradas, e que hoje fazem parte do patrimnio
dos povos que constituem nuestramerica.
Sim, conhecemos fartamente as caractersticas negativas do
mundo ibrico e de sua colonizao em nossas terras. Historiadores,
economistas e cientistas sociais com a perspectiva do Imprio, nos
lembram a cada momento estes traos para que permaneamos em
nossa inferioridade mirando-nos no espelho mgico que sempre nos
diz que h algum, ao norte, muito mais belo, mais inteligente, mais
bem sucedido, mais rico, com mais avies bombardeiros, mais navios
de guerra do que ns e tambm msseis intercontinentais com ogivas
nucleares, se preciso for.
Tempo de pensarmos nossas qualidades, nossos pontos positi-
vos. Pensemos, por exemplo, na conscincia da diversidade e sua ine-
luctabilidade que uma das caractersticas de nosso mundo ibrico.
Um mundo onde o Outro era uma presena constante, fosse em tem-
pos como dominador, ou em outros, como derrotado porm vivendo
6 Elucidativo no sentido de como os EUAN manipulam os intelectuais em vista de seus
propsitos o livro de Frances Stoner Saunders (2001).
7 Ver nesse sentido Vouga (2002).
179
ao lado: mouros, marranos, cristos novos, cristos velhos e pouco a
pouco todos os povos com os quais entraram em contato na expanso
martima e a mescla dos homens e das mulheres e de seus descenden-
tes. Depois a Amrica.
Certamente os portugueses e espanhis do sculo XVI e XVII
consideravam os indgenas americanos como seres inferiores, mas foi
a partir das relaes que se iam estabelecendo, do trabalho apostlico
dos jesutas, dos escritos de Bartolomeu de las Casas, capaz de fazer
a crtica da maneira brbara como se fazia o contato, bem como das
obras de Suarez, Vitria, Marianna, tericos s vezes deixados incom-
preensivelmente sombra, que a prpria noo moderna de contrato
social e a de direitos do homem iriam surgir. Tambm da ao desses
homens nas terras da Amrica e da miscigenao de seu sangue com o
sangue desse Outro irredutvel, que levou o Ocidente a elaborar a ca-
tegoria homem. E dessa ao e desse pensamento vo surgir os nossos
povos. Depois africanos e muitos outros europeus e homens de outros
lugares do mundo viro juntar a sua nossa voz.
Dessa conscincia, que depois se torna respeito pela diversida-
de, vai derivar aquela que a caracterstica a partir de onde, com as
diferenas e particularidades dos diversos quadrantes nossos, devemos
comear a pensar a democracia que nos convm. Rero-me ao solida-
rismo comunitrio de nossas razes ibricas que nos trazem o que de
melhor nos legaram a organizao medieval e o catolicismo, e que vm
dar em nossos dias, por exemplo, na teologia da libertao ou no MST,
movimento dos trabalhadores sem terra brasileiro, bem como tantas e
variadas formas de cooperao entre camponeses, vizinhos ou mora-
dores em todos os nossos pases.
No que se refere aos aspectos mais gerais da organizao polti-
ca, positivos ou negativos e, como sabemos bem, freqentemente muito
negativos, nas experincias da Revoluo Mexicana e da Revoluo
Cubana, dos governos Vargas, de Pern, nas idias de Bolvar, Jos Boni-
fcio, San Martn, Jos Mart, Sarmiento, Haya de la Torre, Maritegui,
Gilberto Freyre, Guevara, para s citar alguns casos e personagens, que
devemos procurar elementos que sirvam para pensar que democracias
sero as nossas e no no legado dos Fujimori, dos De La Ra, dos Car-
doso (rero-me ao presidente, no ao socilogo). na inventividade po-
pular e em suas elites orgnicas que precisamos procurar as razes de
nossas democracias e das instituies que nos convm.
A monstruosidade do nacional socialismo alemo, a arbitrarie-
dade e truculncia do fascismo italiano, os crimes do socialismo so-
Cludio Vouga
180
Filosofia poltica contempornea
vitico como que congelaram a forma de democracia delegativa dos
EUAN como se, mais do que da histria, tivesse sido o m da poltica.
Todas as naes, todos os povos deveriam ter instituies semelhan-
tes. As velhas naes derrotadas na guerra, Japo, Alemanha soube-
ram de alguma forma defender-se pela preservao de instituies:
o imperador, o parlamento e seu chanceler, retomando uma tradio
brutalmente interrompida.
Ns da Amrica Ibrica, mesmo quando oprimidos pelas ditadu-
ras mais brbaras, formalmente, pouco nos afastamos do presidencia-
lismo imposto pelo modelo americano ao qual parecemos condenados
para todo o sempre. Vamos procurar em todas as partes instituies
que nos convenham, sem medos sem tabus. Porque, no h vacas sa-
gradas, no h sagrado, o sagrado s interessa queles que nos domi-
nam, vamos pensar e inventar livremente o modelo poltico que para
ns seja o mais adequado.
O TIO DA AMRICA
8
Surgida ainda sob o impacto da Revoluo Inglesa de 1640 e da forte
reao que se seguiu culminando na Revoluo Gloriosa de 1688, a
menos de cem anos de seu trmino, e motivada imediatamente pela
tentativa da Inglaterra de exercer um poder de metrpole que no mais
possua, a Revoluo Americana e seus pensadores-fundadores, longe
de representarem o primeiro acontecimento poltico do mundo moder-
no e a reexo sobre esse mundo, na verdade um dos ltimos epis-
dios das lutas polticas do Antigo Regime.
Vou argumentar no sentido do arcasmo do sistema poltico ianque
sugerindo um exerccio de explicao alternativa e no pura e simplesmen-
te de substituio de uma explicao parcial, por outra igualmente limi-
tada, tal como arma Weber no nal de A tica Protestante e o Esprito do
8 Aluso ao lme de Alain Resnais Mon Oncle dAmrique em que so ilustradas as teses
de Henri Laborit, neurobilogo francs, segundo as quais as reaes dos indivduos se
devem a pulses primrias e o comportamento social sempre conseqncia de meca-
nismos enzimticos e bioqumicos. Laborit denuncia a maneira pela qual a civilizao
capitalista estabelece e refora a competio pelo individualismo; inteiramente domina-
do pela produo e posse de mercadorias o indivduo procura o seu lugar na hierarquia
social ofuscado pela dominao dos outros. O tio da Amrica, LOncle dAmrique, de
onde Resnais tirou o nome de seu lme, um jogo de sociedade (tipo Banco Imobilirio)
onde um personagem, o tio da Amrica, praticamente dono de uma cidade e, sobretu-
do, do jornal da cidade o Notcias da Tarde, Les Nouvelles du Soir, onde so publicadas
dicas sobre a compra e venda de aes. Ganha o jogo quem primeiro acumular 50 mil
dlares; como se v um jogo da dcada de 40 do sculo XX.
181
Capitalismo. Para ser totalmente explcito, a proposio vai no sentido de
pensar os EUAN no como o primeiro pas moderno, como eles prprios
gostam de apregoar, mas como o ltimo arranjo institucional com os res-
tos do absolutismo, tendo como objetivo frear as pretenses da burguesia
revolucionria em ascenso, como bem emblematiza a trajetria pessoal
e intelectual de Thomas Paine, desde a agitao, passando pela guerra de
independncia e culminando com o pas constitudo e normatizado.
As colnias inglesas que viriam a dar origem ao pas do norte no
tinham uma aristocracia ou uma camada aristocrtica que garantisse
com seus privilgios a no opresso por parte de um dspota, segundo
a teoria de Montesquieu em O Esprito das Leis. A aristocracia capaz de
garantir a liberdade no Antigo Regime ou depois a cultura aristocrtica
capaz de realizar o mesmo papel, como acontecia na Europa mesmo
depois da Revoluo Francesa.
Sem essa garantia da aristocracia e sua cultura, os pensadores da
independncia americana ou no eram capazes de pensar plenamente o
mundo seu contemporneo, onde o processo de industrializao adqui-
ria uma importncia crescente, refugiando-se no bucolismo escravocra-
ta como Jefferson, gourmet, arquiteto, apreciador de vinhos e de jovens
escravas. Ou ento, e foram estes que deram forma ao pas, cercavam-se
de cuidados para se defenderem do povo, dspota majoritrio potencial,
agindo sempre para que a sua participao fosse mnima, apenas o su-
ciente para fazer funcionar o sistema. Sistema organizado para que
a representao popular fosse sempre tolhida pelo correspondente ao
monarca absoluto a Presidncia a servio do dinheiro, nico princpio
estraticador existente, congurando a primeira plutocracia moderna.
Muito elucidativa nesse sentido a leitura dos Papis Federalistas,
tanto daqueles cuja autoria atribuda a Hamilton, que chegou num pri-
meiro momento a pensar que os proprietrios de terras deveriam cons-
tituir um corpo aristocrtico como a aristocracia inglesa, como tambm
os de Madison, cujo argumento terminou por ser vencedor e no modelo
poltico que se constituiu uma aristocracia mostrou-se desnecessria.
Na Inglaterra depois da revoluo de 1688, o rei, apesar de despi-
do de poderes absolutos, funcionava como garantia de que setores mais
radicais da burguesia, partidrios do parlamento no pusessem em ris-
co o arranjo institucional. No caso americano, em que foi descartada a
soluo monrquica, o governo parlamentar apareceria como natural.
Porm, no foi o que se deu, pois a soluo parlamentar parecia no
mnimo conduzir ditadura da maioria to temida ento. Sem uma c-
mara aristocrtica capaz de atravs do mecanismo do veto garantir os
Cludio Vouga
182
Filosofia poltica contempornea
direitos das minorias, como o advogado por Locke no Segundo Tratado
sobre o Governo Civil, caberia Presidncia esse papel.
Todo o modelo engenhosamente posto em prtica a partir da Cons-
tituio norte-americana e exposto nos Papis Federalistas era o de uma
participao restrita dos cidados onde o nico momento de voto direto
no nvel federal era o da escolha do representante na Cmara Baixa. A
eleio presidencial era fruto da escolha de um colgio eleitoral, como at
hoje. Tambm o Senado (no caso americano uma cmara onde os estados
constituintes da Unio achavam-se representados em igualdade de condi-
es independentemente de suas populaes) era eleito indiretamente, si-
tuao essa modicada por emenda constitucional posterior, emenda n-
mero XVII, proposta em 1912 e adotada 359 dias depois (Corwin, 1986).
O terceiro poder da Constituio dos EUAN, a Corte Suprema,
que muito cedo tornou-se o verdadeiro norteador das mudanas a m-
dio e longo prazo, atravs do julgamento da constitucionalidade das
leis, dependendo da Presidncia e do Senado, tambm est totalmente
afastado de qualquer tipo de controle direto por parte dos cidados.
Os pais fundadores dos EUAN sabiam que ao quebrar os laos
com a Inglaterra deixavam de ter a tradio como aliada na manu-
teno da ordem, por isso montaram um sistema de governo que, sob
a aparncia de um governo popular, era, na verdade, um sistema no
qual os proprietrios ricos jamais tinham seu poder posto em questo.
E a Presidncia, que aparentemente seria o local de manifestao do
princpio popular pensemos na anlise de Marx no 18 Brumrio de
Lus Bonaparte funcionava na verdade como um resqucio absolutista
garantindo que a cmara eleita por sufrgio direto se manteria bem
comportada, como na Revoluo Inglesa de 1688, sem passar pelos
medos e percalos da Revoluo de 1640.
Chamo mais uma vez a ateno para o fato de esse sistema ide-
alizado pela Constituio americana do norte ser anterior Revoluo
Francesa e a todas as profundas modicaes que subseqentemente
na Europa dela iriam advir. Esse sistema arcaico sobrevivente a todos
os acontecimentos que se sucedem Revoluo, do Terror ao Imprio
passando pelo Termidor e pelas Guerras Napolenicas e a seu desfecho
com o Congresso de Viena, s foi possvel graas ao isolamento propor-
cionado pelo oceano que separava as ex-colnias inglesas da Europa.
Os EUAN se constituiro, portanto, em um regime da poca do ab-
solutismo que tem como modelo poltico o compromisso da Revoluo
Inglesa de 1688. Compromisso entre o poder parlamentar e uma garantia
ltima da ordem a casa reinante e a cmara aristocrtica. O sistema das
183
ex-colnias ao contrrio da Inglaterra no tem, porm, as vantagens de
possuir uma casa reinante ou uma aristocracia que, como mostra Montes-
quieu, termina por defender a liberdade ao defender seus privilgios.
Esse modelo arcaico, esse conjunto de arranjos que serviam es-
pecialmente e to-somente s antigas colnias inglesas da Amrica do
Norte por uma comdia de enganos, ser o modelo de nossas repbli-
cas na Amrica Ibrica. Esse modelo de participao restrita se torna-
r, por um passe de mgica, o modelo de governo popular apresentado
como paradigma s repblicas que vo surgindo do esfacelamento do
imprio espanhol. Mas essas repblicas j surgem depois da Revoluo
Francesa, depois das revoltas do Haiti e o presidente entendido como
o condutor dos anseios de mudana dos cidados e no como o freio
para esses anseios como no caso americano do norte. Donde as tenses
permanentes entre um legislativo dominado pelos proprietrios e um
executivo eleito por voto direto que por vezes era o porta-voz carism-
tico dos anseios de mudana de los de abajo. Ora o sistema no poderia
realmente funcionar e mais de 150 anos de crise em nossos pases o
mostram sobejamente. No demais lembrar Tocqueville, mais uma
vez, anal na dcada de 30 do sculo XIX no seu livro A Democracia na
Amrica, ele j chamava a ateno para o caso do Mxico para onde as
instituies do vizinho do norte foram transplantadas e que vivia sob
constante instabilidade poltica.
No por acaso que o regime poltico mais estvel da Amrica
Ibrica ao longo do sculo XIX foi a monarquia parlamentar brasilei-
ra, pois nela o imperador era justamente o freio e o rbitro dos con-
itos polticos, dentro de um quadro constitucional imaginado por
Benjamin Constant onde aos trs poderes vinha se juntar um quarto,
Napoleon oblige. Na verdade eram cinco poderes arrolados, pois ele
imagina o legislativo dividido em um poder representativo da opinio
em uma cmara eletiva e um poder representativo do tempo (dure)
em uma cmara hereditria, como poderes diferentes. Mas o que nos
interessa aqui o pouvoir royal um poder neutro, para Constant atri-
buto do chefe de Estado, capaz de resolver os conitos entre os po-
deres tradicionais
9
. Esse poder neutro, pouvoir royal passar Carta
Constitucional brasileira de 1824 como Poder Moderador e ser, em
9 Benjamin Constant (1819) Principes de politique Captulo II De la nature du pouvoir
royal <http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?O=88000&T=>. Este documen-
to foi extrado da base de dados textuais Frantext realizada pelo Institut National de la
Langue Franaise (INaLF).
Cludio Vouga
184
Filosofia poltica contempornea
grande parte, o responsvel pela estabilidade institucional do Imprio
do Brasil durante o Segundo Reinado.
Naturalmente, o sistema poltico norte-americano sofreu uma
srie de modicaes desde a elaborao, em 1787, da Constituio,
consubstanciadas nas diversas emendas constitucionais: da carta de
direitos, passando pelas emendas da Guerra de Secesso at a pitores-
ca emenda nmero XVIII que probe a fabricao venda ou transpor-
te para ns de consumo de bebidas alcolicas no territrio dos Esta-
dos Unidos ou a emenda XXI que revoga a de nmero XVIII (Corwin,
1986). Entretanto, o essencial de seu arcabouo institucional perma-
nece o mesmo. Sistema arcaico, da poca do absolutismo, o sistema
poltico americano s funciona nas condies especcas do pas para
onde foi gerado.
Ao contrrio, os sistemas parlamentares gerados e aperfeio-
ados na Europa desde as revolues contra o absolutismo e depois
com as revoltas, revolues e lutas populares ao longo dos sculos
XIX e XX, so regimes capazes de dar conta da diversidade e onde
maiorias e minorias so representadas e co-responsveis. Para onde
os regimes parlamentares europeus foram transplantados (Austrlia,
Canad, Japo, ndia, Nova Zelndia, etc.) mostraram ser capazes de
dar conta das diversas realidades.
FINAL
Talvez a crise por que passam as nossas democracias possa nos condu-
zir a uma soluo original e duradoura.
Em primeiro lugar, acredito que o abandono do presidencialismo
lamricaine a pr-condio para a reformulao de nossos regimes
polticos, pois essa inveno da poca do absolutismo, esse sistema ar-
caico de governo s tem funcionado no caso especco dos EUAN e,
mesmo assim, como pretendo ter apontado, na base de um engano
fundamental tornado engodo por parte da plutocracia a reinante.
Em segundo lugar, que da crise que ora atravessamos possa re-
sultar uma democracia adjetivada, uma democracia com sotaque que,
saindo de nossas tradies seja profundamente arraigada na alma de
nossos povos.
Isto dito, como armava Stuart Mill com relao aos males da
liberdade de que s se os pode combater com mais liberdade, para a
democracia e seus males tambm o nico remdio mais democracia:
plebiscitos e referendos, assemblias de bairro e de quarteiro, comis-
ses de moradores, comisses de fbrica de empresa e de outros locais
185
de trabalho, corporaes prossionais, enm todos os mecanismos da
democracia direta e participativa, algumas dessas estruturas provis-
rias outras permanentes, sem medo do povo que certamente estar su-
jeito a manipulaes e instrumentaes por parte de partidos polticos,
demagogos, corporaes, corpos burocrticos ou quaisquer outros in-
teresses agregados, todas entretanto menos nocivas do que hoje so o
circo dos meios de comunicao de massa e os interesses do grande
capital internacional.
Terminarei com alguns versos de Manuel Bandeira, que diz da
poesia o que poderamos dizer da democracia; anal, em nossa poca,
uma no vive sem a outra.
Abaixo os puristas
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construes sobretudo as sintaxes de exceo
Todos os ritmos sobretudo os inumerveis
BIBLIOGRAFIA
Boron, Atilio A. 2002 Imperio & Imperialismo. Una lectura crtica de Michael
Hardt y Antonio Negri (Buenos Aires: CLACSO).
Bovero, Michelangelo 2002 Contra o Governo dos Piores. Uma Gramtica da
Democracia (Rio de Janeiro: Editora Campus).
Corwin, Edward S. 1986 A Constituio Norte-Americana e seu Signicado
Atual (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor).
Hardt, Michael e Antonio Negri 2001 Imprio (Rio de Janeiro: Editora
Record).
Le Winter, Osvald 2001 Desmantelando a Amrica (Lisboa: Publicaes
Europa Amrica).
Marx, Karl 1959 Le Capital. Critique de lEconomie politique (Paris: Editions
Sociales).
Stoner Saunders, Frances 2001 La CIA y la guerra fra cultural (Madrid:
Editorial Debate).
Vouga, Cludio 2002 La democracia en el Sur de Amrica, una visin
tocquevilleana em Boron, Atilio e de Vita, lvaro (comps.) Teora
y losofa poltica. La recuperacin de los clsicos en el debate
latinoamericano (Buenos Aires: CLACSO).
Cludio Vouga
187
Diana Maffa*
Socialismo e liberalismo na teoria
poltica contempornea
ENTRE AS MUITAS MANEIRAS de comear este artigo, encontro
duas paradigmticas. Uma consiste em analisar as polaridades da lo-
soa poltica e avaliar o lugar das mulheres nesses paradigmas. Entre
um modelo que transforma o sujeito no resultado das foras sociais
que o precedem e o determinam, e outro que universaliza na abstrao
um sujeito que dever realizar pactos para sair de sua individualidade
e formar assim uma sociedade, ns mulheres fomos apanhadas com
argumentos diferentes nos mesmos lugares sociais que o mandato pr-
moderno indicava. Isto , para ns no houve renascimento nem mo-
dernidade, mas somente expresses diferentes do patriarcado.
Outra maneira de iniciar isto a partir da experincia, per-
guntando-nos
como seria, neste m ns diramos comeo de milnio, uma
losoa libertria que levasse em considerao duas guerras
mundiais, o holocausto de milhes de judeus, os campos do mar-
xismo-leninismo, as metamorfoses do capitalismo entre o libera-
lismo desenfreado dos anos setenta e a globalizao dos noventa
(Onfray, 1999: 10).
* Doutora em Filosoa, feminista, docente e pesquisadora da Universidade de Buenos
Aires, Defensora do Povo Adjunta da Cidade de Buenos Aires, membro do Comit de
Direo da Revista Feminaria.
188
Filosofia poltica contempornea
Onfray acrescenta o maio de 68. Na Amrica Latina deveramos incluir
ditaduras, desaparecidos, paramilitares, guerrilhas, genocdios, fome,
desocupao, desesperana. E ns mulheres deveramos incluir ainda
a feminizao da pobreza, violncia, abortos clandestinos, violaes,
prostituio e assassinatos impunes.
A relevncia de pensar como mulheres uma losoa poltica
emancipadora provm de que, historicamente, perodos de mudana
progressista como o Renascimento, a Revoluo Francesa e algumas
revolues contemporneas, que se pretenderam libertadoras para
a humanidade, foram profundamente regressivas para as mulhe-
res (Gadol, 1976). Por isso, quando ns feministas lutamos contra a
opresso e a explorao, inclumos o m da opresso de gnero entre
nossas demandas.
No incio do sculo XX, as anarquistas argentinas tinham um
slogan: nem deus, nem marido, nem patro. Isso no queria dizer que
no queriam homens talvez tivesse sido melhor que exigissem nem
vingana, nem autoritarismo, nem explorao, mas o conceito de pa-
triarcado como um sistema de opresso de gnero ainda no estava
claro, e parecia no ter lugar para pensar um deus que no fosse vin-
gativo, um marido que no fosse autoritrio e um patro que no fosse
explorador. A losoa crtica demoraria ainda um sculo a chegar.
A diviso entre o pblico e o privado, caracterstica do Estado
liberal moderno, alegrava os vares burgueses, patriarcas jefes de fam-
lia independentes, que assim separavam a esfera da justia da esfera da
intimidade domstica. Todo um domnio da atividade humana, a sa-
ber, a nutrio, a reproduo, o amor e o cuidado, que no curso do de-
senvolvimento da sociedade burguesa moderna passa a ser o quinho
da mulher, excludo de consideraes polticas e morais, e relegado
ao mbito da natureza (Benhabib, 1990: 130). Com o qual as prprias
relaes de gnero cam fora do amparo da justia.
que muito antes do contrato social celebrou-se um implcito
contrato sexual (Pateman, 1988) que atribuiu s mulheres o trabalho
emocional e domstico. por isso que as feministas dos 70 diziam o
pessoal poltico, porque essa forada esfera domstica estava atra-
vessada de relaes de poder opressivas encobertas por relaes de
afeto, naturalizadas de tal modo que por um lado no havia respon-
sabilidade moral em seu estabelecimento, e por outro lado no havia
esperana alguma em sua modicao emancipatria.
Ns mulheres ramos essa terra indiscernvel em que os ho-
mens-cogumelos hobbesianos alcanam sua maturidade plena sem ne-
189
nhum tipo de compromisso mtuo (Hobbes, 1966: 109). As incapazes
de contrato social (Rousseau, 1988), aquelas que formamos parte da
propriedade privada do homem juntamente com os bens, os lhos e
os criados (Kant, 1965: 55). E tudo isto em discursos universalistas
que na tradio ocidental supem como estratgia a reversibilidade.
Esta reversibilidade, contudo, ca sub-repticiamente transformada em
fraternidade (comunidade de irmos homens, e no todos os homens),
escamoteando das mulheres a qualidade de outro relevante com o
qual se estabelecem as interaes.
Como diz Seyla Benhabib:
As teorias morais universalistas da tradio ocidental desde Ho-
bbes at Rawls so substituicionalistas no sentido de que o uni-
versalismo que defendem denido sub-repticiamente ao iden-
ticar as experincias de um grupo especco de sujeitos como
o caso paradigmtico dos humanos como tais. Estes sujeitos
invariavelmente so adultos brancos e humanos, proprietrios
ou pelo menos prossionais. Quero distinguir o universalismo
substitucionalista do universalismo interativo. O universalismo
interativo reconhece a pluralidade de modos de ser humano, e
diferencia entre os humanos, sem desabilitar a validez moral e
poltica de todas estas pluralidades e diferenas. Embora esteja
de acordo em que as disputas normativas podem ser levadas a
cabo de maneira racional, e que a justia, a reciprocidade e al-
gum procedimento de universalidade so condies necessrias,
isto , so constituintes do ponto de vista moral, o universalismo
interativo considera que a diferena um ponto de partida para
a reexo e para a ao. Neste sentido a universalidade um
ideal regulativo que no nega nossa identidade arraigada, seno
que tende a desenvolver atitudes morais e a alentar transforma-
es polticas que podem levar a um ponto de vista aceitvel para
todos (Benhabib, 1990: 127).
Assim, a crtica feminista ao liberalismo contemporneo impugna a
armadilha que o ideal abstrato de cidadania encerra, construdo na
medida justa daqueles que casualmente participaram em sua deni-
o. Inclusive Uma Teoria da Justia de Rawls comete o deslize de dei-
xar fora do vu da ignorncia, na situao original, o fato de que quem
estabelece a denio de justia so os patriarcas chefes de famlia.
Desta maneira, ca assegurada em um nico ato a estrutura da famlia
patriarcal e a preeminncia do homem (Rawls, 1971).
Diana Maffa
190
Filosofia poltica contempornea
O socialismo no recebeu crticas to duras como o liberalismo
por parte das feministas, fundamentalmente porque sua prpria enti-
dade est posta em dvida desde 1989. esta debilitao da ideologia
dominante na esquerda o que faz Nancy Fraser falar (1997: 4-7) da
condio ps-socialista (parafraseando da condio ps-moderna
de Lyotard). Em Iustitia Interrupta (Fraser, 1997) dene esta condio
ps-socialista a partir de trs elementos.
O primeiro a ausncia de qualquer viso que apresente uma al-
ternativa progressista em relao ao estado de coisas atual e que tenha
credibilidade. O fracasso dos socialismos reais tem como conseqncia
imediata o que Jrgen Habermas chamou a nova obscuridade e o es-
gotamento das energias utpicas (Habermas, 1984). de notar que o
diagnstico de Habermas sobre tal esgotamento da esquerda antecede
em vrios anos a queda do Muro de Berlim.
O segundo elemento constitutivo tem a ver com o que a autora
chama como mudana na gramtica das exigncias polticas (Fraser,
1997: 5). As exigncias de igualdade social foram sendo substitudas
por exigncias de reconhecimento da diferena de um grupo (racial, de
gnero, cultural, etc.), dando lugar a polticas de identidade distancia-
das dos debates sobre classe social. Muitos atores parecem distanciar-
se do imaginrio poltico socialista, no qual o principal problema da
justia o da distribuio, para aderir a um imaginrio poltico ps-
socialista, em que o principal problema da justia reconhecimento.
Este antagonismo oculta a correlao entre excluso econmica e ex-
cluso cultural, e o modo conjunto de produzir injustia.
O terceiro elemento a globalizao do capitalismo que mer-
cantiliza as relaes sociais e a condio de cidadania. Esta agressiva
mercantilizao produz um agudo crescimento das desigualdades, no
s em termos de riqueza como tambm de acesso a bens sociais.
Diante do desalento da esquerda global, incapaz de competir
ideologicamente com este estado de coisas, Nancy Fraser prope um
esforo de pensamento programtico que conceba alternativas provi-
srias ordem atual em um sentido progressista.
Apesar de a relao entre o feminismo e a esquerda estar lon-
ge de ser fcil, devido a serem muitas vezes vistas as reivindicaes
feministas como uma armao de identidade particular que afasta
a ateno das grandes causas universais (como a luta de classes), o
feminismo tem muito que aportar revitalizao destes ideais. Em pri-
meiro lugar, pelo desmascaramento da pardia de universalismo do su-
jeito eurocntrico. Em segundo lugar, pelas prticas desenvolvidas no
191
movimento de mulheres em sua busca por novas formas de exerccio e
distribuio do poder e do protagonismo social. E fundamentalmente,
pela desarticulao de falsas dicotomias que dicultam a criao de
novas alternativas.
Encontro promissrio que novos movimentos sociais emancipa-
trios, sobretudo em nosso pas, recolham parte das prticas que o
movimento de mulheres em geral, e o feminismo em particular, vm
desenvolvendo em suas construes polticas coletivas. A horizonta-
lidade, o consenso, a aceitao da pluralidade, a ruptura dos limites
entre mbitos de interveno social, a busca de mecanismos no li-
tigantes de resoluo de conitos, so parte das ferramentas sociais
nestas novas construes de contra-poder.
polaridade entre igualdade e diferena (a justia como redistri-
buio dos recursos sociais ou como valorizao das identidades cultu-
rais, sexuais, raciais ou de outro tipo) se ope a exigncia de tratar com
eqidade indivduos ou grupos diferentes. polaridade entre pblico
e privado se ope a explorao de espaos contra-hegemnicos de par-
ticipao poltica, onde as relaes polticas so relaes de poder em
todas as esferas, e se debate tanto os limites do espao do ntimo como
os limites da interveno e obrigaes do Estado.
Signos desta ruptura de limites so os sentidos profundamente
polticos que adquiriram na Argentina termos aparentemente to pri-
vados e femininos como Mes, Avs, Filhos e Panelas.
Ns, mulheres, convidamos a repensar a linguagem, a investir
com novas energias termos como rebelio, resistncia, insubmisso,
utopia, liberdade, independncia, soberania, emancipao.
E temos algo mais para motivar estas mudanas plurais, uma
intransigncia semntica: chamaremos somente de democracia a
um sistema capaz de desnaturalizar todas as formas de hegemonia
e subordinao.
BIBLIOGRAFIA
Benhabib, Seyla 1990 El otro generalizado y el otro concreto em Benhabib,
Seyla e Cornell, Drucilla (comps.) Teora Feminista y Teora Crtica
(Valencia: Ediciones Alfons el Magnnim).
Fraser, Nancy 1997 Iustitia Interrupta. Reexiones crticas desde la posicin
postsocialista (Bogot: Universidad de los Andes/Siglo del Hombre
Editores).
Gadol, Kelly 1976 The Social Relations of the Sexes: Methodological
Implications of Womens History em Signs, Vol. 1, N4.
Diana Maffa
192
Filosofia poltica contempornea
Habermas, Jrgen 1984 The New Obscurity and the Exhaustion of Utopian
Energies em Habermas, Jrgen (comp.) Observations on the Spiritual
Situation of the Age (Cambridge: MIT Press).
Hobbes, Thomas 1966 Philosophical Rudiments Concerning Government
and Society em The English Works of Thomas Hobbes (Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft)Vol II.
Kant, Immanuel 1965 The Metaphysical Elements of Justice (New York:
Liberal Arts Press).
Onfray, Michel 1999 Poltica del rebelde. Tratado de la resistencia y la
insumisin (Buenos Aires: Perl).
Pateman, Carol 1988 The Sexual Contract (Stanford: Stanford University
Press).
Rawls, John 1971 A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press).
Rousseau, Jean Jacques 1988 El contrato social (Madrid: Alianza).
193
Fernando Haddad*
Sindicalismo, cooperativismo
e socialismo
A LUTA POR UMA SOCIEDADE emancipada se modica a cada novo
modo de organizao e desenvolvimento das foras produtivas, se mo-
dica pelo aparecimento de novos agentes sociais, se modica pelas
novas formas de dominao de classe. Como no poderia deixar de
ser, nesse momento em que muitas das nossas convices sobre como
agir e para onde rumar esto pouco slidas, menos pela urgncia de
transformar o mundo do que pelo senso de responsabilidade diante do
j demasiado sofrimento das camadas inferiores da sociedade, relaes
que nem sempre foram bem estabelecidas se tornam ainda mais pro-
blemticas. Sem dvida, esse o caso da relao entre sindicalismo,
cooperativismo e socialismo, de que pretendo tratar. Se, contudo, nos
lembrarmos da advertncia de Adorno de que a liquidao da teoria
base de dogmatizar e proibir o pensamento contribuiu para a m pr-
xis, talvez fosse o caso de, no que me diz respeito, inverter as posies
e perguntar aos colegas da mesa que eu reputo os mais qualicados
para julgar justamente do ponto de vista da prxis o que aqui se dir,
se tudo anal no se trata simplesmente de m teoria.
Como j se sublinhou que, sob o capitalismo, impossvel uma
prtica transformadora sem uma teoria transformadora, o procedi-
* Professor do Departamento de Cincia Poltica da Universidade de So Paulo, (USP).
194
Filosofia poltica contempornea
mento adotado aqui ser o de submeter a teoria marxista prova da
histria. Marx tratou muito episodicamente do assunto hoje proposto.
Contudo, suas observaes so to penetrantes que devem ser submeti-
das a um exame apurado que nos habilite, se necessrio, a reformular a
teoria, sem abrir mo do seu contedo crtico. Recorro, prioritariamen-
te, aos seus textos de interveno dirigidos ao movimento operrio, e
s pontualmente aos textos clssicos, em parte porque so aqueles os
textos que nos permitem pensar com Marx a poltica, em parte para
nos dar uma plida idia de quanto estamos atrasados teoricamente se
comparamos o debate de hoje com o que se travava poca do apare-
cimento das primeiras organizaes operrias.
Comeo pelo tema do sindicalismo, como foi tratado na brochu-
ra que ganhou o nome de Salrio, preo e lucro. Ali, Marx dialoga com
um operrio ingls, John Weston, cuja argumentao reduzia-se ao
seguinte: se a classe operria obriga a classe capitalista a pagar-lhe,
sob a forma de salrio em dinheiro, 5 xelins em vez de 4, o capitalista
devolver-lhe-, sob a forma de mercadorias, o valor de 4 xelins em vez
do valor de 5. Ento, a classe operria ter de pagar 5 xelins pelo que
antes da alta de salrios lhe custava apenas 4. Temos aqui uma velha
tese, nossa conhecida, de que a um aumento de salrios nominais, os
patres reagem com um aumento do preo das mercadorias, anulando
o efeito desejado pelos trabalhadores.
Contra isso, Marx inicialmente observa: E por que ocorre isto?
Por que o capitalista s entrega o valor de 4 xelins por 5? Porque o
montante dos salrios xo. Mas por que xo precisamente no valor de
4 xelins em mercadorias? Por que no, em 3, em 2, ou outra qualquer
quantia? Se o limite do montante dos salrios est xado por uma lei
econmica, independente tanto da vontade de capitalista como da do
operrio, a primeira coisa que deveria ter feito o cidado Weston era
expor e demonstrar essa lei.
Bem, uma das razes pelas quais Marx se tornou to conhecido
foi justamente o fato de ter exposto e demonstrado essa lei desconhe-
cida dos prprios formuladores da teoria do valor trabalho. Sabemos
por essa lei que o valor de uma mercadoria determinado pela quanti-
dade de trabalho socialmente necessrio a sua reproduo. A primeira
providncia de Marx ser, a partir dessa premissa, desautorizar a tese
central do argumento de Weston:
Se do valor de uma mercadoria descontamos a parte que se li-
mita a repor o das matrias-primas e outros meios de produo
empregados, isto , se descontarmos o valor que representa o
195
trabalho pretrito nela encerrado, o valor restante reduzir-se-
quantidade de trabalho acrescentada pelo operrio que por l-
timo se ocupa nela. Se este operrio trabalha 12 horas dirias e
12 horas de trabalho mdio cristalizam-se numa soma de ouro
igual a 6 xelins, este valor adicional de 6 xelins ser o nico valor
criado por seu trabalho [...] Este valor dado, determinado por
seu tempo de trabalho, o nico fundo do qual tanto ele como o
capitalista tm de retirar a respectiva participao ou dividendo,
o nico valor a ser dividido entre salrios e lucros [...] Como o
capitalista e o operrio s podem dividir este valor limitado, isto
, o medido pelo trabalho total do operrio, quanto mais perceba
um deles, menos obter o outro, e reciprocamente [...] Mas todas
estas variaes no inuem no valor da mercadoria. Logo, um
aumento geral de salrios determinaria uma diminuio da taxa
geral de lucro, mas no afetaria os valores.
Essa constatao parece, primeira vista, criar problemas para a pr-
pria teoria marxista, uma vez aplicada a lei do valor mercadoria fora
de trabalho. Pois, segundo a mesma lei, o valor da mercadoria fora de
trabalho seria determinado, como o valor de qualquer outra mercado-
ria, pela quantidade de trabalho socialmente necessria a sua reprodu-
o. Isso signica, nos dizeres de Marx, que o valor da fora de traba-
lho, ou em termos mais populares, o valor do trabalho, determinado
pelo valor dos artigos de primeira necessidade ou pela quantidade de
trabalho necessria a sua produo. Por conseguinte, se num determi-
nado pas o valor dos artigos de primeira necessidade, em mdia diria,
consumidos por um operrio representa 6 horas de trabalho, expresso
em 3 xelins, este trabalhador ter de trabalhar 6 horas por dia a m de
produzir o equivalente do seu sustento dirio. Se, porventura, a jor-
nada de trabalho for de 12 horas, metade da jornada de trabalho ser
trabalho no pago e a taxa de mais valia ser, portanto, de 100%.
Tudo o mais constante, seria muito improvvel que os trabalha-
dores conseguissem aumentar seus salrios sem subverter a prpria
lei que transforma a aparente troca de equivalentes no seu contrrio;
ou seja, seria muito improvvel que, respeitada a lei que regula a troca
de mercadorias, os trabalhadores viessem a vender a mercadoria fora
de trabalho acima do seu valor de troca. Contudo, absolutamente
possvel compatibilizar a lei do valor, que iguala o salrio subsistn-
cia, com demandas por aumento salarial, sem, no entanto, subverter
aquela lei. Certamente os exemplos no teriam escapado a uma mente
arguta como a de Marx. O primeiro exemplo que eu sublinharia tam-
Fernando Haddad
196
Filosofia poltica contempornea
bm um velho conhecido nosso: trata-se da luta para repor a perda de
uma alta generalizada dos preos, ou, em outras palavras, a luta pela
reposio oriunda da diminuio do poder de compra do dinheiro. Se-
gundo Marx, os valores dos artigos de primeira necessidade e, por
conseguinte, do trabalho podem permanecer invariveis, mas o preo
deles em dinheiro pode sofrer alterao, desde que se opere uma prvia
modicao no valor do dinheiro. Como os tempos eram os do pa-
dro-ouro, a explicao no poderia ser outra que no a seguinte: com
a descoberta de jazidas mais abundantes, etc., 2 onas de ouro, por
exemplo, no suporiam mais trabalho do que antes exigia a produo
de uma ona. Neste caso, o valor do ouro baixaria metade, a 50%. E
como, em conseqncia disto, os valores das demais mercadorias se
expressariam no dobro do seu preo em dinheiro anterior, o mesmo
aconteceria com o valor do trabalho. Com o que Marx conclui: dizer,
neste caso, que o operrio no deve lutar pelo aumento proporcional
do seu salrio, equivale a pedir-lhe que se resigne a que se lhe pague o
seu trabalho com nomes no com coisas.
Uma segunda ordem de consideraes diz respeito a alteraes
na jornada de trabalho, que segundo nosso autor, no tem limites cons-
tantes. Aqui, vale lembrar uma lio de O capital. Ao contrrio da xa-
o do valor da fora de trabalho cujo montante denido pela lei que
rege a troca de mercadorias numa sociedade capitalista de uma manei-
ra geral, no caso da xao da jornada de trabalho, no h, pela lgica
do sistema, nenhuma regra que possibilite concluir qual a durao e a
intensidade que pudessem ser consideradas inerentes ao seu funciona-
mento, a no ser pelo fato de que o capitalista procurar estender a jor-
nada ao mximo e os trabalhadores encurt-la ao mnimo, razo pela
qual Marx arma: no resulta da natureza da troca de mercadorias
nenhum limite jornada de trabalho ou ao trabalho excedente. O capi-
talista arma seu direito, como comprador, quando procura prolongar
o mais possvel a jornada de trabalho e transformar, sempre que poss-
vel, um dia de trabalho em dois. Por outro lado, a natureza especca
da mercadoria vendida impe um limite ao consumo pelo comprador,
e o trabalho arma seu direito, como vendedor, quando quer limitar a
jornada de trabalho a determinada magnitude normal. Ocorre assim
uma antinomia, direito contra direito, ambos baseados na lei da troca
de mercadorias. Entre direitos iguais e opostos decide a fora (Marx,
1982: Livro I, cap. 8).
Mas, voltando ao argumento de Salrio, preo e lucro, Marx, de-
pois de lembrar que diferena de uma mquina, o homem se esgota
197
numa proporo muito superior quela em que usado no trabalho,
dir que nas tentativas para reduzir a jornada de trabalho sua anti-
ga durao racional, ou, onde no podem arrancar uma xao legal
da jornada normal de trabalho, nas tentativas para contrabalanar o
trabalho excessivo por meio de um aumento de salrio, aumento que
no basta esteja em proporo com o sobretrabalho que os exaure, e
deve, sim, estar numa proporo maior, os operrios no fazem mais
que cumprir um dever para com eles mesmos e a sua raa. Saliente-
se, aqui tambm, que a luta pelo aumento de salrios, longe de sub-
verter a lei do valor, no faz mais do que a convalidar. Um aumento
da jornada de trabalho acarreta maior desgaste fsico do trabalhador,
e o salrio para repor aquilo que se consumiu no processo de trabalho
ter que ser mais do que proporcional quele aumento, uma vez que o
desgaste do trabalhador aumentaria a taxas crescentes relativamente
extenso da jornada. Assim sendo, se a jornada diria passasse de
10 para 12 horas, a luta por um aumento salarial superior a 20% seria
a conseqncia lgica da lei que rege a troca de mercadorias. Caso
contrrio, pode acontecer que o capital, ao prolongar a jornada de
trabalho, pague salrios mais altos e que, sem embargo, o valor do
trabalho diminua, se o aumento dos salrios no corresponde maior
quantidade de trabalho extorquido e o mais rpido esgotamento da
fora de trabalho que da resultar.
O mesmo vale para um aumento de intensidade do trabalho:
mesmo com uma jornada de trabalho de limites determinados, como
existe hoje em dia em todas as indstrias sujeitas s leis fabris, pode-se
tornar necessrio um aumento de salrios, ainda que somente seja com
o to de manter o antigo nvel do valor do trabalho. Mediante o aumen-
to da intensidade do trabalho, pode-se fazer com que um homem gaste
numa hora tanta fora vital como antes, em duas [...] Ao contrabalan-
ar esta tendncia do capital, por meio da luta pela alta dos salrios, na
medida correspondente crescente intensidade do trabalho, o operrio
no faz mais que opor-se depreciao do seu trabalho e degenera-
o da sua raa.
H ainda outras razes pelas quais os trabalhadores devem lutar
por aumentos salariais. Marx arma que o trabalhador moderno com-
partilha de toda misria do antigo escravo, sem, contudo, desfrutar da
segurana de que o ltimo dispunha. O escravo, por toda vida, dispe
de uma quantidade xa e imutvel de meios de subsistncia, enquanto
o operrio dispe de uma quantidade muito varivel, podendo, em caso
desemprego, chegar a nada. Pois bem, a razo de ser desta insegurana
Fernando Haddad
198
Filosofia poltica contempornea
a dinmica cclica da economia capitalista que ora est em franca
prosperidade, ora em calmaria, ora em depresso, ora em recuperao.
Marx observa que os preos das mercadorias no mercado e a taxa de
lucro no mercado seguem estas fases; ora descendo abaixo de seu n-
vel mdio, ora ultrapassando-o. Se considerardes todo o ciclo, vereis
que uns desvios dos preos do mercado so compensados por outros e
que, tirando a mdia do ciclo, os preos das mercadorias do mercado
se regulam por seus valores. Pois bem. Durante as fases de baixa dos
preos no mercado e durante as fases de crise de estagnao, o oper-
rio, se que no o pem na rua, pode estar certo de ver rebaixado o
seu salrio. Para que no o enganem, mesmo com essa baixa de preos
no mercado, ver-se- compelido a discutir com o capitalista em que
proporo se torna necessrio reduzir os salrios. E se durante a fase
de prosperidade, na qual o capitalista obtm lucros extraordinrios, o
operrio no lutar por uma alta de salrios, ao tirar a mdia de todo o
ciclo industrial, veremos que ele nem sequer percebe o salrio mdio,
ou seja, o valor do seu trabalho. Seria o cmulo da loucura exigir que
o operrio, cujo salrio se v forosamente afetado pelas fases adversas
do ciclo, renunciasse ao direito de ser compensado durante as fases
prsperas. A conseqncia bvia dessas consideraes que o traba-
lhador, ao reunir algumas economias na fase de prosperidade, longe de
revogar a lei que xa o seu salrio no nvel de subsistncia, na verdade
a conrma, uma vez que na fase de depresso ter que se valer dessas
mesmas economias para se sustentar, uma vez que seu salrio, nessa
fase, ainda que mantido seu emprego, poder descer para um patamar
aqum do necessrio para sua prpria reproduo.
Importa-nos, agora, ressaltar dois outros exemplos apontados
por Marx. O primeiro, excepcional e pouco provvel, mas em tese
possvel, supe uma diminuio da produtividade do trabalho de
modo que, em conseqncia, se necessite de mais trabalho para pro-
duzir aquela quantidade de bens primrios necessrios a reposio
da fora humana consumida no processo de produo. Nesse caso,
um aumento dos salrios seria inevitvel. Com a queda da produtivi-
dade do trabalho, o preo da cesta de bens necessrios reproduo
do trabalhador subir na exata medida que se exigir um preo maior
pela venda da fora de trabalho. Mais uma vez, o aumento salarial
no viola, antes convalida a lei do valor.
O surpreendente de Salrio, preo e lucro o fato de Marx ter
arrolado ainda um outro caso, que por razes de argumentao hava-
mos deixado de lado, sem mencionar aquilo que o distingue dos at
199
aqui considerados. Trata-se do caso de elevao, e no diminuio, da
produtividade do trabalho, ou seja, o movimento oposto ao acima des-
crito. Por simetria, deveramos esperar que a um aumento da produti-
vidade do trabalho correspondesse uma imediata reduo dos salrios,
uma vez que os custos de reproduo da mercadoria fora de trabalho
teriam diminudo. Contudo, o texto diz o seguinte:
Ao elevar-se a produtividade do trabalho, pode acontecer que a
mesma quantidade de artigos de primeira necessidade, consumi-
dos em mdia, diariamente, baixe de 3 para 2 xelins, ou que, em
vez de 6 horas de jornada de trabalho, bastem 4 para produzir
o equivalente do valor dos artigos de primeira necessidade con-
sumidos num dia [...] O lucro subiria de 3 para 4 xelins e a taxa
de lucro, de 100 para 200%. Ainda que o padro de vida absoluto
do trabalhador continuasse sendo o mesmo, seu salrio relativo
e, portanto, sua posio social relativa, comparada com a do ca-
pitalista, teria piorado. Opondo-se a esta reduo de seu salrio
relativo, o trabalhador no faria mais que lutar para obter uma
parte das foras produtivas incrementadas do seu prprio traba-
lho e manter a sua antiga situao relativa na escala social.
O que difere este caso de todos os demais? Nos exemplos anteriores,
a luta por aumento salarial tinha um carter defensivo num sentido
muito preciso. Seja pela perda do poder de compra da moeda, seja
pelo aumento da jornada de trabalho ou pela intensicao do traba-
lho, seja ainda pela oportunidade de se valer das fases de escassez de
mo-de-obra que somente compensa as fases de abundncia, a luta
pelo aumento salarial, se vitoriosa, no faz mais do que proporcionar
ao trabalhador a mesma quantidade de gneros de primeira necessida-
de imprescindveis a sua mera reproduo enquanto trabalhador. Mas,
nesse ltimo caso, no. Aqui, o enfoque completamente novo. Porque
se o trabalhador conseguir manter a sua posio social relativa compa-
rada a do capitalista, ele ter, indiscutivelmente, no caso de aumento
da produtividade do trabalho, uma quantidade maior de bens a sua
disposio. Tecnicamente falando, se o trabalhador consegue refrear o
aumento da taxa de mais valia relativa, isso signicar que seu salrio,
medido em termos de valores de uso, ter subido na mesma propor-
o do aumento da produtividade do trabalho. Se a um aumento da
produtividade no corresponder um aumento de salrio, o padro de
vida do trabalhador continuar o mesmo, como reconhece Marx na
passagem citada. Simetricamente, se a um aumento de produtividade
Fernando Haddad
200
Filosofia poltica contempornea
corresponder um aumento de salrio na mesma medida, o padro de
vida absoluto do trabalhador aumentar, ainda que sua posio social
relativa comparada da classe dominante permanea a mesma.
Marx introduz nessa passagem de Salrio, preo e lucro, uma in-
determinao que est ausente en O capital. Nesta obra, a indetermi-
nao diz respeito unicamente xao da jornada de trabalho: de um
lado, o capitalista arma seu direito, como comprador, quando pro-
cura prolongar a jornada de trabalho; de outro, o trabalhador arma
seu direito, como vendedor, quando quer limitar a jornada de trabalho.
Ocorre assim uma antinomia, direito contra direito, ambos baseados
na lei da troca de mercadorias. Entre direitos iguais e opostos decide a
fora. Em Salrio, preo e lucro, a luta do trabalhador pela manuten-
o da sua posio social relativa introduz uma outra indeterminao,
agora na xao do nvel salarial.
No por outro motivo que, em Salrio, preo e lucro a questo
da xao da jornada no aparece dissociada da questo da xao
do salrio, o que ca claro na seguinte observao: o mximo de lu-
cro s se acha limitado pelo mnimo fsico dos salrios e pelo mximo
fsico da jornada de trabalho. evidente que, entre os dois limites
extremos da taxa mxima de lucro, cabe uma escala imensa de va-
riantes. A determinao de seu grau efetivo s ca assente pela luta
incessante entre o capital e o trabalho; o capitalista, tentando cons-
tantemente reduzir os salrios ao seu mnimo fsico e a prolongar a
jornada de trabalho ao seu mximo fsico, enquanto o operrio exerce
constantemente uma presso no sentido contrrio. claro que nesse
embate entraro em jogo fatores histricos e sociais: as diferenas de
pas para pas, as diferentes tradies e culturas, o nvel de amadure-
cimento da classe trabalhadora etcetera.
Para Marx, contudo, a perspectiva para os trabalhadores no era
das mais favorveis. Segundo seus prognsticos, o prprio desenvolvi-
mento da indstria moderna contribui por fora para inclinar cada vez
mais a balana a favor do capitalista contra o operrio e que, em con-
seqncia disto, a tendncia geral da produo capitalista no para
elevar o nvel mdio normal do salrio, mas, ao contrrio, para faz-lo
baixar, empurrando o valor do trabalho mais ou menos at seu limite
mnimo. Desse ponto de vista, surpreendentemente, o resultado da
sua pesquisa acabava coincidindo com as intuies do operrio John
Weston, um ctico quanto s possibilidades de xito do movimento
sindical, como, alis, o prprio Marx zera notar no incio da sua ex-
posio. Ao contrrio da conferncia de Weston, no entanto, a de Marx
201
abre perspectivas novas para os trabalhadores, ainda que como contra-
tendncias cuja predominncia, improvvel para ele, a Histria dos 100
anos seguintes polmica em tela viria demonstrar. Contratendncias
que, diga-se, esto, como se ver a seguir, plenamente contempladas
na exposio de Marx, ainda que ele no tenha dado conta dos desdo-
bramentos que teriam caso elas se armassem historicamente graas a
uma conjunto de condies inimaginveis.
Vejamos a coisa mais de perto. Numa certa passagem Marx faz
notar a diferena de enfoque que o separa de Weston, ainda que ambos,
como se disse, comunguem o mesmo sentimento em relao s possi-
bilidades de xito do movimento sindical. Diz o texto:
Tomemos, por exemplo, a elevao dos salrios agrcolas in-
gleses, de 1849 a 1859. Qual foi a sua conseqncia? Os agri-
cultores no puderam elevar o valor do trigo, como lhes teria
aconselhado nosso amigo Weston, nem sequer o seu preo no
mercado. Ao contrrio, tiveram de resignar-se a v-lo baixar.
Mas durante estes onze anos introduziram mquinas de todas
as classes e novos mtodos cientcos, transformaram uma par-
te das terras de lavoura em pastagens, aumentaram a extenso
de suas fazendas e com ela a escala de produo; e por estes e
outros processos, fazendo diminuir a procura de trabalho gra-
as ao aumento de suas foras produtivas, tornaram a criar um
excedente relativo da produo de trabalhadores rurais. Tal o
mtodo geral segundo o qual opera o capital nos pases antigos,
de bases slidas, para reagir, mais rpida ou mais lentamente,
contra os aumentos de salrios.
Aqui, como se v, o movimento o oposto do outrora apresentado. Os
trabalhadores agrcolas ingleses se beneciaram de uma fase de pros-
peridade econmica excepcionalmente longa e tiveram seus salrios
aumentados ao mesmo tempo em que o preo do trigo que produziam
e que os reproduzia baixava sem cessar. Com a introduo de novas
tcnicas e mtodos cientcos os proprietrios diminuram a demanda
por fora de trabalho, mercadoria que, tornando-se superabundante,
teve seu preo novamente corrigido. Mantiveram seus lucros, sem que
repassassem o aumento dos salrios aos preos, antes pelo contrrio.
No caso anteriormente analisado temos a demanda por aumento
salarial precedida do aumento da produtividade do trabalho, os traba-
lhadores tentando manter sua posio social relativa comparada a dos
capitalistas, enquanto aqui, a reao dos capitalistas contra o aumen-
Fernando Haddad
202
Filosofia poltica contempornea
to dos salrios por meio do aumento da produtividade do trabalho.
Nada nos impede, logicamente, de conceber esses movimentos como
complementares, bastando para tanto, introduzir uma pea a mais no
nosso esquema: para tornar-se virtuoso, o crculo se fecha com a exi-
gncia da reduo da jornada de trabalho.
E nesse momento que Marx introduz um dos elementos fun-
damentais para entender porque as contratendncias se tornaram a
marca do sculo XX, no Ocidente, pelo menos at nais da dcada
de 1960: a Poltica. Pelo que concerne limitao da jornada de
trabalho diz Marx, tanto na Inglaterra como em todos os pases,
nunca foi ela regulamentada seno por interveno legislativa. E
sem a constante presso dos operrios agindo por fora, nunca essa
interveno se daria. Em todo caso, este resultado no teria sido
alcanado por meio de convnios privados entre os operrios e os
capitalistas. E esta necessidade mesma de uma ao poltica geral
precisamente o que demonstra que, na luta puramente econmica, o
capital a parte mais forte.
Os grifos, todos meus, na passagem acima no querem suge-
rir, como uma leitura apressada e ingnua poderia indicar, que o
Estado de Bem-Estar era uma perspectiva aventada por Marx. Seu
ceticismo quanto s possibilidades de reformar o sistema e sua iro-
nia quanto s conquistas dos trabalhadores sob domnio do capital
so sobejamente conhecidos. Muito desdenhosamente, Marx afir-
ma, por exemplo, em O capital (Livro I, cap. 8): o pomposo catlo-
go dos direitos inalienveis do homem ser assim substitudo pela
modesta Magna Carta que limita legalmente a jornada de trabalho
e estabelece claramente, por fim, quando termina o tempo que o
trabalhador vende e quando comea o tempo que lhe pertence. Que
transformao! Marx simplesmente aponta em Salrio, preo e lu-
cro para o fato de que intervenes legislativas em proveito dos
trabalhadores so conquistas sindicais que transcendem a arena
econmica e se realizam na poltica, uma arena onde os trabalha-
dores tm mais chances de vitria contra o capital. Afirmar que o
sindicalismo explica o Estado de Bem-Estar quase to equivocado
quanto afirmar que o Estado de Bem-Estar um desdobramento
automtico do desenvolvimento do capitalismo. Mas, o que se pro-
curar defender aqui que o Estado de Bem-Estar, de um ponto de
vista marxista, tem no sindicalismo seu pressuposto dialtico, sua
determinao mais fundamental, ainda que se reconhea que sua
plena constituio contou com condies histricas ausentes ou s
203
embrionariamente presentes na poca em que as teses de Marx vie-
ram a pblico, e que, sem essas condies, o Estado de Bem-Estar
seria um empreendimento impossvel.
Trs dessas condies so dignas de nota: o sufrgio universal, a
transformao da cincia em fator de produo e a adoo pelo Estado
de polticas anticclicas de feio keynesiana. Quanto ao primeiro, sa-
bemos desde A questo judaica que Marx o tomava como um desdobra-
mento natural e previsvel da sociedade moderna. O sufrgio universal,
naquela obra, era tido, no como a emancipao dos sbitos frente a
dominao e opresso dos poderosos, mas sim como a emancipao
do prprio Estado frente a outras esferas que lhe serviam de base de
legitimao. Marx refere-se, explicitamente, religio e economia. O
Estado moderno no carece mais de um fundamento religioso, tornan-
do-se laico, nem de um fundamento econmico, dispensando o censo.
Numa palavra, torna-se democrtico. Diferenas e desigualdades so
idealmente superadas e todos, aos seus olhos, passam a condio de ci-
dados, muito embora, no mbito da sociedade civil, o mesmo Estado
reponha as condies para que aquelas diferenas e desigualdades sir-
vam como verdadeiros pressupostos materiais da sua prpria existn-
cia. Uma coisa, porm, a adoo do sufrgio numa sociedade onde os
interesses da classe trabalhadora no so conscientes, no esto ainda
bem delineados etc.; outra coisa o papel que o sufrgio universal tem
numa sociedade amadurecida, com um proletariado plenamente de-
senvolvido e organizado. Por isso, j no Manifesto, Marx reconhece que
a primeira fase da revoluo operria a conquista da democracia,
tema que Engels vai explorar com mais profundidade no seu testamen-
to poltico. No jargo da obra de juventude, a emancipao poltica do
Estado aparece como pressuposto da emancipao humana; a demo-
cracia, do socialismo, mas em A questo judaica trata-se, por assim di-
zer, de uma democracia sem proletariado enquanto classe para si, e no
Manifesto a perspectiva a de uma democracia revigorada pelo sindica-
lismo, pois na fbrica que os trabalhadores primeiramente se unem,
se conscientizam, se educam, depois na indstria, como categoria, e na
nao, como classe, nalmente superando a concorrncia econmica
que os afasta uns dos outros no plano da sociedade civil. Saliente-se,
ainda, que as primeiras conquistas legislativas so, em certos pases,
anteriores a prpria adoo do sufrgio universal, e este aparece, em
certas circunstncias histricas, como uma conquista legislativa de ca-
rter sindical, especialmente em certos processos de redemocratizao
em que os sindicatos, sempre aliados a outros setores da sociedade,
Fernando Haddad
204
Filosofia poltica contempornea
tiveram papel proeminente. Numa palavra, a luta pela universalizao
do sufrgio uma luta da ao sindical e pela ao sindical, uma vez
que esta ganha mpeto com a democracia e faz inscrever nas magnas
cartas direitos sociais cujos embries, de ns do sculo XVIII e incio
do sculo XIX, haviam sido cruelmente abortados.
Uma segunda condio da constituio do Estado de Bem-Estar
foi a transformao da cincia em fator de produo. Aqui tambm,
Marx foi muito mais longe do que o razovel para seu tempo. Numa
passagem dos Grundrisse, Marx estabelece: a troca do trabalho vivo
contra trabalho objetivado, isto , a posio do trabalho social na for-
ma da oposio entre capital e trabalho o ltimo desenvolvimento da
relao valor, e da produo que repousa sobre o valor. Sua pressuposi-
o e permanece a massa de tempo de trabalho imediato, o quantum
de trabalho utilizado como fator decisivo da produo da riqueza [...],
mas medida que a grande indstria se desenvolve, a criao da riqueza
efetiva se torna menos dependente do tempo de trabalho e do quantum
de trabalho utilizado, do que da fora dos agentes que so postos em
movimento durante o tempo de trabalho, poder que por sua vez sua
poderosa efetividade no tem mais nenhuma relao com o tempo de
trabalho imediato que custa sua produo, mas depende antes da si-
tuao geral da cincia, do progresso da tecnologia, ou da utilizao da
cincia na produo. Uma formulao que vai muito alm daquela do
Manifesto, onde Marx, de forma absolutamente pioneira, revela o carter
progressista da burguesia que s pode existir com a condio de revolu-
cionar incessantemente os instrumentos de produo. Mas nem ele po-
deria supor, no obstante, que a burguesia abdicaria dessa prerrogativa,
contratando uma parcela da camada de trabalhadores mais qualicados
para levar frente uma tarefa histrica sua, dispondo-se, inclusive, a
partilhar com esse grupo social os lucros extraordinrios que o processo
de inovao cientco-tecnolgico enseja. Particularmente depois da se-
gunda revoluo industrial, a cincia penetra a produo de uma forma
indita, parte das foras produtivas se converte em foras criativas, e
a inovao torna-se uma rotina. Se nos lembrarmos que uma das pos-
sibilidades do sindicalismo era a de lutar pela manuteno da posio
relativa do trabalhador comparada a do capitalista pela incorporao ao
salrio dos ganhos de produtividade do trabalho, aqui tambm abrem-se
perspectivas novas para o movimento dos trabalhadores, particularmen-
te nos pases democrticos.
Por m, mas no menos importante, a terceira condio: a ado-
o de polticas anticclicas keynesianas. Como vimos, uma grave limi-
205
tao do movimento sindical era a de que a crise econmica corroa
as poupanas dos trabalhadores eventualmente acumuladas na fase de
prosperidade. A depresso fazia o salrio mdio do ciclo completo con-
vergir para aquele mnimo necessrio reproduo da fora de traba-
lho vendida ao capitalista. Uma poltica scal frouxa, inconcebvel no
perodo liberal clssico a no ser em perodos extraordinrios de guerra
aberta, tornou-se a regra em muitos pases, mesmo depois de superada
a fase de depresso que inicialmente a exigiu, ora sustentando polti-
cas sociais que proporcionavam, no to raramente, polpudos salrios
indiretos s camadas no-proprietrias, ora sustentando, num perodo
de estraticao da economia mundial, corridas armamentistas que,
inclusive, nos pases de produo endgena de tecnologia, dinamiza-
ram o processo de internalizao da cincia no processo de produo,
criando os hoje chamados sistemas nacionais de inovao. Os sistemas
nacionais de inovao, por sua vez, reforaram o movimento de estra-
ticao da economia mundial, e a oligarquizao da riqueza mundial
decorrente abriu ainda mais espao para a ao sindical nos pases
centrais to mais facilitada quanto mais prosperavam os movimentos
revolucionrios nos pases perifricos.
Ainda quanto s polticas anticclicas, fundamental salientar
um aspecto novo associado gesto da dvida pblica. Um ttulo da
dvida pblica d a seu detentor, como se sabe, direito participao
nas receitas futuras do Estado. Como detentor do ttulo, no importa
ao capitalista individualmente considerado se o dinheiro arrecadado
com a venda do ttulo serviu para construir creches ou para fabricar
armamentos, embora numa sociedade de classes a disputa pelo desti-
no do fundo pblico seja uma questo que se resolve na luta, aberta
ou velada. Pois bem, o endividamento pblico introduz uma varivel-
chave para se entender a pacicao dos conitos saudada nos 30 anos
gloriosos do capitalismo: a disputa pelo produto social pode ser dife-
rida no tempo. A idia de que capitalistas e operrios, dado o valor
produzido, s podem aumentar sua participao no produto social s
custas da participao do outro sofre um deslocamento. Pela ao do
Estado, pode-se transferir renda dos capitalistas para os trabalhadores
por meio de tributos, ou pode-se realizar a mesma operao vendendo
ao capitalista um ttulo da dvida pblica ao invs de tax-lo. Nesse
ltimo caso, a deciso sobre quem h de pagar a conta ca postergada
para a prxima gerao. A gesto da dvida pblica, portanto, permite
coordenar dois movimentos que, aos olhos de Marx, pareciam mutua-
mente excludentes. Num texto que trata da questo do fundo pblico
Fernando Haddad
206
Filosofia poltica contempornea
na passagem do capitalismo ao socialismo, ele observa: Primeiro: as
despesas gerais de administrao, no concernentes produo. Nesta
parte se conseguir, desde o primeiro momento, uma reduo consi-
derabilssima, em comparao com a sociedade atual, reduo que ir
aumentando medida que a nova sociedade se desenvolva. Segundo:
a parte que se destine a satisfazer necessidades coletivas, tais como
escolas, instituies sanitrias, etc. Esta parte aumentar considera-
velmente desde o primeiro momento, em comparao com a sociedade
atual, e ir aumentando medida que a nova sociedade se desenvolva.
Terceiro: os fundos de manuteno das pessoas no capacitadas para o
trabalho, etc.; em uma palavra, o que hoje compete chamada bene-
cncia ocial (Crtica ao programa de Gotha). A dvida pblica, corre-
tamente gerida, permite, por um longo perodo, mas no para sempre,
aumentar os gastos sociais sem a necessidade de desmontar o modo ca-
pitalista de administrar. Nesse contexto especco e limitado no tempo
convivem aspectos do Estado burgus e aspectos de um futuro Estado
socialista, o que fez um dos principais socilogos brasileiros imaginar
que se constitua ento um modo social-democrata de produo.
Sufrgio universal, cincia incorporada produo e polti-
cas anticclicas. Onde estas trs condies se combinaram sinergi-
camente, o movimento reformista prosperou incontestavelmente. O
sindicalismo, contudo, no poderia ser arrolado simplesmente como
uma quarta condio do Estado de Bem-Estar. O sindicalismo uma
determinao do Estado de Bem-Estar no sentido de que ele que
justamente determina sua posio objetiva, ou seja, pe-no como ca-
tegoria histrica. No , portanto, uma condio entre outras. Tanto
que, quando muda o enquadramento poltico da luta sindical, ainda
que na presena daquelas trs condies, as conquistas sociais sofrem
um retrocesso. Com a transnacionalizao do processo de acumula-
o de capital produtivo e nanceiro, que se d em parte por razes
ideolgicas, em parte por razes tcnicas associadas terceira revo-
luo industrial, o sindicato , correlativamente, o alvo prioritrio do
poder poltico que o enfrenta diretamente, e do poder das empresas
que, pela mobilidade conquistada, dele se esquivam. A luta sindical,
organizada na melhor das hipteses em bases nacionais, enfrenta um
inimigo transnacional que lhe parece invisvel e, de certa forma, in-
vencvel. A pauta sindical estreita-se a ponto de contemplar apenas a
reivindicao de mais empregos enquanto se presencia o corte inin-
terrupto de postos de trabalho e a transformao de parte das foras
produtivas em foras destrutivas: o lmpen moderno.
207
Dessa perspectiva, o vaticnio de Marx que parecia infundado
diante do bom desempenho do sindicalismo no segundo ps-guerra
volta a ganhar fora. Em Salrio, preo e lucro, ele dizia que as lu-
tas da classe operria em torno do padro de salrios so episdios
inseparveis de todo o sistema do salariado; que em 99% dos casos,
seus esforos para elevar os salrios no so mais que esforos desti-
nados a manter de p o valor dado do trabalho. Diante disso, Marx
conclamava os trabalhadores a transpor os estreitos limites da ao
sindical que no supera, antes opera por dentro do sistema de traba-
lho assalariado. A classe operria conclui Marx deve saber que o
sistema atual, mesmo com todas as misrias que lhe impe, engendra
simultaneamente as condies materiais e as formas sociais necess-
rias para uma reconstruo econmica da sociedade. Em vez do lema
conservador de: um salrio justo por uma jornada de trabalho justa!,
dever inscrever na sua bandeira esta divisa revolucionria: abolio
do sistema de trabalho assalariado!.
Isso desloca a discusso, imediatamente, para o tema do coo-
perativismo e nos ajuda a entender a primeira razo pela qual ele foi
relegado a segundo plano. No famoso prefcio Contribuio crtica
da economia poltica, Marx j havia sugerido que nenhuma formao
social desaparece antes que se desenvolvam todas as foras produtivas
que ela contm. Se isso verdade, por que os trabalhadores, nos 30
anos gloriosos, iriam abandonar uma estratgia segura que lhes trazia
benefcios imediatos por outra, revolucionria, sempre arriscada e de
resultados incertos? Em outras palavras, a luta pela abolio do sis-
tema de trabalho assalariado s poderia ser levada a cabo, esgotadas
as possibilidades de efetivas, concretas e signicativas melhorias da
relao de assalariamento. A imagem de que os proletrios nada tm
de seu para salvaguardar (Manifesto), no se ajusta a certos perodos
histricos que podem ter uma durao relativamente prolongada. O
prprio Marx vivenciou um perodo de relativa calmaria no perodo
ps-1848 associada a uma prosperidade econmica duradoura que lhe
serviu de chave explicativa para as derrotas revolucionrias daquele
ano e o perodo comparativamente mais sereno que se seguiu.
Mas h uma outra razo profunda que explica o relativo fracasso
do cooperativismo. Trata-se da incompreenso terica, relacionada ao
experimento histrico sovitico, sobre o que Marx entendia por plane-
jamento em oposio a mercado, uma questo, como veremos, um-
bilicalmente associada ao tema do cooperativismo. Planejamento cen-
tral e mercado foram tomados, desde a polmica dos anos 1930, como
Fernando Haddad
208
Filosofia poltica contempornea
conceitos econmicos, quando perante a cincia de Marx, os conceitos
econmicos so imediatamente conceitos polticos. Numa passagem de
importncia equiparvel que inaugura O capital, tomando-lhe no por
acaso a forma, l-se: na sociedade em que domina o modo capitalista de
produo, condicionam-se reciprocamente a anarquia da diviso social
do trabalho e o despotismo da diviso manufatureira do trabalho (O
capital, Livro I, cap. 12). Anarquia e despotismo so conceitos da teoria
poltica desde os gregos. Dissociados destes conceitos, os conceitos de
mercado e planejamento orientam pouco a ao daqueles que desejam
a superao do sistema de trabalho assalariado. Pois uma coisa negar
o trabalho assalariado, outra super-lo. Teoricamente, os socialistas se
dividiram em dois grupos: os que defendiam o socialismo de mercado
e os que defendiam o socialismo centralmente planejado. Nestes dois
modelos, o trabalho assalariado no parece ter lugar. Contudo, do ponto
de vista de Marx, se a nova sociedade no tivesse superado efetivamente
aquelas duas determinaes da diviso do trabalho sob o capitalismo,
no haveria possibilidade de se falar em socialismo.
Para que esse ponto de vista que claro imprescindvel acom-
panhar a evoluo do pensamento marxista sobre o tema do coope-
rativismo do Manifesto a Crtica ao programa de Gotha ou seja, por
cerca de 30 anos. A primeira manifestao de interesse de Marx sobre
o cooperativismo a sua conhecida avaliao do chamado socialismo
utpico. Diz o texto: a forma rudimentar da luta de classe e sua pr-
pria posio social os levam [os socialistas utpicos] a considerar-se
bem acima de qualquer antagonismo de classe. Desejam melhorar
as condies materiais de vida para todos os membros da sociedade,
mesmo dos mais privilegiados. Por conseguinte, no cessam de ape-
lar indistintamente para a sociedade inteira, e mesmo se dirigem de
preferncia classe dominante. Pois, na verdade, basta compreender
seu sistema para reconhecer que o melhor dos planos possveis para
a melhor das sociedades possveis. Repelem, portanto, toda ao po-
ltica e, sobretudo, toda ao revolucionria; procuram atingir seu
m por meios paccos e tentam abrir um caminho ao novo evange-
lho social pela fora do exemplo, por experincias em pequena esca-
la que, naturalmente, fracassam (Manifesto Comunista, III). V-se,
com clareza, qual a principal objeo de Marx aos utpicos: a falta de
conscincia de que a sociedade capitalista, no seu todo, est cindida
em torno de interesses irredutveis de classe. A viso da sociedade
futura surge, assim, na mente de membros da classe dominante que,
por sua vez, pregam para seus prprios pares. E, portanto, a constru-
209
o da sociedade futura dispensa a ao poltica, privilegiando a ao
exemplar, necessariamente, de pequena envergadura.
No obstante, Marx no deixa de reconhecer os mritos de um
pensamento que encerra elementos crticos. Os utpicos atacam a
sociedade existente em suas bases. Por conseguinte, forneceram em
seu tempo materiais de grande valor para esclarecer os operrios.
Suas propostas positivas relativas sociedade futura, tais como a su-
presso da distino entre a cidade e o campo, a abolio da famlia,
do lucro privado e do trabalho assalariado, a proclamao da harmo-
nia social e a transformao do Estado numa simples administrao
da produo, todas essas propostas apenas anunciam o desapareci-
mento do antagonismo entre as classes (Manifesto Comunista). A su-
presso do trabalho assalariado e a transformao do Estado numa
simples administrao da produo so, nesse ponto, os aspectos que
merecem ateno. A bandeira do cooperativismo, empunhada com
entusiasmo pelos utpicos, aparece como uma primeira manifesta-
o contra o trabalho assalariado. Uma manifestao que Marx ja-
mais neglicenciar. No Manifesto de lanamento da Associao Inter-
nacional dos Trabalhadores, Marx aumentar o grau de satisfao e de
exigncia para com o cooperativismo:
Mas o futuro nos reservava uma vitria ainda maior da economia
poltica do operariado sobre a economia poltica dos propriet-
rios. Referimo-nos ao movimento cooperativo, principalmente
s fbricas cooperativas levantadas pelos esforos desajudados
de alguns hands [operrios] audazes [...] Pela ao, ao invs de
por palavras, demonstraram que a produo em larga escala e de
acordo com os preceitos da cincia moderna, pode ser realizada
sem a existncia de uma classe de patres que utilizam o traba-
lho da classe dos assalariados; que, para produzir, os meios de
trabalho no precisam ser monopolizados, servindo como um
meio de dominao e de explorao contra o prprio operrio;
e, que, assim como o trabalho escravo, assim como o trabalho
servil, o trabalhado assalariado apenas uma forma transitria
e inferior, destinada a desaparecer diante do trabalho associado
que cumpre a sua tarefa, com gosto, entusiasmo e alegria. Na In-
glaterra, as sementes do sistema cooperativista foram lanadas
por Robert Owen; as experincias operrias levadas a cabo no
Continente foram, de fato, o resultado prtico das teorias, no
descobertas, mas proclamadas em altas vozes em 1848.
Fernando Haddad
210
Filosofia poltica contempornea
Aqui aparece mais claramente o signicado da cooperativa na
construo terica marxista. A cooperativa h de ser to eciente
quanto a empresa capitalista. A referncia escala de produo e
utilizao da cincia moderna no deixa dvidas desse propsito. A
cooperativa, numa palavra, deve estar em condies de concorrer com
a grande indstria capitalista em p de igualdade. Adicionalmente, o
trabalho, agora associado, representa um passo alm do trabalho assa-
lariado, j que a gura do patro dispensada. Resta, porm, analisar
em que medida, nos termos em que colocamos o problema, a coopera-
tiva representa a possibilidade de superao do despotismo da diviso
manufatureira do trabalho e da anarquia da diviso social do trabalho.
Essas questes complexas exigem esforo de compreenso. Tomemos
a seguinte passagem de O capital:
O trabalho de superviso e direo surge necessariamente todas
as vezes que o processo imediato de produo se apresenta em
processo socialmente combinado e no no trabalho isolado de
produtores independentes. Possui dupla natureza. De um lado,
em todos os trabalhos em que muitos indivduos cooperam, a
conexo e a unidade do processo conguram-se necessariamente
numa vontade que comanda e nas funes que no concernem
aos trabalhadores parciais, mas atividade global da empresa,
como o caso do regente de uma orquestra. um trabalho pro-
dutivo que tem de ser executado em todo sistema combinado
de produo. De outro lado, omitindo-se o setor mercantil, esse
trabalho de direo necessrio em todos os modos de produ-
o baseados sobre a oposio entre o trabalhador o produtor
imediato e o proprietrio dos meios de produo. Quanto maior
essa oposio, tanto mais importante o papel que esse trabalho
de superviso desempenha. Atinge por isso o mximo na es-
cravido. Mas tambm indispensvel no modo capitalista de
produo, pois o processo de produo nele ao mesmo tempo
processo de consumo da fora de trabalho pelo capitalista. Da
mesma maneira, em estados despticos, o trabalho de superin-
tendncia e a intromisso geral do governo abarca duas coisas:
a execuo das tarefas comuns que derivam da prpria natureza
de toda coletividade, e as funes que decorrem especicamente
da oposio entre governo e a massa do povo [...] As fbricas
cooperativas demonstram que o capitalista como funcionrio da
produo tornou-se to supruo quanto o , para o capitalista
mais evoludo, o latifundirio (O capital, Livro III, cap. 23).
211
O trabalho combinado, segundo Marx, qualquer que seja, exige o tra-
balho de direo. comum a toda sociedade, emancipada ou no,
desde que minimamente complexa. Contudo, nas sociedades onde h
oposio entre o trabalhador e o detentor dos meios de produo, seja
na escravido, no despotismo ou no capitalismo, esse trabalho de di-
reo desempenha uma funo to importante e de outra natureza,
associada explorao do escravo, da massa do povo ou do operrio,
respectivamente. Mas, no capitalismo, no ser a simples ausncia da
gura do patro que promover a superao do despotismo da diviso
do trabalho dentro da fbrica, pois nas modernas sociedades por aes,
por exemplo, onde a distino entre a gura do proprietrio do capital
e a gura do funcionrio do capital j patente, nem por isso a produ-
o est organizada em bases, digamos, republicanas.
A ausncia da gura do proprietrio tanto na sociedade por
aes quanto na cooperativa no deixou de chamar a ateno de Marx
que, inclusive, fundamentava o desenvolvimento dessas novas formas
de propriedade no mesmo fenmeno da expanso do sistema de cr-
dito: Sem o sistema fabril oriundo do modo capitalista de produo,
no poderia desenvolver-se a cooperativa industrial dos trabalhadores,
e tampouco o poderia sem o sistema de crdito derivado desse modo de
produo. Esse sistema, que constitui a base principal para a transfor-
mao progressiva das empresas capitalistas privadas em sociedades
capitalistas por aes, tambm proporciona os meios para a expanso
progressiva das empresas cooperativas [...] Tanto as empresas capita-
listas por aes quanto as cooperativas industrias dos trabalhadores
devem ser consideradas formas de transio entre o modo capitalista
de produo e o modo associado, com a diferena que, num caso, a
contradio superada negativamente e, no outro, de maneira positi-
va (O capital, Livro III, cap. 27).
Por que na sociedade por aes a contradio superada ne-
gativamente e na cooperativa positivamente? Suponhamos que uma
empresa capitalista se constitua por meio de emisso de aes. Su-
ponhamos, agora, que uma cooperativa se constitua por meio de um
emprstimo bancrio. No primeiro caso, os trabalhadores devero ge-
rar dividendos para os acionistas, no segundo, juros para o banquei-
ro. Dividendos e juros podem ou no ser xados no mesmo patamar,
dependendo do risco envolvido e de muitas outras variveis, mas isso
no muda a natureza do problema. Nos dois casos, h trabalho de
direo envolvido na coordenao do trabalho combinado. Contudo,
a diferena mais importante nesse exemplo no de natureza eco-
Fernando Haddad
212
Filosofia poltica contempornea
nmica, mas poltica. O carter antagnico do trabalho de direo
desaparece na fbrica cooperativa, sendo o dirigente pago pelos tra-
balhadores, em vez de representar o capital perante eles (O capital,
Livro III, cap. 23). Valendo-nos da metfora de Marx, tudo se passa
como se msicos proprietrios dos seus instrumentos de trabalho,
ainda que comprados a crdito, contratassem um regente para lhes
dirigir. O regente, nesse caso, no representa o capital perante os m-
sicos. O dirigente contratado pelo coletivo dos trabalhadores pode
inclusive vir a represent-los perante o banqueiro que lhes nanciou
o empreendimento.
Com a cooperativa, portanto, nova formao social parece des-
pontar a partir do desenvolvimento da antiga formao social. Mas, at
aqui, observa-se que a cooperativa signica to-somente a superao
de uma das determinaes da diviso do trabalho sob o capitalismo,
justamente, a diviso desptica do trabalho dentro da manufatura.
de se perguntar, agora, at que ponto isto apontaria para a superao
do modo capitalista de produo no seu conjunto. A seguinte passagem
esclarece a posio de Marx:
As fbricas cooperativas de trabalhadores, no interior do regi-
me capitalista, so a primeira ruptura da velha forma, embora
naturalmente, em sua organizao efetiva, por toda parte re-
produzam e tenham de reproduzir todos os defeitos do sistema
capitalista. Mas, dentro delas suprimiu-se a oposio entre ca-
pital e trabalho, embora ainda na forma apenas em que so os
trabalhadores como associao os capitalistas deles mesmos,
isto , aplicam os meios de produo para explorar o prprio
trabalho (O capital, Livro III, cap. 27).
A cooperativa uma negao do capitalismo insucientemente negati-
va para proporcionar sua superao positiva. a negao do principal
fundamento do sistema, a propriedade privada individual, mas uma
negao limitada, j que promovida no interior do regime capitalista.
Produzir na escala tima e com a melhor tecnologia condio de so-
brevivncia da cooperativa na concorrncia com as demais empresas,
cooperativas ou no, mas no garantia da emergncia de nova for-
mao social. Mantida a anarquia da diviso social do trabalho, os tra-
balhadores no se livram totalmente da gura do patro. Funcionam
como patres de si mesmos, reproduzindo inclusive o sistema de explo-
rao do trabalho. O sujeito automtico continua a operar mesmo sem
a presena em carne e osso de um de seus suportes.
213
Como car claro, a correta compreenso do alcance do coo-
perativismo na obra de Marx exige uma incurso nas searas da po-
ltica, tanto quanto isso se fez necessrio compreenso do alcance
do sindicalismo. Contudo, se no caso do sindicalismo os avanos mais
signicativos dependiam de intervenes legislativas promovidas pela
presso dos operrios agindo por fora, no caso do cooperativismo
seu sucesso, segundo a teoria, dependia da prpria conquista do poder
poltico. O texto acima citado do Manifesto de lanamento da Associa-
o Internacional dos Trabalhadores continua assim:
Ao mesmo tempo, a experincia do perodo decorrido entre 1848
e 1864 provou acima de qualquer dvida que, por melhor que
seja em princpio, e por mais til que seja na prtica, o trabalho
cooperativo, se mantido dentro do estreito crculo dos esforos
casuais de operrios isolados, jamais conseguir deter o desen-
volvimento em progresso geomtrica do monoplio, libertar as
massas, ou sequer, aliviar de maneira perceptvel o peso de sua
misria. talvez por essa mesma razo que, aristocratas bem
intencionados, porta-vozes lantrpicos da burguesia e at eco-
nomistas penetrantes, passaram de repente a elogiar ad nauseam
o mesmo sistema cooperativista de trabalho que tinham tentado
em vo cortar no nascedouro, cognominando-o de utopia de so-
nhadores, ou denunciando-o como sacrilgio de socialistas. Para
salvar as massas laboriosas, o trabalho cooperativo deveria ser de-
senvolvido em dimenses nacionais e, consequentemente, incre-
mentado por meios nacionais. No obstante, os senhores da terra
e os senhores do capital usaro sempre seus privilgios polticos
para a defesa e perpetuao de seus monoplios econmicos.
Em vez de promoverem, continuaro a colocar todos os obst-
culos possveis no caminho da emancipao do operariado [...]
Conquistar o poder poltico tornou-se, portanto, a tarefa principal
da classe operria (grifos meus).
Agora j no basta que a fbrica cooperativa tenha escala de produ-
o e se utilize da melhor tcnica disponvel, mas que o sistema coo-
perativo ele mesmo, no conjunto, assuma dimenses nacionais, o que
exige meios (ainda hoje) nacionais, tais como o sistema de crdito, o
sistema tributrio e o recentemente criado sistema de inovao (de-
partamentos privados de pesquisa e desenvolvimento, agncias esta-
tais de pesquisa, universidades pblicas e privadas, meios de divulga-
o cientca e tecnolgica etc.), o que implica a conquista do poder
Fernando Haddad
214
Filosofia poltica contempornea
poltico. No se trata mais de intervenes legislativas barganhadas
com o Parlamento pela presso externa, mas, pela envergadura do
empreendimento, trata-se de ao do prprio proletariado organiza-
do como classe no poder.
A diferena de enfoque poltico entre sindicalismo e cooperati-
vismo ca expresso na famosa crtica que Marx fez margem do co-
nhecido programa de Gotha, de inspirao lassalliana. Numa de suas
proposies o programa dizia: A m de preparar o caminho para a
soluo do problema social, o Partido Operrio Alemo exige que sejam
criadas cooperativas de produo, com a ajuda do Estado e sob controle
democrtico do povo trabalhador. Na indstria e na agricultura, as coo-
perativas de produo devero ser criadas em propores tais, que delas
surja a organizao socialista de todo o trabalho (grifos, KM). Com seu
costumeiro sarcasmo diante de rebaixamentos tericos que mal condu-
ziam a ao poltica da classe operria, Marx vocifera:
A luta de classes existente substituda por uma frase de jor-
nalista: o problema social, para cuja soluo prepara-se o
caminho. A organizao socialista de todo trabalho no o
resultado do processo revolucionrio de transformao da so-
ciedade, mas surge da ajuda do Estado, ajuda que o Estado
presta s cooperativas de produo criadas por ele e no pe-
los operrios. Esta fantasia de que com emprstimos do Estado
pode-se construir uma nova sociedade como se constri uma
nova ferrovia digna de Lassale! Por um resto de pudor, colo-
ca-se a ajuda do Estado sob o controle democrtico do povo
trabalhador. Mas, em primeiro lugar, o povo trabalhador, na
Alemanha, constitudo, em sua maioria, por camponeses, e
no por proletrios. Em segundo lugar, democrtico quer di-
zer em alemo governado pelo povo (volksberrschaftlich).
E que signica isso de controle governado pelo povo do povo
trabalhador? E, alm disso, tratando-se de um povo trabalha-
dor que, pelo simples fato de colocar estas reivindicaes perante
o Estado, exterioriza sua plena conscincia de que nem est no
poder, nem se acha maduro para governar! [...] O fato de que os
operrios desejem estabelecer as condies de produo cole-
tiva em toda a sociedade e antes de tudo em sua prpria casa,
numa escala nacional, s quer dizer que obram por subverter
as atuais condies de produo, e isso, nada tem a ver com a
fundao de sociedade cooperativas com a ajuda do Estado. E,
no que se refere s sociedades cooperativas atuais, estas s tm
215
valor na medida em que so criaes independentes dos pr-
prios operrios, no protegidas nem pelos governos nem pelos
burgueses (Crtica ao programa de Gotha, III, grifos meus).
Nessa passagem manifesta-se a diferena de perspectiva do sindicalis-
mo e do cooperativismo. Nos dois casos os trabalhadores se posicio-
nam como classe e o sucesso desse posicionamento depende da ao
poltica. Contudo, no caso do cooperativismo, a ao poltica h que
se traduzir em poder poltico, o que no o caso do sindicalismo. No
se trata mais de uma reivindicao dos trabalhadores perante o Esta-
do burgus. No se trata sequer de fazer chegar um operrio chea
do Estado. Poder poltico poder de classe. O sucesso do cooperati-
vismo exige dos trabalhadores que renunciem a sua natural indispo-
sio para governar. Isto no signica que o movimento cooperativo
deva aguardar um governo dos trabalhadores para se desenvolver;
antes, signica que a genuna cooperativa deve ser encarada pelos
seus membros, desde o nascedouro, como um empreendimento pol-
tico, e no apenas econmico. No obstante, Marx, avesso a utopias,
entende que somente por meio de um governo dos trabalhadores que
ser permitido ao sistema cooperativo assumir dimenses nacionais,
uma necessidade na qual ele freqentemente volta a insistir. E por
que tal insistncia? O que muda na natureza do cooperativismo com
a escala nacional? Opera, em alguma medida, a lei da transformao
da quantidade em qualidade? H uma relao entre uma eventual
mudana qualitativa com o tema, ainda no resolvido, da superao
da anarquia da diviso social do trabalho?
Deixemos o prprio Marx responder:
A Comuna exclamam pretende abolir a propriedade, base de
toda civilizao. Sim, cavalheiros, a Comuna pretendia abolir
essa propriedade de classe que converte o trabalho de muitos
na riqueza de uns poucos. A Comuna aspirava expropriao
dos expropriadores. Queria fazer da propriedade individual uma
realidade, transformando os meios de produo, a terra e o ca-
pital, que hoje so fundamentalmente meios de escravizao e
explorao do trabalho, em simples meios de trabalho livre e as-
sociado. Mas isso o comunismo, o irrealizvel comunismo!
Contudo, os indivduos das classes dominantes bastante inteli-
gentes para perceber a impossibilidade de perpetuar o sistema
atual e no so poucos erigiram-se nos apstolos enfadonhos
e prolixos da produo cooperativa. Se a produo cooperativa
Fernando Haddad
216
Filosofia poltica contempornea
for algo mais que uma impostura e um ardil; se h de substituir
o sistema capitalista; se as sociedades cooperativas unidas regula-
rem a produo nacional segundo um plano comum, tomando-a
sob seu controle e pondo m anarquia constante e s convulses
peridicas, conseqncias inevitveis da produo capitalista que
ser isso, cavalheiros, seno comunismo, comunismo realizvel?
(A guerra civil na Frana, III, grifos meus).
A superao da anarquia da produo capitalista exige um tipo de coo-
perao de segunda ordem. Exige que as cooperativas cooperem entre
si. A cooperativa, como vimos anteriormente, a negao do despotis-
mo. A cooperao entre as cooperativas, desde que regulem a produo
nacional segundo um plano comum, a negao da anarquia. A pri-
meira negao insucientemente negativa e, sem que os trabalhadores
detenham o poder poltico, pode se transformar num ardil das classes
proprietrias. A segunda negao exige o poder poltico e supre a insu-
cincia da primeira. No conjunto, representam a denitiva superao
das duas determinaes da diviso do trabalho sob o capitalismo, o que
equivale a dizer que representam a superao do prprio capitalismo.
Isto posto, temos todos os elementos para avaliar os conceitos de
socialismo de mercado e de socialismo centralmente planejado. O pri-
meiro uma fantasia. Imaginar que os trabalhadores, tendo superado
a propriedade privada capitalista, deixaro de aprofundar as relaes
de cooperao que os unem em nome da chamada liberdade de merca-
do desconsiderar, de um lado, que esse mesmo mercado pouco mais
do que nada sem a mercadoria que lhe permite penetrar todos os poros
da sociedade contempornea, a mercadoria fora de trabalho, e, de
outro, que, na presena dessa mercadoria que funda o modo capitalista
de produo, o mercado nada tem de livre.
Apesar disso, a proposta tem sua lgica razo de ser, alm de estar
plenamente justicada historicamente. Em primeiro lugar, porque um
governo dos trabalhadores no pode abolir o mercado. Ter de convi-
ver com as regras de mercado at que a economia cooperativa ganhe
dimenses considerveis, o que se dar na mesma proporo em que os
prprios trabalhadores se reeduquem para uma economia solidria no
fundada no egosmo. Teremos de aprender a responder a estmulos no
pecunirios para trabalhar e, principalmente, para criar, inovar, inven-
tar. Marx estava absolutamente consciente do problema quando dizia: a
classe operria no esperava da Comuna nenhum milagre. Os operrios
no tm nenhuma utopia j pronta para introduzir par dcret du peo-
ple. Sabem que para conseguir sua prpria emancipao, e com ela essa
217
forma superior de vida para a qual tende irresistivelmente a sociedade
atual, por seu prprio desenvolvimento econmico, tero de enfrentar
longas lutas, toda uma srie de processos histricos que transformaro
as circunstncias e os homens (A guerra civil na Frana, III).
Em segundo lugar, porque o socialismo centralmente planejado
to-somente uma bela expresso para caracterizar o que deveria ser
chamado pelo nome prprio de despotismo. O socialismo centralmente
planejado a mera extrapolao da lgica da diviso manufatureira do
trabalho para toda a sociedade. a sociedade funcionando como uma
grande fbrica, sendo essa a imagem que Adorno, por exemplo, tinha
do sistema sovitico a partir dos anos 1930. As semelhanas e desseme-
lhanas entre socialismo e despotismo no escaparam a Marx que, numa
passagem muito pouco comentada dos Grundrisse observa: na realida-
de seria ou bem o governo desptico da produo e o administrador da
distribuio, ou bem somente um board que guardaria os livros e a con-
tabilidade da sociedade trabalhadora coletiva. A coletividade dos meios
de produo est aqui pressuposta. A propriedade coletiva, portanto,
comum aos dois modos de produo; contudo no socialismo o dspota
se transforma num mero guarda-livros de toda sociedade. Sabemos que
Stalin no se encaixava no gurino de contador.
De um ponto de vista marxista, porm, caracterizar o sistema
sovitico como um caso de despotismo, sem maiores qualicaes,
completamente insuciente. Mais do que isso, cair numa armadilha
preparada por Nietzsche quando disse: o socialismo o fantasioso ir-
mo mais jovem do quase decrpito despotismo, do qual quer herdar;
suas aspiraes so, portanto, no sentido mais profundo, reacionrias
(Humano, demasiado humano, 473). Essa armadilha capturou no s
a mente de todo o pensamento elitista do comeo do sculo XX, mas
tambm a de um membro importante da Escola de Frankfurt (Karl
Wittfogel). O sistema sovitico nada tinha de reacionrio. Trata-se de
uma manifestao absolutamente moderna frente a expanso do imp-
rio do capital. O qui pro quo de moderno por reacionrio se estabelece
pela maneira como as regies perifricas ao sistema reagiram a essa
expanso. Marx pode vericar como isso se deu na Amrica e nos prin-
cipados danubianos:
No foi o capital quem inventou o trabalho excedente. Toda vez
que uma parte da sociedade possui o monoplio dos meios de
produo, tem o trabalhador, livre ou no, de acrescentar ao
tempo de trabalho necessrio sua prpria manuteno um
tempo de trabalho excedente destinado a produzir os meios de
Fernando Haddad
218
Filosofia poltica contempornea
subsistncia para o proprietrio dos meios de produo. Pouco
importa que esse proprietrio seja o nobre ateniense, o teocra-
ta etrusco, o cidado romano, o baro normando, o senhor de
escravos americano, o boiardo da Valquia, o moderno senhor
de terras ou o capitalista. evidente que numa formao social
onde predomine no o valor-de-troca, mas o valor-de-uso do pro-
duto, o trabalho excedente ca limitado por um conjunto mais ou
menos denido de necessidades, no se originando da natureza
da prpria produo nenhuma cobia desmesurada por trabalho
excedente. Na antigidade, o trabalho em excesso s atingia as
raias do monstruoso quando estava em jogo obter valor-de-troca
em sua materializao autnoma, em dinheiro, com a produo
de ouro e prata. Fazer o trabalhador trabalhar at morte se tor-
na, nesse caso, a forma ocial do trabalho em excesso. Basta ler
Diodoro da Siclia. Todavia, condies monstruosas de trabalho
constituam exceo no mundo antigo. Mas, quando povos cuja
produo se encontra nos estgios inferiores da escravatura, da
corvia etc., entram num mercado mundial dominado pelo modo
de produo capitalista, tornando-se a venda de seus produtos ao
exterior o interesse dominante, sobrepem-se aos horrores brba-
ros da escravatura, da servido etc. a crueldade civilizada do tra-
balho em excesso. O trabalho dos negros nos estados meridionais
da Amrica do Norte preservava certo carter patriarcal enquanto
a produo se destinava principalmente satisfao direta das ne-
cessidades. Na medida porm em que a exportao de algodo se
tornou interesse vital daqueles estados, o trabalho em excesso dos
pretos e o consumo de sua vida em 7 anos de trabalho tornaram-
se partes integrantes de um sistema friamente calculado. No se
tratava mais de obter deles certa quantidade de produtos teis. O
objeto passou a ser a produo da prpria mais valia. Fenmeno
semelhante sucedeu com a corvia, por exemplo, nos principados
danubianos (O capital, Livro I, cap. 8, grifos meus).
Ora, a escravido na Amrica e a chamada segunda servido na Europa
oriental no podem ser considerados fenmenos reacionrios; antes
pelo contrrio, so desdobramentos da integrao de todas as regies
do planeta rbita do capital. De certa forma, o alerta de Marx aos
alemes feito no prefcio de um livro que trata da economia inglesa,
de te fabula narratur, no vale para todos os povos e regies que encon-
traram a sua prpria maneira de se inserir na nova e cruel civilizao
da mais valia. Assim como a escravido e a servido passaram a ser-
219
vir aos interesses da acumulao primitiva de capital das naes br-
baras, a escravido geral dos estados despticos foi revitalizada com
essa mesma funo. Na Rssia e na China, portanto, no houve uma
mera restaurao do despotismo oriental. Instaurou-se, nestes pases,
um despotismo moderno, ainda que se reconhea que o velho despotis-
mo cumpriu um papel histrico fundamental, da mesma forma que a
servido, em relao a segunda servido, ou a escravido africana em
relao a escravido americana. Parafraseando Marx, diramos que os
horrores brbaros da escravido, da servido e tambm do despotis-
mo sobrepuseram-se aos horrores da civilizada e friamente calculada
produo de mais valia. O fato de ser moderno, contudo, no torna o
sistema sovitico menos desptico. Portanto, no o torna menos anti-
cooperativo. Na verdade, trata-se do oposto simtrico do que Marx en-
tendia por socialismo: a cooperao a segunda potncia empreendida
pelo poder poltico dos trabalhadores. Tomando a planicao despti-
ca pela livre associao socialista, o movimento revolucionrio no se
interverteu no seu contrrio, um movimento reacionrio, mas ofereceu
para a humanidade muito mais do mesmo de que ela j estava farta.
O colapso do sistema sovitico e a desorganizao do Estado de
Bem-Estar abrem novas perspectivas para os trabalhadores. Aliados s
foras criativas e s foras destrutivas da sociedade cuja propenso co-
operao ainda maior que a sua em virtude da sua relao mais tnue
com o trabalho assalariado, podero retomar a trilha que conduz a eman-
cipao. Isso no signica jamais abandonar a ao sindical, claro que
organizada em novas bases. Vale hoje ainda o que dizia Marx em Salrio,
preo e lucro, se tal a tendncia das coisas neste sistema, quer isto dizer
que a classe operria deva renunciar a defender-se contra os abusos do
capital e abandonar seus esforos para aproveitar todas as possibilidades
que se lhe ofeream de melhorar em parte a sua situao? Se o zesse,
ver-se-ia degradada a uma massa informe de homens famintos e arrasa-
dos, sem probabilidade de salvao [...] Se em seus conitos dirios com o
capital cedessem covardemente, cariam os operrios, por certo, desclas-
sicados para empreender outros movimentos de maior envergadura.
BIBLIOGRAFIA
Marx, Karl 1982 O Capital (Rio de Janeiro: Difel).
Marx, Karl e Engels Friedrich s/d Obras Escolhidas (So Paulo: Alfa-Omega).
Fernando Haddad
221
Juarez Guimares*
Marxismo e democracia:
um novo campo analtico-normativo
para o sculo XXI
NO DIFCIL CONSTATAR que o debate acadmico contemporneo
sobre a democracia ou sobre a repblica em geral prescinde do mar-
xismo enquanto fundamento, sequer como interlocutor ou at mesmo
como oponente crtico.
H razes de ordem histrica e de cultura poltica que sustentam
este fenmeno. O modo como se processou o m dos sistemas de poder
do Leste Europeu expressou uma vitria do capitalismo, seus valores e
instituies. Por sua vez, o ponto de saturao do horizonte da cultura
contempornea pela viso de mundo liberal reduziu o espectro da ima-
ginao poltica a uma interlocuo entre correntes no interior de seus
fundamentos de civilizao.
Creio que h uma terceira razo, porm, de ordem terica, que est
na base deste fenmeno, interno ao prprio campo do marxismo, que diz
respeito sua congnita diculdade de estabilizar um campo analtico-nor-
mativo coerente de crtica ao capitalismo. A crise do marxismo historica-
mente bem anterior aos acontecimentos da ltima dcada e, ao invs de ser
deles mera conseqncia, est tambm na prpria base destes fenmenos.
* Economista. Doutor em Cincias Sociais pela Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) e Professor do Departamento de Cincia Poltica da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG).
222
Filosofia poltica contempornea
Assim como a URSS ruiu de dentro para fora sob a presso do capitalismo,
tambm as cidadelas do chamado marxismo ortodoxo (em sua sistemati-
zao mais extremada, o marxismo-leninismo) haviam sido cindidas e
desorganizadas pela presso da viso de mundo liberal. E foi em torno e a
partir do tema da democracia, da incompatibilidade de fundamentos entre
a realizao das promessas emancipatrias do marxismo e a liberdade, que
essa eroso do campo terico do marxismo instituiu-se e se alastrou.
Se estamos corretos nesta avaliao, a reentrada do marxismo
no debate contemporneo sobre a democracia deve percorrer necessa-
riamente um duplo percurso crtico, o da polmica com o liberalismo
e a reconstruo do seu campo analtico-normativo. Este esforo para
reposicionar o marxismo no debate contemporneo sobre a democra-
cia, sempre trilhando este duplo processo crtico e auto-crtico, passa
a nosso ver por trs desaos: 1) superar a interdio liberal que pesa
sobre o marxismo acerca da incompatibilidade de fundamentos com
a democracia, isto , demonstrar a possibilidade de convivncia entre
marxismo e democracia; 2) demonstrar a centralidade do marxismo
para refundar um campo analtico-normativo do marxismo que projete
a superao dos impasses contemporneos da democracia; e 3) inver-
ter, em conseqncia, a armao de Norberto Bobbio de que h uma
relao de necessidade entre liberalismo e democracia, demonstrando
os fundamentos de dominao que presidem esta viso de mundo.
MARXISMO CRTICO E REIVENO DO SOCIALISMO
Se so vrias as vises de mundo anti-capitalistas (conservadorismo de
fundo romntico, milenarismos e ideaes utpicas, anarquismo), so
tambm mltiplas as fontes da tradio socialista (associativismo das
guildas, marxismo, comunitarismo cristo e at mesmo os chamados
socialismos liberais ou liberalsocialismos, que vo desde o ltimo John
Stuart Mill at certas correntes do pensamento italiano no sculo XX).
Mas certo que foi em torno da tradio marxista que se orga-
nizaram as correntes anti-capitalistas e socialistas de maior continui-
dade, inuncia e impacto nos dois ltimos sculos. No por acaso
mas por trs razes fundamentais: na origem do marxismo estavam
trs complexos culturais ricamente congurados na aurora da moder-
nidade capitalista (o idealismo alemo, a economia poltica inglesa e
os jovens movimentos socialistas); seu campo analtico mostrou-se
particularmente frtil e heuristicamente produtivo e, alm disso, sua
organicidade ao moderno movimento operrio europeu forneceu-lhe
um caminho de expanso internacional.
223
Mas j aprendemos tambm que a cultura do marxismo foi desde
sempre plural. A prpria noo de marxismo ocidental contraposta noo
de marxismo russo insuciente para captar este pluralismo. Andrew Arato
(1984) j localizava na cultura marxista da II Internacional pelo menos cin-
co diferentes e alternativas fundamentaes loscas do marxismo
1
. De
novo aqui, porm, possvel armar que foi a tradio do marxismo russo a
que exerceu uma condio quase estruturante do marxismo na maior parte
do sculo XX, no apenas em relao a seu corpo dogmtico (o chamado
marxismo-leninismo) mas tambm em relao sua crise (as vrias ver-
tentes do trotskismo, o euro-comunismo, o althusserianismo, o maosmo
foram tambm congurados em relao a suas problemticas e impasses).
O que parece ter-se esgotado na ltima dcada de noventa no foi
o marxismo mas a perspectiva de compreender os seus dilemas a partir
de uma tica russa, isto , a partir de outubro de 1917 e seus desdo-
bramentos histricos e culturais. Mais precisamente, a cultura terceiro
internacionalista em seu pluralismo interpretativo. No se trata de ar-
quivar outubro, esconjurar o demnio bolchevique, dar razo em ltima
instncia a Kautsky ou Bernstein. O que equivaleria a interpretar um
momento crucial do impasse do marxismo a partir de um outro momen-
to decisivo de sua crise, as variantes reformistas da II Internacional. Mas
ler a prpria grandeza e tragdia de 1917, suas conquistas e fracassos, a
partir de um ponto de vista marxista mais clssico e universalista.
O marxismo passa hoje por um processo de renovao e classici-
zao fundamental para os destinos do socialismo no sculo XXI. Um
retorno a Marx diverso daquele dos anos da desestalinizao, menos
dogmtico e tensionado para descobrir exegeticamente a verdadeira
leitura ou a losoa em ato na obra de Marx. Trata-se de um marxis-
mo crtico, na boa expresso de Michael Lwy (1972)
2
.
Se a dcada de noventa foi marcada pelas respostas crise do
neoliberalismo ainda no campo do horizonte liberal (as chamadas ter-
1 De acordo com o Andrew Arato (1984), o campo antinomicamente estruturado da
relao marxismo e losoa se estende desde uma losoa da histria (ou mesmo uma
ontologia) determinista, ligada tanto ao materialismo quanto ao pensamento poltico
clssico do sculo XVIII, e uma mais recente, mais ctica e metodolgica devoo
cincia, ligada ao neopositivismo, at duas variedades de neokantismo, baseadas res-
pectivamente no primado do prtico e do terico, e at uma posio oscilante entre o
historicismo das Geisteswissenchaften e o irracionalismo da Lebensphilosophie.
2 Entre as obras mais recentes, que poderiam se encaixar nesta designao de marxis-
mo crtico, encontramos os livros de Daniel Bensaid (1995), Daniel Brudney (1998),
Antoine Artous (1999), Henri Maler (1994), Michel Vade (1992), Michael Levin (1989) e
Miguel Abensour (1998).
Juarez Guimares
224
Filosofia poltica contempornea
ceiras-vias), o que se trata hoje de comear a congurar os fundamen-
tos de alternativas ao neoliberalismo a partir de valores, dinmicas e
perspectivas de um socialismo democrtico renovado.
A seguir, apresentaremos trs teses desta renovao do mar-
xismo, relacionadas a temas chaves para a renovao de um projeto
socialista neste sculo. So elas: marxismo e o princpio da liberda-
de, marxismo e princpio da soberania popular ou republicanismo e
marxismo e princpio de civilizao.
MARXISMO E PRINCPIO DA LIBERDADE
Aps pouco mais de um sculo e meio de sua histria, a cultura do
marxismo ainda no estabilizou teoricamente uma resposta convin-
cente e adequada ao princpio da liberdade, chave para se pensar o
futuro do socialismo. Foi em torno dos limites, inconsistncias ou mes-
mo problematicidade das respostas marxistas a este princpio que o
liberalismo centrou a sua crtica.
O princpio da autodeterminao est posto no centro da sntese
de Marx
3
. No deveramos desvalorizar esta conquista tico-poltica,
ato de verdadeira fundao do socialismo moderno, atualizao do
princpio rousseauniano da autonomia no solo da modernidade capi-
talista. A est a distncia maior entre Marx e Hegel e no na oposio
materialismo/idealismo, como muito bem observou Lenin em seus Ca-
dernos Filoscos. E, ao mesmo tempo, est a ponto estruturante da
delimitao do marxismo frente insucincia histrica inarredvel
do conceito liberal de liberdade, preso ainda condio heternoma
do Estado e do mercado.
Mas a questo : a obra terica de Marx contm um desenvolvi-
mento terico adequado, conceitualmente coerente deste princpio da
autodeterminao? Pensamos que no, j que ela no supera as tenses
deterministas na sua viso da histria, seja atravs de uma losoa da
histria, de uma teoria da histria ou de uma cincia da histria.
A inteligncia da grande crtica liberal ao marxismo foi de xar
a leitura da obra de Marx como sendo coerentemente determinista e, a
partir da, erigir metdica e logicamente a sua incompatibilidade com
a noo de democracia. Como a cultura do marxismo foi, desde as suas
origens, predominantemente determinista, os prprios marxistas pare-
ciam dar razo crtica liberal.
3 Este o grande valor da tese doutoral de Michael Lwy (1972).
225
Como os liberais formularam, a partir do determinismo, a incom-
patibilidade entre marxismo e democracia? Estudando a crtica de Bene-
detto Croce, Max Weber, Karl Popper e Norberto Bobbio, de diferentes
pocas e densidades tericas, elaboramos esta incompatibilidade a par-
tir de trs impasses: da antinomia, do carecimento e da inverso
4
.
Da antinomia: se o destino da sociedade est xado a priori, en-
to os homens no podem livre e coletivamente escolher o seu futuro e
a prpria noo de democracia perde o seu sentido.
Do carecimento: a pretensa cienticidade da previso do futuro
social pelo marxismo neutraliza a dimenso tico-moral, encerrando os
marxistas em uma cega tica das convices. Assim, estas vises deter-
ministas acabaram por reduzir o princpio da liberdade no marxismo a
uma adeso s leis imanentes do mundo, a conscincia reduzida cin-
cia, o ato tico-moral da escolha amesquinhado opo pelo que seria,
anal, vitorioso. signicativo que um lsofo do porte de Plekhanov
tenha chegado a denir o marxista como uma espcie de anti-Hamlet,
um ser que age movido inclume ao esclarecimento que s a dvida
permite
5
. Por sua vez, o economicismo que expressa o determinismo,
anula ou reduz o campo e a dignidade da poltica. O esvaziamento ou
empobrecimento da reexo poltica teria feito com que a teoria marxis-
ta nunca tivesse sido capaz de pensar plenamente o Estado, omitindo-
se quando a respostas mais elaboradas dirigidas a conter o potencial
opressivo da concentrao do poder poltico. Alm disso, a pretenso de
cienticizao da poltica introduz um vis necessariamente antiplura-
lista, j que a uma posio cientca, opor-se-iam as demais, vistas como
falsas ou no verdadeiras ou simplesmente anti-cientcas.
Da inverso: o futuro estando determinado, valeriam para alcan-
lo todos os meios, mesmos os que contradissessem provisoriamente os
4 Ver o captulo I, O ardil do dogma: a crtica liberal, em Juarez Guimares (1999).
5 No h nada de surpreendente nisto: quando dizemos que h um determinado indiv-
duo considera a sua atividade como um escalo necessrio na cadeia dos acontecimentos
necessrios, armamos, entre outras coisas, que a falta de livre-arbtrio equivale para
ele total incapacidade de permanecer inativo e que essa falta de livre-arbtrio se reete
na sua conscincia como forma da impossibilidade de atuar de um modo diferente da-
quele como atua. precisamente o estado psicolgico que pode exprimir-se atravs da
clebre frase de Lutero; Her stehe ich, ich kann nicht anders(Este o meu conceito e
outro no posso ter). E graas ao qual os homens revelam a energia mais indomvel e
realizam as faanhas mais prodigiosas. Hamlet desconhecia este estado de esprito: por
isso, somente foi capaz de se lamentar e de mergulhar na meditao. E, por isso mesmo,
Hamlet nunca poderia admitir uma losoa segundo a qual a liberdade no mais que
a necessidade feita conscincia. Fichte dizia com razo: Tal como o homem , assim a
sua losoa (Plekhanov, 1977: 13).
Juarez Guimares
226
Filosofia poltica contempornea
valores humanistas. O caminho estaria aberto para o percurso que vai
de uma viso instrumental dos valores ao anti-humanismo. Professando
um ideal nalista da histria, coletivista, organicista, o marxismo se teria
fechado ao desenvolvimento de uma concepo moderna de individuali-
dade e, no limite, prpria valorizao dos direitos humanos. Ali onde
toda teoria da emancipao humana deveria expandir-se, agigantar-se,
fecundar-se, renar-se o terreno da formao da autonomia individual
vinculada a valores emancipatrios o marxismo em suas formas domi-
nantes apequenou-se, aprisionou-se, esterilizou-se, embruteceu-se.
O caminho para desmontar a interdio liberal questionar a leitura
liberal da obra de Marx como sendo coerentemente determinista. Este ques-
tionamento s pode ganhar credibilidade se se reconhecessem na trajetria
intelectual de Marx, variando de fontes e dimenses, a existncia nunca
de todo superada, de tenses deterministas
6
. Estas tenses resultaram, em
grande medida, do dilogo crtico de Marx com os grandes complexos cien-
tcos culturais de seu tempo: a losoa alem, a economia poltica inglesa,
o materialismo francs marcados pela viso determinista da histria
7
. A
dimenso crtica do dilogo de Marx com estas fontes protege, no entan-
to, seu campo terico de uma coerente e rematada viso determinista da
histria
8
. Por outro lado, faz conviver em seu campo analtico-normativo
6 H um deslocamento da problemtica do determinismo ao longo da evoluo do pen-
samento de Marx, sendo incorreto, portanto, generalizar a partir da nfase exclusiva em
um dado momento da obra. possvel delimitar sem dar a esta periodizao um car-
ter rgido, inconsistente com uma reexo que se enriquece por snteses sucessivas trs
momentos: um primeiro at 1844, marcado ainda por uma ntida losoa da histria de
inspirao hegeliana; um segundo, de 1844 at 1857, caracterizado pela nfase no carter
praxiolgico da histria, mas no desembaraado plenamente de vises deterministas; um
terceiro perodo, enm, de 1857 at a elaborao de O capital, caracterizado por tenses
fortemente deterministas, marcadas pelo seu dilogo crtico com a economia poltica.
7 interessante neste aspecto, como o liberal mais avanado do sculo XIX, John
Stuart Mill, procura compatibilizar a sua noo de liberdade com uma concepo da
histria tipicamente evolucionista, inuenciado diretamente por Auguste Comte. Ver
John Stuart Mill (1995).
8 Em relao ao seu dilogo com Hegel, embora mantenha a busca de uma racionalidade
imanente da mudana histria, Marx critica a sua hipostasia, armando que os homens
fazem a histria mas em condies determinadas. A crtica ao sentido especulativo das
formulaes hegelianas implica em uma incorporao densa dos elementos histricos,
em particular em sua dimenso socioeconmica. Alm disso, Marx incopora centralmen-
te em sua teoria a idia da auto-emancipao. No que diz respeito economia poltica
inglesa, Marx historiciza e critica a naturalizao das categorizas tpicas do capitalismo,
elabora a objetivao mercantil atravs do conceito de fetichismo da mercadoria e supe-
ra a noo de uma ordem econmica que tende ao equilbrio. No que tange ao materia-
lismo tradicional, Marx crtica a ausncia de um princpio ativo e atravs da noo de
prxis procura superar o dualismo materialismo/idealismo.
227
nunca plenamente desenvolvido do ponto de vista conceitual uma viso
praxiolgica da histria, de que os homens constroem coletivamente a his-
tria, embora profundamente condicionados por sua cultura, sua posio
de classe, pelo nvel de desenvolvimento das foras produtivas.
O desenvolvimento conceitual pleno de uma viso praxiolgica da
histria permitiria tornar possvel e compatvel a relao entre marxis-
mo e democracia, superando os trs impasses antes referidos. Mas foi
apenas com a rede de conceitos elaborados por Antonio Gramsci nos
Cadernos do Crcere, setenta anos aps a edio do primeiro volume de
O Capital, que o campo terico do marxismo conseguiu romper com o
determinismo histrico e desenvolver, em um novo patamar, os funda-
mentos do que chamamos uma concepo praxiolgica da histria.
Em uma das passagens mais lricas e dramticas dos Cadernos do
Crcere, Gramsci fazendo aluso Poesia e Verdade, de Goethe, relembra a
gura de Prometeu que, separado dos deuses e contando apenas com suas
prprias foras, povoou um mundo
9
. A imagem lembra a solido esta se-
parao radical dos dogmas e certezas da reexo de Gramsci no crcere.
O campo terico do marxismo reconstrudo por Gramsci tem em
seu centro o conceito de hegemonia, que nucleia uma cadeia coerente de
outros como as noes de bloco histrico, de revoluo passiva, de cri-
se orgnica, de intelectual orgnico e de vontade coletiva os quais, como
critrios de interpretao histrica, fornecem instrumentos analticos
macros de compreenso da dinmica das sociedades a partir da prxis
coletiva dos atores sociais
10
. O fato da reexo de Gramsci no estar siste-
matizada formalmente, compondo-se de uma teia de pensamentos formu-
lados em claro estgio formativo e em regime de tenso criativa, deveria
proteger aqueles que se apoiam em suas reexes da tentao de erigir um
gramscianismo como ponto de chegada, dogmatizar a obra de Gramsci.
O desenvolvimento conceitual de uma viso praxiolgica da hist-
ria permitiria tornar possvel e compatvel a relao entre marxismo e de-
mocracia, superando os trs impasses antes referidos. Em primeiro lugar,
a noo de histria aberta com base no resultado nunca plenamente pre-
visvel (embora no indeterminado plenamente ou puramente casustico)
9 Ver Antonio Gramsci (1975: Caderno 8, pargrafo 214, 1.073).
10 So exatamente estes conceitos capazes de absorver a lgica da ao coletiva que
faltam sociologia weberiana, que admite apenas a ao individual como dotada de sen-
tido. Esta lacuna conceitual certamente est relacionada s perspectivas quase fatalistas
de Weber sobre o desenvolvimento das tendncias burocrticas na sociedade moderna
bem como sua descrena em relao a uma democracia que v alm de um elitismo
competitivo entre lideres.
Juarez Guimares
228
Filosofia poltica contempornea
do choque das vontades coletivas organizadas nas sociedades. Assim,
exatamente a dimenso da poltica que a chave de uma concepo de
mudana histrica, tornando possvel a retomada de um rico dilogo do
marxismo com as vrias tradies da losoa poltica.
Em segundo lugar, a descienticizao da autocompreenso do
marxismo e a sua concepo como uma teoria ou viso totalizante do
mundo social que pretende construir um novo campo civilizatrio, a
partir da crtica do liberalismo e da civilizao do capital. Em suma, a
sua compreenso como losoa da prxis transformadora, como sinte-
ticamente props Gramsci, retoma a dimenso do seu signicado ti-
co-poltico como humanismo radical e, ao mesmo tempo, o liberta de
um vis antipluralista, auto-referenciado na cultura, autoproclamat-
rio no programa e auto-suciente no exerccio do poder.
E, por m, se o futuro no xado a priori, o caminho da emanci-
pao e no simplesmente a meta, torna-se fundamental. Passar a ser estri-
tamente necessria uma relao dialeticamente conguradora entre ns e
meios, entre o caminho e o objetivo socialista, entre indivduo e sociedade.
Chegamos assim primeira tese: desenvolver um marxismo do-
tado de uma viso praxiolgica da histria, conceitualmente consisten-
te, pois fundamental. condio para recuperar uma dialtica entre
a liberdade individual e coletiva, uma dinmica emancipadora entre
meios e ns, entre valores e racionalidades anticapitalistas.
Esta viso praxiolgica permitiria desenvolver plenamente o valor
da autonomia como fundamento da liberdade individual no campo do
marxismo. interessante como a noo de autonomia, de origem na ma-
triz rousseaniana, repe a noo de liberdade para alm do dilema entre
liberdade positiva e liberdade negativa, como formulado por Isaiah
Berlin. E refaz uma lgica mutuamente conguradora entre liberdade e
igualdade, j que a dominao econmica, tanto quanto a opresso po-
ltica, pode ser fonte da heteronmia. Assim, evidente que se o capital
, nos seus prprios termos, uma relao de dominao, um conceito
pleno de autonomia individual potencialmente anticapitalista
11
.
O tema da autonomia permitiria acolher com centralidade trs
temas da fronteira do sculo XXI. O primeiro deles, a atualizao do
questionamento ao prprio princpio do capital, isto , da apropriao
11 interessante, neste sentido, que um liberal como Robert Dahl que toma a srio a
democracia como superao das formas de tutelagem sobre o indivduo formule uma
noo de democracia econmica, na qual os trabalhadores de uma empresa deveriam ter
o direito de eleger a sua direo (ver especialmente o captulo O direito democracia
dentro das empresas em Dahl, 1990).
229
privada para ns de lucro dos ganhos permitidos pela cincia e a sua
destinao ao aumento do tempo socialmente livre do trabalho neces-
srio, como condio para a superao dos limites da diviso de traba-
lho. Em segundo lugar, a cultura do direito diferena e os seus temas
derivados o pluralismo de valores de civilizao, esttico e cultural,
a liberdade de opo sexual, a resistncia aos padres agressivamen-
te normatizadores da personalidade. Enm, a participao cidad nos
destinos da comunidade como princpio poltico estruturante. Isto nos
leva segunda tese, a da relao entre marxismo e republicanismo.
MARXISMO E PRINCPIO DA SOBERANIA POPULAR
Foi na experincia da revoluo russa que se cristalizou, no plano hist-
rico e terico, a ciso entre o princpio da ditadura do proletariado e o
princpio da soberania popular. Na crtica aguda de Rosa de Luxembur-
go dissoluo da Assemblia Constituinte (e no convocao de uma
outra), foi traduzida pela direo bolchevique no como um limite da re-
voluo (a no adeso das maiorias), mas como uma virtude. Em Lnin,
esta ciso se apresenta como a crtica da democracia burguesa atravs
da oposio inconcilivel entre democracia direta e representativa e na
defesa da legitimidade da restrio ao direito de voto dos burgueses, que
ele concebia explicitamente como necessidade advinda da particularidade
russa. Em Stalin, a tenso substitucionista de Lnin j se cristalizou em
torno teoria do partido nico, amalgamado ao Estado. Em Trotsky, em
A revoluo trada, a democracia operria concebida como pluripartidria
formulada de modo insuciente como antdoto burocratizao.
O conceito de ditadura do proletariado, embora com oscilaes de
sentido, Estado-comuna ou Estado centralizado da transio ao socialismo,
est, no entanto, em Marx
12
. O princpio da legitimidade deste Estado de
12 A origem do termo ditadura do proletariado de Auguste Blanqui em 1837 e foi
utilizado pela primeira vez por Marx nos anos cinqenta, imediatamente aps a reao
conservadora aos movimentos revolucionrios de 1848-1849. Ver A luta de classes na
Frana e Carta a Joseph Weidemeyer. O termo volta a ser utilizado por Marx nos anos
1871-1875, quando as perspectivas de poder dos trabalhadores voltam a entrar na agen-
da poltica. O sentido de um poder proletrio como fundamento da transio a uma
sociedade sem classes , no entanto, mais generalizado tanto na obra de Marx como na
de Engels. Michael Levin (1989) nota que h na obra de Marx um duplo signicado do
Estado no perodo de transio, o modelo 1 no qual a nfase colocada na ditadura do
proletariado como poder centralizado em oposio ao poder de classe da burguesia e o
modelo 2, tipicado na Comuna de Paris, no qual a mquina do Estado absorvida pelas
formas de auto-organizao social, superando-o enquanto uma entidade autonomizada
do controle social. Ver Levin (1989), captulo VI, Beyond bourgeois society.
Juarez Guimares
230
Filosofia poltica contempornea
transio est ancorado na noo da universalidade do proletariado, classe
denida imanentemente como revolucionria porque interessada objetiva-
mente no comunismo. Mas em Marx, na experincia da Comuna parisien-
se, a contradio entre o poder revolucionrio e o princpio da soberania
popular no est aorado, j que a Comuna foi eleita por sufrgio universal.
Essa contradio aorou externamente experincia no cerco cidade
revolucionria, com a ausncia do apoio das maiorias camponesas
13
.
Mas como Marx elaborou a noo do proletariado como classe
universal? Esta noo foi elaborada nos anos quarenta, em particular
no seu dilogo crtico com Hegel, na passagem do seu rousseanismo de
origem, pensado do alto da losoa alem, para o comunismo. A im-
portncia deste dilogo crtico para o futuro da obra de Marx desmente
as leituras que pretendem isolar o Marx maduro do jovem Marx,
uma fase ideolgica de uma outra cientca ou simplesmente marxis-
ta e pr-marxista. Trata-se claramente de um momento gentico de
sntese, de delimitao e de constituio de uma primeira identidade,
do lanamento de uma perspectiva e de uma problemtica que, se es-
to ainda longe de encontrar uma maturao conceitual, nunca sero
negadas no itinerrio intelectual de Marx.
No centro das reexes de Marx em Para a crtica da Filosoa do
Direito de Hegel (1843) e Para a crtica da Filosoa do Direito de Hegel.
Introduo (1844) esto as relaes entre a poltica e o econmico-
social ou, na linguagem da losoa poltica, entre Estado e sociedade
civil. A doutrina liberal formulou conceitual e programaticamente a
noo da separao entre Estado e sociedade civil, denindo a pr-
pria noo de liberdade a partir da autonomia desta ltima, de sua
prioridade ontolgica frente ao Estado, de suas prerrogativas, limites
e controle do poder do estado. Assim, a noo de liberdade ganhou
um sentido negativo, como sendo o espao livre de constrangimento
do indivduo face ao poder estatal. Historicamente, a crtica marxista
doutrina liberal incidiu centralmente sobre o limite, o formalismo,
a incompletude da dimenso poltica (estatal) da liberdade, repondo o
sentido social da emancipao, a dimenso da igualdade social como
fundamento da verdadeira liberdade, maximizando a noo no do li-
13 Esta observao importante, que diferencia substancialmente a experincia da Comu-
na de Paris daquela da revoluo russa est em Antoine Artous (1999: 282). Ao contrrio
das leituras cannicas, o poder na experincia da Comuna de Paris no estava assentada
em formas de democracia direta mas em novas modalidades de representao, em rup-
tura com o conceito liberal.
231
mite mas do controle ou absoro do poder do Estado pela sociedade
emancipada ou autogovernada.
Ora, a nosso ver, o grande problema desta crtica marxista dou-
trina liberal est no propriamente nos seus termos de crtica j que
possvel demonstrar com evidncia mais que suciente que o domnio
do capital impe severos limites liberdade e igualdade dos cidados
no capitalismo. A sua falha est em no fazer a crtica de raiz do fun-
damento da viso liberal de sociedade, que trabalha analtico-norma-
tivamente com a noo de separao entre Estado e sociedade civil. A
origem deste erro remonta aos prprios anos de nascimento do mar-
xismo, da crtica de Marx losoa hegeliana do Estado que coincide
com a sua delimitao original em relao ao liberalismo.
Para termos uma viso da inadequao ou desequilbrio con-
ceitual do campo analtico-normativo que Marx elabora neste perodo
decisivo e que se projetaria duradouramente na sua obra preciso
repor os trs plos do debate, isto , a tradio liberal (traduzida aqui
na teoria lockeana jusnaturalista e contratualista), Hegel e Marx.
Em Locke, o momento tico-poltico da fundao do Estado,
criticamente aos motivos teolgicos do absolutismo monrquico e al-
ternativamente racionalizao hobbesiana, recomposto em um ar-
gumento que parte dos direitos naturais e v a passagem da sociedade
natural para a sociedade civil atravs de dois pactos, o de associao e
o de submisso. No argumento de Locke, a sociedade precede o Esta-
do (inclusive com a existncia da propriedade e do dinheiro) e contra
ele, estipula-lhe os limites e delimita as suas prerrogativas. No sculo
XVIII, a economia poltica inglesa confere um estatuto de cienticida-
de separao entre Estado e sociedade civil, teorizando o automatis-
mo do funcionamento do mercado que estrutura a sociedade civil. No
sculo XIX, o utilitarismo atualiza a losoa liberal frente ao descrdi-
to do jusnaturalismo sem, no entanto, rever a sua concepo da relao
entre Estado e sociedade civil.
Hegel em Fundamentos da Filosoa do Direito (1821) culmina
um desenvolvimento terico que tem incio em Sobre as maneiras cien-
tcas de tratar o direito natural (1802) no qual faz a crtica de Grotius
a Rousseau (empiristas) e Kant e Fichte (formalistas). Hegel critica o
mtodo e estrutura do jusnaturalismo, no qual v as incosistencias do
princpio atomstico, da determinao arbitrria da natureza humana
e a unidade externa entre Estado da natureza e Estado de Direito. Na
ausncia do princpio da eticidade, haveria uma unidade formal que
passa sobre a multiplicidade e no a penetra. Em Fundamentos da
Juarez Guimares
232
Filosofia poltica contempornea
Filosoa do Direito, Hegel consolida a sua evoluo de um organicismo
de origem, que v unidade entre Estado e natureza para uma concep-
o que acolhe a liberdade da vontade
14
.
Em sntese, em Hegel o momento tico-poltico pensado especu-
lativa e metasicamente atravs de uma razo que realiza a sntese entre
a liberdade objetiva e a liberdade subjetiva, denunciando a capacidade do
mero contrato para estruturar a sociabilidade. Em seus sistema, a eticidade
penetra os diversos momentos, o da unidade irreexiva (famlia), o de um
semidesenvolvimento (na sociedade civil, composta pelo sistema de neces-
sidades, pelo sistema de lei e de justia, pela polcia e corporaes) e um
desenvolvimento pleno no Estado (Constituio, Coroa, burocracia, o legis-
lativo). Por essa via, Hegel nega tanto o automatismo do mercado quanto
a prioridade ontolgica da sociedade em relao ao Estado, enfatizando a
unidade entre Estado, famlia e sociedade civil a partir da eticidade.
Em Marx, convergem a crtica do carter especulativo do momen-
to tico-poltico, a crtica inconsistncia, de fundo teolgico, da defesa
hegeliana da monarquia constitucional e a crtica ao modo como Hegel
formula a reconciliao dos interesses conitantes da sociedade civil na
eticidade estatal enquanto um universal. Mas qual a relao entre Esta-
do e sociedade civil que resulta desta tripla crtica de Marx ao sistema
hegeliano? Em sntese, a eticidade se objetiva em um primeiro momento
(1843) na gura do dmos total e, depois (1844), no proletariado. A so-
ciedade civil, a partir do mtodo feuerbachiano da inverso ou mtodo
transformativo precede ontologicamente ao Estado
15
. Enm, a emanci-
pao social leva superao do Estado poltico, a superao da ciso
entre o burgus e o cidado, entre Estado e sociedade civil
16
.
Quais seriam, em sntese, os problemas do campo analtico-nor-
mativo resultante da crtica de Marx a Hegel? Em primeiro lugar, a
14 Sobre o pensamento poltico de Hegel, ver Bernard Bourgeois (2000), Paul Franco
(1999), Eric Weil (1996), Z. A. Pelczynski (1984) e Kenneth Westphal (1993).
15 Com efeito, Marx vale-se das metforas do cu e da terra para requalicar a relao
entre estado e sociedade civil, seguindo a crtica feuerbachiana da religio. Ele denun-
cia em Hegel a pretenso do Estado em dominar a sociedade civil como universalida-
de dominante enquanto que, na realidade, a sociedade civil burguesa, atravs de seu
particularismo conferido pelo direito de propriedade, que domina o Estado. Sob uma
primeira forma, aparece aqui a noo que ir se desenvolver na obra posterior de Marx
das relaes de produo que condicionam a esfera da poltica.
16 Uma crtica interessante das reexes de Marx sobre Hegel est em Karl-Heinz Ilting
(1984). Ver tambm David MacGregor (1990), Warren Breckman (1999) e Solange Mer-
cier-Josa (1980).
233
desvalorizao ou negao do princpio tico-poltico como momento
chave de fundao e de solda do Estado e da sociedade civil. Em se-
gundo lugar, o estabelecimento de uma prioridade ontolgica da so-
ciedade civil diante do Estado, que na cultura do marxismo, xar-se-ia
no dualismo base-superestrutra. Por m, a determinao emprica de
uma nova eticidade no proletariado, que ganha assim uma projeo
metasicamente revolucionria na histria.
Uma crtica concepo hegeliana do Estado que no perdesse
as suas conquistas metodolgicas na crtica ao liberalismo deveria tra-
balhar com o conceito de Estado integral. E, aqui estamos seguindo as
pistas de Gramsci nos Cadernos do Crcere, desenvolvendo o seu cam-
po analtico-normativo: um campo tico-poltico hegemnico, histori-
camente congurado por vontades polticas socialmente organizadas
atravs de uma rede de intelectuais orgnicos; instituies estatais or-
ganizadas a partir do ponto de vista de uma eticidade poltica hegem-
nica (Estado, no sentido estrito de mquina governativa e repressiva);
instituies privadas, organizadas de acordo com a eticidade poltica
hegemnica, congurando a sociedade civil, a qual inclui o mercado ou
a sua anatomia, como arma Marx.
O Estado seria, ento, a unidade contraditria entre Estado (no
sentido estrito) e sociedade civil, historicamente congurados. Ressal-
te-se que neste campo analtico-normativo a dimenso internacional
deve ser incorporada como momento fundante j que a eticidade de
qualquer Estado nacional participa ou se relaciona com a eticidade
congurada mundialmente, todo Estado participa de um sistema de
Estados e o mercado de cada pas relaciona-se com o sistema capitalis-
ta mundial
17
. Com esta concepo de Estado, seria possvel requalicar
a crtica do marxismo ao liberalismo e a sua prpria concepo das
relaes entre democracia e socialismo.
Ao invs de opor a dimenso social da emancipao ao carter
meramente poltico da liberdade na doutrina liberal, tratar-se-ia de
opor eticidade poltica liberal um outro campo tico-poltico que re-
qualicasse a prpria natureza das instituies estatais e privadas que
organizam a vida social. Este campo tico-poltico teria assim um com-
17 Isto equivaleria a retraduzir neste campo terico a problemtica marxista do impe-
rialismo, bem como o debate sobre as teorias do subdesenvolvimento e da dependncia.
Isto , a comunidade internacional dos Estados-naes profundamente hierarquizada
a partir do centro capitalista e esta dimenso est revelada nos prprios princpios fun-
dacionais dos estados perifricos ou semi-perifricos.
Juarez Guimares
234
Filosofia poltica contempornea
ponente de reestruturao das instituies estatais de modo a favorecer
a socializao do poder ao invs do elitismo congnito ao liberalismo e
de organizar a vida social a partir de uma expanso inaudita da esfera
pblica e dos direitos em detrimento da lgica particularista do capital.
Estas duas dimenses seriam pensadas como necessariamente con-
guradas, isto , no pode haver superao do particularismo mercantil
sem socializao do poder e este pressupe, por sua vez, uma lgica
de publicizao da dinmica econmica. Elas conformariam, por sua
vez, um contexto de potencializao mxima do desenvolvimento da
individuao em um novo campo de civilizao.
Chegamos, enm, segunda tese: a universalidade contraposta ao
particularismo do capital no pode ser pensada a partir de uma dimen-
so imanente ao proletariado. Esta universalidade s pode ser pensada
no plano tico-poltico, projetual, programtico no sentido amplo do ter-
mo. Este universalismo projetual s pode alcanar legitimidade se elabo-
rado a partir do critrio da soberania popular, das maiorias ativamente
polticas no seio de um pluralismo irrestrito, j que no h apenas um
projeto de socialismo nem se quer a cincia expulsando a opinio e a
tica da poltica. Isto signica retornar o marxismo ao solo do republica-
nismo, levando para este toda a potncia crtica do seu anticapitalismo.
Que o proletariado, por se denir pela prpria contradio com
o capital, seja a classe potencialmente mais em condies de vir a de-
senvolver projetos alternativos ao capitalismo no faz dele necessaria-
mente uma classe universal nem revolucionria. No pode haver aqui
nenhum determinismo sociolgico, automtico ou mesmo mediado.
Signica isto render o marxismo s regras do jogo, como quer
Bobbio, retirar dele qualquer veleidade revolucionria? No porque re-
publicanismo no liberalismo, este na maior parte de sua histria
rejeitou o princpio da soberania popular e quando teve que o absorver,
o fez atravs das teorias do chamado elitismo democrtico. Signica
apenas que o caminho para a construo de um novo Estado deve in-
corporar desde j o princpio legitimador das maiorias ativas.
Este princpio legitimador das maiorias ativas, em regime de plu-
ralismo e de liberdades, poderia alavancar uma nova fase histrica de
ofensiva contra os direitos do capital. O estabelecimento dos direitos
sociais deu-se historicamente sob a dinmica macropoltica e macroe-
conmica do Estado do Bem Estar Social. O grande limite destas lutas
foi sempre o direito de propriedade e o controle pelo capital da cincia,
que lhe permitiu acomodar as tenses distributivistas do capitalismo
com o crescimento da mais valia relativa. Trata-se no sculo atual de,
235
a partir de um setor pblico democraticamente gerido e socialmente
controlado, expandir os direitos da maioria sobre o capital, incidindo
inclusive centralmente sobre o eixo que vai do controle da cincia
apropriao social das inovaes, regulando e tributando os uxos do
capital nanceiro, estabelecendo novos marcos redistributivos e expan-
dindo a cobertura dos direitos
18
.
MARXISMO E PRINCPIO DE CIVILIZAO
Marx deve, em grande medida, a perenizao da sua obra ao fato de
ter revelado o princpio da valorizao do capital e da mercantilizao
da vida como estruturante da civilizao capitalista. H, neste sentido,
no centro de sua obra uma crtica civilizao do capital e a indicao
de um outro tipo de civilizao universalista em que a sociabilidade
humana fosse estruturada pela no dominao e pelo tempo livre. Os
limites da sua viso alternativa de civilizao eram de poca, congura-
dos pelo etnocentrismo, pela ausncia de uma cultura feminista, ecol-
gica, por um pensamento ainda conservador no plano da sexualidade.
Ao se territorializar em sociedades onde o capitalismo no havia
se desenvolvido URSS, China, Cuba, etc. o marxismo viu questiona-
da a sua capacidade de pensar em civilizaes para alm do capitalis-
mo. Em particular, o marxismo foi rebaixado condio de propositor
de um outro modo de produo no qual a estatizao e o plano central
substituiriam a anarquia do mercado. O produtivismo, a conana sem
reservas no progresso das foras produtivas, uma certa apologtica do
trabalho zeram, ento, escola no marxismo.
Foi principalmente na Teoria Crtica, nos autores da chamada
Escola de Francfurt que o marxismo como crtica da civilizao do ca-
pitalismo emergiu e se desenvolveu, no sem desequilbrios valorativos
e de diagnstico. Mas foi ali que o marxismo fecundou-se com a teoria
freudiana, realentou a crtica mercantilizao do mundo e ao produ-
tivismo, elaborou as primeiras crticas cultura de massas, fez a crtica
cultura do progresso e ao que havia de riscos no projeto iluminista
de dominao da natureza, e abriu-se, atravs de Marcuse, s culturas
libertrias de 1968.
Chegamos, enm, terceira tese: hoje, frente s realidades da cha-
mada globalizao ou mundializao do capital, a crtica de Marx mer-
cantilizao do mundo e da vida ganha toda a atualidade. Esta crtica
18 Ver Francisco de Oliveira (1997).
Juarez Guimares
236
Filosofia poltica contempornea
aliada ao princpio do multiculturalismo, do respeito s diferenas de
cultura, religio e modos de vida, pode assentar as bases de um novo in-
ternacionalismo socialista. Este internacionalismo, assim como se pas-
sou do princpio da ditadura do proletariado ao princpio da soberania
popular, do reino do privatismo mercantil esfera pblica, deve acolher
o anti-imperialismo em uma vocao verdadeiramente universalista.
Em sntese, um marxismo que desenvolva o princpio da autono-
mia, do republicanismo e do universalismo antimercantil mutuamente
congurados, pode vir a ser o campo estruturador de um relanamento
da tradio socialista democrtico, por sua prpria identidade, plura-
lista para o sculo XXI.
BIBLIOGRAFIA
Abensour, Miguel 1998 A democracia contra o Estado. Marx e o momento
maquiaveliano (Belo Horizonte: UFMG).
Arato, Andrew 1984 A antinomia do marxismo clssico: marxismo e losoa
em Hobsbawn, Eric (org.) Histria do marxismo (Rio de Janeiro: Paz e
Terra) Vol. 4.
Artous, Antoine 1999 Marx, letat et la politique (Paris: ditions Sillepse).
Bensaid, Daniel 1995 Marx lintempestif. Grandeurs e misres dune aventure
critique (XIX et XX sicles) (Paris: Fayard).
Bourgeois, Bernard 2000 O pensamento poltico de Hegel (So Leopoldo:
Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos).
Breckman, Warren 1999 Marx, the young hegelians, and the origins of radical
social theory (Cambridge: Cambridge University).
Brudney, Daniel 1998 Marxs attempt to leave philosophy (Cambridge: Harvard
University Press).
Dahl, Robert 1990 Um prefcio democracia econmica (Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editora).
Franco, Paul 1999 Hegels philosophy of freedom (New Haven: Yale University
Press).
Gramsci, Antonio 1975 Quaderni del carcere (Turim: Giulio Einaudi
Editore) [Edizione critica dell Instituto Gramsci. A cura de Valentino
Gerratama].
Guimares, Juarez 1999 Democracia e marxismo: crtica razo liberal (So
Paulo: Xam).
Ilting, Karl-Heinz 1984 Hegels concept of the state and Marxs early critique
em Pelczynski, Z. A. (org.) The state and civil society. Studies in Hegels
political philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).
Levin, Michael 1989 Marx, Engels and liberal democracy (New York: Saint
Martinss Press).
237
Lwy, Michael 1972 La teoria de la revolucin en el joven Marx (Mxico: Siglo
XXI).
MacGregor, David 1990 The communist ideal in Hegel and Marx (Toronto:
University of Toronto Press).
Maler, Henri 1994 Congedier lutopie. Lutopie selon Karl Marx (Paris:
LHarmattan).
Mercier-Josa, Solange 1980 Pour lire Hegel et Marx (Paris: Editions sociales).
Oliveira, Francisco de 1997 Os direitos do antivalor. A economia poltica da
hegemonia imperfeita (Petrpolis: Vozes).
Pelczynski, Z. A . (org.) 1984 The state and civil society. Studies in Hegels
political philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).
Plekhanov, George 1977 O papel do indivduo na Histria (Lisboa:
Antdoto).
Stuart Mill, John 1995 Elucidaes da Cincia da Histria em Gardiner,
Patrick Teorias da histria (Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian).
Vade, Michel 1992 Marx, penseur du possible (Paris: Meritiens Linck-
Sieic).
Weil, Eric 1996 Hegel y el estado (Buenos Aires: Leviatan).
Westphal, Kenneth 1993 The basic context and structure of Hegels
Philosophy of Right em Beiser, Frederick (org.) The Cambridge
Companion to Hegel (Cambridge: Cambridge University Press).
Juarez Guimares
239
lvaro de Vita**
A teoria de Rawls da
justia internacional*
EXISTE UMA QUESTO de justia distributiva internacional? Essa per-
gunta pode soar intrigante, embora alguns nmeros amplamente conheci-
dos sejam sucientes para ilustrar como so signicantemente diferentes
as chances de vida no mundo. Cerca de 1,2 bilho de pessoas vivem com
menos de 1 dlar por dia e algo em torno a 2,8 bilhes vivem com me-
nos de 2 dlares por dia
1
. O patrimnio dos 200 indivduos mais ricos do
mundo chegou a 1,135 trilhes de dlares em 1999, em contraste com os
146 bilhes da receita combinada dos 528 milhes de habitantes dos pa-
ses menos desenvolvidos no mesmo ano (UNDP, 2000: 82). S 25 milhes
de pessoas nos Estados Unidos, o decil superior da distribuio de renda
nesse pas, possui uma receita combinada maior do que a dos 43% mais
pobres da populao mundial, cerca de 2 bilhes de pessoas (UNDP, 2001:
19). E enquanto a receita agregada, em 1960, dos pases que continham o
* Este texto foi escrito durante um ps-doutorado realizado na Columbia University,
que contou com o apoio, pelo que agradeo profundamente, da FAPESP e da Funda-
o Fullbright.
** Professor do Departamento de Cincia Poltica da Universidade de So Paulo (USP).
1 Nmeros expressos em dlares PPP Purchasing Power Parity (Paridade do Poder de
Compra) de 1993. Ver UNDP (2001: 9).
240
Filosofia poltica contempornea
quintil mais rico da populao mundial era 30 vezes maior do que a dos
pases que continham o quintil mais pobre, essa razo se elevou para 74:1
at 1997 (UNDP, 1999: 3)
2
. Esse quadro no seria menos dramtico se
substitussemos os indicadores de desigualdade de renda por outros in-
dicadores de desigualdade, tais como mortalidade infantil e desnutrio,
expectativa de vida, oportunidades educacionais e acesso a assistncia b-
sica sade. Basta, para nosso presente propsito, dizer que 11 milhes
de crianas morrem a cada ano nos pases em desenvolvimento por doen-
as curveis ou de fcil preveno, e que a vida , em mdia, 27 anos mais
curta nos pases mais pobres do que nos mais ricos (UNDP, 2001: 9)
3
.
A desigualdade no mundo no s alta, como h tambm evidncias
de que continua se incrementando. Um recente (e inovador) estudo emp-
rico realizado por Branko Milanovic, que pela primeira vez se baseou uni-
camente em dados de pesquisas domicilirias de 117 pases, concluiu que a
desigualdade de renda no mundo aumentou de um coeciente Gini de 62,8
em 1988 para 66,0 em 1993 (Milanovic, 2002: 88)
4
. O esforo de Milanovic
foi o de medir (com base na informao recolhida nas pesquisas dos dife-
rentes pases) a desigualdade de renda entre todos os indivduos do mun-
do. Isso o que ele chama de desigualdade mundial e se diferencia dos
outros dois conceitos comumente utilizados de desigualdade entre naes
(desigualdade inter-nacional): um deles compara as rendas mdias entre
naes, no atentando ao tamanho de suas populaes (desigualdade in-
ter-nacional no ponderada), e o outro compara as rendas mdias entre
naes ponderando o tamanho das populaes (desigualdade inter-nacio-
nal ponderada). Este ltimo o conceito que gera as maiores distores,
pois na medida em que pondera o tamanho da populao de um pas como
a China, trata todos os chineses como possuidores da mesma renda mdia.
Isso esconde o fato de que o rpido crescimento econmico na costa da
China est elevando a desigualdade entre a China urbana e a China rural e
a ndia rural. O que realmente interessa, argumenta Milanovic, medir a
desigualdade entre indivduos, e no entre naes.
A seguir, encontram-se algumas ilustraes vvidas de tal cres-
cimento da desigualdade entre indivduos no mundo: enquanto que a
2 Cabe observar que essa estimativa compara a renda mdia dos pases mais ricos que
contm 20% da populao mundial com a renda mdia dos pases mais pobres que con-
tm 20% da populao mundial.
3 A expectativa de vida de 51 anos nos Pases Menos Desenvolvidos, comparada de 78
anos nos pases da OECD.
4 Ver tambm Milanovic (2001).
241
renda real dos 5% mais pobres decaiu entre 1988 e 1993 em uma quarta
parte, a do quintil mais rico subiu 12% em termos reais; e a razo en-
tre a receita mdia dos 5% superiores e a dos 5% inferiores aumentou
de 78:1 em 1988 para 114:1 em 1993 (Milanovic, 2002: 88-89). Outras
descobertas do estudo de Milanovic tambm so relevantes para o tema
abordado neste artigo. Por exemplo, a desigualdade entre pases, mais
do que a desigualdade intra-pases, o que explica a maior parte desse
crescimento da desigualdade (Milanovic, 2002: 76-86). As desigualdade
entre pases as diferenas entre as rendas mdias dos pases explicam
88% da desigualdade mundial (Milanovic, 2002: 78).
As cifras acima mencionadas falam por si ss; no entanto, no
existe consenso entre os tericos polticos sobre a questo de se a po-
breza mundial e as desigualdades deveriam ou no ser analisadas atra-
vs da noo de justia. Alguns dos tericos polticos mais inuentes
do Ocidente na atualidade, tais como John Rawls e Michael Walzer,
sustentam que no
5
. Toda a controvrsia ao redor desse ponto origi-
na-se no fato de que a existncia de desigualdades extremas entre as
chances de vida por todo o mundo tem lugar tanto entre pases como
no interior de jurisdies polticas separadas. De um ponto de vista
normativo, a diculdade central como fazer justia, ao mesmo tem-
po, ao papel causal jogado pelos arranjos internacionais, por um lado,
e pelas instituies e prticas domsticas, por outro, na gerao de tais
desigualdades e pobreza. medida que a globalizao e a interdepen-
dncia global se aprofundam, torna-se algo mais que uma conjetura
supor que, somado diculdade mencionada, o problema central ins-
titucional e poltico do presente sculo ser o de alcanar o equilbrio
apropriado entre os imperativos polticos domsticos e o compromisso
com uma sociedade internacional toleravelmente justa. J hora de
enxergar a globalizao no apenas como um tema econmico, mas
tambm como um tema normativo e tico.
Como costuma ocorrer quando lidamos como problemas de jus-
tia poltica e social, as vises de Rawls sobre os temas em questo so
(no mnimo) um til ponto de partida. Nas duas sees subseqentes,
apresento uma breve descrio e exponho algumas apreciaes crticas
sobre os esforos e Rawls no sentido de estender sua teoria da justia
5 Em Rawls (1971), seo 58, encontram-se somente uns poucos e breves comentrios
sobre o tema. Rawls fez um esforo mais sistemtico para estender sua teoria s relaes
internacionais em Rawls (1993) e, nalmente, em Rawls (1999). Os mais importantes
textos de Walzer sobre justia internacional so Walzer (1983: cap. 2; 1995; 1997).
lvaro de Vita
242
Filosofia poltica contempornea
como eqidade ao mbito internacional, focando nos problemas de jus-
tia socioeconmica. Essa crtica serve para esclarecer as questes mais
controversas as quais, acredito, os tericos polticos interessados em
problemas de justia internacional deveriam dedicar seus esforos de
pesquisa e reexo. Neste texto, limitar-me-ei a formular tais questes,
uma discusso mais substancial ca pendente para prximos trabalhos.
UM
Em O Direito dos Povos, Rawls argumenta que os princpios de justia
para uma sociedade internacional bem ordenada seriam aqueles esco-
lhidos em um segundo turno do artifcio hipottico-contratualista que
ele idealizou em Uma Teoria da Justia, a posio original, depois
de que os princpios de justia domstica j tivessem sido adotados.
O aspecto mais chamativo desse segundo turno a representao dos
povos, no lugar dos indivduos, como na posio original. certo que
ao aplicar sua teoria a povos, e no a estados, Rawls pode resguardar
seu direito dos povos dos aspectos menos atrativos moralmente da
soberania estatal (Rawls, 1999: 23-30).
Mas, por que povos, em vez de indivduos, deveriam ter seus inte-
resses representados na posio original global? Rawls argumenta que
a representao dos interesses individuais neste segundo turno da posi-
o original tornaria a concepo resultante de justia h razes para
supor que seria uma forma de cosmopolitismo individualista demais
para ser aceita por sociedades que, mesmo sendo do tipo liberal-demo-
crtico, teriam todas as credenciais para serem aceitas como membros
plenos de uma sociedade internacional de povos justa (Rawls, 1999: 60-
62 e 82-83). A soluo que Rawls oferece ao problema de como ampliar
sua concepo de justia ao nvel internacional no condiz com a pers-
pectiva normativa mais geral que sustenta sua teoria no caso domsti-
co: a premissa do individualismo tico abandonada, ou pelo menos
fortemente danicada. O individualismo tico se refere idia de que
o bem-estar dos indivduos, e no de entidades coletivas de nenhum
tipo, o que constitui a ltima fonte de preocupao moral
6
. E conside-
rando que a premissa do individualismo tico derrubada, a forma da
igualdade poltica que O Direito dos Povos se ajusta a da igualdade
6 O individualismo tico, uma noo que nada tem a ver com uma concepo racional
egosta daquilo que bom para os indivduos, um dos aspectos da justia rawlsiana que
a distingue claramente das concepes comunitrias de justia no caso domstico.
243
entre povos, mais do que a igualdade entre pessoas. As implicaes
polticas desse movimento terico so de longo alcance: enormes desi-
gualdades entre indivduos so, em princpio, compatveis com a forma
de igualdade entre povos que Rawls julga ser moralmente signicativa
no campo internacional.
A deliberao na posio original, realizada por representantes
dos povos, dar-se-ia em dois passos: no primeiro, o contrato social hipo-
ttico seria assinado por representantes de sociedades liberal-democr-
ticas bem ordenadas; no segundo, os princpios do direito internacional
escolhidos no primeiro passo seriam tambm aceitos pelos representan-
tes das que Rawls chama de sociedades hierrquicas bem ordenadas.
No entrarei em mais detalhes sobre o raciocnio de Rawls sobre
a posio original global. Para nosso propsito no momento, sucien-
te dizer que os princpios que emergiriam do contrato social internacio-
nal de Rawls so muito prximos a uma viso pluralista convencional
da sociedade internacional
7
. Apesar de Rawls falar tanto em povos em
vez de estados, seu direito dos povos soa muito mais como uma viso
tradicional do direito internacional organizado em torno ao princpio
de soberania estatal, matizado com a rejeio guerra agressiva e uma
muito tnue noo de direitos humanos. Particularmente notvel a
ausncia de um princpio igualitrio de justia distributiva anlogo ao
princpio da diferena segundo o qual as desigualdades distributivas
so moralmente justicadas s quando estabelecidas para o mximo
benefcio daqueles que esto na pior posio social que cumpre um
papel to proeminente na concepo de justia de Rawls para o caso
domstico. O oitavo princpio do Direito dos Povos Os povos tm o
dever de assistir os outros que vivam sob condies desfavorveis que
lhes impeam ter um regime poltico e social justo ou decente (Rawls,
1999: 37) no tem, como veremos a seguir, o status moral de prin-
cpio de justia. Na viso subseqente da sociedade internacional, as
sociedades domsticas bem ordenadas, concebidas como sistemas de
cooperao mais ou menos fechados e com cada um deles satisfazendo
as legtimas demandas de justia de seus prprios membros, subscre-
veriam basicamente aos princpios de coexistncia.
A perspectiva que adoto no presente artigo corresponde dos
tericos polticos que aceitam amplamente o enfoque rawlsiano na-
quilo que diz respeito ao contexto domstico, mas rejeitam a forma
7 Ver Rawls (1999: 37) para os oito princpios centrais do direito dos povos de Rawls.
lvaro de Vita
244
Filosofia poltica contempornea
em que Rawls interpreta a extenso do enfoque para o nvel interna-
cional. Entre tais tericos encontram-se Charles Beitz, Thomas Pogge,
Brian Berry, Henry Shue e David Richards
8
. Meu objetivo defender
alguns dos argumentos dessa viso terica alternativa da justia in-
ternacional, particularmente em relao justicao de obrigaes
distributivas (que devem ser cumpridas pelas instituies e regimes
da sociedade internacional) mais extensivas do que aquelas previstas
por Rawls em sua perspectiva de uma sociedade dos povos justa. Tais
obrigaes esto estreitamente relacionadas a uma viso da sociedade
internacional para a qual o ltimo valor moral reside na prosperidade
das vidas individuais, e no na melhoria das sociedades (ou povos)
per se (Beitz, 1999b: 520).
DOIS
No campo internacional, de acordo com Rawls, as desigualdades so-
cioeconmicas deveriam ser reguladas no por um princpio de justia
distributiva tal como o princpio da diferena de sua prpria teoria
da justia, mas por um dever de assistncia discutido em Uma Teoria
da Justia (Rawls, 1971: 114-117; 1999: 105-120).
Quais as razes que Rawls oferece para rechaar a extenso
do princpio distributivo liberal-igualitrio sociedade internacio-
nal? Apresentarei aqui trs dessas razes. Uma delas surpreende
pela debilidade de seu argumento, enquanto as outras duas mere-
cem ser observadas como colocaes de peso que correspondem
a pontos de vista amplamente partilhados pelas elites dos pases
desenvolvidos, economistas ortodoxos, e executivos e altos funcio-
nrios de organizaes financeiras internacionais como o Banco
Mundial e o FMI.
Ocupar-me-ei imediatamente do primeiro e mais fraco argu-
mento (j que os outros dois requerem, no meu entender, uma discus-
so mais cuidadosa). Um princpio igualitrio de justia distributiva
no pode ser incorporado ao Direito dos Povos porque as chamadas
sociedades hierrquicas decentes provavelmente no reconheam a
validade de nenhum princpio como esse para suas prprias institui-
8 Beitz (1979) e Pogge (1989), cap. 6, so trabalhos pioneiros nessa rea. Ver tambm Beitz
(1999a; 1999b; 2001) e Pogge (1994a; 1998; 1999; 2001b). Beitz (1999a) faz uma reviso
dos desenvolvimentos mais signicativos da dcada de 1990. Tambm se aproximam da
perspectiva cosmopolita Barry (1989b; 1998), Richards (1982) e Shue (1996: 153-180).
245
es domsticas
9
. Mas esse fato no os desqualica como membros
plenos de uma sociedade de povos justa. No que diz respeito justia
distributiva embora um raciocnio similar possa talvez ser aplicado
a questes de justia poltica, isso soa como um argumento de con-
venincia, que deve certamente ser empregado pelos cidados mais
privilegiados das mais abastadas sociedades liberais, para justicar o
fato de que tm a maior parte dos benefcios da cooperao social em
uma escala global. Um princpio que vise reduzir as desigualdades
internacionais no deve ser adotado, diro esses cidados, porque
reconhec-lo violaria os sentidos partilhados das sociedades (bem
ordenadas) que no reconhecem um princpio similar em suas insti-
tuies domsticas
10
. E qualquer violao a estas, poderia acrescen-
tar Rawls, vai contra a noo de tolerncia com a qual a sociedade in-
ternacional de povos deve estar comprometida (Rawls, 1999: 59-60).
H duas respostas para esta linha de argumentao. De um
lado, a matria de um princpio de justia distributiva internacional
constituda pelas desigualdades geradas pela estrutura bsica glo-
bal
11
. Rawls turva a questo quando sugere que a razo para rejeitar a
justia cosmopolita neoliberal que esta recomendaria intervenes
e inclusive talvez sanes econmicas ou militares contra socieda-
des no liberais bem ordenadas
12
. Podemos nos perguntar, inciden-
talmente, por que um compromisso com um critrio universal de
justia social teria que necessariamente implicar um compromisso
com intervir naquelas sociedades cujas instituies ou prticas so-
ciais violam tal critrio. Existe um critrio universal de justia? e
Em quais circunstncias a violao a tal critrio (se que existe algo
como um critrio universal) justica intervenes externas? so duas
perguntas muito diferentes que devem ser tratadas separadamente.
9 De fato, Rawls v esse argumento como objeo mais geral concepo cosmopolita
liberal-igualitria da justia global. Ver Rawls (1993a: 75; 1999: 82-85).
10 Utilizo uma das expresses preferidas de Walzer (sentidos partilhados), porque de
fato muito difcil distinguir a posio de Rawls sobre a justia internacional do comuni-
tarismo de Walzer.
11 Thomas Pogge apresentou este tema em Pogge (1989: 267). A noo de estrutura b-
sica da sociedade , evidentemente, a de Rawls, assim como o argumento sobre por que
a estrutura bsica deve ser tomada como a matria da justia social. Ver Rawls (1971). O
que est em questo aqui se existe ou no, no nvel internacional, uma estrutura insti-
tucional que possa ser considerada anloga, em seus efeitos distributivos, s estruturas
bsicas das sociedades no caso domstico. Retomarei este ponto mais adiante.
12 Rawls sugere claramente que h um vnculo quase necessrio entre liberalismo cos-
mopolita e intervencionismo. Ver Rawls (1999a: 60).
lvaro de Vita
246
Filosofia poltica contempornea
Mais importante, porm, para nosso propsito presente enfatizar
que o que est em discusso quando surgem questes de justia dis-
tributiva internacional, no como as instituies domsticas de to-
das as sociedades do mundo podem chegar a um acordo sobre uma
concepo de justia liberal cosmopolita; a discusso concerne, prin-
cipalmente, estrutura institucional global e maneira em que esta
pode ser reformada numa direo liberal igualitria.
A segunda resposta a seguinte: poderamos levar em conside-
rao que a maior parte dos custos da implementao institucional
de um princpio de justia distributiva internacional no pode seno
recair sobre as sociedades liberais prsperas, e no sobre as sociedades
hierrquicas do mundo em desenvolvimento. Os esforos daqueles que
propem medidas e reformas para reduzir a pobreza global um obje-
tivo que por si s mais uma questo de ajuda humanitria do que de
justia distributiva chocam-se com a falta de motivao para isso que
caracteriza os cidados mais privilegiados das sociedades liberais de-
senvolvidas. E so os governos dessas sociedades os que vm se opondo
at aos menores passos nessa direo
13
. Existe algo de perverso em ape-
lar a uma objeo relativista contra a justia liberal cosmopolita quan-
do as obrigaes impostas por esta forma de justia recairiam princi-
palmente sobre aqueles que acreditam nela como a verdadeira, ou pelo
menos que deveriam acreditar como Rawls preferiria dizer que ela
a concepo de justia mais razovel
14
.
O segundo argumento de Rawls contra um princpio de distri-
buio global que os fatores responsveis pela desigualdade e pobre-
za globais so, sobretudo, internos s sociedades carregadas, isto ,
sociedades sujeitas a circunstncias socioeconmicas e culturais desfa-
vorveis
15
. Um trecho relevante o seguinte:
Acredito que as causas da riqueza de um povo e as formas que
adota residem em sua cultura poltica e nas tradies religiosas,
13 Isso pode ser ilustrado pela queda signicativa sofrida durante os anos 90, de um nvel
j baixo no incio da dcada, da Ajuda Ocial ao Desenvolvimento (Ofcial Developement
Aid-ODA) dos pases da OECD para pases pobres. (Alguns dados sobre ODA so mencio-
nados na seo trs deste texto.) Outra ilustrao a das reservas que os E.U.A. colocam in-
variavelmente a qualquer documento internacional que possa implicar o reconhecimento
de deveres de justia distributiva internacional. Os E.U.A., por exemplo, nunca raticaram
a Conveno Internacional sobre Direitos Econmicos, Sociais e Culturais.
14 Ver Pogge (1994: 218-219), para um argumento na mesma linha.
15 Para uma noo de sociedades carregadas, ver Rawls (1999: 105-113).
247
loscas e morais que do sustento a estrutura bsica das ins-
tituies polticas e sociais, assim como a industriosidade e os
talentos cooperativos de seus membros, tudo isso sustentado por
seus valores polticos [...] Os elementos crucias que fazem a di-
ferena so a cultura poltica, as virtudes polticas e a sociedade
cvica de um pas, a probidade e industriosidade, sua capacidade
de inovao, e muito mais. Tambm crucial poltica populacio-
nal do pas: deve ter cuidado de no sobrecarregar seu territrio
e sua economia com uma populao maior do que pode susten-
tar (Rawls, 1999: 108)
16
.
Se o argumento dos fatores internos de Rawls correto, ento no existe
nenhum fundamento moral para um princpio internacional de justi-
a distributiva. As sociedades bem ordenadas, observadas por Rawls
como membros plenos da sociedade internacional de povos, s teriam
um dever positivo de ajudar as sociedades carregadas a superarem
obstculos internos que as impedem de implementar uma estrutura
bsica bem ordenada. As obrigaes dos ricos em relao aos pobres
teriam de ser percebidas como obrigaes de benevolncia e caridade,
e no como obrigaes de justia fundadas em um dever de corrigir as
injustias distributivas dos arranjos institucionais dos quais os povos ri-
cos so os principais benecirios. Para alm do patamar da obrigao
moral imposta pelo dever de assistncia, nenhuma outra redistribuio
de recursos, riqueza ou receita seria justicada como um problema de
justia. Como frisado por Rawls, tal dever pertence ao que ele chama
de teoria no ideal, de natureza transitria e possui tanto um ob-
jetivo como um ponto de interrupo (Rawls, 1999: 119). A concluso
desse raciocnio que nenhuma instituio permanente destinada a re-
gular desigualdades socioeconmicas moralmente requerida no nvel
internacional. Haveria mais a dizer sobre o tema, pois ele inclui uma
clara distino que nem sempre se faz entre ajuda humanitria e justia,
mas o que foi dito at aqui suciente para prosseguir
17
.
16 Uma idia similar apresentada em Rawls (1993b: 77), com a diferena de que nesta
verso anterior de The Law of Peoples o argumento dos fatores internos foi empregado
para explicar mais diretamente as causas da sorte das sociedades carregadas, mais do
que para explicar as causas da riqueza de um povo: The great social evils in poorer so-
cieties are likely to be oppressive government and corrupt elites; the subjection of women
abetted by unreasonable religion, with the resulting overpopulation relative to what the
economy of the society can decently sustain.
17 Para uma discusso esclarecedora sobre este assunto, ver Humanity and Justice in
Global Perspective. Este ensaio de 1982 foi republicado em Barry (1989a: cap. 16).
lvaro de Vita
248
Filosofia poltica contempornea
Observe-se que s uma verso particularmente forte do argu-
mento dos fatores internos exclui a distribuio internacional como
um problema de justia. Esta verso descuida completamente os efei-
tos distributivos que os arranjos internacionais podem ter, seja por sua
prpria natureza seja pelo tipo de instituies e polticas domsticas
que possam favorecer. essa verso forte a que aqui nos concerne.
Rawls ilustra seu argumento com dois casos nos quais devemos
considerar dois pases que tm, no mesmo tempo t
1
, o mesmo nvel de
bens primrios e o mesmo tamanho de populao. No primeiro caso, o
pas A outorga um alto valor ao trabalho duro e prosperidade econ-
mica, enquanto que o pas B est mais preocupado pelo lazer e por sua
vida comunitria. No segundo caso, o pas C d todos os passos e toma
as medidas necessrias para reduzir o ritmo de crescimento de sua
populao, enquanto que o pas D, devido aos valores religiosos que
arma, no o faz. Em ambos os casos, no mesmo tempo t
2,
os pases A
e C tero um nvel de bens primrios signicativamente mais alto. Mas
nenhuma redistribuio de bens primrios de A para B ou de C para D
moralmente justicada (Rawls, 1999: 117-18).
No nego que exista alguma verdade no argumento de Rawls.
No est entre os propsitos deste estudo menosprezar a importncia
do papel das polticas e instituies domsticas para reduzir as desi-
gualdades e a pobreza
18
. Mas a explicao que apela aos fatores inter-
nos constitui apenas uma parte da verdade. Quando reetimos sobre os
dois exemplos mencionados no pargrafo anterior, podemos notar uma
chamativa semelhana entre a objeo redistribuio internacional
apresentada agora por Rawls e a objeo aos efeitos redistributivos de
sua prpria teoria da justia (no caso domstico) que foi expressa por
Nozick com o exemplo Wilt Chamberlain (Nozick, 1974: 160-164).
Lembremos que a chave do exemplo de Nozick era demonstrar como
enormes desigualdades entre recursos escassos poderiam legitimamen-
te surgir de um status quo inicial hipottico de igualdade de recursos,
atravs das transaes livres e voluntrias de agentes individuais que
decidem por suas prpria luzes o que fazer com a parte igual de recur-
sos com a qual cada um foi inicialmente dotado. Esse exatamente o
raciocnio lgico por trs dos dois casos de Rawls.
Posso pensar em duas respostas ao uso feito por Rawls de tal lgi-
ca nozickiana contra a justia distributiva internacional. Primeiramen-
18 Sen (1999: cap. 4-9) oferece abundantes evidncias empricas de que as instituies e
polticas domsticas podem fazer grandes diferenas.
249
te, existem diculdades, no resolvidas apropriadamente por Rawls, re-
feridas a sua opo por falar de povos como se estes fossem agentes
individuais que decidem o que melhor para suas prprias vidas e so
julgados como completamente responsveis pelas decises que tenham
tomado. Se pretendemos (como faz Rawls) que os membros individuais
dos povos sofram todas as conseqncias das boas ou ms decises to-
madas em seu nome por uma entidade coletiva como a de um povo,
deparamo-nos com diculdades adicionais com as quais Nozick no
teve que se preocupar em sua objeo justia distributiva domstica.
Um povo uma coletividade, e no uma pessoa que pode ser pensada
como capaz tanto de escolher o que melhor para si mesma, por exem-
plo, dar prioridade ao lazer sobre o trabalho duro, quanto de arcar com
as conseqncias de suas prprias escolhas. Em que sentido podemos
julgar os membros individuais de um povo por exemplo, mulheres po-
bres e trabalhadores rurais como responsveis pelas decises tomadas
em sua sociedade a respeito de desenvolvimento econmico e social
ou controle demogrco? So os governos os que tomam decises des-
se tipo e no individualidades ctcias como povos. Se quisssemos
que as noes de escolha e responsabilidade assumissem, na socieda-
de internacional, o mesmo papel moral que jogam no exemplo Wilt
Chamberlain de Nozick, ento deveramos estar preparados, no mni-
mo, para exigir que os povos fossem democraticamente governados. E
Rawls claramente no quer chegar to longe
19
.
Alm disso, devido ao fato de que um povo no uma pessoa
que decide quais custos so aceitveis para si mesma, e sim uma cole-
tividade que existe de uma gerao outra, considerar os povos como
moralmente responsveis pelas decises e escolhas que afetam o bem-
estar de seus membros tambm coloca um problema inter-geraes.
Thomas Pogge chamou a ateno para essa questo: at que ponto
deve-se fazer com que os membros de uma gerao arquem com os
custos econmicos de decises tomadas por seus predecessores? (Po-
19 Noes tais como well-ordered hierarchical societies e decent consultation hie-
rarchy, ao redor das quais gira boa parte da argumentao em The Law of Peoples, so
suspeitas de s habitarem a mente do lsofo. Certamente, a noo de well-ordered
liberal society uma idia regulatria, mas neste caso o ideal est claramente ancorado
em alguns aspectos denidos das sociedades liberais existentes, chamando a ateno,
ao mesmo tempo, para o grau em que estas sociedades se afastam do ideal. difcil
entender o sentido da noo de uma well-ordered hierarchical society nesse sentido.
O exemplo de Rawls, o pas imaginrio que ele chamou de Kazanistan (Rawls, 1999:
75-78), no ajuda muito a dissipar essa impresso.
lvaro de Vita
250
Filosofia poltica contempornea
gge, 2001b: 249, traduo nossa). A considerao de Rawls acerca da
justia internacional simplesmente deixa de lado esse problema. Est
longe de car claro, por exemplo, por que crianas sem acesso a opor-
tunidades de educao e sade adequadas em pases pobres deveriam
ser julgadas como moralmente responsveis por decises sobre poltica
social e ndices de fertilidade assumidos por geraes prvias. Substi-
tuir escolhas individuais por escolhas de povos no facilita a refutao
de Rawls da justia distributiva internacional. Praticamente o oposto,
de fato, verdadeiro. No parece menos injusto, diz Charles Beitz,
impor os custos das ms escolhas s geraes prvias aos membros
sucessores de suas prprias sociedades do que a estrangeiros espe-
cialmente estrangeiros que, hipoteticamente, gozem de um padro ma-
terial mais elevado (outra vez, no por seu prprio mrito) do que os
desafortunados membros da sociedade que foi imprudentemente go-
vernada (Beitz, 2001: 689, traduo nossa).
na segunda resposta que quero me deter mais longamente. Para
introduzi-la, lembremos de como Rawls rebate a objeo a sua teoria, no
caso domstico, apresentada por Nozick com o exemplo Wilt Chamber-
lain, como por exemplo na seguinte passagem:
A menos que a estrutura bsica seja regulada no tempo, as pr-
vias distribuies justas de ativos de todo tipo no asseguram
a justia de distribuies posteriores, sem importar quo livres
e justas paream as transaes particulares entre indivduos e
associaes quando vistas localmente e separas das instituies
do entorno.
Isto assim porque o resultado destas transaes tomadas em
conjunto afetado por todo tipo de contingncias e imprevis-
veis conseqncias. necessrio regular, mediante leis que go-
vernem a herana e o legado, como as pessoas chegam a adqui-
rir propriedades para que a distribuio seja mais igualitria:
prover uma eqitativa igualdade de oportunidades na educao,
e muito mais. Que tais regras das instituies do entorno este-
jam em vigor ao longo do tempo no tira o mrito e sim fazem
possveis os importantes valores expressados pelos acordos li-
vres e justos alcanados por indivduos e associaes no mbito
da estrutura bsica. Isto assim porque os princpios que se
aplicam a estes acordos de forma direta (por exemplos a lei de
contratos) no bastam por si mesmos para preservar a justia do
entorno (Rawls, 2001: 53).
251
O que falta no exemplo de Nozick uma considerao de justia de
fundo. A necessidade de tal considerao uma das razes que le-
vam Rawls a pr o foco de sua teoria sempre no caso domstico na
estrutura bsica da sociedade. A outra razo, interligada, tem que ver
com sua profunda e difundida inuncia sobre as pessoas que vivem
sob suas instituies (Rawls, 2001: 55). S se a estrutura bsica da
sociedade justa s se desenhada para evitar as desigualdades nos
aspectos da vida que resultem das contingncias e conseqncias im-
previsveis, como classe social de origem, dotes naturais e boa ou m
fortuna podemos julgar os indivduos como completamente respon-
sveis pelos efeitos distributivos de suas prprias decises e opes. Se
queremos que as decises dos indivduos sobre o que fazer com seus
recursos arquem com todo o peso moral com que Nozick quer que ar-
quem, ento a justia de fundo tem de ser permanentemente garantida
o que inter alia signica que as estruturas bsicas da sociedade devem
buscar reduzir ao mximo possvel as desigualdades originadas por fa-
tores moralmente arbitrrios (tais como classe social de origem, dotes
naturais, gnero, raa ou etnia).
Essa resposta rawlsiana objeo de Nozick com o exemplo
Wilt Chamberlain parece-me correta, mas por que um raciocnio si-
milar no se aplicaria aos dois casos propostos por Rawls menciona-
dos anteriormente no contexto da justia internacional? Por que no
deveriam as noes internacionais anlogas a justia de fundo e es-
trutura social bsica jogar nenhum papel signicativo em uma teoria
da justia aplicada rea internacional?
20
. No deveramos assumir a
nacionalidade no s como uma contingncia moralmente arbitrria,
mas tambm como uma contingncia que inui dramaticamente sobre
a distribuio das chances de vida no mundo?
21
.
Cabe aqui observar que o que quero mostrar com as duas respos-
tas que desenvolvi contra a recusa de Rawls justia distributiva inter-
nacional no que no seja possvel julgar os povos (ou pases) como
responsveis por suas prprias decises e polticas. Meu ponto no
esse, e sim que as condies sob as quais eles devem ser julgados como
20 Rawls admite, em certo ponto, que os arranjos institucionais da sociedade interna-
cional devem ter efeitos distributivos injusticados (1999: 115) que pedem correo,
mas este reconhecimento no joga nenhum papel no que se refere a sua considerao da
justia internacional.
21 Como foi apontado por Beitz (1979: 151), Pogge (1989: 247; 1994a: 198) e Barry
(1989b: 183-89).
lvaro de Vita
252
Filosofia poltica contempornea
completamente responsveis por sua situao desfavorvel so muito
mais determinantes do que o que Rawls est disposto a admitir no caso
internacional mesmo se mostrando bastante favorvel a reconhec-lo
para refutar a objeo de Nozick para o caso domstico.
Contra o fator dos argumentos internos, a hiptese que creio til
explorar em mais detalhe a de que as instituies e regimes interna-
cionais a estrutura bsica da sociedade internacional tm efeitos
distributivos que contribuem de modo importante com os nveis de
desigualdade e pobreza mencionados no incio deste artigo. Se tal hi-
ptese fosse conrmada, um fundamento normativo mais robusto para
um princpio internacional de justia distributiva seria estabelecido
22
.
Como no caso domstico, os efeitos injusticados das instituies so-
ciais devem ser corrigidos como um problema de justia. Se existe algo
como uma ordem social e poltica global, ento aqueles que se bene-
ciam mais de seus efeitos distributivos (e so mais capazes de inuen-
ciar seu desenho institucional) se encontram sob o dever de atuar para
faz-lo mais compatvel com condies essenciais de justia. Ademais,
se procuramos conhecer melhor as formas em que a estrutura interna-
cional inui sobre a distribuio das vantagens da cooperao social
se que existe algo como um esquema de cooperao social no nvel
internacional tambm deve car mais claro que tipos de reformas ins-
titucionais poderiam ser recomendados.
Desenvolver de uma forma apropriada o argumento esboado
no pargrafo precedente o desafio mais importante apresentado
aos liberais igualitrios cosmopolitas. Mas quero tambm explicar
brevemente a terceira objeo que Rawls poderia apresentar con-
tra a globalizao de um princpio de justia distributiva. Trata-se
de um argumento tpico do enfoque de Michael Walzer questo
da justia, claramente baseado na viso de Rawls da sociedade in-
ternacional. Poderamos cham-lo de argumento da parcialidade
nacional. Rawls cita aprobatoriamente a considerao de Walzer
(em Walzer, 1983) sobre o papel das fronteiras polticas
23
. Mais im-
portante, porm, que qualquer evidncia textual, neste caso, o
fato de que o argumento da parcialidade nacional se encaixa perfei-
tamente com o foco posto por Rawls nos povos e o comunitarismo
22 Pode parecer muito forte falar de uma demonstrao de hiptese em um trabalho de
teoria poltica. O que pretendo fazer examinar os argumentos tericos e a evidncia
emprica relevante para esta hiptese.
23 Ver Rawls (1999: 39), nota de rodap.
253
da perspectiva de Rawls para a justia internacional como um todo.
Beitz sustenta que consideraes desse tipo semelhantes ao argu-
mento da parcialidade nacional explicam tanto o motivo pelo qual
Rawls pensa que os povos so moralmente primrios na sociedade
internacional e por que as exigncias redistributivas do direito dos
povos so to modestas (Beitz, 2001). De acordo com este ltimo,
nossos compatriotas tm o direito moral de nos exigir uma consi-
derao especial por seu bem-estar de uma forma que os cidados
de outros estados no tm. A parcialidade nacional, interpretada
desse modo, entra em conflito como o argumento liberal cosmo-
polita segundo o qual uma sociedade internacional justa deve au-
mentar quanto for possvel o bem-estar dos menos privilegiados em
uma escala global. Como observa Charles Beitz, os tericos liberais
igualitrios cosmopolitas devem estar incorrendo em uma espcie
de cegueira moral por subestimarem a importncia das relaes lo-
cais e filiaes que permitem que as pessoas sejam bem-sucedidas
na vida (Beitz, 1999a: 291). E tais relaes geram reivindicaes
distributivas que se chocam com as demandas de um princpio in-
ternacional de justia distributiva. Um problema normativo central
a ser discutido nesse contexto de como seria possvel conciliar, de
modo plausvel, uma perspectiva cosmopolita da justia internacio-
nal com demandas legtimas de parcialidade nacional. Enfrentar
esse problema de uma forma apropriada essencial para fortalecer
a posio liberal-cosmopolita.
O que z neste texto foi mostrar por que a teoria de Rawls da
justia internacional insatisfatria e apresentar uma agenda de pes-
quisa que, a meu ver, central para aqueles que se dispem a encarar,
no terreno da teoria poltica, o desao de pensar uma sociedade in-
ternacional justa. Meu propsito tratar em profundidade, em outras
ocasies, as duas linhas de objeo justia cosmopolita que foram
aqui apenas enunciadas.
BIBLIOGRAFIA
Barry, Brian 1989a (1982) Humanity and Justice in Global Perspective in
Barry, Brian Democracy, Power and Justice: Essays in Political Theory
(Oxford: Clarendon Press).
Barry, Brian 1989b Theories of Justice (London: Harvester-Wheatsheaf).
Barry, Brian 1995 Justice as Impartiality (Oxford: Clarendon Press).
lvaro de Vita
254
Filosofia poltica contempornea
Barry, Brian 1998 International Society from a Cosmopolitan Perspective
in Mapel, David and Nardin, Terry (orgs.) International Society
(Princeton: Princeton University Press).
Barry, Brian 1999 Statism and Nationalism: A Cosmopolitan Critique in
Shapiro, Ian and Brilmayer, Lea (orgs.) Global Justice. Nomos XLI
(New York: New York University Press).
Barry, Brian and Goodin, Robert E. (orgs.) 1992 Ethical Issues in the
Transnational Migration of People and of Money (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press).
Beitz, Charles R. 1979 Political Theory and International Relations (Princeton:
Princeton University Press).
Beitz, Charles R. 1983 Cosmopolitan Ideals and National Sentiments in The
Journal of Philosophy, Vol. LXXX, N 10, October.
Beitz, Charles R. 1999a International Liberalism and Distributive Justice in
World Politics, N 51.
Beitz, Charles R. 1999b Social and Cosmopolitan Liberalism in
International Affairs, Vol. 75, N 3.
Beitz, Charles R. 2001 Rawlss Law of Peoples in Ethics, Vol. 110, N 4.
Beitz, Charles R.; Cohen, Marshall; Scanlon, Thomas and Simmons, A. John
(orgs.) 1985 International Ethics (Princeton: Princeton University
Press).
Brown, Chris 1992 International Relations Theory (New York: Harvester
Wheatsheaf).
Brown, Chris 1993 International Affairs in Goodin, Robert E. and Pettit,
Philip (orgs.) A Companion to Contemporary Political Philosophy
(Oxford: Blackwell Publishers).
Brown, Chris 2000 John Rawls, The Law of Peoples and International
Political Theory in Ethics and International Affairs, N 14.
Bull, Hedley 1995 The Anarchical Society (London: Macmillan).
Caney, Simon 2001a International Distributive Justice in Political Studies,
N 49.
Caney, Simon 2001b Survey Article: Cosmopolitanism and the Law of
Peoples in Journal of Political Philosophy, N 9.
Cohen, Marshall 1985 Moral Skepticism and International Relations in
Beitz, Charles; Cohen, Marshall; Scanlon, Tomas and Simmons, John
(orgs.) International Ethics (Princeton: Princeton University Press).
Held, David 1995 Democracy and the Global Order: From the Modern State to
Cosmopolitan Governance (Cambridge: Polity Press).
Held, David 2000 Regulating Globalization? The Reinvention of Politics in
International Sociology, Vol. 15, N 2.
Hill, Ronald; Peterson, Paul; Dhanda, Robert M. and Kanwalroop, Kathy
Global Consumption and Distributive Justice: A Rawlsian Perspective
in Human Rights Quarterly, Vol. 23, N 1.
255
Hurrell, Andrew 1999 Sociedade internacional e governana global em Lua
Nova (So Paulo) N 46.
Hurrell, Andrew 2001 Global Inequality and International Institutions in
Pogge, Thomas (org.) Global Justice (Oxford: Blackwell Publishers).
Jones, Charles 2001 Global Justice: Defending Cosmopolitanism (Oxford:
Oxford University Press).
Kant, Immanuel 1970 Kant: Political Writings (Cambridge: Cambridge
University Press) [Seleo e introduo de Hans Reiss, traduo de H.
B. Nisbet].
Milanovic, Branko 2001 World Income Inequality in the Second Half of the
20
th
Century. Em <http://www.worldbank.com>.
Milanovic, Branko 2002 True World Income Distribution, 1988 and 1993:
First Calculation Based on Household Surveys Alone in The Economic
Journal, Vol. 112, January.
Miller, David 1995 On Nationality (Oxford: Clarendon Press).
Miller, David 1998 The Limits of Cosmopolitan Justice in Mapel, David
and Nardin, Terry (orgs.) International Society (Princeton: Princeton
University Press).
Miller, David 1999 Justice and Global Inequality in Hurrell, Andrew and
Woods, Ngaire (orgs.) Inequality, Globalization and World Politics
(Oxford: Oxford University Press).
Miller, David 2000 Citizenship and National Identity (Cambridge: Polity Press).
Nozick, Robert 1974 Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books).
ONeill, Onora 1985 Lifeboat Earth in Beitz, Charles; Cohen, Marshall;
Scanlon, Thomas and Simmons, A. John (orgs.) International Ethics
(Princeton: Princeton University Press).
ONeill, Onora 2001 Agents of Justice in Pogge, Thomas (org.) Global Justice
(Oxford, Blackwell).
Opeskin, Brian R. 1996 The Moral Foundations of Foreign Aid in World
Development, Vol. 24, N 1.
Paes de Barros, Ricardo; Henriques, Ricardo e Mendona, Rosane 2000
Pobreza e desigualdade no Brasil: retrato de uma estabilidade
inaceitvel em Revista Brasileira de Cincias Sociais, Vol. 15, N 42.
Paterson, Matthew 2001 Principles of Justice in the Context of Global
Climate Change in Luterbacher, Urs and Sprinz, Detlef (orgs.)
International Relations and Global Change (Cambridge: MIT Press).
Pogge, Thomas W. 1989 Realizing Rawls (Ithaca: Cornell University).
Pogge, Thomas W. 1994a An Egalitarian Law of Peoples in Philosophy and
Public Affairs, Vol. 23, N 3.
Pogge, Thomas W. 1994b Uma proposta de reforma: um dividendo global de
recursos em Lua Nova (So Paulo) N 34.
Pogge, Thomas W. 1995 How Should Human Rights Be Conceived? in
Jahrbuch fr Recht und Ethik, Vol. 3.
lvaro de Vita
256
Filosofia poltica contempornea
Pogge, Thomas W. 1998 The Bounds of Nationalism in Canadian Journal of
Philosophy, Vol. 22, Supplementary.
Pogge, Thomas W. 1999 Human Flourishing and Universal Justice in Social
Philosophy and Policy, Vol. 16, N 1, Winter.
Pogge, Thomas W. (org.) 2001a Global Justice (Oxford: Blackwell Publishers).
Pogge, Thomas W. 2001b Rawls on International Justice in The
Philosophical Quarterly, Vol. 51, N 203, April.
Rawls, John 1971 A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press).
Rawls, John 1993a Political Liberalism (New York: Columbia University
Press).
Rawls, John 1993b The Law of Peoples in Shute, Stephen and Hurley, Susan
(orgs.) On Human Rights. The Amnesty Lectures of 1993 (New York:
Basic Books).
Rawls, John 1999 The Law of Peoples (Cambridge: Harvard University Press).
Rawls, John 2001 Justice as Fairness: A Restatement (Cambridge: Harvard
University Press).
Richards, David 1982 International Distributive Justice in Pennock, J.
Roland and Chapman, John W. (orgs.) Nomos 24: Ethics, Economics
and the Law (New York: New York University Press).
Sen, Amartya 1999 Development as Freedom (New York: Alfred Knopf).
Sen, Amartya 2002 How to judge globalization in The American Prospect,
Winter.
Shue, Henry 1996 Basic Rights. Subsistence, Afuence and U.S. Foreign Policy
(Princeton: Princeton University Press).
Tesn, Fernando 1995 The Rawlsian Theory of International Law in Ethics
and International Affairs, Vol. 9.
UNDP 1996, 1999, 2000, 2001 Human Development Report (Oxford: Oxford
University Press).
Vita, lvaro de 2000 A justia igualitria e seus crticos (So Paulo: UNESP/
FAPESP).
Walzer, Michael 1983 Spheres of Justice (New York: Basic Books).
Walzer, Michael 1995 Response in Miller, David e Walzer, Michael (orgs.)
Pluralism, Justice and Equality (Oxford: Oxford University Press).
Walzer, Michael 1997 On Toleration (New Haven: Yale University Press).
Winston, Morton E. 1988 The Philosophy of Human Rights (Belmont:
Wadsworth Publishing Company).
257
Fernando Lizrraga*
Diamantes e fetiches
Consideraes sobre o desao de
Robert Nozick ao marxismo
NO INCIO DOS ANOS 60, Gerald Cohen soube da boca de um colega o
resumo do que pouco depois se converteria em um argumento cannico
do liberalismo conservador: o caso de Wilt Chamberlain, pea central no
edifcio terico de Robert Nozick. Os problemas colocados por Nozick
agitaram o esprito analtico de Cohen e lhe produziram, segundo con-
fessa, uma sensao de irritao e ansiedade. Mas a coisa no cou ali.
Com o tempo, Cohen advertiu que a empresa de refutar Nozick o havia
tirado de seu sonho socialista dogmtico (Cohen, 1995: 4). Irritado e
ansioso, empreendeu a minuciosa tarefa. O resultado deste esforo cris-
talizou-se em Self-ownership, freedom and equality (1995), um erudito e
complexo trabalho no qual Cohen recorre aos mais variados instrumen-
tos para desmontar a maquinaria de Anarquia, Estado e Utopia (Nozick,
1991). No entanto, ao cabo de quase trezentas pginas, admite que a
refutao no possvel e se contenta em ter erodido a solidez da for-
mulao de Nozick (Cohen, 1995: 230). verdade: os argumentos com
* Professor de Histria graduado na Universidade Nacional do Litoral, Santa F, Argen-
tina. Master of Arts em Filosoa Poltica, Universidade de York, Inglaterra. Doutor pela
na Faculdade de Cincias Sociais da Universidade de Buenos Aires.
258
Filosofia poltica contempornea
os quais Nozick interpela o sentido comum da poca parecem menos
invulnerveis luz dos mltiplos contra-argumentos de Cohen.
Mas a irritao e a ansiedade ainda persistem. Prova disso um
recente artigo de Carole Pateman no qual a autora volta aos passos de Co-
hen para avanar na refutao de Nozick. Por que tanto alvoroo em torno
de uma teoria cujo autor reconheceu como inadequada? (Boron, 2000:
143). Em primeiro lugar, porque Cohen teve o mrito de ter chamado a
ateno sobre o srio desao que a posio nozickiana apresenta para
categorias clssicas do marxismo. A concepo ortodoxa de explorao,
em particular, parece perder fora normativa quando se revela o fato de
que se assenta sobre uma armao implcita da autopropriedade, pedra
angular do esquema nozickiano (Cohen, 1995: 154 e ss). Em segundo lu-
gar, o mal-estar provm da inacabada empresa de Cohen. Seus esforos
produziram no mximo uma vitria de pirro, e Nozick parece ter sobrevi-
vido a sua prpria apostasia intelectual. Por isso, neste ensaio tentaremos
revisar algumas questes que Cohen deixou sem explorar, talvez porque j
no acreditava em certas categorias centrais do marxismo.
Longe de ns corrigir Cohen. A sosticao de sua anlise est a
uma distncia sideral de nossos parcos talentos. S interessa mostrar
por ora que, caso se houvesse recorrido a velhas ferramentas do mar-
xismo, se poderia ter simplicado o trabalho de desmantelar Nozick.
Reconhecemos, pois, a enorme e fecunda elaborao de Cohen; cele-
bramos o oportuno ensaio de Pateman, e aspiramos reetir sobre os
riscos que se corre ao despertar do sonho socialista dogmtico.
O presente trabalho se organiza da seguinte maneira. Em primeiro
lugar, e com o nico propsito de mostrar a complexidade do assunto,
repassaremos alguns dos argumentos mais convincentes que Cohen apre-
senta contra a tese de autopropriedade e suas derivaes, isto , a teoria
das apropriaes e a teoria das transferncias. Vamos nos deter depois em
um dos contra-exemplos atravs dos quais Cohen tenta encurralar Nozick:
o caso dos diamantes. Eis aqui o ncleo duro de nossa posio, posto que
tentaremos mostrar que Cohen omite desenvolver dois elementos-chave
do marxismo: a luta de classes (porque pe em interdito a existncia das
classes tal como caracterizadas pela tradio marxista clssica) e o feti-
chismo da mercadoria (porque j no acredita nesta doutrina). Depois
daremos uma olhada no excelente trabalho de Pateman e apontaremos al-
gumas de suas limitaes. Em suma, armamos que Nozick pode ser der-
rotado com sucesso caso alm dos argumentos elaborados por Cohen e
Pateman se recorra s categorias clssicas de fetichismo da mercadoria,
perspectiva de classe (em detrimento dos minuciosos contra-exemplos
259
de base individual) e caso se arme a idia rawlsiana da irrelevncia moral
do azar (questo da qual o prprio Cohen plenamente consciente e sobre
a qual no nos alongaremos neste ensaio).
COHEN VERSUS NOZICK
Robert Nozick segue a tradio lockeana para organizar sua dupla teoria
das apropriaes (ou intitulamentos) e das transferncias legtimas. Boron
resume a tese de Locke dizendo que a propriedade privada concebida
como uma extenso da personalidade do proprietrio: este misturava seu
trabalho com os dons naturais da terra e a partir dessa fuso legitimava-se
a propriedade (Boron, 2000: 112). Esta sem dvida a idia bsica.
Cohen acrescenta uma distino com ns argumentativos. Por
um lado, tenta denir o conceito de autopropriedade para em seguida
inferir a tese da autopropriedade (Cohen, 1995: 209). Com respeito ao
conceito, Cohen sustenta que possuir-se a si mesmo consiste em des-
frutar em relao a si mesmo de todos os direitos que um proprietrio
de escravos tem sobre um escravo (Cohen, 1995: 214-68). A tese de-
rivada formulada assim: Cada pessoa moralmente proprietria de
direito de sua prpria pessoa e poderes e, conseqentemente, cada um
(moralmente falando) livre de usar esses poderes como quiser, sem-
pre e quando no os empregue agressivamente contra outros (Cohen,
1995: 67). Embora primeira vista no parea outra coisa seno uma
reescritura do princpio de Mill do prejuzo, a tese de autopropriedade
implica fundamentalmente que ningum obrigado a prestar nenhum
servio no contratual a outro, sob pena de constituir-se em um escra-
vo parcial ou ceder parte de sua autopropriedade (Nozick, 1991: 173-4;
Cohen, 1995: 68; Gargarella, 1999: 50). O que importa o seguinte: se
sou proprietrio absoluto de minha pessoa e ponho em ao minhas
capacidades mediante o trabalho a seco ou o trabalho que acrescenta
valor s coisas (seja valor de uso ou valor de troca, isto no parte da
discusso neste caso) logo, sou o legtimo proprietrio daquilo cujo
valor criei e posso transferi-lo a quem eu queira sempre e quando tal
operao suponha um contrato
1
.
1 Nozick no centra seu argumento a favor das apropriaes somente na tese de que o
trabalho, misturado com a natureza, produz o efeito legitimador da apropriao. A apro-
priao considerada completa e legtima uma vez satisfeito o princpio lockeano na
suave verso de Nozick. Sobre este ponto Cohen aprofunda ao distinguir duas possveis
fontes de apropriao, uma derivada da simples mistura do trabalho com a natureza e a
outra consistente apenas no trabalho que agrega valor.
Fernando Lizrraga
260
Filosofia poltica contempornea
De todo modo, convm no exagerar a fora deste argumento, j
que Nozick no deriva a legitimidade de uma apropriao somente da au-
topropriedade. Essa primeira parte da teoria das apropriaes est sujeita
a uma verso dbil do principio lockeano mediante o qual Nozick justica
como legtimas as apropriaes que no piorem a situao de outros.
Concedamos por ora a validade da teoria das apropriaes e
olhemos a outra parte da teoria nozickiana, isto , a teoria das transa-
es justas.
Um dos mais obstinados argumentos propostos pelo liberalis-
mo conservador nos ltimos anos pretende demonstrar que, inclusive
sob condies de planicao centralizada, a economia dos atos livres
e voluntrios alteraro as pautas distributivas existentes. O propsito
consiste no s em denunciar a ausncia de liberdade em sistemas de
tipo sovitico ou de bem-estar seno, fundamentalmente, em provar a
universalidade da pulso capitalista.
Milton e Rose Friedman, por exemplo, foram pioneiros em assina-
lar a existncia de mecanismos de cooperao voluntria na Unio Sovi-
tica, com o qual pensaram ter provado que no factvel [...] a completa
supresso da atividade empresarial privada porque o custo de sua elimi-
nao seria demasiado alto (Friedman e Friedman, 1980). Neste mesmo
sentido, Nozick categrico: pequenas fbricas brotariam em uma socie-
dade socialista, a menos que sejam proibidas (Nozick, 1991: 165).
A teoria das transferncias de Nozick implica que os atos vo-
luntrios e livres entre adultos que consentem qualquer pauta distri-
butiva prvia, inclusive aqueles estritamente igualitrias. A liberdade,
entendida como ausncia de coero e fraude, desbarata qualquer
ordenamento pautado, j que tais ordenamentos somente podem ser
mantidos, segundo Nozick, s custas da liberdade. A aposta de Nozick
audaz: quer provar que dada uma situao inicial justa, caso se per-
mitam transaes individuais justas, o resultado no estar em contra-
dio com a justia.
O que Nozick entende por transao justa? Concretamente, um ato
voluntrio sem interveno de fora nem de fraude, dada uma apropria-
o inicial igualmente justa. Esta caracterizao de uma transao lim-
pa seria amplamente compartilhada por Friedman, quem arma que a
possibilidade de coordenao atravs de cooperao voluntria descansa
sobre a elementar [...] proposio de que ambas as partes em uma tran-
sao econmica se beneciam, sempre e quando a transao seja bilate-
ralmente voluntria e informada (Friedman, 1962). No menos enftico
sobre o requisito de que as operaes de intercmbio sejam imaculadas
261
um dos pais do que hoje se chama neoliberalismo: Friedrich Hayek.
O economista austraco pe condies ainda mais restritivas que seus
epgonos. Nesse sentido diz que um sistema competitivo ecaz requer
um marco legal inteligentemente desenhado e continuamente ajustado
tanto como qualquer outro. Inclusive o mais essencial pr-requisito de
seu funcionamento, a preveno da fraude e do engano (includa a ex-
plorao da ignorncia) prov um grande objeto de atividade legislativa
(Hayek, 1944). Em suma, uma transao justa quando no h fora,
nem engano, nem explorao da ignorncia.
Supondo, ento, que as partes so legtimas proprietrias dos
bens que pretendem trocar e que no h necessidade de reticar nenhu-
ma injustia prvia, a tese das transaes limpas que Nozick prope
formulada da seguinte maneira: Uma distribuio justa se surge de
outra distribuio justa atravs de meios legtimos, ou como princpio
mais geral, qualquer coisa que surge de uma situao justa, atravs de
passos justos, em si mesma justa (Nozick, 1991: 154-155). No vem
ao caso invocar a multido de contra-exemplos que podem ser formula-
dos contra este princpio geral que parece assumir uma frmula lgica
demasiado elementar ou trivial, isto , que somar justia mais justia
dar como resultado somente e nada mais do que justia (Cohen, 1995:
41-42). No fundo deste argumento reside a idia de que atos justos (li-
vres e voluntrios) preservam sempre a justia da situao inicial.
A resposta de Cohen a Nozick, como dissemos, complexa, e
com o risco de simplicar ao extremo sua posio enumeramos agora
alguns dos argumentos apresentados pelo lsofo canadense
2
.
No certo, diz Cohen, que todas as transaes livres de fora e
de fraude preservaro a justia inicial. A mistura de justia com justi-
a no resulta necessariamente em uma situao justa. No s os atos
deliberadamente fraudulentos podem arruinar a pureza das transaes
de mercado. Tambm a ignorncia e a m sorte so fatores no mnimo
de distoro que desaam a idia de que as trocas justas preservam a
justia original. Ento se pode dizer e este o primeiro argumento de
Cohen que a ignorncia das conseqncias a longo prazo pode viciar a
justia de uma transao. Este o ponto de refutao do famoso caso
Wilt Chamberlain. Os que pagam para ver seu jogador favorito e aceitam
que uma parte v diretamente ao bolso do astro obtm o que querem
2 Para um resumo mais exaustivo sobre os argumentos de Cohen ver as excelentes obras
de Will Kymlicka (1997) e Roberto Gargarella (1999).
Fernando Lizrraga
262
Filosofia poltica contempornea
(ver Chamberlain jogar), mas perdem em termos de poder e riqueza e,
pior ainda, pem em risco o esquema igualitrio (supomos que havia
uma distribuio igualitria inicial). O desejo de manter as coisas como
esto, surgido de um forte ethos social, impediria a consumao da
transferncia caso se conhecesse que uma de suas conseqncias seria
precisamente a alterao de tal igualitarismo inicial (nos estenderemos
sobre este assunto mais adiante). Em suma, o primeiro argumento de
Cohen radica em que as transaes justas podem ter resultados injustos
em termos de desigualdade no advertida pelos participantes.
Nozick se engana ao sustentar que uma cadeia de transaes
justas no produz jamais uma situao injusta na qual um indivduo
deve escolher, por caso, entre aceitar um emprego ou morrer de fome.
Para os libertrios de direita, que algum se encontre nesta posio
apenas um caso de m sorte que no pode ser submetido a valorizao
moral alguma. totalmente justo, ainda que lamentvel, que um indi-
vduo deva escolher entre trabalhar ou morrer de fome. Nozick nega
que o trabalhador seja forado a escolher ou que tenha sido forado
a tal situao, que surge de uma cadeia anterior de transaes livres,
voluntrias, e portanto legtimas. Cohen traduz Nozick deste modo:
Z (o ltimo elo da cadeia) forado a escolher somente se as aes
produzem a restrio de alternativas foram ilegtimas (Cohen, 1995:
36). Cohen replica, ento, que se trata de um abuso da linguagem da
liberdade, j que a rigor o direito de propriedade exclui de fato, em-
bora no de direito, os trabalhadores. E acrescenta que, mesmo contra
sua posio, Nozick deve admitir que o trabalhador despossudo de
recursos externos forado, embora este foramento possa no ser ob-
jeto de crtica moral. Da que Nozick se veja com problemas para sair
da circularidade de sua denio de atos justos como sendo livres de
fora e de fraude. Porque tem de reconhecer que no caso do trabalha-
dor este forado a escolher, com o qual se desmorona sua denio
da transao justa. O problema radica em que embora Nozick invoque
a liberdade como fundamento ltimo de sua teoria, na realidade o n-
cleo da mesma a autopropriedade, que de nenhum modo constitui
uma concepo substantiva da liberdade e muito menos da autonomia.
notrio que Cohen no recorra aqui ao excelente argumento que ele
mesmo utilizara em um artigo prvio, The structure of proletarian
unfreedom, no qual dizia que embora os membros do proletariado
sejam individualmente livres de sair de sua posio de classe, esto
coletivamente forados a vender sua fora de trabalho. O proletariado
coletivamente no livre, uma classe prisioneira (Cohen, 1998b: 433)
263
escrevia Cohen, em um tom e de uma perspectiva que revelava seu ain-
da forte compromisso com o marxismo.
Uma das mais trabalhosas argumentaes de Cohen aparece no
captulo 2 de seu livro. Sua estratgia consiste em solapar a credibilida-
de da teoria das transaes atravs de pequenos contra-exemplos, para
avanar depois com objees substanciais. Deixemos de lado, por ora,
os pequenos casos e digamos que outra vez a ignorncia das conseqn-
cias, em geral, deita sombras sobre a justia das transaes. Acidentes,
falta de conhecimento prvio relevante e processos de injustia prvios
podem razoavelmente ser considerados como produtores de injustia
situacional (Cohen, 1995: 46). Isto particularmente aplicvel justia
nos mercados capitalistas, j que embora os mercados ideais estejam su-
jeitos idia de total transparncia epistmica, os mercados reais esto
conceitualmente ligados idia sobre o futuro (Cohen, 1995: 52).
Outra linha de ataque de Cohen tem como eixo a questo das
intervenes no contratuais (os impostos, por caso), to horrendas
para Nozick porque violam as restries laterais (side constraints).
Cohen replica com um impecvel argumento. As proibies podem,
logicamente, aumentar o rol de opes e portanto aumentar a liber-
dade disponvel. Isto est concatenado com o seguinte argumento. Se,
como sustenta Nozick, os indivduos so inviolveis, e para isso atuam
as restries laterais, ento a propriedade inviolvel. O que Nozick
no acerta em dizer que a propriedade privada absoluta restringe a
liberdade dos no proprietrios ao acesso propriedade. O problema,
continua Cohen, que Nozick utiliza (e manipula) uma denio de
direito da liberdade distinta da liberdade natural, o que implica um
truque que deixa fora os no-proprietrios, cujos direitos parecem no
importar uma vez estabelecidos os direitos de propriedade. Em outras
palavras, para legitimar a propriedade Nozick apela liberdade natu-
ral, mas para defend-la recorre a uma concepo de direito de liber-
dade segundo o esquema hofeldiano (Cohen, 1995).
Aps ter posto em interdito a teoria das transferncias justas,
Cohen chega concluso de que a propriedade e a liberdade so, tal
como as apresenta Nozick, incompatveis. Portanto, infere, o ncleo
da posio nozickiana no a liberdade, seno a reacionria tese de
autopropriedade que Nozick assimila caprichosamente idia de
autonomia kantiana.
A partir da, Cohen desenvolve seus talentos para demonstrar
que tampouco as apropriaes legtimas de Nozick podem ser justica-
das plenamente, e para assinalar os problemas que o liberalismo con-
Fernando Lizrraga
264
Filosofia poltica contempornea
servador coloca ao marxismo clssico. Para no nos alongarmos em
questes que escapam ao interesse do presente texto, diremos somente
que Cohen tenta um duplo ataque contra Nozick. Em primeiro lugar
procura demonstrar, com bastante xito, que o princpio lockeano no
se cumpre segundo o parmetro xado por Nozick de que ningum seja
prejudicado (esteja pior) aps um processo de apropriaes (Cohen,
1995: 74 e ss.)
3
. Em segundo lugar, exibe como inclusive a se conceder
a tese de autopropriedade possvel alcanar resultados igualitrios
caso se suponha que os recursos externos so propriedade comum, isto
, caso se mude a premissa nozickeana de que a natureza no de nin-
gum, substituindo-a por uma premissa baseada na idia de que o uso
dos recursos externos comuns est sujeito ao veto dos demais. De todo
modo, esta combinao, embora seja capaz de produzir igualmente de
condio, o faz s custas no s da autopropriedade seno da autono-
mia bem entendida (Cohen, 1995: 92 e ss.).
EXPLORAO E AUTOPROPRIEDADE
Aps ter debilitado a posio de Nozick, Cohen dedica boa parte
de seu livro para mostrar porque o liberalismo conservador reve-
la-se to ameaador para os marxistas ao mesmo tempo que man-
tm os liberais igualitrios impassveis. A resposta que os ltimos
no armam a idia de autopropriedade, j que consideram como
moralmente irrelevante tudo aquilo que procede da pura sorte. Em
compensao, segundo Cohen, os marxistas, em sua clssica teoria
da explorao, armam (ou pelo menos no negam) a tese da auto-
propriedade. Se a explorao um roubo porque o trabalhador no
recebe pagamento algum pelo sobretrabalho, por que no armar
tambm que os impostos so roubos contra a propriedade de quem a
obtm legitimamente? E se o mal da explorao o fato de tratar-se
de um ato forado, por que no um mal, pela mesma razo, que o
Estado imponha cargas sobre as riquezas ou lucros? Alm disso, se
o capitalista ocioso extrai seu lucro do trabalhador industrioso e isto
no um mal, por que um mal que o Estado extraia foradamente o
dinheiro dos cidados para manter, mediante esquemas de seguran-
a social, os desocupados ou os incapacitados improdutivos?
Cohen tenta resgatar o marxismo deste pntano. Quer, entre
outras coisas, recuperar o valor crtico normativo da teoria da explo-
3 Ver o correto resumo de Gargarella sobre a posio de Nozick e a rplica de Cohen.
265
rao diante do ceticismo que John Roemer introduziu atravs de
seus escritos. Para Cohen, a explorao segundo a verso cannica
consiste no roubo do tempo de trabalho de outra pessoa (Cohen,
1995: 145). A crtica marxista da injustia capitalista, portanto, im-
plica que o trabalhador o proprietrio de seu tempo de trabalho
[...] O reclamo de que o capitalista rouba tempo de trabalho dos tra-
balhadores implica que o trabalhador o prprio dono de sua fora
de trabalho (Cohen, 1995: 146). Isto traz em si pelo menos uma
implcita armao da tese de autopropriedade.
Uma possvel sada deste problema consiste em armar mais de-
cididamente um princpio igualitrio, como fazem Rawls e Dworkin,
com o qual se pode justicar tanto a distribuio welfarista como a dis-
tribuio dos frutos dos talentos. Por isso, Cohen adverte que o desao
de Nozick fez com que os marxistas levassem mais a srio sua adeso
igualdade, fundada em princpios, e no como mera descrio de uma
situao de plena abundncia
4
.
Se a verso clssica da explorao arma a autopropriedade,
cabe perguntar como Cohen concebe a injustia da explorao sem
recorrer ao princpio nozickiano. Aqui, Cohen desenvolve sua notvel
sosticao ao condenar a explorao mediante um argumento pr-
prio do funcionalismo. Combina a desigualdade de recursos externos e
a extrao forada de mais-valia, e assim sustenta que a transferncia
no retribuda e forada de mais-valia do trabalhador ao capitalista
injusta quando reete uma distribuio desigual dos recursos (meios
de produo), sendo esta ltima injusta porque precisamente tende a
produzir a transferncia forada e no retribuda. Diz Cohen: Pode-
mos dizer simultaneamente que a extrao injusta porque procede
de uma desigual (e portanto injusta) distribuio de ativos, e que esta
ltima injusta porque gera uma extrao injusta. O uxo injusto
porque reete uma injusta diviso de recursos que injusta porque
tende a produzir precisamente tal uxo (1995: 199).
O argumento de Cohen sem dvida interessante e resolve um
problema para o marxismo.
Mas talvez no baste dizer que a transao injusta porque
forada, seno tambm porque est viciada pela ignorncia. Vimos que
4 Cohen adverte no captulo 5 que os marxistas no levaram em conta o problema da au-
topropriedade, ou no trataram de recha-lo, por conar no denominado technological
x, isto , em que em um futuro de plena abundncia o princpio da necessidade no ter
valor normativo porque a justia ser uma conseqncia de tal abundncia.
Fernando Lizrraga
266
Filosofia poltica contempornea
as transaes justas de Nozick podem ser impugnadas caso se demons-
tre que a extrema ignorncia sujou tais transferncias. Na teoria da
explorao, intimamente relacionada com a doutrina do fetichismo da
mercadoria, tambm joga um papel crucial o problema da ignorn-
cia. Cohen no desconhece este problema. Em seu clssico texto Karl
Marxs Theory of History: A Defense (Cohen, 1998a), dedica todo um
captulo ao problema do fetichismo e o coloca corretamente na pers-
pectiva da luta de classes
5
. A pergunta que se segue a esta vericao
, desde logo, porque Cohen abandona a possibilidade de explorar a
relao entre explorao e fetichismo.
Pode-se inferir a resposta caso se observe que Cohen j no
acredita na descrio clssica do proletariado. As mudanas que em
meados dos anos 90 Cohen adverte na estrutura das classes sociais o
fazem sustentar que j no h correspondncia entre a descrio do
proletariado que se encontra no marxismo e o que acredita observar
na realidade. Assim, Cohen j no pensa que os trabalhadores sejam
simultaneamente a maioria, os que produzem toda a riqueza social,
os nicos explorados, os mais necessitados, os que no tm nada a
perder, e os que iro cavar a sepultura do capitalismo (Cohen, 1995:
154-155). Sua posio , de certo modo, perturbadora: o proletariado
no ganhou nem ganhar a unidade e o poder antecipados na crena
marxista. O capitalismo no cava sua prpria sepultura ao produzir
o agente da transformao socialista (Cohen, 1995: 8-9)
6
. lgico,
pois, que de semelhante premissa possa prescindir da perspectiva que
5 Em Karl Marxs Theory of History, com efeito, Cohen dedica o captulo 5 ao problema
do fetichismo. Este captulo supe por sua vez a extensa exposio do Apndice I, no
qual Cohen discorre sobre a relao entre essncia e aparncia em Marx. O leitor no
advertido assumir sem problemas que Cohen realiza uma defesa do fetichismo. No
h no texto nenhuma indicao contrria. Contudo, em um pargrafo acrescentado um
ano depois Foreword da primeira edio, Cohen diz: A new impression enables me to
add two remarks [...] I regret my failure to indicate that Chapter V and Appendix I of this
book are, unlike the rest of it, intended as exposition without defense of Marxs views
(1998a). Que Cohen tenha devido esclarecer que no tentava defender a doutrina do feti-
chismo indica que o tom do texto confuso e permite l-lo como uma defesa.
6 O desencanto de Cohen com respeito possibilidade de que o capitalismo gere um su-
jeito social que cavar a sepultura do sistema de algum modo antecipa a crua e tambm
inquietante posio de Perry Anderson, quem recentemente defendeu que nenhuma
agncia capaz de equiparar o poder do capital aparece no horizonte. Estamos em um
momento [...] em que a nica fora revolucionria capaz, atualmente, de perturbar seu
equilbrio parece ser o prprio progresso cientco as foras produtivas, to impopu-
lares entre os marxistas convencidos da primazia das relaes de produo quando o
movimento socialista ainda estava vivo (Anderson, 2000: 17).
267
a luta de classes oferece. Que diferente era o Cohen que ainda no se
considerava semimarxista! No j mencionado artigo The Structure of
proletarian unfreedom ele citava Brecht, falava de como a solidarieda-
de pode derrotar estratgias instrumentalmente racionais e condenava
a subordinao dos proletrios diante da classe capitalista. O mundo
mudou, e Cohen mudou. O mtodo de Cohen tambm mudou. Ao re-
nunciar perspectiva das classes ps-se a tirar concluses gerais de
exemplos criados em mundos de apenas duas pessoas (Cohen, 1995:
79). Antes ao menos recorria sutileza escolstica do sensu diviso e do
senso composito, e reconhecia o problema das falcias de composio.
Cabe ento a possibilidade de explorar um caminho que Cohen
preferiu no transitar e perguntar o que aconteceria se Nozick fosse
interpelado a partir da perspectiva das classes e da doutrina do fetichis-
mo da mercadoria.
EXTREMA IGNORNCIA
Recordemos em primeiro lugar que Nozick assinala que a fora e a
fraude so capazes de viciar uma transao justa. Que h uma situa-
o forada na explorao que est fora de qualquer dvida, inclusive
para Cohen. Para acrescentar, tenhamos presente que Hayek probe a
explorao da ignorncia como condio para considerar como justa
uma transao.
No captulo 2 de Self-ownership... Cohen introduz um exemplo
interessantssimo, o denominado caso dos diamantes:
Podemos fazer sombra sobre [a frmula nozickiana segundo a
qual qualquer coisa que surge de uma situao justa atravs de
passos justos em si mesma justa] inclusive se cedemos diante da
insistncia de que a situao original seja transformada somen-
te por passos justos. Recordemos que estamos adotando a viso
sustentada por Nozick, de que os passos so qualicados como
justos sempre e quando ningum se comporte coercitivamente
ou fraudulentamente no curso dos mesmos. Dada esta viso, po-
demos advertir um tipo de desventura inerente aos passos justos
capaz de subverter da justia: quando os agentes se comportam
com extrema ignorncia. Eu vendo a voc um diamante em troca
de um pagamento nmo (ou o dou por capricho), um diamante
que ambos pensamos que um vidro. Por meio deste passo justo
(de acordo com a hiptese de Nozick) surge uma situao na qual
voc passa a ter um diamante. Mas poucos considerariam que a
Fernando Lizrraga
268
Filosofia poltica contempornea
justia foi bem servida em si, quando seu verdadeiro carter sai
luz, voc ca com ele, embora ningum tenha se comportado
injustamente na transao geradora (Cohen, 1995: 44-45).
Cohen adverte que Nozick pode defender-se deste contra-exemplo exi-
bilizando sua prpria frmula e dizendo que os passos justos preservam
a justia sempre e quando no haja erros grosseiros ou acidentes. Isto
pode ser conseguido ao se introduzir uma clusula como a seguinte: o
que surge de uma situao justa como resultado de transaes plena-
mente voluntrias que todos os agentes teriam aceito se tivessem conhe-
cido os possveis resultados , em si mesma, justa. Este tipo de clusula
refutaria o caso dos diamantes, mas to restritiva que seria impossvel
de operar nos mercados reais, os quais como se disse mais acima, esto
conceitualmente ligados idia de ignorncia sobre o futuro.
Cohen se d por satisfeito com este argumento, e precisamen-
te aqui onde nasce nossa insatisfao com Cohen. Salta aos olhos que
o problema no caso dos diamantes no somente o das conseqn-
cias: o problema est no objeto trocado, em sua opacidade. Para ver
isto preciso olhar a partir do fetichismo da mercadoria. No traba-
lho de Cohen o caso dos diamantes somente um pequeno contra-
exemplo a partir do qual Nozick pode sentir-se em apuros. Contudo,
factvel pensar que este caso, apesar de parecer inslito, moeda cor-
rente no capitalismo. Os cristais/diamantes so mercadorias, e como
tais so uma entidade especca do capitalismo, sistema que se baseia
em uma massiva produo e circulao de supostos cristais que na
realidade so diamantes.
Metforas parte, o sistema se funda no fato de que o traba-
lho oculta aos olhos dos atores do sistema seu carter dual como
valor de uso e valor de troca. Da que o trabalhador vende um cristal
que, to logo posto em ao no processo produtivo, converte-se em
um diamante que gera a seu dono muito mais valor do que aquilo
pago inicialmente.
Isto marxismo bsico. Por isso Marx sustenta que o preo que
se paga pela fora de trabalho o preo de mercado, mas to logo se
observa o processo produtivo se observa que a troca de equivalentes
uma mera aparncia. J no se trata somente de que o trabalhador
forado a entrar na relao contratual pela ausncia de uma alternativa
razovel, seno que tal foramento mascarado pela peculiar caracte-
rstica que a fora de trabalho possui como mercadoria. Parafraseando
Cohen, ningum pensar que a justia foi bem servida uma vez que sai
luz o fato de que o capitalista comprou pelo valor de um cristal o que
269
na realidade um diamante. Quando sai luz o verdadeiro carter do
objeto transacionado, a injustia da transao evidente.
Marx era consciente de que, como resultado de uma compra-ven-
da, o salrio no supunha, primeira vista e segundo as leis burguesas,
uma fraude por parte do capitalismo ao trabalhador. Marx se refere
diferena do valor da fora de trabalho e do trabalho que esta cria
como um pouco de boa sorte para o comprador, mas de nenhum modo
um prejuzo para o vendedor (Geras, 1986: 77). Claro, uma sorte
que a mercadoria em questo tenha a propriedade de produzir muito
mais do que seu prprio valor de mercado. Sendo assim, a aparncia
da transao justa desaparece to logo se adota a perspectiva das clas-
ses em luta e se observam as relaes sociais capitalistas. A fraude de
uma transao de mercado de trabalho no reside no procedimento,
nem na vontade ou liberdade dos atores, seno no prprio sistema.
Marx explica isso sem circunlquios no Capital: Podemos, portanto,
compreender a importncia decisiva da transformao do valor e do
preo da fora de trabalho na forma de salrio, ou no valor e preo do
prprio trabalho. Todas as noes de justia sustentadas tanto pelo tra-
balhador como pelo capitalista, todas as misticaes do modo de pro-
duo capitalista, todas as iluses do capitalismo acerca da liberdade,
todos os ardis apologticos da economia vulgar, tm sua base na forma
de aparncia discutida mais acima, que torna a relao real invisvel,
e com efeito apresenta aos olhos o exato oposto de tal relao (Marx,
1990: 680). Esta aparncia pura induz a pensar que todo o trabalho
(medido em tempo ou em peas) remunerado, e oculta a diviso entre
o trabalho necessrio e o mais-trabalho. A forma salrio produz uma
dupla misticao: por um lado a venda da fora de trabalho aparece
como troca de equivalentes, e por outro aparece como transao vo-
luntria por parte do trabalhador. Tudo isto, dir Marx, est para alm
do marco referencial dos agentes econmicos. O valor de uso submi-
nistrado pelo trabalhador ao capitalista no na realidade sua fora de
trabalho seno sua funo, uma forma especca de trabalho til [...]
Este mesmo trabalho , por um lado, o elemento universal criador de
valor e, portanto, possui uma propriedade em virtude da qual difere
de todas as demais mercadorias, algo que est para alm do marco
de referncia da conscincia cotidiana (Marx, 1990: 681). Inclusive o
capitalista presa desta aparncia ao acreditar que seu lucro deriva de
ter comprado a fora de trabalho a um preo inferior ao do produto
nal. Marx adverte que se existisse na realidade o valor do trabalho, e
o capitalista pagasse todo seu valor, o dinheiro do capitalista nunca se
Fernando Lizrraga
270
Filosofia poltica contempornea
transformaria em capital. Tanto o trabalhador como o capitalista so
refns de um sistema de aparncias.
Desde j, no estamos sugerindo que o problema do capitalis-
mo se resolva mediante um mero ato de conscincia, isto , mediante
a compreenso do problema, como pretendiam os jovens hegelianos.
Nem mediante a educao do capitalista, como desejavam os utpi-
cos. As formas de aparncia so reproduzidas direta e espontane-
amente, como modos usuais e correntes de pensamento; a relao
essencial deve primeiro ser descoberta pela cincia. A economia po-
ltica clssica tropea quase sobre o real estado de coisas, mas sem
formul-lo conscientemente. No pode faz-lo enquanto permanea
dentro de sua pele burguesa (Marx, 1990: 682). O modo de superar
a aparncia consiste em adotar a perspectiva de classe e dissolv-la
praticamente na luta de classes.
O caso dos diamantes, ento, bem poderia constituir uma rarida-
de dentro do universo de transaes justas que prope Nozick, mas no
capitalismo a norma. Inclusive deve-se dizer que diante de situaes
de capitalismo gerado limpamente, como se props freqentemente
a partir do marxismo analtico, a situao no se aplica no nvel indi-
vidual porque a relao de subordinao-explorao no entre dois
particulares, seno entre classes. O trabalhador escravo do capital,
dos capitalistas como classe, e no de um capitalista particular.
Um excelente artigo de Norman Geras vem ao caso para apro-
fundar ali onde Cohen se deteve. Geras arma que bvio que, para
Marx, a funo da cincia consiste em dissolver as aparncias e exibir
a realidade subjacente. Mas no caso da doutrina do fetichismo temos
algo mais que uma simples eleio de um mtodo, temos uma relao
de adequao entre o objeto e o mtodo; o carter deste ltimo deter-
minado pela estrutura do primeiro [a sociedade capitalista] (1986:
65). Geras distingue dois aspectos misticatrios do fetichismo da
mercadoria: h, por um lado, aparncias que no so falsas como tais
seno que de algum modo correspondem realidade objetiva (natu-
ralizaes, percepes subjetivas) e, por outro, aparncias puras sem
correspondncia alguma com a realidade. Exemplo do primeiro caso
o valor, e do segundo caso o salrio (1986: 70). O caso dos diaman-
tes, como dissemos, pode ser apresentado como uma analogia em
relao compra-venda de fora de trabalho. Assim, o capitalista e o
trabalhador trocam um cristal (fora de trabalho) sem advertir que se
trata de um diamante (trabalho). Ao passar da esfera da circulao
esfera da produo, o cristal se transforma em diamante. Na forma
271
salrio, o valor da fora de trabalho transformado de tal modo que
adquire a (falsa) aparncia do valor do trabalho [...] O que quer dizer
que oculta o aspecto essencial das relaes capitalistas, isto , a explo-
rao (Geras, 1986: 77).
Como apontamos mais acima, Marx escreveu que na venda de
fora de trabalho no h prejuzo nem fraude para o trabalhador, seno
que somente uma questo de boa sorte para o capitalista.
Mas Marx sabia que isto era certo se, e somente se, se adotasse
uma perspectiva limitada, a perspectiva da parte da legalidade bur-
guesa que d de cara com a perspectiva da totalidade. A explorao
capitalista no est baseada fundamentalmente em um capitalista in-
dividual que engana seus trabalhadores; de acordo com todas as leis de
produo de mercadorias, o trabalhador recebe o valor total da mer-
cadoria que vende. Por outro lado, estas mesmas leis introduzem um
prejuzo e uma fraude muito maior que o engano individual; o prejuzo
e a fraude inconsciente de uma classe outra (Geras, 1986: 77). Em
conseqncia, a anlise da forma salrio desvenda a realidade subja-
cente, o motor histrico e central para o marxismo: a luta de classes.
Geras esclarece que nem o processo de circulao nem o pro-
cesso produtivo so iluses: no trnsito entre ambas as esferas que
se produz a iluso de que o salrio representa o valor do trabalho,
forma imaginria como um logaritmo amarelo. Vejamos. Ao pas-
sar da circulao para a produo, a anlise passa da considerao
da relao entre indivduos considerao de relaes entre classes,
da qual a primeira uma funo. Somente esta mudana de terreno
pode desmisticar as aparncias (1986: 79). claro, portanto, que a
luta de classes no uma categoria meramente descritiva, seno uma
categoria analtica central para o marxismo e que Cohen no utiliza
em toda sua dimenso.
Insistimos: no uma simples mudana subjetiva o que neces-
srio para superar as aparncias porque a iluso da forma salrio
opaca e tenaz, porque (como o caso do fetichismo) o caso da realidade
que engana o sujeito em vez do sujeito se enganar a si mesmo (Geras,
1986: 79). Trata-se, em suma, de transformar a realidade que gera tal
sistema de aparncias. Para abusar da ortodoxia, estamos diante de
um problema prtico, e no diante de um enigma escolstico. Somente
a partir da perspectiva da prxis, de uma viso da totalidade, se pode
encarar a compreenso e resoluo do problema, e isto se consegue
mediante a anlise das relaes essenciais da sociedade capitalista, isto
, das relaes de classe.
Fernando Lizrraga
272
Filosofia poltica contempornea
Posicionar-se a partir da classe e da luta de classe implica a re-
jeio de continuar pensando exclusivamente em termos de relaes
entre indivduos (Geras, 1986: 82). Por isso, embora seja inegvel o
interesse argumentativo dos casos de capitalismo gerado limpamente e
outros casos hipotticos entre um capitalista incapacitado e um traba-
lhador feliz, no menos certo que estes dispositivos tericos carecem
de fora poltica porque parecem abjurar da perspectiva de classe. Em
suma: Cohen se v forado por seu prprio argumento a abandonar a
perspectiva de classe, posto que entende que o proletariado deixou de
ser um agente social revolucionrio. Por esta mesma razo no pode
adotar a ferramenta do fetichismo para avanar na impugnao do ar-
gumento nozickiano. E assim a anlise de Cohen tende a se despoli-
tizar, situao que com justia (e com seus limites) Carole Pateman
criticar a partir da perspectiva democrtica.
A CRTICA DEMOCRTICA
No Manifesto Comunista, Marx e Engels armam que o primeiro pas-
so da revoluo operria constitudo pela elevao do proletariado a
classe dominante, a conquista da democracia (Marx e Engels, 1998:
66). Baste esta nica referncia para apresentar nossa convico de
que a democracia substantiva somente possvel no socialismo. Cohen
consciente de que a teoria democrtica capaz de impugnar catego-
ricamente o capitalismo e, desde logo, o liberalismo conservador de
Nozick. Diz isso explicitamente ao elogiar os trabalhos de Robert Dahl
e Michael Walzer
7
. Mas como est concentrado no problema da explo-
rao, no explicita o compromisso democrtico subjacente em vrios
de seus argumentos.
Voltemos ento ao caso de Wilt Chamberlain para mostrar que
Cohen pode tambm ter sido mais poltico em sua condenao s
transaes limpas nozickianas.
Dissemos que se os espectadores que pagam um dinheiro extra
para ver Wilt Chamberlain jogar soubessem que a somatria destas
7 Por algum motivo, Pateman no concede a Cohen o ter contemplado a fora dos ar-
gumentos democrticos. certo que Cohen centra boa parte de seu ataque na teoria da
explorao, mas sua breve referncia s obras de Dahl e Walzer faz com que a crtica
de Pateman seja pelo menos exagerada neste ponto. O mesmo ocorre com a deliberada
tentativa de Cohen de refutar a autopropriedade sem recorrer irrelevncia moral do
azar, caminho este que no explora por consider-lo sucientemente transitado por John
Rawls e Ronald Dworkin, entre outros.
273
transaes individuais produzir um profundo desequilbrio em ter-
mos de riqueza e poder, provavelmente se negariam a pagar. Assim,
Cohen sustenta que uma das razes para limitar quanto um indiv-
duo pode ter, independentemente de como chegou a t-lo, prevenir
que possa adquirir, atravs de suas possesses, uma inaceitvel quan-
tidade de poder sobre os demais (Cohen, 1995: 25). Elmar Altvater
ps a questo em seu justo termo ao armar que o poder no uma
categoria externa lgica do mercado, seno que se arma dentro
da operao de tal lgica do mercado. Os mercados so, necessaria-
mente, fontes de desigualdade (Altvater, 1993). No mesmo sentido se
expressa Samir Amin ao dizer que os sistemas sociais anteriores ao
capitalismo [...] estavam fundados em lgicas de submisso da vida
econmica aos imperativos da reproduo da ordem poltico-ideo-
lgico, em oposio lgica do capitalismo que inverteu os termos
(nos sistemas antigos o poder a fonte de riqueza, no capitalismo a
riqueza funda o poder) (Amin, 2000: 16).
possvel supor que se o ponto de partida uma sociedade
igualitria sustentada em um ethos de mesmo signo, os indivduos
da sociedade na que vive e joga Wilt Chamberlain pensariam muito
bem antes de dot-lo de um poder desigual teria sobre eles. Pode-se
alegar, tambm, que o efeito que semelhante desigualdade teria sobre
os no nascidos constitui um peso de injustia contra o resultado
obtido limpamente. Se os que desejam ver Chamberlain valorizam
mais sua prpria liberdade do que o prazer imediato de ver o joga-
dor em ao, certamente resistiro a promover um distanciamento da
igualdade inicial e a subseqente ameaa a suas prprias liberdades.
Embora Cohen no o diga, possvel inferir que a sociedade iguali-
tria que se nega a ceder uma posio de privilgio a seu desportis-
ta favorito ao mesmo tempo uma sociedade democrtica. Como se
poderia constituir esse ethos igualitrio seno na democracia? Como
seria possvel a igualdade voluntria que Cohen prope seno em
um marco democrtico?
A perspectiva democrtica, em suma, permite aprofundar a dis-
cusso poltica contra o capitalismo e situ-la no locus indispensvel de
toda crtica marxista, a luta de classes como luta pela democracia. Em
um recente artigo Carole Pateman lamenta a despolitizao de Cohen,
a empreende enfaticamente contra o imperialismo da losoa moral
e contra o rawlsianismo metodolgico, e prope adotar uma perspecti-
va histrica sobre o problema da autopropriedade e rechaar esta tese
por suas implicaes antidemocrticas.
Fernando Lizrraga
274
Filosofia poltica contempornea
Nos trechos iniciais de seu ensaio, Pateman sustenta que, com
ns analticos, preciso abandonar a linguagem de autopropriedade e
substitu-la pela de propriedade da pessoa. Alm disso, coincide com
Cohen em que tambm necessrio rechaar a idia de que autopro-
priedade e autonomia so sinnimos. Para alguns isto pode parecer
banal ou um simples problema de termos, mas para Pateman no o
mesmo falar de autopropriedade do que de propriedade na pessoa,
embora muito freqentemente se usem de forma indistinta. O concei-
to de self, embora central para o argumento moral, no tem a mesma
signicao legal e poltica que pessoa (Pateman, 2002: 23). Sua pre-
ferncia pela propriedade na pessoa tambm tem algo de purismo, j
que remete diretamente ao conceito tal como o cunhara Locke.
Contudo, Pateman busca enfatizar que, segundo o conceito de
propriedade da pessoa, existe uma parte de cada indivduo que atua
como proprietria do resto das partes e pode dispor destas como se
dispusesse de bens materiais. Este proprietrio interior (que goza do
mesmo status que as demais partes da pessoa) tem um ilimitado direi-
to a dispor sobre si mesmo e sobre as partes de sua pessoa concebidas
como propriedade, que, como toda propriedade, inalienvel (Pate-
man, 2002: 26). Feitas estas precises conceituais, nossa autora adian-
ta sua concluso ao dizer que denitivamente a idia de propriedade
na pessoa deve ser abandonada se uma ordem mais livre e democrtica
deve ser criada (2002: 20).
Para Pateman, os esforos de Cohen foram insucientes por te-
rem se concentrado excessivamente na explorao deixando de lado o
problema da subordinao implcito em toda relao de trabalho ca-
pitalista. Assim, a explorao dos trabalhadores analisada mas no
a alienao da autonomia ou o direito ao auto-governo a subordina-
o implicada no contrato de emprego. Tal subordinao, sustenta,
supe a aceitao da idia de propriedade na pessoa uma co po-
ltica, mas uma co com uma poderosa fora poltica (Pateman,
2002: 21). Convm dizer aqui que a co no supe irrealidade, seno
uma representao da realidade. Os glosadores medievais j o sabiam:
ctio gura veritatis, diziam.
Pateman concede que antropologicamente impossvel separar,
como diz Cohen, o que possui do que possudo; por isso, a proprieda-
de nas pessoas uma co poltica. Contudo, na prtica se mantm a
co operativa e se atua, via contrato, como se a propriedade na pes-
soa fosse alienvel. E eis aqui o ponto crucial: O aspecto signicativo
dos contratos que constituem tais relaes (matrimonial, de emprego,
275
etc.) no a troca, seno a alienao de uma particular pea de pro-
priedade na pessoa, isto , o direito ao autogoverno. Quando os direi-
tos so vistos em termos de propriedade podem ser alienados, mas
em uma democracia, o direito ao autogoverno somente parcialmente
alienvel (Pateman, 2002: 27).
Esta concepo proprietria dos direitos est sujeita a trs in-
terpretaes. Caso se considere que estes direitos so totalmente alie-
nveis, chega-se ao absolutismo ou dominium e possvel justicar a
escravido, como no caso de Nozick. Se em compensao se considera
que so parcialmente alienveis, estamos em presena do constitucio-
nalismo, que permite a alienao de propriedade somente parcial. As-
sim, no se pode alienar toda a pessoa, mas sim sua fora de trabalho.
Este caminho leva democracia no corpo poltico mas no na eco-
nomia, conclui Pateman (2002: 31). Cabe a possibilidade lgica de
considerar que os direitos de propriedade na pessoa so inalienveis
e em conseqncia impugnar a instituio do emprego, uma das pe-
as-chave do capitalismo. Mas como toda propriedade por denio
alienvel, preciso dizer que os direitos de autogoverno no podem
ser concebidos em termos de propriedade da pessoa seno em termos
de autonomia. Por isso, autopropriedade (ou propriedade na pessoa) e
autonomia so termos incompatveis.
A instituio do emprego, como se viu, reside em uma co po-
ltica; a co de que as capacidades podem ser tratadas como sepa-
rveis das pessoas e de que os indivduos so proprietrios de pro-
priedade em pessoas (Pateman, 2002: 33 e 36). Contudo, nos fatos os
empregadores contratam pessoas e no pedaos de propriedade; go-
vernam pessoas inteiras e no somente fatores de produo. Portanto,
a relao de emprego introduz um vnculo de subordinao e restrio
da liberdade que a autora denomina subordinao civil. Tal subor-
dinao por sua vez se justica mediante o mito fundamental de que
a propriedade de capital d ao proprietrio o direito de governo sobre
outros (2002: 36). Inclusive em casos de capitalismo limpamente gera-
do, a conseqncia da entrada voluntria em um contrato de emprego
a subordinao civil, a diminuio, a um grau maior ou menor, de-
pendendo das circunstncias do contrato particular, da autonomia e o
autogoverno (Pateman, 2002: 38).
bvio, a partir da perspectiva democrtica, que tal subordina-
o se revele problemtica.
Como possvel justicar a existncia do domnio do capitalismo
e ao mesmo tempo armar as virtudes da democracia na esfera pbli-
Fernando Lizrraga
276
Filosofia poltica contempornea
ca? A resposta est precisamente na manuteno da co poltica de
que a fora de trabalho alienvel, to alienvel como o direito ao au-
togoverno. A justicao do emprego como o paradigma do trabalho
livre descansa na co poltica de que um pedao de propriedade da
pessoa, a fora de trabalho, alienvel. De fato, a fora de trabalho no
separvel de seu dono e, portanto, no alienvel. J que a fora de
trabalho no pode ser alienada, qualquer debate sobre se deveria ou
no deveria ser alienvel [...] um debate sobre faamos como se. Tal
debate distrai a ateno da subordinao que o emprego constitui, e do
que com efeito alienado atravs do contrato de emprego, o direito ao
autogoverno (Pateman, 2002: 50).
A idia de subordinao que a instituio do trabalho assalaria-
do comporta no , de modo algum, um achado de Pateman. Engels,
em sua Introduo a Wage Labour and the Capital, j sustentou a
inseparabilidade das pessoas e sua fora de trabalho. Diz Engels: [o
trabalhador] aluga ou vende sua fora de trabalho. Mas sua fora de
trabalho est unida (intergrown) com sua pessoa e inseparvel dela
(1991: 67). Tambm Lukcs diz que a fora de trabalho inseparvel
da existncia fsica do trabalhador (Lukcs, 1990: 166).
Mais ainda, Marx entende que a venda de fora de trabalho
uma rendio da atividade vital. [O trabalhador] trabalha para vi-
ver. Nem sequer reconhece o trabalho como parte de sua vida, em
troca um sacrifcio de sua vida (Engels, 1991: 73). Este sacrifcio,
este perder para si o nobre poder reprodutivo, implica uma brutal
subordinao, mas no somente uma subordinao individual, seno
uma subordinao coletiva, de classe. O trabalhador cuja nica fonte
de sobrevivncia a venda de seu trabalho no pode abandonar toda
a classe de compradores, isto , a classe capitalista, sem renunciar
sua existncia. Ele no pertence a este ou quele burgus, seno
burguesia, classe burguesa, e seu negcio abandonar-se, isto ,
encontrar um comprador na classe burguesa (Engels, 1991: 73). Em
suma, trata-se de uma dominao do trabalho passado, acumulado
e materializado sobre o trabalho vivente o que transforma o trabalho
acumulado no capital (Engels, 1991: 79).
O capitalismo traz inscrita uma relao de dominao de uma
classe sobre a outra. Outra vez estamos na presena da categoria fun-
dante do marxismo, a luta de classes. Disto Pateman no diz uma s
palavra. Sua anlise, valiosa como , contm a limitao de pensar que
basta com uma correta conceitualizao, com o abandono de certas
categorias analticas, para produzir as mudanas desejadas, do mesmo
277
modo que Cohen sugere rechaar a tese de autopropriedade mas no
nos diz o que conseguiremos com tal rechao para alm de uma grati-
cante vitria sobre as hordas nozickianas. Logo, assim como Cohen
desaproveita a doutrina do fetichismo porque mudou sua viso com
respeito natureza do proletariado, tambm Pateman ca na metade
do caminho por no observar que a democracia e a luta de classes so
categorias inseparveis. Se somente se trata de uma mudana de lin-
guagem, colapsamos outra vez na iluso dos jovens hegelianos, aqueles
a quem Marx acusara de querer mudar o mundo unicamente comba-
tendo as frases deste mundo.
BIBLIOGRAFIA
Altvater, Elmar 1993 The Future of the Market. An Essay on the Regulation of
Money and Nature after the Collapse of Actually Existing Socialism
(London/New York: Verso).
Amin, Sarmir 2000 Capitalismo, imperialismo, mundializacin em Seoane,
Jos e Emilio Taddei (comps.) Resistencias mundiales. De Seattle a
Porto Alegre (Buenos Aires: CLACSO).
Anderson, Perry 2000 Renewals in New Left Review (Londres) Second
Series, N 1, January-February.
Boron, Atilio A. 2000 Tras el Bho de Minerva. Mercado contra democracia
en el capitalismo de n de siglo (Buenos Aires: Fondo de Cultura
Econmica).
Cohen, Gerald A. 1995 Self-ownership, Freedom and Equality (Cambridge:
Cambridge University Press).
Cohen, Gerald A. 1998a (1978) Karl Marxs Theory of History: a Defense
(Oxford: Clarendon Press).
Cohen, Gerald A. 1998b (1983) The structure of proletarian unfreedom
in Goodin, Robert and Pettit, Philip (eds.) Contemporary Political
Philosophy. An Anthology (Oxford: Blackwell).
Engels, Friederich 1991 Introduction in Marx, Karl and Engels, Friedrich
Selected Works (London: Lawrence & Wishart).
Friedman, Milton 1962 Capitalism and Freedom (Chicago: University of
Chicago Press).
Friedman, Milton y Friedman, Rose 1980 La libertad de elegir (Barcelona:
Grijalbo).
Gargarella, Roberto 1999 Las teoras de la justicia despus de Rawls
(Barcelona/Buenos Aires/Mxico: Paids).
Geras, Norman 1986 Literature of Revolution. Essays on Marxism (London:
Verso).
Fernando Lizrraga
278
Filosofia poltica contempornea
Hayek, Friedrich A. 1944 The road to serfdom (Chicago: The University of
Chicago Press).
Kymlicka, Will 1997 Contemporary Political Philosophy. An Introduction
(Oxford: Clarendon Press).
Lukcs, Georg 1990 History and Class Consciousness (London: Merlin Press).
Marx, Karl 1990 Capital (London: Penguin Books)Vol. 1.
Marx, Karl 1991 Wage Labour and Capital in Marx, Karl and Engels,
Friedrich Selected Works (London: Lawrence & Wishart).
Marx, Karl e Engels, Friedrich 1998 Maniesto Comunista (Barcelona: Crtica/
Grijalbo).
Nozick, Robert 1991 (1974) Anarqua, Estado y utopa (Buenos Aires/Mxico/
Madrid: Fondo de Cultura Econmica).
Pateman, Carole 2002 Self-ownership and Property in the Person:
Democratization and a Tale of Two Concepts in The Journal of Political
Philosophy (Oxford) Vol. 10, N 1, March.
279
Roberto Gargarella*
As prcondies econmicas do
autogoverno poltico
INTRODUO
Na atualidade, tendemos a descuidar as vinculaes que existem entre as
reexes poltico-constitucionais e as referentes organizao econmica
da sociedade. Desenvolvemos tais reexes como se estivessem dirigidas a
duas esferas completamente independentes entre si. Assumimos, de fato,
que possvel pensar acerca do modo em que organizamos nossa vida
constitucional sem nos preocuparmos principalmente pelo contexto so-
cioeconmico em que vo funcionar as instituies que propiciamos. Do
mesmo modo, nos aproximamos dos assuntos da vida econmica sem
maior preocupao pelo impacto que os desenvolvimentos da mesma tm
ou poderiam ter sobre a comunidade. Em todo caso, quando vemos que
tais desenvolvimentos revelam-se demasiado nocivos para nossa vida so-
cial, nos preocupamos em idear remdios destinados a repar-los, como
se no tivssemos estado de sobreaviso do que nos pudesse ocorrer.
Explorarei aqui trs argumentos destinados a articular particu-
larmente nossas intuies polticas igualitrias com nossas intuies
* Advogado e socilogo da Universidade de Buenos Aires (UBA). Doutor em Direito
(UBA, 1991). Jurisprudente Doutor (Universidade de Chicago, 1993). Ps-doutorado no
Bailliol College (Oxford, 1994). Guggenheim Fellow (2000).
280
Filosofia poltica contempornea
igualitrias em matria econmica. Os trs argumentos aparecero en-
raizados na tradio do pensamento republicano, e especicamente na
preocupao republicana em tornar possvel o autogoverno coletivo.
Antes de examin-los, dedicarei algumas linhas para chamar a ateno
sobre o modo em que tempos atrs o igualitarismo poltico e o econ-
mico apareciam inter-relacionados.
O DESACOPLAMENTO ENTRE O DESENHO INSTITUCIONAL E O DESE-
NHO DA ECONOMIA
No meu entender, contemporaneamente tendemos a nos despreocupar
dos pr-requisitos econmicos dos sistemas institucionais que defende-
mos. Esta falta de reexo poltico-acadmica parece notvel em parti-
cular quando comprovamos de que modo, h sculos, ambas questes
eram examinadas como questes basicamente inseparveis em especial
nos estudos que em linhas gerais, e a partir de nossa linguagem comum,
poderamos inscrever dentro do campo do pensamento igualitrio. Um
excelente e pioneiro exemplo desta viso aparece no famoso trabalho Oce-
ana, de James Harrington, que em 1656 buscou explicar de que modo se
podia organizar a sociedade de tal forma a coloc-la a servio dos ideais
do autogoverno. Harrington propiciou a adoo de normas estritas desti-
nadas a limitar a aquisio de terras para, dessa forma, evitar as severas
desigualdades ocasionadas pela excessiva possesso de riquezas. Seu ideal
de repblica se vinculava, ento, a uma sociedade igualitria composta de
cidados dedicados aos trabalhos agrcolas. A vida econmica da socieda-
de, regulada em Oceana a partir de uma peculiar lei agrria, se articulava
perfeitamente com uma diversidade de normas adicionais destinadas a
organizar a vida poltica da mesma, que incluam desde referncias s
formas mistas de governo at medidas para tornar obrigatria a rotao
dos funcionrios em seus cargos (Harrington, 1992).
Uma concepo similar pode ser encontrada nos escritos do ingls
Thomas Paine, que tambm se preocupou em vincular o desenho de ins-
tituies polticas bem denidas com um modelo acabado de organiza-
o econmica. Sua viso do desenho institucional alcanou sua mxi-
ma expresso na Constituio da Pensilvnia de 1776, para cuja redao
contribuiu, e que inclua, entre outras medidas, uma poderosa legislatura
unicameral (que era a contrapartida de um Poder Executivo debilitado),
mandatos curtos, rotatividade nos cargos, direito de revogao de manda-
tos, publicidade das sesses parlamentares, instncias de discusso popu-
lar dos projetos de lei. Enquanto isso, sua viso da organizao econmica
da sociedade apareceu expressa fundamentalmente em seu escrito Agra-
281
rian Justice. Nesse trabalho, Paine fez referncias propriedade comum
da terra no cultivada e necessidade de criar um fundo nacional capaz
de assegurar a subsistncia de cada indivduo maior de vinte e um anos,
em compensao ao que cada um havia perdido a partir da introduo de
um sistema de propriedade privada (Paine, 1995).
De modo semelhante, os discursos do igualitarismo poltico e do
igualitarismo econmico apareceram entrelaados nas origens do constitu-
cionalismo norte-americano, a partir do trabalho de uma multiplicidade de
guras provenientes de extraes sociais e orientaes polticas bem diver-
sas. A maioria dos ativistas aos quais me referire, agrupados em geral dentro
do campo do antifederalismo, consideravam que seu pas enfrentava uma
divisria de caminhos dramtica: ou se optava por uma economia baseada
no comrcio, ou se escolhia radicalizar a organizao agrria que ento
ainda diferenciava os Estados Unidos. Confrontados com aquela encruzi-
lhada econmica, os antifederalistas propuseram o modelo de organizao
que fosse mais favorvel promoo de uma cidadania comprometida e
assim, nalmente, o autogoverno coletivo. Denitivamente, decidiram su-
bordinar o desenho das instituies econmicas ao projeto de organizao
constitucional mais geral com o qual estavam comprometidos.
Os escritos de Thomas Jefferson, por exemplo, (mesmo que Jeffer-
son rejeitasse a inscrio de seu nome dentro do campo antifederalista),
ilustram muito adequadamente esta forma de pensar. Jefferson realizou
antes de tudo uma signicativa contribuio reexo institucional, que
se fez visvel nos trabalhos que preparara para seu estado natal, Virgnia.
Estes apontamentos mantinham uma perfeita harmonia com seus escritos
agrrios e sua crtica ao incipiente desenvolvimento industrial-comercial
norte-americano. De acordo com o poltico virginiano, se a comunidade
se organizasse em torno do comrcio, produzir-se-ia, no curto prazo, uma
paulatina deteriorao da vida social da comunidade: previsivelmente, os
cidados se preocupariam casa vez menos dos assuntos comuns, e cada
vez mais dos prprios. De modo similar, o antifederalista Charles Lee pro-
punha alcanar uma Esparta igualitria, uma sociedade simples, agrria
e livre dos efeitos perniciosos do comrcio (Jefferson, 1984). Lee, como ou-
tros antifederalistas, assumia que a igualdade na distribuio da proprie-
dade era necessria para preservar a liberdade civil (Wood, 1969: 70).
Tambm na Amrica Latina podem ser encontradas concepes si-
milares durante os anos de fundao do constitucionalismo. O lder polti-
co uruguaio Jos Gervasio Artigas acompanhou sua prdica democrtica
com a redao de um signicativo Regulamento provisrio da Provncia
Oriental para o fomento da campanha, em setembro de 1815, em que
Roberto Gargarella
282
Filosofia poltica contempornea
ordenava uma repartio da terra com critrios muito igualitrios: os
negros livres, os cafuzos de mesma classe, os ndios e os crioulos pobres,
todos podero ser agraciados com terras, se com seu trabalho e hombrida-
de de bem propendem a sua felicidade e da Provncia (Street, 1959).
Do mesmo modo, em meados do sculo XIX, muitos dos mais im-
portantes polticos mexicanos retomaram uma tradio igualitria j bem
arraigada em seu pas e propuseram estreitar os vnculos entre o constitu-
cionalismo e a reforma econmica. Notavelmente, o presidente da Conven-
o Constituinte de 1857, Ponciano Arriaga, sustentou que a Constituio
devia ser a lei da terra. Referindo-se monstruosa diviso da proprie-
dade territorial, defendeu a reforma da mesma como elemento necess-
rio para a igualdade democrtica e a soberania popular (Zarco, 1957:
388-389). Parecia-lhe bvio que o povo mexicano no podia ser livre nem
republicano, e muito menos venturoso por mais que cem constituies e
milhares de leis proclamem direitos abstratos, teorias belssimas mas im-
praticveis, em conseqncia do absurdo sistema econmico da sociedade
(Zarco, 1957: 387). De modo ainda mais enftico, o convencional Ignacio
Ramrez defendeu a participao dos trabalhadores nos ganhos das em-
presas, tanto como o estabelecimento de um salrio de subsistncia para
todos, como forma de assegurar os fundamentos da nova repblica. Para
ele, como para outros convencionais, preocupava que a nova Constituio
no dissesse nada [sobre os] direitos das crianas, dos rfos, dos lhos
naturais que no cumprindo com os deveres da natureza, so abandona-
dos pelos autores de seus dias para cobrir ou dissimular uma debilidade.
Alguns cdigos antigos duraram sculos, porque protegiam a mulher, a
criana, o idoso, todo ser dbil e necessitado, e necessrio que hoje as
constituies tenham o mesmo objetivo, para que a arte de ser deputado
deixe de ser simplesmente a arte de conservar uma pasta (Sayeg Hel,
1972: 92). Orientado por semelhantes preocupaes, o convencional Ol-
vera apresentou, ento, um Projeto de Lei Orgnica sobre a Propriedade,
enquanto que seu par Castillo Velasco adiantou seu Voto Particular desti-
nado tambm a propor uma redistribuio da propriedade.
Todas estas iniciativas orientavam-se em direes similares. Ori-
ginadas no trabalho de personalidades muito relevantes em seu tempo,
punham seu acento em questes que hoje lentamente fomos deixando
de lado. Fundamentalmente, vinham nos chamar a ateno sobre a im-
portncia de raciocinar mais articuladamente, de reconhecer a relao
entre a organizao poltica e a econmica. De modo mais especco,
tais elaboraes articulavam um incipiente igualitarismo poltico com
uma clara preocupao pelo igualitarismo econmico.
283
No que se segue, explorarei trs argumentos orientados para a
defesa do valor de concepes como aquelas tratadas nas linhas prece-
dentes. Tais argumentos, no meu entender, encontram-se arraigados
na tradio republicana e partem de uma preocupao comum em ar-
mar o ideal (republicano) do autogoverno.
ECONOMIA, QUALIDADES DE CARTER E ETHOS SOCIAL
Em primeiro lugar, examinarei um argumento referente ao impacto
dos arranjos econmicos de uma comunidade na conformao do ca-
rter de seus membros. Ao faz-lo, tomarei como suposto uma intuio
simples, que nos diz que o autogoverno requer cidados animados por
certas disposies de carter, tais como o nimo de participar nos as-
suntos comuns ou de comprometer-se com a vida pblica.
Como ponto de partida, poderamos comear por reconhecer que
as instituies mais vinculadas com nossa vida diria tm uma enorme in-
uncia sobre o modo em que nos conduzimos habitualmente. Sabemos
que a famlia, por exemplo, uma escola de carter, como o so as insti-
tuies educativas. Em ambos os espaos, de modo aberto, transmitem-se
valores e ensinamentos acerca de como viver. Uma vez que admitimos
isso, podemos comear a prestar ateno ao modo em que se difundem
valores e se incentivam certos modelos de conduta a partir das pautas
econmicas dominantes em nossa comunidade. Isto tende a ocorrer, em
particular, quando nossa vida depende to estreitamente de nossos xitos
ou fracassos no mercado econmico como de fato sucede na maioria das
sociedades modernas. Com efeito, na atualidade, nosso acesso tanto aos
bens mais bsicos (sade, educao, moradia, abrigo, alimentao) como
a outros bens menos centrais (automveis, meios para o conforto doms-
tico) se vincula decisivamente quantidade de dinheiro de que dispomos
aparecendo este como um bem que tiraniza em relao aos demais
(Walzer, 1983). Da que nossas vidas se organizem, muito centralmente,
em torno da possibilidade de obter mais dinheiro: esta a chave que nos
permite aceder aos bens que mais nos importam.
Parece possvel pensar, ento, que os comportamentos das pesso-
as vo variar signicativamente conforme vivam em uma sociedade que
vincula sua sorte com os resultados que obtenham no mercado econ-
mico, ou em outra na qual sua sorte seja independente de tais resultados.
Para o pensamento republicano, esses tipos de reexes mostravam-se
centrais. De fato, muitos republicanos assumiam que uma comunidade
livre s era possvel caso se baseasse em sujeitos que simultaneamente
eram livres de toda opresso econmica e se encontravam animados a
Roberto Gargarella
284
Filosofia poltica contempornea
defender certos interesses compartilhados. Por isso mesmo se opunham
dependncia dos trabalhadores sob o capitalismo industrial, em ra-
zo de que o mesmo privava aqueles da independncia mental e de juzo
necessrias para uma participao signicativa no autogoverno (San-
del, 1998: 326). Nesse sentido, Thomas Jefferson considerava que o go-
verno republicano encontrava seus fundamentos no na constituio,
sem dvida, seno meramente no esprito de nossa gente (Jefferson,
1999: 212). Com Jefferson, muitos republicanos se questionavam tam-
bm que tipo de qualidade de carter seriam promovidas a partir das
pautas que regulavam, em seu tempo, a vida econmica da comunida-
de. O antifederalista George Mason, por exemplo, perguntava-se: se-
ro os modos prprios das cidades comerciais populosas favorveis aos
princpios do governo livre? Ou sero o vcio, a depravao da moral, o
luxo, a venialidade e a corrupo, que invariavelmente predominam nas
grandes cidades comerciais, totalmente subversivos para o mesmo? A
virtude, conclua Mason, era essencial para a vida da repblica e no
pode existir sem frugalidade, probidade e rigidez na moral (Sandel,
1996: 126). Para este ltimo, [s]omente um povo virtuoso capaz de
alcanar a liberdade. E quando uma nao se converte em corrupta e
viciosa, ento logo ela tem mais necessidade de contar com algum que
a domine (Sandel, 1996: 126).
Em resumo, estes primeiros republicanos norte-americanos assu-
miram que a incipiente organizao comercial do pas encorajaria meros
comportamentos egostas nas pessoas. Em tais contextos, armavam, os
sujeitos comeariam a ver seus pares como potenciais competidores ou ini-
migos, ou como possveis clientes a seduzir; as relaes pessoais passariam
a ser dominadas pelo interesse, e as preocupaes comuns seriam substitu-
das pela necessidade de assegurar um lugar ou um melhor lugar no mundo
econmico. Nos piores casos, alguns indivduos os menos bem-sucedidos
nessa luta cariam marginalizados da vida poltica, forados que seriam
a se concentrar na prpria subsistncia. Os mais bem sucedidos, enquanto
isso, comeariam a se preocupar pelo luxo e pela acumulao de bens,
desinteressando-se pela sorte dos demais. Em concluso, os republicanos
viam que o princpio do autogoverno seria afetado na medida em que se
expandissem, tal como estava ocorrendo naquele momento, formas de agir
capazes de solapar, no lugar de fortalecer, as condutas mais solidrias.
Por certo, diante de tais testemunhos algum poderia dizer que a
experincia do capitalismo industrial no veio negar a possibilidade da
cooperao. Em um sentido, tal experincia demonstrou que as formas
de organizao econmica combatidas pelos velhos republicanos eram
285
compatveis com a existncia de empreendimentos coletivos. Mais ain-
da, se poderia dizer que nas sociedades capitalistas modernas pde-se
observar o orescimento de uma multiplicidade de associaes onde o
povo se reuniu e pde elaborar projetos em comum.
Todas estas observaes so dignas de considerao, contudo igno-
ram o ponto que parece mais relevante nas crticas republicanas. Eles no
negavam nem tinham por que negar a possibilidade de que o capitalismo
industrial deixasse espao para a cooperao. O que lhes interessava as-
sinalar, em primeiro lugar, era que qualquer forma de organizao eco-
nmica promovia certos caracteres e condutas, ao passo que desalentava
outras. Ou seja, mostravam-nos que nenhum modelo econmico revela-se
neutro em matria de condutas pessoais. Por isso mesmo, os republicanos
convidavam-nos a prestar ateno ao peculiar ethos social promovido pelo
modelo de organizao econmica predominante em nossa sociedade.
A segunda reexo que aqueles republicanos nos legaram tem a
ver com o especco ethos social promovido pelo capitalismo industrial.
Basicamente, eles nos anunciavam que tal tipo de arranjos econmicos
cultivaria os traos socialmente menos atraentes de nossa personalida-
de. Assim, fundamentalmente, a partir do modo em que tais arranjos
tendiam a se aproveitar de, e a promover, duas especiais motivaes
humanas como o so a cobia e o medo a cobia de obter cada vez
mais dinheiro e assim poder aceder a mais e melhores bens, e o medo
de cair no abismo da desocupao ou da falta de um trabalho bem re-
munerado, que ameaa nos privar de uma existncia social digna
1
.
Certamente este tipo de comprovaes acerca de quais so as mo-
tivaes que o capitalismo encoraja no dependem nem necessitam
depender do olhar crtico dos republicanos. Derivam, antes, de uma
1 Como o lsofo G. A. Cohen assinalara contemporaneamente, do ponto de vista da
cobia as outras pessoas so vistas como possveis fontes de enriquecimento (sirvo-
me delas), e do medo, so vistas como ameaas (Cohen, 2002). Convm deixar claro
tambm que as armaes de Cohen no so uma exceo dentro da losoa poltica
de nosso tempo. O trabalho de Michael Sandel em Democracys Discontent, por exem-
plo, representa uma excelente tentativa de retomar a tradio republicana e mostrar sua
relevncia para pensar as formas de alienao e explorao presentes em sociedades
como as nossas (1996). Mesmo autores inscritos em vertentes mais claramente liberais,
como John Rawls, mostram sua sensibilidade diante daquelas preocupaes. Com efeito,
no inuente trabalho de Rawls parece muito importante mostrar de que modo certas
desigualdades econmicas podem ter impacto sobre o carter das pessoas e, assim, -
nalmente, sobre o carter da prpria sociedade. Segundo Rawls, em uma sociedade em
que poucos tm muito e muitos quase nada, de se esperar que os mais desvantajados
sofram uma sensvel perda de autoestima um dado grave se se assume, como o lsofo
norte-americano, que o auto-respeito o bem primrio mais importante (1971: 468).
Roberto Gargarella
286
Filosofia poltica contempornea
simples anlise do sistema de incentivos que o prprio capitalismo in-
dustrial se orgulha de explorar. Talvez pudssemos concluir que tal siste-
ma de incentivos seja o mais atraente no que toca riqueza de recursos
que capaz de gerar. Contudo, neste ponto o que nos interessa e o que
interessava ao pensamento republicano outra questo, vinculada s
qualidades de carter que esse esquema de incentivos promove. Tal es-
quema cria desigualdades e delas se alimenta e depende. O que os repu-
blicanos nos perguntavam, ento, era se estvamos dispostos a endossar
o sistema de valores que essa forma de organizao propiciava.
AS DESIGUALDADES ECONMICAS COMO PROMOTORAS DE
DESIGUALDADES POLTICO-SOCIAIS
Uma segunda questo que convm examinar tem a ver com as relaes
entre as desigualdades econmicas e a possibilidade de tornar possvel
o autogoverno coletivo. Poder-se-ia dizer, neste sentido, que na medida
em que se geram na comunidade interesses antagnicos, torna-se mais
difcil a possibilidade de contar com um governo que responda aos
interesses de todos. O que tende a ocorrer, ento, que um setor da
comunidade comea a dominar o resto.
Tempos atrs, esta linha de reexo mostrava-se relativamen-
te bvia dentro do pensamento social. Como era tpico, Jean Jacques
Rousseau assumia que a existncia de desigualdades econmico-so-
ciais importantes afetaria de modo decisivo o funcionamento poltico
da sociedade (Rousseau, 1984).
Com efeito, Rousseau considerava, por um lado, que somente uma
comunidade bem integrada podia ser capaz de autogovernar-se ou de vi-
ver conforme as exigncias da vontade geral. Por outro lado, o genebrino
reconhecia a existncia de diculdades signicativas para a conformao
de tal vontade geral. Convm advertir: tal idia no aparecia em Rousse-
au como um sinnimo de deciso majoritria. Antes, a noo de vonta-
de geral se distinguia de outras pela particular atitude que requeria dos
indivduos na hora de conform-la. Para constituir a vontade geral, com
efeito, os membros da comunidade deviam considerar antes de tudo qual
era a deciso que mais convinha ao conjunto. E somente se os distintos
membros da comunidade conseguiam deixar de lado seus interesses par-
ticulares o interesse geral comeava a se tornar possvel.
Sendo assim, Rousseau no pensava que para alcanar aquela
predisposio comum em favor dos interesses compartilhados bastaria
invocar simplesmente algum princpio geral de solidariedade. Este tipo
de invocaes revelava-se intil se os membros da comunidade no se
287
sentiam pessoalmente inclinados a pensar no interesse comum. De-
nitivamente, aquela predisposio social dependia de certas precondi-
es contextuais que no sempre se encontravam presentes.
Segundo Rousseau, uma comunidade marcada pelas desigualdades
econmicas profundas era uma comunidade incapaz de autogovernar-se.
Nela, os indivduos se dividiriam em uma multido de grupos de interesses
diversos e atuariam em defesa de benefcios setoriais: cada um confundiria
o interesse de seu prprio crculo com o interesse geral. Cegos por seus
prprios interesses, nenhum dos integrantes desses grupos distintos seria
capaz de distinguir, nem de trabalhar, em prol do bem comum, que por m
caria dissolvido em mltiplos interesses particulares. Os pobres votariam,
ento, uma poltica para os pobres, e os ricos uma para os ricos. A socie-
dade passaria a ser fragmentada, e a vontade geral deixaria de ser sobe-
rana. Tal dinmica poltica, ento, no conclua com o triunfo da vontade
coletiva seno, pelo contrrio, com uma situao onde algum dos grupos
integrantes da sociedade armava seu domnio sobre todos os demais
2
.
Seguindo uma linha de reexo similar quela avanada por Rous-
seau, ativistas como Thomas Jefferson armaram o valor das comunida-
des pequenas, igualitrias, homogneas, como promotoras de um maior
envolvimento cvico nos assuntos de todos. Para Jefferson, sem a existn-
cia de arranjos deste tipo as pessoas veriam seus vnculos polticos com
o sistema poltico debilitados, o qual observariam como distante de seus
prprios assuntos. Segundo o poltico de Virginia, a organizao em co-
munidades pequenas e homogneas tornaria possvel uma verdadeira
democracia, onde todos haveriam de estar ocupados nas questes mais
prximas e mais importantes. De resto, este ativismo de nvel local favore-
ceria o controle cvico sobre o que se decidisse em nveis representativos
mais elevados. Organizados assim, dizia Jefferson, os cidados seriam ca-
pazes de quebrantar de modo pacco e peridico, as usurpaes de seus
representantes menos conveis, resgatando-os da horrvel necessidade
de ter de faz-lo de um modo insurrecional (Jefferson, 1999: 219).
2 curioso de que modo esta linha de pensamento se diferencia da que se tornaria pre-
dominante tempos depois em certos setores dirigentes norte-americanos. Enquanto um
poltico to inuente como James Madison assumia que a sociedade estava dividida em
grupos e que os indivduos atuavam a partir de motivaes fundamentalmente egostas,
Rousseau considerava que ambas as situaes eram mais um resultado da criao hu-
mana do que de traos de xos e impossveis de erradicar das novas sociedades. Mais
ainda, como Rousseau considerava que a formao da vontade geral era um objetivo
social primordial, considerava necessrio empregar os poderes do Estado para assegurar
as condies sociais que a zessem possvel.
Roberto Gargarella
288
Filosofia poltica contempornea
Desse modo, em sociedades marcadas pelo fato do pluralismo,
isto , pela existncia de mltiplas formas de vida razoveis e ao mesmo
tempo radicalmente diferentes entre si (Rawls, 1991), revindicaes como
as que Rousseau ou Jefferson podiam sustentar podem aparecer como
ameaadoras ou simplesmente inteis. Pode-se pensar, com efeito, que no
contexto de sociedades como as atuais, insistir com a idia de homogenei-
dade social intil porque j no h como voltar atrs, no h possibi-
lidade sensata de recriar o tipo de ideal que eles defendiam, baseado em
comunidades pequenas e homogneas. Alm disso, poderia-se acrescen-
tar, tal ideal deveria ser descartado ainda no caso de que fosse possvel de
fato, dado que ameaa nos forar a combater a diversidade, a discriminar
aquele que atua ou pensa de modo distinto da maioria.
Dito isto, contudo, caberia reconhecer que uma reconstruo plaus-
vel do pensamento de Rousseau ou Jefferson no necessita colocar o acen-
to na homogeneidade como objetivo social primordial. O que se destaca
de tais observaes , primeiro, a nfase que colocam no estudo de (o que
poderamos denominar) as precondies do autogoverno. Segundo auto-
res como os citados, existiam fatores sociais que favoreciam o autogoverno
e outros que o prejudicavam, pelo que conviria prestar ateno aos mes-
mos na medida em que estivssemos efetivamente comprometidos com o
alcance de uma sociedade autogovernada. Em segundo lugar, e mais espe-
cicamente, eles vinham nos dizer que em sociedades no igualitrias e
sobretudo em sociedades cindidas entre grupos ricos e pobres era possvel
esperar que o modelo do autogoverno acabasse sendo substitudo em favor
de outro, onde o grupo dos mais avantajados dominaria os demais.
Esta ltima revindicao em particular revela-se especialmente
pertinente para as sociedades modernas, onde podem-se observar com
clareza os mltiplos modos em que as desigualdades econmicas reper-
cutem sobre outras esferas, reproduzindo aquelas desigualdades. Parece
claro, por exemplo, que a existncia de desigualdades econmicas signi-
cativas costuma provocar um acesso diferencial educao em que os
mais ricos acedem a um nvel de ensino muito mais elevado que os mais
pobres, e que este tipo de diferenas tende a repercutir gravemente no de-
senvolvimento poltico da comunidade. Parece claro tambm que, se no
se controla o uso do dinheiro nas campanhas polticas, a poltica tende a
se aproximar perigosamente dos interesses dos grupos mais ricos. Parece
claro, ao mesmo tempo, que se a comunidade no reage diante da desi-
gualdade de recursos, as idias dos mais avantajados tendem a circular
com enorme facilidade, ao passo que as dos setores com menos recursos
comeam a depender, para sua circulao, da simpatia ou piedade que
289
podem gerar naqueles que controlam os principais meios de comunica-
o. Denitivamente, so mltiplas as formas em que as desigualdades
econmicas contribuem para procriar desigualdades em outros mbitos.
Todas essas ramicaes da desigualdade, em ltima instncia, no fazem
mais do que prevenir o alcance do autogoverno coletivo.
ECONOMIA, CONTROLE E AUTOGOVERNO
Nesta seo me ocuparei de um ltimo argumento, que sustenta que se
temos razes para armar o valor do autogoverno poltico, e conseqente-
mente para promov-lo, ento, por razes de consistncia, tambm temos
razes para armar e promover o valor do autogoverno econmico. Em
outras palavras, sustenta-se aqui que os princpios que tornam atraente o
ideal de autogoverno poltico e assim, a possibilidade de que tomemos
sob nosso controle os assuntos mais importantes de nossa vida poltica
so os mesmos que deveriam tornar atraente o autogoverno econmico.
Esta proposta, claramente, vem desaar o tipo de convices que parecem
mais freqentes nas comunidades modernas, onde o princpio do auto-
governo encontra alguma manifestao dentro da esfera poltica, mas se
detm logo na porta de entrada de outras reas, como a econmica.
Para comear nossa anlise podemos partir da que parece ser a
manifestao mais importante de nosso compromisso com o ideal do
autogoverno poltico: o princpio de um homem-um voto. A severa ar-
mao que fazemos deste ideal se baseia sem dvida no fato de que nos
reconhecemos como iguais, em nossa preocupao por assegurar que
todos estejamos em um p de igualdade. Estamos convencidos de que,
em poltica pelo menos, ningum merece uma considerao diferencial
por razes vinculadas a sua cor de pele, gnero, classe ou origem social.
Da a idia de que a poltica um assunto coletivo que, em princpio,
deve car em nossas mos. Assim, podemos reconhecer o sentido das
armaes de Jefferson quando dizia que a poltica republicana requeria
uma cada vez maior presena do elemento popular na eleio e con-
trole da mesma (Jefferson, 1999: 209). No razovel pensar na esfera
econmica ao longo de linhas similares? Por que o que parece razovel
na esfera poltica no o pode ser na econmica? Seria por que nos de-
sinteressamos completamente do que possa parecer justo ou injusto no
nvel econmico? Seria por que consideramos que a nica forma justa
de atuar neste terreno consiste em deixar que as desigualdades sejam
criadas, para logo depois, no melhor dos casos, tentar remedi-las? De-
nitivamente, a pergunta que os republicanos nos incitam a fazer por
que no estendemos o princpio de um homem-um voto ao campo eco-
Roberto Gargarella
290
Filosofia poltica contempornea
nmico, em que, na atualidade, a vontade de algum indivduo ou grupo
(um grande investidor, um lobby empresrio) acaba tendo muito mais
peso do que a revindicao de milhares ou milhes de indivduos.
Historicamente, foram vrias as tentativas de resposta para fazer
frente a este tipo de perguntas. Por exemplo, a partir da escola man-
chesteriana da economia comeou-se a difundir a idia da mo invi-
svel como nica forma sensata de respeitar a liberdade das pessoas.
Segundo Adam Smith, o ordenamento econmico devia ser o resultado
da livre interao entre os distintos agentes que formam parte da comu-
nidade e no da vontade de algum grupo ou maioria circunstancial.
Tais idias se tornaram muito populares tambm na Amrica
Latina. O notvel pensador colombiano Jos Mara Samper sintetizou
canonicamente as mesmas em seu ensaio sobre as revolues polticas
e a condio social das repblicas colombianas. Em tal obra, Samper
sustentou que nas sociedades como na natureza a espontaneidade dos
processos conduzia a seu equilbrio, e deniu o liberalismo como indi-
vidualismo, anticoletivismo e antiestatismo
3
. Armou ento:
Caso se queira, pois, ter estabilidade, liberdade e progresso na Co-
lmbia hispnica, preciso que os homens de Estado resolvam
governar o menos possvel, conando no bom sentido popular e
na lgica da liberdade; que se esforcem por simplicar e despejar
as situaes, suprimindo todas as questes articiais, que somente
servem de embarao (Samper, 1881: 486-488).
Na Argentina, Juan Bautista Alberdi reivindicou tambm tal doutrina
do deixar fazer, que renascia em sua poca graas ao trabalho de -
guras tais como Herbert Spencer e Adam Smith, com as quais Alberdi
estava muito familiarizado. Toda a cooperao que o Estado [pode]
dar ao progresso de nossa riqueza [deve] consistir na segurana e na
defesa das garantias protetoras das vidas, pessoas, propriedades, inds-
tria e paz de seus habitantes (Alberdi, 1920: 157). Em todas as demais
tarefas das quais quisesse ocupar-se, o Estado se encontrava destinado
3 Do mesmo modo, Samper armava que [as] raas do Norte tm o esprito e as tra-
dies do individualismo, da liberdade e da iniciativa pessoal. Nelas o Estado uma
conseqncia, no uma causa, uma garantia de direito, e no a fonte do prprio direito,
uma agregao de foras, e no a nica fora. Da o hbito do clculo, da criao e do
esforo prprio. Nossas raas latinas, pelo contrrio, substituem o clculo pela paixo,
a fria reexo pela improvisao, a ao individual pela ao da autoridade e da massa
inteira, o direito de todos detalhado em cada um pelo direito coletivo, que absorve tudo
(Jaramillo Uribe, 1964: 50).
291
a um irremedivel fracasso. O Estado, dizia, trabalha ento, como um
ignorante e como um concorrente daninho dos particulares, piorando
o servio do pas [e] longe de servi-lo melhor (Alberdi, 1920: 163)
4
.
A rejeio de tais autores em relao ao ativismo do Estado por
certo no era dogmtica nem se baseava em uma defesa ingnua da
liberdade individual. Eles temiam que, invocando os melhores ideais
(proteger os setores em maior desvantagem, por exemplo), o Estado ter-
minasse envolvendo-se nos assuntos de cada um, afogando as iniciativas
pessoais, e nalmente oprimindo os indivduos. Segundo estes autores, a
partir de sua essencial falta de informao o Estado tenderia a se conver-
ter em um gigante bobo, bem-intencionado, mas incapaz de atuar.
Idias como as anteriormente expressas continuam sendo popula-
res na atualidade. Assim, hoje nos dizem que a partir do monoplio da
violncia legtima que exerce, o Estado tende a se converter em uma tem-
vel fonte de perigos para a liberdade pessoal. Do mesmo modo, nos dizem
que a partir da quantidade de recursos que controla, o Estado vai se con-
verter em uma presa demasiado atraente para certos interesses setoriais,
que faro o possvel para colocar a capacidade deste a seu prprio servio.
Denitivamente, e conforme tais argumentaes, qualquer tentativa de
instaurao de um princpio igualitrio revela-se inaceitvel dados os ris-
cos de cair seja na inecincia econmica ou no totalitarismo poltico.
Desse modo, este tipo de objeo no parece, a princpio, bem
orientado. Na verdade, parece curioso que a pretenso de dar voz a
cada um dos afetados seja assimilada ao totalitarismo. Na poltica, no-
tavelmente, associamos tal pretenso com a liberdade, e o seu oposto
justamente com o totalitarismo. De resto, a idia de que a gesto coletiva
requer que cada passo econmico seja decidido coletivamente implica
uma reduo ao absurdo de propostas como as que aqui poderiam ser
formuladas. Novamente, defender a primazia da voz e controle coletivos,
em poltica, no requer que pensemos em expresses plebiscitrias per-
4 Dizia Alberdi: O Estado intervm em tudo e tudo feito por sua iniciativa na gesto
dos interesses pblicos. O Estado fabricante, construtor, empresrio, banqueiro, co-
merciante, desviando-se assim de seu mandato essencial e nico, que proteger os indi-
vduos que o compem contra toda agresso interna e externa (1920). E no mesmo sen-
tido acrescentava; a liberdade individual [...] a obreira principal e imediata de todos
[os] progressos, de todas [as] melhoras, de todas as conquistas da civilizao em todas
e cada uma das naes [...] Mas a rival mais terrvel dessa fada dos povos civilizados a
Ptria onipotente e ilimitada que vive personicada fatalmente em Governos ilimitados
e onipotentes, que no a querem porque limite sagrado de sua prpria onipotncia [...]
Em uma palavra, a liberdade da ptria uma face da liberdade do estado civilizado, fun-
damento e m de todo o edifcio social da raa humana (1920: 170-171).
Roberto Gargarella
292
Filosofia poltica contempornea
manentes. possvel pensar uma vida poltica que se distingue por uma
maior interveno comunitria e que ao mesmo tempo e por isso mes-
mo mais respeitosa da liberdade de cada um. Do mesmo modo, pode-
ria se dizer, possvel imaginar um mundo de menor discricionariedade
econmica onde certos agentes econmicos ou lobbies empresariais no
contam com o poder de deciso e veto de hoje, e que por isso mesmo seja
mais compatvel com a liberdade geral.
Quais so as razes, ento, para assimilar este mundo com um
mundo de menores e no maiores liberdades individuais?
Talvez o que se queira dizer que o mundo do igualitarismo eco-
nmico em certo sentido mais justo do que outro que no se distingue
pelo igualitarismo, mas que ao mesmo tempo , e tende a permanecer
como, um mundo indevidamente mais pobre, dada a inecincia econ-
mica prpria das decises majoritrias. Contudo, se este o argumento
em jogo, tampouco se mostra imediatamente digno de ser atendido. An-
tes de mais nada, porque supe algo que no nada bvio: que as desi-
gualdades econmicas ajudam a gerar nveis de riqueza signicativos os
quais denitivamente acabam sendo bencos para todos os membros
da comunidade. A primeira premissa de tal argumento pode ser certa,
mas o pensamento republicano nos ajuda a ver que a segunda no costu-
ma a s-lo, dada a forma em que as desigualdades econmicas tendem a
gerar desigualdades polticas, e assim a se perpetuar. De resto, e para se
sustentar, tal argumento requer armar alguma variante da idia elitista
segundo a qual a comunidade somente capaz de tomar decises cega e
irracionalmente. Este argumento no mnimo apressado e sem atrao,
ao exigir que deixemos de lado os pressupostos igualitrios que arma-
mos ao proclamar idias como a de um homem-um voto
5
.
5 Neste ponto convm introduzir um ltimo comentrio vinculado aos alcances e limites da
neutralidade. No razovel armar que critrios como os at aqui defendidos implicariam
graus inaceitavelmente amplos de intervencionismo estatal. Esta uma crtica dbil, antes
de mais nada, porque assume que as situaes econmicas como as que predominam em
uma maioria de sociedades modernas no so, elas tambm, o produto da interveno do
Estado. Isto : no tem sentido combater o intervencionismo econmico que aqui defendi-
do arvorando por exemplo a defesa de um esquema de propriedade privada e livre merca-
do aparentemente livre de ingerncias estatais. Ambas as formas de organizao, necessa-
riamente, requerem um intenso intervencionismo estatal. Em algum caso, tais intervenes
expressam a vontade coletiva de modo mais claro (por exemplo, aquelas intervenes que
procuram implementar o que a comunidade decidiu depois de um processo de debates
pblicos), e em outras o fazem de forma menos visvel (atravs da deciso do Estado de
utilizar o aparelho judicial para proteger a propriedade ameaada de alguns indivduos ou
atravs da deciso do Estado de respaldar com seu poder coercitivo certos acordos entre
particulares e no outros). Ver, a este respeito, Holmes e Sunstein (1999).
293
CONCLUSES
Neste trabalho procurei defender trs argumentos destinados a reconec-
tar nossas intuies polticas igualitrias com nossas intuies iguali-
trias em matria econmica. O primeiro mostrava que o autogoverno
poltico requer indivduos animados por certas qualidades de carter, e
sustentava que em condies econmicas no igualitrias tais qualida-
des tendem a ser solapadas. O segundo armava que as desigualdades
econmicas bloqueiam o ideal do autogoverno poltico, gerando uma
situao antes oposta quele, em que os mais avantajados exercem seu
domnio sobre os menos avantajados. O terceiro argumento, por m,
sustentava que os mesmos princpios que os levam a defender o auto-
governo poltico, e assim a idia de um homem-um voto, devem-nos
levar a defender o autogoverno em matria econmica.
BIBLIOGRAFIA
Alberdi, Juan Bautista 1920 Obras Selectas (Buenos Aires: Librera La
Facultad).
Cohen, Gerald A. 2002 Por qu no el socialismo? em Gargarella, Roberto e
Ovejero, Flix (comps.) Razones para el socialismo (Barcelona: Paids).
Harrington, James 1992 The Commonwealth of Oceana and a System of
Politics (Cambridge: Cambridge University Press).
Holmes, Stephen and Sunstein, Cass R. 1999 The Cost of Rights (New York:
Norton & Company).
Jaramillo Uribe, Jaime 1964 El pensamiento colombiano en el siglo XIX
(Bogot: Temis).
Jefferson, Thomas 1984 Writings (New York: Literary Classics).
Jefferson, Thomas 1999 Political Writings (Cambridge: Cambridge University
Press).
Paine, Thomas 1995 Collected Writings (New York: The Library of America).
Rawls, John 1971 A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press).
Rawls, John 1991 Political Liberalism (New York: Columbia University Press).
Rousseau, Jean Jacques 1984 El contrato social (Mxico DF: UNAM).
Samper, Jos Mara 1881 Historia de una alma. Memorias ntimas y de historia
contempornea (Bogot: Imprenta de Zalamea Hnos.).
Sandel, Michael 1996 Democracys Discontent. America in Search of a Public
Philosophy (Cambridge: Harvard University Press).
Sandel, Michael 1998 Reply to Critics in Allen, Anita L. e Regan, Milton
(eds.) Debating Democracys Discontent (Oxford: Oxford University
Press).
Roberto Gargarella
294
Filosofia poltica contempornea
Sayeg Hel, Jorge 1972 El constitucionalismo social mexicano (Mxico: Fondo
de Cultura Econmica).
Street, John 1959 Artigas and the Emancipation of Uruguay (Cambridge:
Cambridge University Press).
Walzer, Michael 1983 Spheres of Justice (Oxford: Blackwell).
Wood, Gordon 1969 The Creation of the American Republic (Chapell Hill:
University of North Carolina Press).
Zarco, Francisco 1957 Historia del Congreso Constitucional de 1857 (Mxico:
Instituto Nacional de Estudios Histricos).
297
Adolfo Snchez Vzquez*
tica e poltica
UM
Propomo-nos a examinar, em uma perspectiva geral, a relao entre
moral e poltica. Uma relao que se mantinha viva na Antiga Grcia,
pois nela certamente tanto uma como outra aparecem estreitamente
vinculadas na losoa moral e poltica de Plato e Aristteles, assim
como na vida cotidiana dos atenienses. A moral dos indivduos so-
mente se realiza na poltica e nela onde se desdobram suas virtudes
justia, prudncia, amizade e onde se pode alcanar como assegu-
ra Aristteles a felicidade. Por isso, dene o homem como um ani-
mal poltico. Ou seja, por sua participao nos assuntos da plis ou
cidade-estado. As virtudes morais do indivduo somente podem ser
alcanadas com sua participao comunitria. Temos, pois, na Grcia
clssica, uma unidade indissolvel entre moral e poltica. Isto posto,
o que aparece unido na Antiguidade desunido pela Modernidade, tal
como o fazem Maquiavel e Kant, a partir de posies inversas. Ma-
* Catedrtico de Esttica e Filosoa Poltica na Faculdade de Filosoa e Letras da Uni-
versidade Nacional Autnoma do Mxico (UNAM) e Professor Emrito da mesma. Foi
nomeado Doutor Honoris Causa pelas universidades mexicanas de Puebla e Nuevo Len,
pelas universidades espanholas de Cdiz e UNED e pela Universidade de Buenos Aires
(UBA) no marco das jornadas que deram lugar a esta publicao.
298
Filosofia poltica contempornea
quiavel ao separar a poltica da moral, e Kant ao postular uma moral
universal, abstrata, individualista, que por sua autonomia e auto-su-
cincia no necessita da poltica como tal. Em tempos mais recentes,
no sculo XIX, os socialistas utpicos assentam a emancipao social
sobretudo na moral, na fora do exemplo e do convencimento. Marx e
Engels, em compensao, ao pretender uma emancipao social efe-
tiva, pem o acento na prtica, na ao coletiva, ou seja, na poltica,
mas sem esvaziar esta de sua carga moral.
O problema das relaes entre poltica e moral, no obstante seus
antecedentes distantes, reaparece em nossos dias com uma renovada
atualidade, no s pela necessidade de enfrentar a corrupo generali-
zada da poltica dominante, como tambm pelas exigncias que, fora
ou contra do poder realmente existente, uma poltica de verdadeira
emancipao social impe.
Na relao entre moral e poltica colocam-se hoje questes que,
embora dadas como resolvidas na Antiguidade grega, tornam-se inquie-
tantes ao se quebrantarem os cimentos da modernidade (certamente
trata-se da modernidade capitalista). E essas questes so as seguintes:
a moral pode se realizar sem projetar-se em algo que est alm dela,
isto , na poltica? E por sua vez, a poltica pode prescindir da moral?
Trata-se na verdade de velhas questes suscitadas especialmente por
aqueles que combatem a generalizada corrupo moral da poltica, e
sobretudo por aqueles que como alternativa a ela continuam consi-
derando necessria a realizao de um projeto de emancipao social
depois da derrubada daquele que falsamente se fazia passar como tal.
Mas, ao abordar a relao entre moral e poltica tendo em vista
a presena tanto de uma como da outra na aspirao a uma verdadeira
emancipao, prpria de uma esquerda social, radical, necessrio
precisar como entram cada um dos termos nessa relao. A moral en-
tra com os valores da igualdade e da justia social, assim como com os
da liberdade real, da democracia efetiva e da dignidade humana; dan-
do pois seu prprio contedo aos ns de uma poltica emancipatria.
E nesta poltica, a moral encontra como encontravam os gregos o
espao, a via ou o meio adequado para se realizar. Trata-se, portanto,
da moral que no se encerra em si mesma; que no se amuralha no
santurio da conscincia individual; que, pela mo da poltica, vai
praa pblica e que, socializando assim seus valores, impregna a ao
coletiva, propriamente poltica; uma ao que por ser tal no pode se
reduzir a uma dimenso moral individual.
299
Certamente h morais que no do esse passo porque em sua
prpria natureza est o prescindir da poltica, seja porque se consi-
deram auto-sucientes dentro de suas prprias muralhas, seja porque
diante de suas conseqncias prticas, polticas, para alm delas, mos-
tram-se indiferentes.
Paradigma das primeiras, das amuralhadas em si mesmas, a
moral kantiana, para a qual basta a reta inteno do sujeito individual
ou sua boa vontade. No necessita por conseguinte transcender-se, pro-
jetar-se fora de si ou rebaixar suas muralhas.
Outra verso desta moral que prescinde da poltica a que Max
Weber chama de tica da convico. Esta moral, embora reconhea
que tem conseqncias polticas, desvencilha-se delas. Isto , o sujeito
moral (individual ou coletivo) no assume a responsabilidade de seus
atos ou efeitos polticos. Ao tornar absolutos os princpios e desvenci-
lhar-se das conseqncias de sua aplicao, esta moral da convico
ou dos princpios vem proclamar a mxima de Salvem-se os princ-
pios, ainda que o mundo afunde. Na poltica impregnada de seme-
lhante moral, a delidade incondicional aos princpios (ou tambm ao
chefe ou ao partido que os encarna), conjuga-se forosamente com a
indiferena diante de suas conseqncias. E, caso se aceitem estas, so-
mente se trata daquelas que se ajustam aos princpios supremos assu-
midos. Este absolutismo dos princpios constitui o caldo de cultivo do
sectarismo e do fanatismo polticos que, embora seja consubstancial
na extrema direita, no deixa de fazer estragos em certas franjas da
esquerda. Assim, pois, tanto quando domina a rigidez moral de tipo
kantiano, como quando se impe a tica dos princpios, a poltica se
desvanece. No primeiro caso, porque se torna desnecessria; no segun-
do, porque deixa de interessar e, se interessa, somente perdida sua
especicidade como simples apndice da moral.
A relao entre moral e poltica no somente conhece esta forma
da moral sem poltica que acabamos de mostrar, como tambm a
forma inversa da poltica sem moral ou realismo poltico. Encon-
tramos seu paradigma em O Prncipe de Maquiavel, de acordo com o
qual a poltica basta-se a si mesma. Portanto, no admite nenhum juzo
moral; o que conta o m que se persegue, m considerado valioso tal
como Maquiavel considerava o seu. Em seu caso, tratava-se do melhor
governo ou da grandeza da Itlia. Traado o m, o xito em sua rea-
lizao a medida da boa poltica.
Noutra variante desta poltica realista, admite-se a interven-
o da moral, mas apenas como serva da poltica. No obstante esta
Adolfo Snchez Vzquez
300
Filosofia poltica contempornea
admisso, trata-se tambm de uma moral sem poltica, pois nesta
moral a poltica ao perder sua autonomia ou sua naturalidade espe-
cca acaba, com sua servido, por se negar a si mesma. Tal poltica
sem moral, to freqente no passado, reaparece em nossa poca em
sua forma mais extrema e brutal, seja com o nazismo ao sujeitar sua
moral ao supremo interesse da nao alem ou da raa ariana, seja
com o socialismo real ao subordinar a moral a sua poltica, invocan-
do o socialismo originrio de Marx, para usurp-lo e neg-lo com seu
realismo poltico.
DOIS
Ao chegar a este ponto de nossa exposio, consideramos pertinente
realizar algumas precises sobre a natureza da poltica; mais exata-
mente, de toda poltica. Certamente, quer se trate de uma poltica au-
toritria ou democrtica; conservadora, reformista ou revolucionria;
da exercida por partidos polticos ou por organizaes e movimentos
sociais, toda poltica, insistimos, tem dois aspectos: um, o que pode-
mos chamar ideolgico num sentido amplo, geral, constitudo pelos
ns considerados valiosos; inclusive, como j vimos, uma poltica to
realista como a maquiavlica os tem. E nesse aspecto, entre seus ns
valiosos, inscrevem-se com seu contedo moral, quando se trata de
uma verdadeira poltica de esquerda, emancipatria, os ns j mencio-
nados da igualdade e da justia social, democracia efetiva, liberdades
individuais e coletivas, dignidade humana e defesa incondicional, no
seletiva, dos direitos humanos.
Mas na poltica h tambm outro aspecto essencial, o prtico-
instrumental. Certamente, se a poltica assunto de ns, tal no se
refere somente sua proclamao seno aspirao de realiz-los. Por
isso, esse aspecto prtico-instrumental incontornvel. E nele h que
se situar a relao da poltica com o poder, em sua dupla condio de
objetivo que se espera alcanar para conserv-lo, reform-lo ou trans-
form-lo radicalmente, e de meio para realizar a partir dele e com
ele as metas que se consideram valiosas. Embora no se possa descar-
tar a tentao de convert-lo num m em si mesmo, o poder poltico
no no deve ser para uma poltica de esquerda um m em si. O
poder poltico deve ser um objetivo ao qual se aspira para convert-lo
em meio necessrio para alcanar algum m ltimo. Esta relao com
o poder concebido neste duplo plano de m hoje, meio amanh, pare-
ce-nos indispensvel em poltica, sobretudo se se trata da poltica que
tem em sua mira a transformao radical da sociedade. Nesta dimen-
301
so prtico-instrumental da poltica, que se dene por sua relao com
o poder, situam-se as aes coletivas que se levam a cabo de acordo
com a estratgia e a ttica consideradas mais adequadas, assim como
os meios a que se recorre por julg-los mais ecientes. Aqui deparamos
com o velho problema sempre atual da relao entre os ns e os
meios que denitivamente intrnseco relao entre os dois aspectos
que caracterizamos: o ideolgico-valorativo e o prtico-instrumental,
como prprios de toda poltica.
Esta relao entre ns e meios inegvel, como j deixamos cla-
ro. O que varia o modo em que se d essa relao, e o lugar que nela
ocupa cada um de seus termos. Com respeito aos ns, h que se subli-
nhar uma vez mais que sua absolutizao, assim como sua sacraliza-
o, prprias do fanatismo e sectarismo polticos, levam indiferena
moral diante de seu uso contanto que os ns sejam cumpridos ou os
princpios salvos. Convalida-se assim a mxima jesutica de que o m
justica os meios. Por conseguinte, embora se tratem de ns valiosos,
ou considerados como tais, no se pode justicar de modo algum o
uso de meios moralmente repulsivos ou aberrantes, como a tortura, o
seqestro, o terrorismo individual ou do Estado, para no falar dos que
se usaram em tempos no to distantes como o extermnio massivo
dos campos de concentrao nazistas, o Gulag sovitico ou o holocaus-
to nuclear de Hiroshima e Nagasaki desencadeado pelos Estados Uni-
dos. Quaisquer que sejam os ns invocados, no se pode absolutizar os
meios que os servem em funo de sua eccia.
Certamente, o aspecto prtico-instrumental do qual formam par-
te os meios como viemos insistindo essencial e indispensvel na po-
ltica, como atividade encaminhada realizao de certos ns. Na ver-
dade, no se deve escolher um meio que por ignorncia, imprudncia
ou aventureirismo leve ao fracasso, embora por outro lado se tenha
que reconhecer que toda escolha do meio considerado adequado corre
o risco do erro e, portanto, do fracasso. Mas, se a ecincia do meio h
de ser levada em considerao necessariamente, tanto em sua escolha
como em sua aplicao, e assim se justica como tal politicamente,
esta relao com o m no basta para justic-lo moralmente.
E isso ainda mais quando se trata de uma poltica verdadeiramen-
te emancipatria. O meio tem de ser justicado no somente por uma
exigncia poltica prtica-instrumental, ou seja por sua eccia, como
tambm pela carga moral que forosamente h de trazer consigo.
Sendo assim, posto que se trata, sobretudo numa poltica eman-
cipatria, de converter um projeto, idia ou utopia em realidade, esse
Adolfo Snchez Vzquez
302
Filosofia poltica contempornea
aspecto prtico-instrumental incontornvel. Certamente, se nesta po-
ltica h de conjugar-se ns e meios, ou tambm seus aspectos ideo-
lgico-valorativo e prtico-instrumental, no se pode aceitar de modo
algum uma poltica que se apresenta como emancipatria e que se des-
vencilha desse lado prtico-instrumental. Uma poltica deste gnero
somente pode conduzir utopia, no sentido negativo de sua impossi-
bilidade de realizao. Ou tambm como dizia Marx tendo presente a
moral kantiana que a inspira conduz impotncia na ao. Mais de
uma vez a losoa moral e poltica de nosso tempo pretendeu justicar
teoricamente semelhante poltica e a moral que a impregna. Trata-se
de teorias que ao separar poltica e moral caem no moralismo enquan-
to que, ao minimizar ou passar por alto seu aspecto prtico-instrumen-
tal, naufragam na impotncia do utopismo.
TRS
Detenhamo-nos agora, a ttulo de exemplo desse modo de abordar a re-
lao entre moral e poltica, em um lsofo que considerado o ponto
mais alto da losoa moral e poltica contempornea e que constitui
o referente obrigatrio de todo aquele que cultive o campo losco
moral e poltico. Referimo-nos obviamente a John Rawls.
O problema central que Rawls coloca em sua obra fundamen-
tal, Teoria da justia, e ao qual volta uma e outra vez em seus escritos
posteriores, pode ser formulado nestes termos: como devem ser as
instituies de uma sociedade justa? Ou tambm: que princpios de
justia deve vertebrar essa sociedade? Trata-se aqui das instituies
e dos princpios de uma sociedade ideal que Rawls considera supe-
rior s sociedades existentes. No nos propomos a mostrar agora
como Rawls descreve e justica os princpios e as instituies dessa
sociedade. O que nos interessa neste momento xar o lugar se
que ele existe para Rawls da prtica poltica, ou mais exatamente
do lado prtico-instrumental dela em sua Teoria da justia. Como
j vimos, Rawls desenha uma sociedade justa, ideal. Suas escassas
referncias sociedade realmente existente apontam ao que ele
chama como um mundo quase justo, ou imperfeitamente justo,
entendendo por isso o mundo das democracias modernas ociden-
tais. O mundo injusto, ou seja, aquele em que como por demais
sabido habita 80% da humanidade, mantm-se fora da ateno de
Rawls. Do ponto de vista de sua teoria, poderamos distinguir por
nossa conta trs mundos: 1) o perfeitamente justo ou sociedade
ideal do qual Rawls se ocupa substancialmente; 2) o quase justo
303
das sociedades democrticas ocidentais ao qual somente olha tan-
gencialmente; e 3) o mundo injusto atual do qual no se ocupa em
absoluto. Mas voltemos questo que nos interessa, no a do lugar
que tem na teoria rawlsiana aquilo que chamamos de aspecto ide-
olgico-valorativo, e de dentro dele a moral, lugar clara e prolixa-
mente descrito ao desenhar sua sociedade ideal, seno questo do
lugar que concede para o lado prtico da poltica. E consideremos
este lugar com respeito aos trs mundos que distinguimos antes.
Rawls fala da conduta poltica justa, mas esta somente teria
sentido no mundo justo, na sociedade ideal ou sociedade ordenada
pelos princpios de justia. Nela a prtica seria regida diz Rawls lite-
ralmente pelo dever natural ou pelo dever cvico de sustentar o
sistema. Na verdade, neste mundo ideal acrescentamos sem antago-
nismos nem conitos, isto , nesse mundo perfeitamente justo, pouco
espao restaria para a prtica poltica.
Ora, Rawls fala tambm e com a parcimnia que j adverti-
mos do mundo real quase justo da democracia ocidental existen-
te. Com o quase d a entender que a prevalncia da justia nele
tem que contar com espaos ou buracos de injustia. Mas dado que
nesse mundo existe tambm a injustia, requer-se reconhece Ra-
wls uma conduta ou prtica poltica que faa frente a elas, sobre-
tudo s mais graves. Em conseqncia, Rawls prope elimin-las, e
com este motivo encontramos em seu Teoria da justia trs tipos de
prtica poltica, a saber: a desobedincia civil, a objeo de consci-
ncia e a ao militante.
Destas trs prticas, as duas que suscitam, num bom nmero
de pginas, a ateno de Rawls por consider-las legtimas so a obe-
dincia civil e a objeo. ao militante ou resistncia organizada
como tambm a chama somente dedica algumas pginas. Rawls
no esconde as razes que tem para isso: no tratarei diz desse
tipo de proposta [...] como ttica para transformar ou inclusive der-
rotar um sistema injusto e corrupto. Ocupar-se-, em compensao,
do que produz em um Estado democrtico mais ou menos justo.
Ou seja, para Rawls no h lugar para a ao militante no sistema
democrtico ocidental, que embora registre injustias um mundo
quase justo.
E no h lugar porque para Rawls a ao militante traduzi-
da em nossa linguagem: a ao radical, revolucionria se caracte-
riza por no apelar ao sentido da justia dominante e por se opor
ordem legal. certo que Rawls reconhece que esta ordem legal
Adolfo Snchez Vzquez
304
Filosofia poltica contempornea
s vezes to injusta que abre a via para um caminho revolucionrio.
Mas ainda assim ele se aferra idia de que no somente a sociedade
ideal, seno a real, democrtica, ocidental que visvel, no neces-
sita se transformar ainda que requeira sim o combate a suas injus-
tias. Mas como? As opes rawlsianas so claras. Ao no legitimar
a ao militante, e menos ainda em sua forma revolucionria, a
prtica poltica ca reduzida da desobedincia civil e objeo de
conscincia. Rawls aprova a primeira, isto , a desobedincia civil,
por consider-la uma conduta pblica, ilegal e no violenta, que
tende a modicar a lei mas sem mudar o sistema. E aprova tambm a
segunda opo, neste caso, a objeo de conscincia, ainda que com
alguma reserva, pois embora a considere legtima pelo seu primeiro
princpio da teoria da justia (o da liberdade igual para todos), no
a considera assim pelo seu segundo princpio de justia (o das desi-
gualdades econmicas e sociais inadmissveis), caso estas garantam a
igualdade de oportunidades e revelem-se vantajosas para os membros
mais desfavorecidos da sociedade. Sendo assim, sem entrar agora na
matizao rawlsiana no que toca segunda opo prtica-poltica, a
verdade que a aprovao das duas primeiras desobedincia civil e
objeo de conscincia assim como a rejeio da terceira a ao mi-
litante demonstram sua estreita viso da prtica poltica. Certamen-
te, a luta pela justia ca limitada dbil ao da desobedincia civil
e da objeo de conscincia, enquanto se descarta a ao militante. E
no somente aquela dirigida a mudar o sistema ou o mundo que gera
a injustia, j que descarta totalmente a necessidade de sua transfor-
mao, seno que exclui tambm a ao militante para aceder a um
nvel mais alto de justia nesse sistema democrtico ocidental, quase
justo para Rawls e profundamente injusto para ns.
QUATRO
Podemos concluir, pelo que foi dito anteriormente, que na loso-
a poltica de Rawls no h lugar para a verdadeira prtica pol-
tica como ao coletiva que tem como referente o poder, e menos
ainda quando se trata de uma poltica radical, revolucionria, di-
rigida transformao do sistema. O que encontramos em Rawls
, denitivamente, a dissociao entre o aspecto ideolgico-valora-
tivo particularmente moral e o aspecto prtico-instrumental. Esta
dissociao tem duas conseqncias para sua losoa poltica. Por
um lado um moralismo, uma vez que seu conceito da poltica , em
substncia, um conceito moral. Certamente, esta prtica de conduta,
305
reduzida desobedincia civil e objeo de conscincia responde
segundo Rawls ao dever do cidado de obedecer ou desobedecer a
lei justa ou a lei injusta respectivamente. Trata-se, pois, de um con-
ceito moral e no do propriamente poltico da poltica como ao
coletiva para manter, reformar ou transformar, segundo os casos, o
poder com vistas a realizar certos ns ou valores. Por outro lado, esta
losoa moral e poltica tem como conseqncia seu utopismo. Na
verdade, no h nela nenhuma referncia s condies reais neces-
srias, aos meios que h de se empregar nem aos sujeitos polticos e
sociais que ho de realizar, ou aproximar-se da, sociedade ideal de-
senhada. O que exigiria no s uma teoria da justia que h de domi-
nar na sociedade ideal preocupao fundamental de Rawls seno
tambm uma teoria da injustia na sociedade realmente existente
que, pelo contrrio, pouco o preocupa. Tratar-se-ia de uma teoria
que exigiria por sua vez uma teoria da prtica poltica necessria ou
seja, da ao militante que Rawls descarta, tanto para combater
as injustias da sociedade ocidental realmente existente como para
transformar o sistema capitalista que as gera.
Certo que o que moralismo rawlsiano desune com sua moral
sem prtica poltica desunido igualmente pelo imoralismo do realis-
mo ou pragmatismo to generalizado em nossos dias. Da a necessida-
de sobretudo quando se trata de realizar um projeto de emancipao
social e humana de conjugar poltica e moral; ou seja, de unir na ao
poltica os aspectos ideolgico-valorativo e prtico-instrumental. E da
tambm a necessidade quando se trata de uma poltica emancipat-
ria de reunir tanto o moralismo da moral sem poltica como o imora-
lismo da poltica sem moral.
CINCO
Chegamos, assim, ao nal desta reexo. Ao propugnar a unio do
que se encontra desunido na relao entre poltica e moral, temos
em vista a poltica que persegue construir uma alternativa ao mun-
do injusto do capitalismo neoliberal e globalizador de nossos dias.
Uma alternativa certamente difcil em tempos em que se pe em
questo, depois da derrubada do socialismo real, no s toda po-
ltica emancipatria, seno inclusive a poltica mesma. E, contudo,
esta alternativa ao capitalismo hoje mais necessria do que nunca,
e alm disso possvel e realizvel, ainda que no inevitvel, pois tam-
bm possvel o caos e a barbrie. Por conseguinte, trata-se de uma
alternativa possvel e realizvel porque a histria, que feita pelos
Adolfo Snchez Vzquez
306
Filosofia poltica contempornea
homens, no chegou nem pode chegar a seu m. Admitir um m da
histria seria cair num falso porque rgido determinismo, ou num
tosco teleologismo. Pelo contrrio, a histria continua aberta, e por
isso a possibilidade de transformar o homem e a natureza. E por
sua vez, porque nesta histria a natureza humana nunca foi nem
ser imutvel, tampouco pode ser eterno o homo economicus ao
qual o capitalismo reduz o ser humano, hoje mais do que nunca, em
sua fase depredadora neoliberal e imperial.
307
Alan Rush*
A teoria ps-moderna do Imprio
(Hardt & Negri) e seus crticos
MINHA EXPERINCIA DA LEITURA do volumoso livro Imprio
de Michael Hardt e Antonio Negri, (Hardt e Negri, doravante H&N,
2002b) foi como, suponho, para muitos outros leitores ambgua e
contraditria. Uma obra brilhante e reveladora, fresca e bela, seduto-
ra, porm, em mais de um momento, pesada, obscura, dbil, deliran-
te, irritante e at indignante.
Imprio uma nova moda? H&N so dois novos metericos
Fukuyamas destinados a serem esquecidos to logo se apague o fulgor pu-
blicitrio de sua apario? Creio que no, que eles permanecero algum
tempo entre ns. Tanto seus defensores como seus crticos, salvo excees,
reconhecem que o espetacular xito comercial das numerosas edies de
Imprio radica, pelo menos em parte, numa autntica necessidade de mui-
tos de ns de compreender uma situao planetria que parece desaar
interpretaes e prticas herdadas: econmicas, polticas, culturais.
H&N anunciaram que trabalham sobre um segundo volume de
Imprio, referido aos problemas organizativos da luta contra o dom-
* Docente e pesquisador do Instituto Interdisciplinar de Estudos Latino-americanos (IIELA)
e do Instituto de Epistemologia, Universidade Nacional de Tucumn (UNT), Argentina.
308
Filosofia poltica contempornea
nio global. Esperemos que este Imprio contra-ataca ou Retorno de
Jedi potencialize as virtudes do primeiro volume e supere muitas de
suas notrias debilidades mediante uma real assimilao da literatura
crtica que suscitou.
Neste trabalho somente examinarei alguns aspectos do comple-
xo livro de H&N e das polmicas que vem provocando. Comearei por
algumas observaes metodolgicas e estilsticas introdutrias, e pas-
sarei em seguida a confrontar H&N com seus crticos em relao a dois
temas centrais: imprio e imperialismo, e as conseqncias polticas
prticas que cada bando tira de suas respectivas vises. Finalmente,
farei uma breve referncia polmica noo de multido.
OBSERVAES METODOLGICAS E ESTILSTICAS
Qualquer obra to extensa e polifacetada como a que tratamos possibi-
lita abordagens muito diversas. Mas o estilo e a lgica particulares do
livro de H&N obriga a um quase constante nomadismo do prprio lei-
tor, translao que s vezes desorienta e exaspera. No comeo do livro,
H&N sobriamente reivindicam a interdisciplinaridade, e em tal sentido
inscrevem seu enfoque na continuidade com o de O Capital de Marx
(1973), e com Mille plateaux de Deleuze e Guattari (2000). Contudo,
como sugerem H&N em uma entrevista, no h aqui moderna sntese
interdisciplinar seno co-presena, imploso de fronteiras disciplina-
res, e hibridao ps-moderna. H&N injusticadamente rejeitam a dia-
ltica, ao congel-la em sua forma moderna burguesa-hegeliana, auto-
ritria e teleolgica, e incapaz de desenvolvimento. Em conseqncia,
propem outro mtodo e outra lgica, que segundo H&N, celebra o
ecletismo (Hardt e Negri, 2002a).
A isso vincula-se o que poderamos chamar, exagerando um
pouco, de carter caleidoscpico ou hologrco do texto de Imprio.
H de tudo no livro, muitas partes ou aspectos componentes, e muito
diversos, de modo que agitando o caleidoscpio quase qualquer uma
delas pode adquirir a seu turno a centralidade organizadora, resul-
tando em conguraes diferentes e at opostas. De modo que quase
possvel encontrar em Imprio o que se deseje. Na prtica, isto po-
deria implicar que entre a multido de conversos surjam no meras
diferenas tericas e prticas, seno antagonismos excludentes. Um
leitor que no agite muito o tubo do caleidoscpio poderia contentar-
se com uma nica interpretao escolhida, favorvel ou desfavorvel;
mas na realidade isso no to fcil, porque o texto de H&N apre-
senta-se a ns sobretudo como uma holograa na qual as diferentes
309
perspectivas e guras esto presentes simultaneamente. De modo que
nos obriga a esse constante nomadismo de uma a outra, movimento
algumas vezes to sedutor e fecundo como irritante e estril em ou-
tras. Obviamente, minha crtica parte do pressuposto de que ainda
que nossa realidade global seja uida, complexa e multiperspectivis-
ta, presumivelmente possui estruturas, e no to gelatinosa e facil-
mente modelvel como H&N gostariam.
Ao colocar O Capital como um de seus modelos, H&N deram
suporte interpretao, assumida por alguns comentaristas, de que
Imprio constitui a re-escritura para o sculo XXI dessa grande obra de
Marx. Atilio Boron (2002) e vrios outros crticos assinalaram com ra-
zo a relativamente pouca economia poltica, no sentido cientco-so-
cial e emprico, contida em Imprio, e em que importante medida essa
carncia debilita toda a interpretao poltica e as propostas progra-
mticas prticas. Por sua parte, Slavoj iek (2001) chamou Imprio de
o Manifesto Comunista do sculo XXI. Um desatino: o Manifesto era
um texto breve, popularmente compreensvel, e de claras conseqn-
cias prticas. Imprio no nenhuma das trs coisas.
Dispostos assim a tentar tornar anloga a natureza metodolgica
e estilstica no o contedo do livro de H&N com a de alguma obra
de Marx, creio que deveramos pensar sobretudo nos Grundrisse ou
nos Manuscritos Econmico-Filoscos de 1844. Com efeito, Imprio
principalmente uma obra de losoa econmica, social e poltica.
Diante do convite para escolher entre duas alternativas manifesto po-
ltico e manifesto terico H&N, aps assinalar a inseparabilidade de
uma e outra dimenso de seu livro, reconhecem, entretanto, que
certamente mais um manifesto terico do que um manifesto poltico
(H&N, 2002a; Negri 2002b).
Boron e outros crticos no destacam, como creio que merece,
esta original losoa econmica tambm social, poltica, etc. de car-
ter programtico, bastante especulativa e por certo discutvel, que H&N
avanam em Imprio. Assim, H&N assinalam como uma tarefa pendente
a elaborao de uma nova teoria do valor, alm de apresentar suas espe-
culaes sobre o trabalho imaterial, o intelecto geral, etc. Acrescente-
mos que H&N incorporam em sua losoa econmica e poltica nume-
rosos aportes do feminismo, que consideram de capital importncia.
Porm, destacar a losoa econmico-poltica de H&N no impli-
ca, obviamente, que criticar as carncias cientco-empricas de Imprio
seja injusto, porque, como j disse, so os prprios autores que convidam
a comparar seu livro com O Capital, e pretendem dar explicaes e des-
Alan Rush
310
Filosofia poltica contempornea
cries fticas do imprio capitalista ps-moderno e extrair concluses
poltico-prticas, como se seu livro no fosse principalmente um esboo
programtico de losoa econmica e poltica. Pareceria existir, ento,
certa assimilao reexiva e/ou certa adaptao oportunista e post-hoc,
gelatinosa, de H&N a crticas cientco-empricas recebidas.
IMPRIO OU IMPERIALISMO
Como sabido, Imprio recebeu crticas muito duras (Petras, 2001;
Boron, 2002; Bellamy Foster, 2001). Acredito que na sua essncia essas
crticas so justas, embora a atitude de forte rechao lhes conra uma
parcialidade interpretativa e, em alguns momentos, excessiva.
Os principais argumentos desses crticos refutam diretamente
teses centrais de H&N. guisa de exemplo, contra a tese do declnio
dos estados nacionais, Boron ope evidncia emprica slida e dife-
renciada: os estados centrais, hegemnicos, crescem mesmo apesar da
propaganda neoliberal que certamente como ocorre com a abertura
comercial e outros mandamentos do centro so antes de tudo para o
acatamento por parte da periferia. Em compensao, os estados peri-
fricos sim se debilitam ao submeter-se s transnacionais e a seus
governos nacionais hegemnicos, com a ressalva de que se debilitam
em suas funes democrticas e assistencialistas, fortalecendo suas
funes repressivas. Boron mostra que os estados nacionais no decli-
nam uniformemente em todo o planeta, nem em todas suas funes,
mantendo os estados centrais ainda hoje um bom nmero de formas e
funes assistencialistas e democrticas, lockeanas, comparados com
os estados mais clara e abertamente repressivos, hobbesianos, da peri-
feria. Os captulos centrais do livro de Boron so uma leitura impres-
cindvel, uma clara e fundada explicao da crescente polarizao e
injustia da ordem global para um nmero sempre maior de homens,
mulheres e crianas do planeta (Boron, 2002)
1
.
1 Poder-se-ia pensar que os estados nacionais hegemnicos sofrem tambm um declnio,
enquanto crescentemente subordinados aos interesses do grande capital, como cada
vez mais evidente na cada vez mais ampla interseco entre o conjunto de funcionrios
do estado e do governo dos Estados Unidos e o conjunto de acionistas multi-milionrios
ou bilionrios desses pas, e a cada vez mais direta funcionalidade capitalista do estado e
do governo dos Estados Unidos manifestada no escndalo Enron, etc. Mas se estes gastos
e funes debilitam o carter assistencialista e democrtico do estado, reforam sua fun-
o, e ao que parece seu tamanho burocrtico e militar enquanto junta que administra
os interesses comuns do capital. O Estado se refora ou debilita para melhor servir o
capital, no aos seres humanos.
311
Para H&N o imperialismo declina junto com os estados-nao
que o promovem ou padecem.
Vamos do imperialismo moderno ao imprio ps-moderno, rumo
a um mundo interconectado em que a diferena e o antagonismo entre
Primeiro e Terceiro Mundo tende a perder sentido: a brecha norte/sul,
centro/periferia, diminuiu; chega a ser uma diferena de grau decres-
cente. Para Boron, Petras, etc., o imperialismo no desapareceu nem
declina, seno que tende a se acentuar, e a exao e dominao da peri-
feria pelo centro se torna mais marcada e brutalmente injusta.
Estes crticos, justicadamente indignados por muitas das teses
de H&N, por isso mesmo no encontram a pacincia para agitar um
pouco mais o tubo do caleidoscpio, para passear pelos mltiplos pla-
nos da holograa. Assim, deixam de lado a importante armao de
H&N de que h um sentido no qual o Primeiro e o Terceiro Mundo se
confundem (H&N, 2002b: 14-15 e 307). Podemos citar aqui o comen-
trio de Josena Ludmer, que admite esta observao mas ao mesmo
tempo determina seus limites:
Dizem os autores que as divises espaciais dos trs mundos im-
plodiram, de modo que encontramos o Primeiro Mundo no Ter-
ceiro, o Terceiro no Primeiro, e o Segundo, quase em nenhuma
parte. certo. Mas as conseqncias do Imprio no s so dife-
rentes no Sul e no Norte, seno que podem chegar a ser opostas.
Reinstala-se de certo modo uma luta de classes global (entre) os
estados nacionais de primeira, segunda ou terceira ordem (Lud-
mer, 2002).
Ludmer, com razo, atribuiu a H&N um olhar a partir do centro im-
perial:
Mais misria e excluso, menos proteo, ajustes permanen-
tes, dvidas da Justia; o presente argentino nos mostra essa
diferena que os autores no podem ver a partir dos mundos
e lnguas de primeira classe com os quais escrevem (Ludmer,
2002, grifo nosso.)
No entanto, bom agitar ainda mais o caleidoscpio para apreciar me-
lhor a riqueza que tal qual um cofre de piratas o texto de H&N en-
cerra. notvel que H&N no s indicam que o Primeiro Mundo tem
suas prprias favelas e o Terceiro seus prprios shoppings, countries,
etc. Alm disso armam que a polarizao de classes em todas essas di-
ferentes regies tende a aumentar! Rero-me a essas brilhantes passa-
gens do texto em que, apoiando-se num livro de Mike Davis, descrevem
Alan Rush
312
Filosofia poltica contempornea
a crescente segmentao e forticao das grandes cidades periodica-
mente arrasadas pela violncia, trata-se de Los Angeles, So Paulo ou
Cingapura (Davis, 1990; H&N, 2002b: 308-9). Notemos de passagem
que contra seus prprios dogmas centrais, H&N utilizam aqui as idias
de desenvolvimento desigual e combinado, da dialtica, de uma ex-
terioridade interior to palpvel como a misria e as forticaes,
exterioridade e dialtica que haviam decretado como inexistentes na
ps-modernidade.
Em suma, encontramos em H&N a tese da crescente polariza-
o de classes e da crescente injustia no interior de cada uma das
regies do capitalismo global, junto com a armao aparentemen-
te incompatvel com ela da diminuio da brecha entre Primeiro e
Terceiro Mundo.
Se precisamente o capitalismo estivesse to globalizado e inter-
conectado como H&N propem, as teses qui no seriam incompat-
veis. Em qualquer caso, numerosos indicadores empricos mostrariam
hoje, e bastante eloqentemente, que a brecha econmico-cultural e o
antagonismo imperialista entre Primeiro e Terceiro Mundo aumentam,
no diminuem. A propsito, a dvida externa da periferia subdesenvol-
vida, por mais que se revolva no cofre de Imprio, simplesmente no
se encontra nem na extensa descrio global da nova ordem mundial
nem nas propostas programticas do breve captulo nal. Isto escan-
daloso, tratando-se de um problema literalmente de vida ou morte para
milhes de seres humanos.
Outro aspecto interessante de Imprio que crticos como Petras
e Boron poderiam ter considerado mais detalhadamente que H&N
propem sua nova viso global do Imprio como uma tendncia, como
um processo em curso. O livro comea com esta frase: O imprio est
se materializando diante de nossos prprios olhos. E do mesmo modo
em outras numerosas passagens. Por exemplo, quando falam do tra-
balho imaterial e da transformao dos meios de produo clssicos,
exteriores, e sua reabsoro como prteses dos corpos produtivos, tam-
bm se trataria de tendncias (H&N 2002b: 13, 286, 371).
Qual o sentido de minha observao? Em primeiro lugar, as pro-
posies tendenciais no se refutam com alguns poucos fatos empri-
cos, seno fundando em teorias e fatos supostas tendncias alterna-
tivas, diferentes, vigentes em regies espao-temporais sucientemente
extensas. E isto o que fazem bem Boron e Petras, na minha avaliao.
Mas neste momento minha observao convida a olhar com mais aten-
o a pirmide do poder imperial que H&N propem no captulo 13
313
(H&N, 2002b: 285-289), qual Petras no faz referncia alguma, e Bo-
ron somente menciona, mas sem deter-se em seu interessante contedo.
Lembremos que, no essencial, esta pirmide de trs nveis contm em
sua terceira parte superior os dois grandes estados hegemnicos, com
os Estados Unidos na cabea, e os organismos transnacionais como o
FMI, o BM, a OTAN. Em seguida, submetida a este nvel superior, na
terceira parte do meio da pirmide encontramos a rede de empresas
transnacionais, isto , o mercado global, que por sua vez submete aos
demais estados nacionais os mais dbeis e/ou perifricos. E nalmente,
na base da pirmide aparece a multido, supostamente representada
por idealizadas ONGs, meios massivos de comunicao e, horror! a
Assemblia Geral da ONU.
Pois bem, esta pirmide representaria para H&N, numa primeira
aproximao, a situao planetria atual, emprica, sobre a qual atua-
ro, ou melhor, continuaro atuando cada vez mais as tendncias rumo
ao imprio. Advirta-se que a pirmide bastante prxima s vises que
Petras, Boron e outros marxistas tm da atual ordem mundial. H&N
no armam ingenuamente que os estados nacionais e o imperialismo
j se evaporaram, seno que declinam e comeam a transferir funes
a agncias imperiais. Enquanto isso, remarcam a importante funo
mediadora que os estados perifricos continuam exercendo para re-
presentar simultaneamente seus principais mandantes, as empresas
transnacionais, e a suas multides empobrecidas, as quais, na medi-
da em que ainda possam faz-lo, insistem H&N, devem continuar dis-
ciplinando, enquadrando na idia de povo, de comunidade nacional
responsvel e obediente (H&N, 2002b: 286). No mesmo sentido dizem
H&N: [] extremamente importante que o imprio utilize seus pode-
res para manipular e orquestrar as diversas foras do nacionalismo e
do fundamentalismo (H&N, 2002b: 361-362).
claro, repito, que Boron e Petras no ignoram isto: por isso
opem s tendncias postuladas por H&N tendncias alternativas
e de suciente alento, emprica e teoricamente fundadas, a modo
de refutao da viso dos autores. Mas ao ser sua apresentao das
teses de H&N simplicada, o leitor distrado pode acreditar que
H&N meramente armam a tese ingnua da inexistncia atual ou
iminente dos estados nacionais, por um lado. Mas por outro, e isto
o mais importante, propor tendncias imediatamente sugere, na
tradio inspirada em O Capital de Marx, a possibilidade de con-
tra-tendncias co-presentes que atenuam, desviam ou bloqueiam a
tendncia principal. E h algo importante neste sentido no livro de
Alan Rush
314
Filosofia poltica contempornea
H&N que Boron, Petras e outros crticos tampouco destacam. Trata-
se do seguinte. H&N comeam no livro delineando os aparatos de
comando transnacional, ou antes a produo jurdica globalizante
do imprio. Isto fortemente castigado por Boron como formalista
e idealista, quando a meu juzo um ponto de partida to vlido
como qualquer outro, sob a condio de que o jurdico seja a seguir
reintegrado totalidade material, o que H&N tentam fazer em ca-
ptulos seguintes, no importa agora se com xito ou no (e acom-
panho Boron em assinalar que a explicao materialista no chega
satisfatoriamente, tambm quando assinala a apologia fortemente
ideolgica que H&N fazem do constitucionalismo dos Estados Uni-
dos). Na realidade, a nfase nos aparatos de comando centralizado,
global, ou na tendncia a constitui-los e legitim-los juridicamente,
um ponto de partida conveniente se o que se trata de destacar
justamente um dos aspectos que marcariam as diferenas cruciais
entre imprio e imperialismo.
Mas o que me interessa aqui no realmente isso, seno que
h argumentos de H&N, no to desenvolvidos como mereceriam, no
sentido de que uma mais ou menos coerente e completa legitimao
jurdica do imprio impossvel, porque a ebulio produtiva e rebel-
de das multides obriga o brao militar do imprio em formao a
intervir constantemente, arrastando o direito a ser uma justicao da
emergncia da polcia, mais do que o inverso (H&N, 2002b: 35, 52-53,
70). Aqui se adverte no texto de H&N a presena dos trs registros la-
canianos do real, do simblico e do imaginrio: o imprio como ordem
jurdica global um fechamento simblico impossvel, incapaz de apri-
sionar e estabilizar uma multido real que o excede por todas as partes.
Em seu conjunto, conseqentemente, o imprio teria algo de um real
lacaniano ausente, impossvel.
Isto esclarece um pouco a enigmtica tese do imprio como um
vazio, um no-lugar, e a tese de que o mesmo processo de gerao do
imprio tambm o de sua corrupo.
Voltando legitimao e viabilidade do imprio, H&N admi-
tem que ao no ser possvel formal-juridicamente, tal viabilidade
deve ser conquistada de forma pragmtica e hbrida, como a ec-
cia oportunista, sempre precria, da maquinaria global de biopo-
der, resultante da combinao adequada ao conito do caso de re-
presso, persuaso mediante imagens e discursos mass mediticos,
produo jurdica ad hoc, incorporao ao consumo e produo
315
(H&N, 2002b: 52-53). No se trata, portanto, de uma viso mera-
mente formal-jurdica.
Uma vez mais, estas so guras do caleidoscpio, planos de holo-
graa no facilmente distinguveis no texto de outras guras e planos.
Pouco depois de apresentar sua pirmide do poder imperial, H&N nos
oferecem outra imagem, um pouco borrada, no muito explicada, mas
sucientemente delineada a imagem principal talvez, e a qual desta-
cada por crticos como Petras e Boron: que no processo de declnio dos
organismos estatais na pirmide caminha-se no para uma mistura
de formas espaciais, seno para uma hibridao de funes no mais
localizveis. O no-lugar do poder ou tende a ser diretamente a to-
talidade do mercado mundial com seus aparelhos, ou melhor, funes
transnacionais de comando nanceiro, militar, etc., ambos confronta-
dos agora sem mediaes estatais multido global em efervescncia
(H&N, 2002b: 292-294).
Alberto Bonnet, um jovem economista marxista, d um belo ttulo a
seu comentrio certamente agudo de Imprio: Suponiendo a Neptuno
(Bonnet, 2002). O ttulo deve-se ao fato de que, segundo Bonnet, H&N se
confessam incapazes de mostrar qual lugar e qual organismo correspon-
dem ao centro do imprio, mas supem como o astrnomo Leverrier
para explicar certos desvios dos clculos newtonianos de seu tempo que
deve haver algo ali, e em conseqncia supem a existncia de Netuno,
que neste caso seria o mercado mundial e seus aparelhos ou funes de
comando globais. Por que haveria de existir algo? Por que no poderia
existir um vazio real nesse suposto no-lugar?, pergunta-se Bonnet. Na
minha opinio, um dos planos, e no o menos visvel da holograa de
H&N, arma precisamente esse vazio real, substituindo neste caso uma
ontologia da presena plena por outra da ausncia ou da negatividade.
A conseqncia poltica desta interpretao merece ser destaca-
da. No seria a de uma interconexo pacca e niveladora das multides
no mercado mundial, misso facilmente rebatvel, seno esta outra:
possvel que antes que as tendncias ao imprio, intrinsecamente ins-
tveis e nalmente impossveis, se atualizem e, portanto, antes que os
estados nacionais e os antagonismos imperialistas acabem de declinar,
toda a maquinaria hbrida e precria do biopoder global em formao
v pelos ares pela ao da multido.
Num recente trabalho sobre El Imperialismo del siglo XXI,
Claudio Katz, outro inuente economista marxista argentino, constata
tambm, do mesmo modo que Boron e Petras, a crescente pertinncia
do conceito de imperialismo no capitalismo atual. A exao e domina-
Alan Rush
316
Filosofia poltica contempornea
o da periferia pelo centro so tambm a seu juzo uma realidade que
se exacerba (Katz, 2002)
2
. Nisso, os aportes marxistas do comeo do
sculo XX mantm uma importante atualidade. Mas o que lhe interes-
sa repensar o outro aspecto que a teoria clssica do imperialismo ex-
plicava: no mais a sangria e a submisso da periferia, seno a relao
entre as potncias centrais, que na viso clssica era de competio,
resolvida atravs da guerra. Esta relao no se d da mesma manei-
ra hoje. Retomando alternativas que Ernest Mandel havia considerado
nos anos 70, caberia perguntar se o predominante hoje a competi-
o inter-imperialista, por exemplo segundo a hiptese de Petras de
um neo-mercantilismo sem guerras entre grandes potncias, mas com
controle militar e guerras nos territrios perifricos; o clssico ultra-
imperialismo de Kautsky, hoje revigorado como transnacionalismo
do Imprio ps-moderno por H&N; ou o superimperialismo con-
sistente no predomnio de uma superpotncia no s sobre a periferia
seno sobre o resto das grandes potncias, quase reduzidas por isso a
condio perifrica.
Tanto Petras como Boron rejeitam as teses de H&N e armam a
vigncia do imperialismo. Mas com matizes diferenciais. Petras, a partir
de sua viso de um neomercantilismo em andamento. No caso de Boron,
sua insistncia no poder dos Estados Unidos poderia nos fazer pensar
numa perspectiva superimperialista. No entanto, fala explicitamente de
uma hegemonia, e no de um controle total ou quase-total norte-ameri-
cano. Katz opina que hoje nenhum dos trs modelos lidera predominan-
temente, muito menos em estado puro. H uma combinao de tendn-
cias concorrencistas, globalizadoras e superimperialistas, que aumenta
as desigualdades e a instabilidade do sistema total ao aumentar o nme-
ro e tipo de atores nacionais, regionais e globais, econmicos, sociais,
polticos e militares, e ao se diversicar as relaes de competio, ins-
tvel negociao, conito. Katz opina que H&N reetem em seu modelo
imperial tendncias globalizantes de grande importncia que operam
realmente hoje. Mas as exageram de maneira extrema.
Cabe acrescentar aqui algo aparentemente insignicante, mas
na realidade importante. Tanto Petras como Boron usam em algumas
ocasies a expresso imprio. No se trataria de uma mera variao
retrica de imperialismo seno, creio, de um reconhecimento, como
2 Claudio Katz, Alberto Bonnet, etc. conformaram o EDI-Economistas de Izquierda, cujo
valioso programa econmico socialista para a crise argentina pode ser encontrado em
<www.geocities.com/economistas_de_izquierda> (data de acesso 4/10/2002).
317
o de Katz, da necessidade de pensar o novo, que inclui mas a isso no
se reduz as tendncias globalizadoras no s econmicas e nanceiras
seno polticas, etc. Isto , que caberia falar de imprio com imperia-
lismo (ttulo do artigo citado de Petras), e no, como H&N, de imprio
sem imperialismo. Boron intitulou sua interveno no primeiro Frum
Social Mundial de Porto Alegre A nova ordem imperial e como des-
mont-la (Boron, 2001). J nesse texto Boron a empreende brevemen-
te contra Imprio de H&N. No entanto, escreve:
Estamos na presena de um projeto animado pelo propsito de
organizar o funcionamento estvel e, a longo prazo, de uma or-
dem econmica e poltica imperial um imprio no-territorial,
talvez, com muitos traos novos produto das grandes transfor-
maes tecnolgicas e econmicas que tiveram lugar desde os
anos setenta. Mas imprio, enm. Da nosso radical desacordo
com a recente obra de H&N na qual se sustenta a tese no s
paradoxal como completamente equivocada do imprio sem
imperialismo (Boron, 2001: 47).
Referindo-se ao FMI, ao BM, Boron escreveu alguns pargrafos antes:
Estas so as instituies supranacionais e globais que, hoje em
dia, constituem o embrio de um futuro governo mundial (Bo-
ron, 2001: 47).
Boron parece ter mudado um pouco seu pensamento entre essa inter-
veno no FSM e seu livro sobre H&N. Porm, aproveitarei ambos os
textos como complementares, o de 2002 que enfatiza o imperialismo, e
o de 2001 que prope a frmula imprio com imperialismo. O risco
de ater-se somente ao livro de 2002, na minha opinio, o de ser persu-
adidos a rejeitar as idias de H&N na sua totalidade, sem poder separar
o joio do trigo.
Em seu livro sobre Imprio Boron retoma seu pensamento da
interveno no FSM somente parcial e impacientemente, pondo mais
nfase no velho do que no novo da atual ordem mundial:
Estaramos muito mais prximos da verdade se parafraseando
Lnin dissssemos que o imprio a etapa superior do imperia-
lismo e nada mais (Boron, 2002: 138).
Para concluir esta seo, a viso imperial ps-moderna de H&N revela-se
como uma exagerao doutrinria, ideolgica, de reais tendncias cen-
tralizao do comando global do capital no econmico-nanceiro, no ju-
rdico-poltico, no cultural. Ao advertir somente estas tendncias parciais,
Alan Rush
318
Filosofia poltica contempornea
centralizadoras e homogeneizadoras, so desguradas a exao imperia-
lista da periferia pelo centro e as relaes de competio e hegemonia en-
tre os grandes estados e capitais nacionais. No calor de sua polmica com
H&N, em alguns momentos Boron tende a cometer o erro inverso. Porm,
reunindo o melhor de cada pensamento podemos apreciar a importncia
e a possibilidade de nos aproximarmos da mistura concreta das trs ou
mais tendncias globalistas, concorrencistas e superimperialistas ou he-
gemnicas na ordem planetria, como o pede Katz. Se apelamos aos dois
textos de Boron aqui cotados, surge a simples e esclarecedora hiptese de
que o grau de centralizao global, imperial, alcanado, importante, e
que, no entanto, no implica um declnio do imperialismo. Pelo contrrio,
as agncias globais como o FMI, o BM, a OTAN, etc., so principalmente
controladas pelo G8, que em seu interior reconhece a hegemonia, mas
no o poder absoluto superimperialista, dos Estados Unidos. No interior
dessas agncias globais dirimida a competio pelo controle comercial-
militar das diversas regies perifricas, etcetera.
CONSEQNCIAS POLTICAS PRTICAS DAS VISES EM DEBATE
Gostaria de agora comparar brevemente algumas das conseqncias
polticas prticas que H&N, por um lado, e seus crticos marxistas, por
outro, extraem de suas respectivas vises do imprio ou do imperialis-
mo, ou mais precisamente do imprio sem imperialismo e do imprio
com imperialismo.
Aproveitando a parfrase de Lnin por Boron, poderamos come-
ar dizendo que H&N certamente aceitariam esta outra parfrase pos-
svel: o imprio, verdadeira etapa superior do capitalismo. E como
assim se mostrariam, como em vrios outros assuntos que mal men-
cionarei, excessivamente respeitosos da tradio, e em tal sentido dog-
mticos e conservadores. Rero-me a que para H&N, como para Lnin
ou ao menos para o leninismo standard, etapa superior signica lti-
ma etapa conducente necessariamente para alm do capitalismo. H&N
armam categoricamente que, dado que o imprio inevitavelmente
decai ao mesmo tempo que emerge, e que inevitavelmente pem em
movimento a uma multido cooperativa e rebelde, o acontecimento
da revoluo advir com a mesma inevitabilidade; de fato, o comunis-
mo j estaria num estado relativamente avanado de gestao dentro
do imprio (H&N, 2002b: 202, 374). Somente num nico momento de
maior cautela se permitem atenuar um pouco estas metforas natura-
listas de gestao, bem marxianas, para dizer que o imprio prepara os
cromossomos, no o embrio do comunismo.
319
Em H&N h muito de novo e valioso, creio, mas tambm mui-
to vinho velho em odres novos. Por exemplo, como complemento do
que parece ser um excesso subjetivista, voluntarista, adquirido em seus
anos de autonomismo italiano, H&N costumam recair num econo-
micismo bastante tosco, apenas dissimulado pelo fato de que agora
se fala de trabalho imaterial, de prteses produtivas, etc. Como assi-
nala Alberto Bonnet, no de estranhar que ao rejeitar a dialtica, o
enfoque econmico de H&N mostre-se separado entre autonomismo
e regulacionismo estruturalista (Bonnet, 2002). Sem negar que o pro-
jeto de um Marx para alm de Marx pode requerer a recuperao de
insuspeitos tesouros tericos da modernidade em seus primrdios, da
pr-modernidade ou de culturas no ocidentais muito diversas, H&N
parecem ter se aferrado em sua opo por Espinosa contra Hegel e
mesmo contra Marx.
O economicismo de H&N aparece tambm em sua tese de que
a medida que o processo produtivo produz a gradual incorporao e
portanto reapropriao dos meios de produo como prolongamentos
do corpo individual e coletivo, nos aproximamos gradualmente de um
umbral para alm do qual se produzir inexoravelmente o aconteci-
mento, a revoluo (H&N, 2002b: 372).
Voltando s conseqncias polticas prticas, aquelas que o lei-
tor militante encontra ansioso depois de 350 pginas de rdua leitu-
ra so, em princpio, antes de mais nada breves e decepcionantes. Pois
bem, agitemos o caleidoscpio uma vez mais e digamos, com Alberto
Bonnet, que mesmo nesse nal telegrco tambm nos chega algo sim-
ples mas muito importante: se o imprio global, o contra-imprio, a
luta da multido, deve ser igualmente global. Aparentemente, o texto
de Empire aparecido em fevereiro de 2000 foi entregue imprensa an-
tes do grande protesto global de Seattle em novembro de 1999, em
rigor no a primeira jornada de luta mas uma que costuma ser desta-
cada como origem de um novo ciclo de lutas. De modo que o texto de
H&N tem um certo carter preditivo ou pelo menos explicativo no
desprezvel, mesmo reconhecendo, como j se disse, o carter parcial
da tendncia globalizadora da qual se ocupam, e os exageros s vezes
delirantes que resultam dessa preferncia.
De resto, como mostraram crticos como Boron, Zizek e outros,
as propostas programticas do captulo nal de Imprio so uma mis-
tura de timidez reformista e utopismo impraticvel. Cidadania global,
salrio social universal, e um objetivo estratgico reduzido a propagan-
da imediata ou mesmo a tendncia emprica em curso: a reapropriao
Alan Rush
320
Filosofia poltica contempornea
dos meios de produo correspondentes ao trabalho crescentemente
imaterial, como j se disse.
Referindo-se criticamente ao FSM de Porto Alegre, Negri decla-
rou numa entrevista: No pode se manifestar contra o G8 dizendo
outro mundo possvel, e depois no praticar coletivamente um xo-
do (Negri, 2001). Negri prope, por acaso, marchar de Porto Alegre
ao Mato Grosso para emular So Francisco de Assis, mesmo com uma
fauna pouco amigvel de jibias, tucanos e mosquitos? Num balano
do Segundo FSM publicado na New Left Review, Hardt por um lado
critica pela esquerda a orientao dominante do encontro, hegemo-
nizado por ATTAC-Frana e pelo PT, mostrando seu programa relativa-
mente estatista, terceiro-mundista, antineoliberal, mas no anticapita-
lista. Porm, numa passagem posterior, ao se referir crise argentina
e tomar partido pelos piquetes e assemblias populares, e pelo lema
de fora todos, Hardt mostra que no possvel aqui dar uma sada
crise rompendo com as recomendaes do FMI (Hardt, 2002b).
Estamos nalmente, ento, diante dos defensores do imprio ca-
pitalista disfarados de monges comunistas ps-modernos? Evitemos
uma vez mais perder a pacincia. Em outra entrevista, Negri esclarece
que o que cabe fazer um xodo massivo, mas no fala do Mato Grosso
e seus tucanos, seno que prope aos homens e mulheres do planeta
no tentar reformar nem serem representados no interior do FMI e do
BM, e sim uma desero coletiva, uma ruptura da multido global com
esses organismos (H&N, 2000). E isto j no delirante, forma parte
das discusses tticas e estratgicas de grande parte da esquerda mun-
dial. Pode-se e deve-se romper com o FMI? Essa ruptura pode ser s
nacional, ou deve ser ao menos regional ou inclusive global?
Para terminar, de uma viso como a de Claudio Katz, de uma
combinao de tendncias imperialistas competitivas, globalizadoras
e superimperialistas, depreende-se que a luta contra o capitalismo
deve ser igualmente combinada: de classes no interior de cada nao,
luta antiimperialista de naes e regies contra os amos do mundo,
e tambm lutas globais contra o imprio. Creio que Boron, Petras
e muitos dos marxistas latino-americanos ou amigos de nossa terra
concordam com isto, ainda que com matizes diferenciados. Em Re-
sistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre j citado, vrias das
contribuies se orientam para uma ampla articulao e acumulao
destas diversas foras e lutas para a construo paciente e coletiva de
um movimento contra-hegemnico, tanto antineoliberal como anti-
capitalista (Seone e Taddei, 2001).
321
H&N enumeram os grandes instrumentos de poder do imprio: o
dinheiro, o ter das comunicaes, e a bomba (H&N, 2002b: 315 e ss.).
No entanto, seu excessivo otimismo leva-os a armar delirantemente
que na realidade, ns (a multido) somos os amos do mundo (H&N,
2002b: 351), e a profetizar que o imprio inevitavelmente a etapa do
capitalismo anterior ao comunismo global. Os poderes destrutivos do
imprio seriam nalmente impotentes. Da barbrie engendrada pelo
imprio H&N falam ingnua e metaforicamente, dando-lhe um signo
imediatamente positivo e criador (H&N, 2002b: 203). Ao desastre eco-
lgico somente dedicam uma aluso passageira: ainda no se reveste
de gravidade crtica (H&N, 2002b: 252). Em compensao, para ns so-
cialistas que debatemos em vinculao com as lutas concretas de nos-
sos povos, talvez a primeira certeza seja a de que se no continuamos
articulando nossas foras, a barbrie imperial j instalada, a degrada-
o e a destruio da humanidade e do planeta, que j tem gravidade
crtica, podem chegar a ser irreversveis. Mas a segunda convico
que a correlao de foras muito desfavorvel imposta pela globaliza-
o neoliberal parece comear a se reverter, e que vale a pena apostar
nosso resto de dignidade na luta contra o neoliberalismo e o capitalis-
mo (Boron, 2001: 32-33, 49, 52-60).
OBSERVAES SOBRE O CONCEITO DE MULTIDO
H&N receberam abundantes crticas a seu conceito de multido, e re-
conhecem que muitas so merecidas (H&N, 2002a; Negri, 2001; 2002a;
2002b). Conseqentemente prometem desenvolver mais o assunto no
segundo volume de Imprio.
No entanto, pessoalmente, encontro tambm na relao com a
multido vrios casos de crticas um pouco precipitadas e excessi-
vamente hostis, mas no por isso inteiramente injustas. Assim, Boron
despacha rapidamente o conceito, atribuindo-lhe no sem razo ser
sociologicamente vazio. Como muitos outros crticos marxistas, Bo-
ron supe que a multido esvazia o conceito de classe e de luta de
classes. Diante da incerta aplicao emprica do conceito, Boron per-
gunta a H&N se a multido inclui os empresrios, os trabalhadores, os
desempregados, e/ou os paramilitares e os esquadres da morte com
os quais o capital sufoca as lutas dos submetidos do Terceiro Mundo
(Boron, 2002: 103). Isto abrupto e um pouco injusto. Se com maior
pacincia o leitor registra uma suciente quantidade de aparies do
termo multido no livro de H&N, observar que caracterizada qua-
se invariavelmente, explcita ou tacitamente, por sua rebeldia libert-
Alan Rush
322
Filosofia poltica contempornea
ria, por sua luta de classes, etc., o que prima facie as distingue termi-
nantemente dos esquadres da morte. Por exemplo, lemos em uma das
primeiras aparies importantes do termo:
At poderia se dizer que a construo do imprio e de suas redes
globais uma resposta s diversas lutas empreendidas contra
as maquinarias modernas do poder e, especicamente, luta de
classes impulsionada pelo desejo de libertao da multido. A
multido deu nascimento ao imprio (H&N, 2002b: 55-56).
A multido produtiva uma e outra vez identicada por H&N com
o proletariado (nunca com as foras repressivas ou os esquadres da
morte!) (H&N, 2002b: 71, 151, 364). Ao mesmo tempo, uma razo de
ser principal do novo termo sua diferenciao em relao a povo
e inclusive tambm a classe (H&N, 2002b: 104-106). Como conciliar
tantos empregos diversos e aparentemente contraditrios?
O que muitos crticos no parecem considerar o duplo n-
vel em que funciona o conceito de multido. Antes de tudo trata-
se de um conceito ontolgico e antropolgico, cuja vigncia deve se
situar especialmente a partir da revoluo humanista renascentista.
Segundo H&N, h um primeiro orescimento da modernidade, rapi-
damente sufocado pelo poder do capital e do Estado, em que os in-
divduos se descobrem imanentes natureza, ao ser, e se proclamam
seres livres e autodeterminados, criadores, constituintes de seu mun-
do social. O conjunto de tais indivduos que emergem e se descobrem
como livres e criativos a multido, primordialmente manifestada
nas utopias igualitaristas, industrialistas e artsticas de Bacon, Moro,
Campanella; na losoa da imanncia e da democracia absoluta de
Espinosa. Cedo, contudo, esse orescimento canalizado, disciplina-
do pelo capital e pelo estado modernos uma segunda modernidade
ilustrada que sufoca a imanncia autodeterminada mediante a trans-
cendncia do estado e a transcendentalidade da razo formal, que se
autolimita para no chocar com a religio, o estado e o capital.
Na segunda modernidade ilustrada e disciplinadora a servio
do mercado capitalista, a multido de indivduos criativos, poten-
cialmente universal, genrica e cosmopolita, canalizada e con-
trolada no molde das classes produtivas, submetidas e dos povos
nacionais, hostilmente zelosos de seus particularismos. Classe,
proletariado, povo, luta de classes, imperialismo, etc., no
se opem, portanto, a multido, visto que designam transforma-
es histricas desta.
323
A multido de produtores cooperativos do trabalho imate-
rial, sob o imprio ps-moderno em formao, explicitamente ca-
racterizado por H&N como um novo proletariado e no uma nova
classe operria industrial (H&N, 2002b: 364). Em suma, o conceito
ontolgico-antropolgico de multido primeiro nvel do concei-
to adquire cambiantes modulaes histricas empricas, segundo
nvel do conceito.
H&N supem que na transio para o imprio, a multido produ-
tiva, cooperativa no trabalho imaterial, afetivo e simblico, to exvel
e nmade, to associativa, criadora por incorporao de saberes e prte-
ses produtivas, que sua essncia ontolgico-antropolgica primignia
humanista renascentista de indivduos criativos auto-determinados co-
mea a aorar novamente, a romper o colete de classes e povos, a solapar
as formas disciplinares dos estados e de suas fronteiras, etc. de modo que
a multido comea a constituir uma sociedade sem classes nem estado,
j sob o imprio
3
.
Creio que o que foi dito at aqui basta para corrigir a atribuio
ao conceito de multido de uma pura vacuidade de signicado e sua
fcil associao com um contedo de peso tico-poltico to negati-
vo como os esquadres da morte. Mas dito isto, as diculdades do
conceito aparecem imediatamente. evidente que h uma distncia
importante, no salva teoricamente, entre o sentido ontolgico-antro-
polgico do conceito, altamente normativo e idealizador, e seu sentido
emprico-histrico, sociolgico, etc. J atribuir ao humanismo renas-
centista a emergncia massiva de semelhante multido de indivduos
criativos autodeterminados mostra-se uma evidente idealizao ana-
crnica. Na realidade, tudo indica que H&N, que querem que seu heri
seja antes Espinosa do que Marx, transladaram de forma caprichosa ao
Renascimento o conceito marxiano de indivduos livremente associa-
dos, somente concebvel pelo materialismo histrico sob condies de
propriedade coletiva dos meios de produo, planicao cientca e
democrtica do trabalho e da distribuio, alta produtividade e cultura,
no contexto de uma mutao qualitativa e de uma reduo quantitativa
3 Aqui aparece uma entre tantas diculdades da interpretao da histria de H&N. Alm
de que o conceito de ps-modernidade nunca foi claramente denido, seno caracteriza-
do pela acumulao de notas econmicas eclipse da dialtica, etc., no est explicado
porque a multido de indivduos auto-determinados e criativos que aora na primeira
modernidade possa e deva se realizar somente no ps-imprio, e no numa nova, segun-
da ou terceira modernidade.
Alan Rush
324
Filosofia poltica contempornea
do trabalho, numa palavra sob o comunismo industrial ps-capitalista
e no na sociedade proto-capitalista.
O leitor pode acompanhar H&N de bom grado quando narram
a histria do disciplinamento classista e nacional da multido, mas
as coisas pioram quando se supe que na transio ao imprio e sua
superao comunista, isto , diante de nossos olhos, as classes e po-
vos esto recuperando seu ser profundo de multido de indivduos li-
vremente criadores. Com efeito, onde esto tais indivduos e inclusive
multides de indivduos autodeterminados e nmades, que parece to
difcil v-los? H&N obviamente no podem exemplicar sua categoria
com a maioria de esfomeados, excludos ou escravos assalariados do
capitalismo atual condenados a no poder efetuar, nem tampouco se-
quer imaginar ou desejar nomadismo algum seno somente com uma
nma minoria de produtores de conhecimento, de arte e comunicado-
res, de indivduos que possuem prteses cerebrais como computadores
portteis, prteses visuais como cmaras fotogrcas ou video-lma-
doras, prteses auditivas como telefones celulares. Tal a ilustrao
oferecida por H&N ao descrever o recente protesto global de Gnova,
onde tais prteses, com efeito, desempenharam um importante papel
para evitar a censura ocial dos meios massivos e difundir imagens e
informao veraz sobre o assassinato pela polcia de um jovem mani-
festante trabalhador (Negri, 2002a). Semelhante importncia tiveram
para dar a conhecer o espancamento de Rodney King em 1991, que
incendiou a rebelio de Los Angeles em 1992, e algo parecido se pode
destacar na ocasio do assassinato de dois jovens desocupados pique-
teros em Buenos Aires em agosto de 2002.
Dado que o contedo fortemente normativo e idealizador do
conceito de multido, isto sua escassa exemplicao atual, e a pou-
co crvel tese tcita de H&N de que a enorme massa de esfomeados,
excludos e explorados esteja a caminho caminho gradual e visvel,
supem, para o cmulo, H&N de converter-se em uma multido de
indivduos livremente criativos, com efeito, o conceito de multido
tende a perder contedo emprico-sociolgico, mas no assim onto-
lgico-normativo.
Uma diculdade notria de H&N e sua multido aparece a pro-
psito dos desocupados. So escandalosamente ignorados como grupo
humano e social at o ponto de ser impossvel faz-lo. Antes disso, H&N
como bem dizem Boron, Ludmer e outros crticos, atribuindo ao plane-
ta o que vm ou crem ver a partir do centro do imprio nos descrevem
uma economia ps-industrial, ou de trabalho imaterial, e de pleno
325
emprego! Isto quer dizer que, contra aqueles que armam que multi-
do substitui classe, a verdade antes o inverso: a princpio o con-
ceito peca pelo produtivismo e trabalhismo mais precisamente pelo
proletarismo. Quando nalmente H&N no tm mais remdio do que
reconhecer os enormes contingentes humanos excludos do emprego,
que a princpio no se v que cumpram com os atributos da multido
nmade, livremente criativa e plena de prteses potenciadoras de seus
talentos, no atinam mais do que a incorpor-los por decreto multido,
sem explicao suciente:
medida que se dilui a distino entre produo e reproduo,
tambm se dilui a legitimao do salrio familiar. O salrio social
se estende muito alm do mbito da famlia multido em sua
totalidade, inclusive aos desempregados, porque toda a multido
produz e sua produo necessria do ponto de vista do capital
social total (H&N, 2002b: 365).
O que vemos diluir-se aqui so os contornos empricos do conceito de
multido, que foi estirado para no car to pobre em referentes obser-
vveis. O mesmo acontece em outras duas passagens:
na democracia, toda a sociedade, a multido em seu conjunto,
governa (H&N, 2002b: 176).
uma multido uida e amorfa que, certamente, est sulcada por
linhas de conito e antagonismo, ainda que (sem) uma fronteira
xa e eterna (H&N, 2002b: 185).
Nestas passagens, H&N parecem ter oscilado do extremo ontolgico-
normativo muito restritivo, para se colocar muito prximo do extre-
mo oposto em que multido signica o mero conglomerado em-
prico de indivduos, a populao. Deste ponto de vista ento, cabe
reconhecer a pertinncia da pergunta de Boron sobre se o conceito
abarca as diversas classes sociais, inclusive os paramilitares e os es-
quadres da morte.
BIBLIOGRAFIA
Bellamy Foster, John 2001 Imperialism and Empire in Monthly Review,
Vol. 53, N 7, Dezembro. [Traduco em espanhol publicada no ano de
2000 pela revista Herramienta (Buenos Aires) N 20].
Bonnet, Alberto 2002 Suponiendo a Neptuno. Un comentario crtico de
Imperio em Cuadernos del Sur (Buenos Aires) N 23.
Alan Rush
326
Filosofia poltica contempornea
Em <http://www.iade.org.ar/iade/Dossiers/imperio/3.8.html> data do
acesso 04/X/2002.
Boron, Atilio 2001 El nuevo orden imperial y cmo desmontarlo em Seoane,
Jos e Taddei, Emilio (comps.) Resistencias mundiales. De Seattle a
Porto Alegre (Buenos Aires: CLACSO).
Boron, Atilio 2002 Imperio & Imperialismo. Una lectura crtica de Michael
Hardt y Antonio Negri (Buenos Aires: CLACSO).
Davis, Mike 1990 City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles
(Londres:Verso).
Deleuze, Gilles e Guattari, Flix 2000 (1980) Mil mesetas: capitalismo y
esquizofrenia (Valencia: Pre-Textos).
Hardt, Michael 2002a Argentina es una inspiracin em Tres Puntos, N 264,
18 de julho.
Em <http://www.3puntos.c o m / s e c c i o n . p h p 3 ? n u m e ro = 2 7 5
& a rc h i vo = 2 6 4 c u l 0 1 & s e c c i o n = a rc h i vo> data do acesso
4/10/2002.
Hardt, Michael 2002b Porto Alegre: Todays Bandung? in New Left Review,
N 14, Maro-Abril. Em <http://www.newleftreview.net/NLR24806.
shtml> data do acesso 4/10/2002.
Hardt, Michael e Negri, Antonio 2000 Imperio/xodo. Un coloquio en lnea
con Michael Hardt y Toni Negri. Organizado pela editora Barnes &
Noble, texto em ingls disponvel em
<http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0005/
msg00022.html> data do acesso 4/10/2002. [Verso espanhola em
<http://www.iade.org.ar/imperio/4.9.html> data do acesso 4/10/2002].
Hardt, Michael e Negri, Antonio 2002a Entrevista concedida a Nicholas
Brown e Imre Szeman em Cultural Studies, February, 16. Em
<http://webpages.ursinus.edu/rrichter/frames82.htm> data do acesso
4/10/2002.
Hardt, Michael e Negri, Antonio 2002b (2000) Imperio (Buenos Aires: Paids).
Katz, Claudio 2002 El imperialismo del siglo XXI, junho de 2002. Em
<www.eltabloid.com/claudiokatz> data do acesso 4/10/2002.
Ludmer, Josena 2002 Una agenda para las multitudes em Clarn (Buenos
Aires) 27 de agosto. Em <http://old.clarin.com/suplementos/zona/2000-
08-27/i-00501d.htm> e em <http://www.iade.org.ar/imperio/7.3.html>
data do acesso 4/10/2002.
Marx, Karl 1973 El Capital. Crtica de la economa poltica (Mxico: Fondo de
Cultura Econmica) Vol. I, II e III.
Negri, Antonio 2001 Imperio, multitud, xodo. Intervencin en la
Universit La Sapienza, 30 de outubro. Em <http://www.iade.org.
ar/imperio/4.10.html> data do acesso 4/10/2002.
Negri, Antonio 2002a As comenz la cada del imperio em LATINAcoop
Europa, 22 de maro.
Em <http://www.rebelion.org/socia-les/negri220302.htm> data do
acesso 4/10/2002.
327
Negri, Antonio 2002b El capital ya no tiene capacidad de dominio em Tres
Puntos (Buenos Aires) N 268, 15 de agosto.
Em <http://www.3puntos.com/seccion.php3?numero=275&archivo=26
8eco01&seccion=archivo> data do acesso 4/10/2002.
Petras, James 2001 Imperio con imperialismo, 29 de outubro.
Em <http://www.iade.org.ar/imperio/3.9.html> data do acesso
4/10/2002.
Seoane, Jos e Taddei, Emilio (comps.) 2001 Resistencias mundiales. De
Seattle a Porto Alegre (Buenos Aires: CLACSO).
iek, Slavoj 2001 Comentario de Empire em Sueddeutsche Zeitung. Em
<http://webpages.ursinus.edu/rrichter/hardtrev.htm> data do acesso
4/10/2002.
Alan Rush
329
Miguel ngel Rossi*
A losoa poltica diante do primado
do sujeito e da pura fragmentao
[...] depois do que aconteceu, no existe mais
o incuo ou o neutro. Depois que milhes
de homens inocentes foram assassinados,
comportar-se losocamente como se ainda
existisse algo inofensivo sobre o qual discutir,
como se disse, e no losofar de tal maneira
que o indivduo tenha que se envergonhar dos assassinatos,
seria certamente para mim uma falta contra a memria
Terminologa Filosca
Theodor W. Adorno
APROXIMAES AO NIILISMO COMO REFERNCIA DE SENTIDO
Pode parecer paradoxal que o subttulo de minha reexo gire em tor-
no do conceito de niilismo justamente em aluso a um perspectivismo
de sentido, sobretudo quando uma das notas essenciais em referncia
* Professor Titular de Teoria Poltica e Social I, Professor Adjunto de Teoria Poltica e
Social II, Faculdade de Cincias Sociais da Universidade de Buenos Aires (UBA). Mestre
em Cincias Sociais com orientao em Cincia Poltica, Faculdade Latino-americana de
Cincias Sociais (FLACSO-Argentina). Doutor em Cincia Poltica, Universidade de So
Paulo (USP). Pesquisador UBACyT.
330
Filosofia poltica contempornea
quele a perda do sentido, o que em termos weberianos levaria o
homem moderno a uma situao existencial que tal pensador caracte-
rizar como jaula de ferro.
Mas para alm da aparente contradio lgica ou semntica com
a qual ressignicamos a categoria de niilismo, tal inconsistncia pare-
ce desvanecer-se no ar quando comea a jogar de cheio o terreno das
experincias histricas, obviamente em um sentido tnue, dado que
inclumos nele dimenses culturais, polticas, sociolgicas, loscas,
etc. E a partir destes horizontes concomitantes que se pode vislum-
brar e nisto radica meu suposto bsico que o niilismo tem jogado e
joga na histria do Ocidente um papel ou rol estrutural, justamente o
de interpelar, quando no o de convocar com fora de necessidade, a
marca de novos sentidos, guraes e inclusive lgicas estruturantes
e achados de fundamentos dos mais variados matizes e tonalidades.
Da a responsabilidade de pensar que tipo de ordem devemos construir
como sociedade, sobretudo levando em considerao que os tempos
de grandes ssuras tambm trazem em si, em geral, respostas radicais
e axiologicamente opostas, seja para pensar instncias fundantes de
liberao ou para pensar instncias de opresso. Com respeito se-
gunda possibilidade, entendo que a ecloso do nazismo mais do que
ilustrativa e, no que toca sua dimenso losco-ideolgica, introjeta
uma cosmoviso que, ao se confrontar com a lgica niilista, lida essen-
cialmente em chave economicista e tecnocientca e situada por outra
parte na expanso norte-americana, pretende como contrapartida uma
espcie de reencantamento do mundo em busca de um fundamento
absoluto. Nesse sentido, interessante a apreciao de Safreanski com
respeito a Weber: Quinze anos antes, no incio da Repblica de Wei-
mar, Max Weber havia exortado em um discurso famoso os intelectuais
a suportar estoicamente o desencantamento do mundo, e havia preve-
nido quanto ao obscuro negcio do intencionado reencantamento por
parte dos professores ex ctedra. Queira ou no, naquele 27 de maio
de 1933 Heidegger est ali como profeta ex ctedra, empurrando para
cima e com palavras marcialmente sonoras (Safranski, 1999).
Do mesmo modo, creio que relevante explicitar os alcances de
meu ponto de partida uma vez que se depreende do mesmo as condi-
es de possibilidade para uma ateno especca no que diz respeito
emergncia do niilismo em determinadas pocas de crises estruturais,
como so os casos da fragmentao da polis grega, da queda do Imp-
rio Romano, da transio do Medievo ao Renascimento. Rejeito a viso
que faz do niilismo uma ancoragem exclusiva no mundo contempor-
331
neo. certo que hoje podemos falar de um horizonte niilista, sobretu-
do no que toca quanticao, horizontalidade e mercantilizao dos
valores, mbito excessivamente trabalhado pelo pensamento alemo,
comeando inclusive por Hegel como antecessor de Nietzsche em re-
lao morte de Deus, passando em seguida pelo jovem Marx e pela
problemtica do valor de troca que em uma espcie de ruptura com
o mundo qualitativo que tudo prostitui, e concluindo com Weber, Sch-
mitt e a escola de Frankfurt, que para alm de suas diferentes posturas
tericas coincidem na emergncia e hegemonia da razo instrumen-
tal como um dos signos signicativos do niilismo contemporneo.
De toda forma, dever-se-ia falar da modalidade de niilismo con-
temporneo sem por isso renunciar a indagar o fator comum que liga o
transcorrer do niilismo como dimenso estrutural da vida do Ocidente.
A esse respeito, indubitvel que tal ponto de entrecruzamento no
pode ser outro seno a crise e a metamorfose dos valores sociais.
Quanto especicidade contempornea, impem-se duas notas
essenciais: a primeira nos introduz de cheio em um terreno metafsico,
quando no teolgico, enquanto indaga a questo do niilismo como
perda ou esgotamento dos valores em funo de um entrecruzamento
que ter como principal interlocutor o Cristianismo, tanto em sua ver-
tente catlica como protestante, seja para estabelecer uma apologia da
transcendncia para o primeiro caso, como tambm da imanncia para
o segundo. Deste modo nos introduzimos na segunda nota, assumindo
a suposio da conexo entre metafsica e poltica. No por acaso todas
as categorias metafsicas encontram traduo no reservatrio da teoria
poltica. Somente como modo de exemplicao pensemos na noo
de transcendncia como dispositivo para justicar a monarquia; a no-
o de imanncia spinoziana; ou a noo de absoluto, que em termos
polticos denominamos soberania.
Desta forma entende-se por que a problemtica do niilismo vincu-
la-se com fora de necessidade ao esgotamento dos valores ocidentais,
relacionados, por sua vez, com o que Nietzsche denominou a morte
de Deus, tanto como fundamento teolgico Idade Mdia ou suposi-
o epistemolgica Modernidade
1
; ambas as modalidades, garantias
1 No contexto moderno, especicamente no terreno da losoa, Deus tomado como
fundamento gnoseolgico, no caso de Descartes, enquanto modo de garantir verdades
absolutas. E no caso de Kant, como critrio epistemolgico, dando lugar represen-
tao. Assim, em A Crtica do juzo Kant coloca a possibilidade de pensar a natureza
como um sistema de fenmenos naturais interconectados, como se tivesse sido criado
por um arquiteto divino.
Miguel ngel Rossi
332
Filosofia poltica contempornea
ltimas ou primeiras utilizando uma terminologia aristotlica de
toda possvel axiologia. Em dilogo com a losoa moderna, Nietzsche
mostra como a morte de Deus traz consigo conseqentemente a morte
do fundamento, claro, em sentido absoluto. Recordemos que tanto
Descartes como Kant continuam apelando ao princpio da unidade di-
vina como o nico caminho possvel para reunir a multiplicidade. Tal
perspectiva extrapola tambm para o plano do sujeito moderno, quem
agora ocupa o lugar do divino: o sujeito que rene as mltiplas deter-
minaes. Mas mergulhemos em tal questo.
H um consenso generalizado a partir do qual o pensamento de
Nietzsche constitui um ponto de inexo com respeito ao iderio da
modernidade, ruptura que provoca uma ferida mortal ao carter ra-
cionalista com o qual se caracterizou hegemonicamente o transcurso
da losoa ocidental. Deste modo, valendo-se da inuncia de Schope-
nhauer, Nietzsche d o pontap inicial ao que em termos gerais deu-
se por chamar o irracionalismo losco moderno. A esse respeito,
recordemos que enquanto Hegel proclamava sua famosa frase todo o
real racional e todo o racional real diante de um auditrio reple-
to de alunos, em uma sala prxima Schopenhauer gozava da mxima
impopularidade. Mas para alm do dado anedtico que prenuncia um
possvel antagonismo, este se agiganta quando se entra no plano da
teoria, e revela-se agora sim irrecupervel.
Schopenhauer toma como alvo de ataque a majestade da razo.
Recuperando certa tradio losca, faz emergir com fora a noo
de vontade
2
, caracterizada agora a partir de uma dimenso impessoal e
csmica, como cega pulso devoradora de sim mesma.
Schopenhauer no vacila em proclamar que o prprio intelecto
uma criao daquela para justicar seus ns pulsionais. Por detrs de
toda racionalidade se esconde um jogo de pulses, um jogo de poder.
inegvel que necessrio outorga-lhe grande parte de razo, sobre-
tudo em um mundo ocidental e cristo que desde o desdobramento de
uma lgica imperialista se torna porta-voz dos valores democrticos e
humanos, gerando a possibilidade de intrometer-se em todos os pases
que sua racionalidade tache como de barbrie.
Nietzsche retoma o caminho de Schopenhauer, mas diferentemente
de seu mestre, que pretendia uma espcie de redeno da vontade, seu dis-
2 Schopenhauer d incio a uma tradio terica que no s exerceu grande inuncia
na tradio nietzscheana, como tambm na tradio freudiana, especicamente no que
toca noo de inconsciente.
333
cpulo reveste aquela de uma profunda conotao positiva. Mais que isso,
ser a nica sada possvel para um mundo aprisionado pelo niilismo.
Desta forma, morte de Deus como centro fornecedor de sentido
e ltimo fundamento tanto do terreno metafsico como do gnoseolgi-
co e moral, suceder, no trono, a vontade de poder, que no vacilar
em pronunciar a superao do humanismo e o advento do super ho-
mem situado nas antpodas do bem e do mal.
Pretender esgotar o pensamento de Nietzsche neste trabalho se-
ria mais do que uma ingenuidade. Por outro lado, tampouco o objeti-
vo. No obstante, gostaria de deixar claro que o acento no est posto
no que magistralmente Nietzsche entende por vontade de poder, seno
nos caminhos hermenuticos que tal noo abriu a partir do lsofo.
Para isso bastaria mencionar a ecloso do nazismo que em
uma pretensa esttica do horror se torna portador falseando to-
talmente, a meu critrio, o pensamento do lsofo de um super
homem provido de uma vontade de poder mais do que personaliza-
da, tambm nas antpodas do bem e do mal, ou contrariamente in-
terpretao que compartilho em certo sentido de uma vontade de
poder via foucaultiana dinmica e descentralizada, assim como a
abertura a um perspectivismo axiolgico desontologizado, ou o pre-
nncio da morte do sujeito reexivo que desde a mediao heidegge-
riana nos abre a porta ps-modernidade. Fica claro, ento, como a
partir de Nietzsche o pensamento contemporneo adquire uma rota
obrigatria, no s com respeito a uma dimenso losca, como
tambm sociolgica e poltica.
Sou consciente de que adentrar em todas estas linhas interpre-
tativas excederia amplamente o objetivo deste trabalho. Toda eleio
terica implica uma renncia, um recorte de um horizonte terico
muito mais abrangente. Nesta oportunidade me dedicarei, em primei-
ro lugar, ao pensamento de Heidegger somente no que toca temtica
do nazismo conjuntamente com a crtica do lsofo metafsica da
subjetividade, enquanto em uma espcie de reverso Heidegger se vale
daquela para discutir o nacional-socialismo. Do mesmo modo, gostaria
de explicitar que a riqueza da losoa de Heidegger excede os nefastos
e estreitos marcos da ideologia nazi. No entanto, em detrimento de
muitos intelectuais que pretendem cindir o pensamento de Heidegger
absolutamente do nazismo, como se o lsofo em uma espcie de su-
blime ingenuidade tivesse incorrido no nazismo por mera contingncia
ou, o que pior, mostrando a inoperncia da racionalidade losca
para os assuntos polticos, considero, como contrapartida que o estado
Miguel ngel Rossi
334
Filosofia poltica contempornea
da metafsica nos d a chave para o acesso cosmoviso poltica em
jogo. Em outros termos, se a losoa expressa uma viso da totali-
dade, a mesma tambm se reproduz em certa medida no ethos ou na
estrutura social em jogo, sobretudo quando um dispositivo ideolgico
consegue se cristalizar em tais totalidades. A aventura do nazismo est
longe de situar-se somente na gura de Hitler, e incorreramos em um
erro se exclussemos tanto os distintos setores sociais como tambm
seus principais pensadores.
Em segundo lugar, me ocuparei da temtica do sujeito, sobretu-
do em contraposio leitura heideggeriana, enquanto o lsofo con-
fere metafsica da subjetividade uma essencialidade totalitria.
A EMERGNCIA DO NAZISMO E SUA CONFRONTAO COM O NIILISMO
A temtica relativa ao nazismo to vasta como complexa. Inumerveis
tm sido os textos e artigos que tomam aquela como principal objeto
de interesse, no somente por motivaes tericas seno fundamental-
mente terico-prticas, mesmo que no seja mais do que para ativar
uma memria que nos previna acerca do horror e da discriminao.
No obstante, e innitamente longe de justicar o iderio nazi, creio
relevantes duas das apreciaes dos autores da Dialtica do Esclareci-
mento. A primeira, tendente a compreender o nazismo como outra das
formas possveis da dinmica do capitalismo, ainda que sem negar sua
conformao scio-poltica especca, vinculada tanto histria como
estrutura social da Alemanha, sobretudo no tocante ao horizonte de
sentido. A segunda, tendente a perceber o nazismo como um dos pos-
sveis rostos do totalitarismo, embora certamente no o nico. Tal ob-
servao mais do que importante, especialmente quando se leva em
considerao a hegemonia de um determinado dispositivo ideolgico
que pretendendo ancorar todo o peso da barbrie na ideologia nazi si-
lencia outras formas de totalitarismo, como so os casos do stalinismo
e do imperialismo norte-americano.
No que diz respeito a tal problemtica, talvez o texto de Jeffrey
Herf (1983) intitulado O modernismo reacionrio seja uma das contri-
buies mais profundas, que assombra por sua clareza magistral. Herf
acentua com muita nitidez o grande paradoxo da Alemanha, que se-
gundo minha prpria opinio o ncleo a partir do qual se pode com-
preender a matriz signicativa do nazismo. Tratar-se-ia da aceitao da
tecnologia moderna em expanso, ao mesmo tempo que uma profunda
rejeio da razo ilustrada e de todos os postulados daquela. Esta
a razo da denominao do livro de Herf, enquanto os modernistas
335
reacionrios, parafraseando o autor, eram nacionalistas que converte-
ram o anticapitalismo romntico da direita alem em algo distanciado
do pastoralismo agrrio orientado hacia atrs, apontando pelo contr-
rio para os lineamentos de uma ordem belamente nova que substitua
o caos informe gerado pelo capitalismo por uma nao unida, tecnolo-
gicamente avanada. Tais nacionalistas pugnavam por uma revoluo
que reestabelecesse a primazia da poltica e do estado sobre a econo-
mia e o mercado, e que reintegraria assim os laos existentes entre o
romantismo e o rearmamento da Alemanha. Esta cosmoviso pontua
Herf deu-se por chamar romantismo de ao.
Herf continua argumentando que o credo modernista reacion-
rio era o triunfo do esprito e da vontade sobre a razo e a funo desta
vontade como um modo esttico que justamente estava para alm do
bem e do mal, o que em outros termos traria consigo a substituio da
tica pela esttica, embora esta ltima fosse uma esttica do horror.
Por ltimo, o autor de O Modernismo reacionrio traz a relao a
Benjamim para mostrar como tal pensador mostrou pela primeira vez
que a modernizao tcnica e industrial da Alemanha no implicava
a modernizao em um sentido poltico, social e cultural mais amplo.
Da a rejeio alem aos valores da revoluo francesa, e da tambm a
especicidade do nazismo sustentado na crena em um homem novo,
ancorado na pureza da origem, em dilogo com o ser e fazendo um
bom uso dos entes.
HEIDEGGER E O NAZISMO: EM BUSCA DE UM SUJEITO CADO
Difcil e rdua tarefa implica a indagao do pensamento de Heidegger
com respeito ao nazismo. Muitas e antagnicas so as posturas inte-
lectuais que gravitam em torno daquele. Uma das mais importantes
consiste em opor Heidegger II contra Heidegger I, sob o argumento
de que a recada do pensador no nazismo se deveu fundamentalmente
ao fato de que o lsofo continuou preso losoa da subjetividade.
Inclusive, dita vertente terica parte do pressuposto de que o nazismo
um tipo de humanismo, obviamente retomando o caminho do Heide-
gger II e da hermenutica que o lsofo realiza em relao ao conceito
nietzscheano de vontade de poder.
Como esquecer sua contribuio fenomenologia, a ponto de
poder falar de uma nova redenio em termos de uma ontologia exis-
tencial, ou sua incidncia na psicanlise que em sua vertente lacaniana
se nutre de um ser estruturalmente cado e consegue desenvolver o
registro do simblico e do imaginrio. Como no tornar presente a
Miguel ngel Rossi
336
Filosofia poltica contempornea
pergunta heideggeriana acerca do sujeito da enunciao em referncia
comunidade de fala como lugar privilegiado do hbitat do ser que
inclusive, talvez em uma espcie de ironia, tomado pelo pragmatismo
norte-americano. A esse respeito, interessante a observao de Euge-
nio Tras: Poder-se-ia dizer, pois, que Heidegger indaga o movimento
mediante o qual a presena se constitui como tal presena, o apresen-
tar-se mesmo da presena, no que tem de innito verbal. Heidegger
busca esse innito verbal ausente na concepo ainda substantivista de
Husserl. Busca, pois, o apresentar-se da presena, que a prae-essentia,
essncia que comparece, que a. E com isso indaga, portanto, o essen-
ciar-se da essncia (Tras, 1983).
Desta forma, e seguindo os passos de Tras, Heidegger vitaliza ao
extremo noes tais como horizonte de sentido e faticidade, j que a
prpria faticidade do ser-a, do Dasein, a que se toma ou adota como
lugar e padro para a revelao e sentido do ser, sem que seja neces-
srio recorrer a uma operao prpria da conscincia losca ou do
lsofo prossional para aceder a esse sentido.
Apesar de ter enfatizado a relevncia terica de Heidegger ain-
da que de maneira breve e supercial, questo que por outra parte
alcana um consenso acadmico fortemente generalizado, no pode-
mos, ou melhor dito, no devemos deixar de perceber com agudeza as
marcas ideolgicas que de modo direto ou indireto, explcito ou impl-
cito, ligam o lsofo alemo a alguns aspectos do iderio do nacional-
socialismo.
Do mesmo modo, julgo to pertinente quanto sugestivo a obser-
vao de Adorno, enquanto adverte aos possveis leitores que tentar
adentrar na relao de Heidegger com o nazismo somente possvel
atravs de uma leitura transversal, inclusive marginal dos textos do
lsofo, nos quais diferena de seus trabalhos principais Heidegger
se manteria mais na intemprie. Esta observao assumida pelo
prprio Adorno, que de fato se vale de um escrito de Heidegger inti-
tulado Por que habitamos na provncia? Desenvolvamos algumas de
suas principais reexes:
Creio que justamente na situao alem este conceito de fun-
damento, solo ou origem desempenha um papel especialmente
funesto, e que verdadeiramente uma grande culpa corresponde
ao pensamento de Heidegger. Neste pensamento a idia do pri-
meiro tem um sentido ontolgico excelsamente sublimado: o
do ser que est para alm da separao entre o conceito por
uma parte e o ente singular por outra, e que se expressa para
337
conseguir a concreo que lhe corresponde como algo para
alm da ciso, quase sempre em locues tais como solo, ori-
gem, fundamento. De tais expresses Heidegger assegura con-
tinuamente que dizem somente algo sobre a estrutura do ser,
que de nenhuma maneira implicam valoraes sobre nenhum
fenmeno concreto intra-social (Adorno, 1983).
Adorno continua reetindo que tais categorias procedem de relaes
agrrias ou pequenas-artess que evocam ideais de uma estreita vida
provinciana as quais identica com certas caractersticas do ser. Ador-
no sugere que daria a impresso de que para Heidegger a existncia
camponesa estaria mais prxima das supostas origens, e conseqente-
mente que em seu pensamento se pode apreciar a extrapolao de uma
pureza ontolgica ancorada na ideologia do sangue e do solo. Embora
seja inegvel que muitas das apreciaes de Adorno possuam profun-
didade com respeito ao pensamento heideggeriano, no menos certo
que outras tantas se caracterizam por ser mal intencionadas e inclusive
por extremar a losoa de Heidegger at convert-la em um paneto
nazi. No obstante, h um argumento adorniano que compartilho ple-
namente, e que constitui a essncia de um cenrio trgico: o problema
do imediatismo. Heidegger, em uma espcie de misticismo, pretenderia
estabelecer um vnculo entre o homem e a natureza como se entre am-
bas entidades no houvesse diferena alguma, como se pudesse existir
um estgio e o retorno a este, prvio a toda ciso.
Instncia que, por outro lado, implicaria a destruio de todo
tipo de subjetividade, dado que para o lsofo a objetivao e quanti-
cao do universo so causadas pela ao de um sujeito unvoco que
subsumido em chave metafsica e consumado em uma metafsica do
poder, tudo o que toca, acaba por quantic-lo. Da que a nica pos-
sibilidade que resta a recepo de um ser que em termos freudianos
podemos caracterizar como no castrado.
Sem detrimento da recomendao adorniana, j que sua obra Ser
e tempo, um escrito nada marginal, Heidegger lana uma antinomia que
hoje em dia est longe de ser resolvida: por um lado sustenta que a que-
da do ser de uma ordem estrutural, enquanto o ser por denio j
est cado, inclusive previamente a toda seqncia temporal; por outro
lado, Heidegger daria lugar a uma hermenutica da decadncia do ser
em referncia a um cairos temporal, como se tivesse ido se degradando
paulatinamente at se perder denitivamente nas entranhas do ente.
Tampouco casual a posio do lsofo com respeito ao cui-
dado que losoa pr-socrtica teve do ser a partir de seu olhar e
Miguel ngel Rossi
338
Filosofia poltica contempornea
que em certo sentido Heidegger extrapola tanto para a losoa como
para a cultura e para o povo alemo. De fato, podemos encontrar no
primeiro Heidegger uma espcie de reconciliao entre o ser e a tec-
nologia, ou pelo mesmo uma relao ambivalente. factvel inferir
que somente o ethos alemo em abertura dialgica com o ser saberia
fazer um bom uso dos entes. Depois da renncia a seu cargo de reitor
na Alemanha nazi, Heidegger mudaria esta tessitura radicalmente.
Prova disso so suas prprias aulas, nas quais valendo-se das noes
de super homem e vontade de poder em Nietzsche leitura heideg-
geriana que no compartilho discute indiretamente com o nacional-
socialismo, ao que por outra parte no dissocia do americanismo no
que se refere ao conseqente triunfo da tecnologia, obviamente como
estado da metafsica contempornea. Nesta mesma direo movem-
se as posies de Ferry e Renault, ainda que se diferenciem radical-
mente de minha postura no que toca desconstruo do humanismo.
Tais autores assumem as suposies de uma das correntes anterior-
mente explicitadas, a recada do primeiro Heidegger no humanismo:
Heidegger o nico que pode nos permitir compreender a verdade
do nazismo e, de maneira mais geral, do totalitarismo, isto , que a
innitizao ou a absolutizao do sujeito que est na base da meta-
fsica dos modernos encontra ali sua sada operativa. E se Heidegger
esteve implicado no que ele, contudo, contribuiu para descobrir, o
fez essencialmente sobre a base de uma espcie de iluso transcen-
dental com respeito ao povo que restitua um sujeito (da histria) ali
onde a analtica do dasein e do pensamento da nitude haveriam de
proibir toda adeso ao mito nazi. Porque Heidegger, que desconstrua
to habilmente a estrutura ontoteolgica da metafsica e sua verso
moderna como ontoantropologia na qual o homem em sua condio
de sujeito toma o lugar de Deus, teria que ter reconhecido na ideolo-
gia nazi o resultado ontotipolgico do mesmo processo: com o mito
nazi, em que o tipo ariano como vontade pura (de si mesmo) que
se quer a si mesma quem advm sujeito absoluto, o que chega a se
realizar a ontologia da subjetividade (da vontade de vontade). So-
mente os tolos podem, pois, se confundir e acreditar que o nazismo
um anti-humanismo (Ferry e Renault, 2001: 57-87).
Regressando ao problema do imediatismo assinalado anterior-
mente por Adorno, Heidegger assume uma postura fortemente romn-
tica. Um romantismo que acaba por considerar o terreno do racional e
do conceitual a partir da nebulosa do demonaco. De tal perspectiva, a
apreciao de Habermas me parece mais do que relevante:
339
Com esta crtica do subjetivismo moderno Heidegger torna seu
um motivo que desde Hegel pertence ao conjunto de temas do
discurso da modernidade. E mais interessante que a virada on-
tolgica que Heidegger d ao tema o carter inequvoco com o
qual pleiteia a razo centrada no sujeito. Heidegger apenas leva
em considerao aquela diferena entre razo e entendimento, a
partir da qual Hegel se props a desenvolver ainda a dialtica da
ilustrao; Heidegger no mais capaz de extrair da autocons-
cincia, alm de seu lado autoritrio, um lado reconciliador.
o prprio Heidegger e no a acusada ilustrao, o que nivela a
razo e a reduz ao entendimento [...] E sendo isso assim, os ele-
mentos normativos que o sujeito extrai de si no so seno dolos
vazios. Deste ponto de vista, Heidegger pode submeter a razo
moderna a uma destruio to radical, que no distingue mais
entre os contedos universalistas do humanismo, da ilustrao
e inclusive do positivismo, de um lado, e as idias de auto-ar-
mao particularistas inerentes ao racismo e ao nacionalismo
ou a tipologias regressivas ao estilo de Spengler e de Junger, de
outro. D no mesmo se as idias modernas aparecem em nome
da razo ou da destruio da razo, o prisma da compreenso
moderna do Ser decompe todas as orientaes normativas em
pretenses de poder de uma subjetividade empenhada em sua
prpria autopotenciao (Habermas, 1990).
Penso que a citao habermasiana traz presentes pelo menos duas no-
es que no posso deixar passar dada sua riqueza para indicar tanto
uma teoria do sujeito como uma teoria social. Mais precisamente, tra-
tar-se-ia da distino hegeliana entre entendimento e razo na busca
de um novo tipo de racionalidade, e por outro lado do problema da
normatividade social. Habermas, seguindo neste caso os caminhos de
Kant e Hegel, adquire conscincia de que tanto a dinmica social como
as relaes intersubjetivas que formam parte daquelas no podem ser
desprovidas de um esquema normativo, que dever ser consensuado
pelas prprias relaes interhumanas que Habermas encontra no di-
logo, Kant a partir da Crtica do Juzo o Kant republicano na exis-
tncia de uma comunidade deliberativa baseada no que poderamos
chamar um pensamento extensivo que atravs da faculdade da imagi-
nao nos possibilita dar lugar s opinies dos outros inclusive como
prprias (da que a fora da autntica deliberao estriba em romper
um apriorismo absoluto e gerar assim a abertura para a construo de
um sujeito deliberativo que alm de comunitrio possibilita tambm
Miguel ngel Rossi
340
Filosofia poltica contempornea
a abertura a possveis caminhos de opinies em funo da riqueza de
uma roda deliberativa), e Hegel torna presente na existncia de uma
intersubjetividade vinculada por sua vez a uma eticidade estatal que
longe de ser pensada como anulando as possveis subjetividades o
encontro entre a vontade subjetiva e a vontade universal. O esprito de
um povo que se materializa em costumes, representaes artsticas,
diversas mediaes que so inerentes prpria comunidade.
Estes pensadores so conscientes de que uma sociedade somen-
te pode reger-se por um horizonte valorativo-regulativo que em uma
dinmica dialtica ou dialgica oxigena as prprias prticas sociais.
Tampouco casual que Nietzsche falasse em termos de transvalora-
o como nica sada possvel para a problemtica do niilismo, para
enfatizar o fato de que a perda do fundamento no desconstri deni-
tivamente a existncia de valores sociais, sem os quais uma sociedade
caria subsumida em mera desagregao.
Por outra parte, retomar a distino hegeliana entre entendimen-
to e razo retomar a crtica de Hegel tanto s losoas da reexo,
basicamente particularizadas em Kant, como s losoas da intuio e
do sentimentalismo. A genialidade de Hegel neste ponto girou em fun-
o da busca de uma racionalidade que, por um lado, tenha a agudeza
analtica do entendimento, da reexo, mas ao mesmo tempo supere
e disto se trata a dialtica a vacuidade e formalidade de que presa
o entendimento em razo ter absolutizado e imobilizado o terreno das
cises, e, por outro lado, incorpore, adiantando uma categoria fenome-
nolgica, que Husserl denominou o mundo da vida. Se por um lado
Hegel mantm a analtica do entendimento ilustrado, rejeitando por
sua vez uma lgica formal, por outro lado mantm o conceito de vida
do romantismo, mas excluindo tanto o retorno origem como o pro-
blema da intuio, que para Hegel um absoluto sem mediao racio-
nal. Da que, extremando a questo, pela mera intuio algum poderia
dizer necessrio matar os judeus, os negros, os homossexuais, etc,
etc, em uma espcie de misticismo revelado. Hegel consciente do
problema dos absolutos no mediados, que por outra parte em um jogo
dialtico esbarram tambm com uma racionalidade legalista e formal,
que s pode concluir, tanto como o intuicionismo, na construo de
um mundo totalitrio. No primeiro caso tenderamos ao totalitarismo
da arbitrariedade, e no segundo caso de uma racionalidade formal que
no pode se encarregar das demandas da vida. Como expresso de de-
sejo e assumindo uma posio hegeliana, em uma espcie de consso
particular, no poderia deixar de dizer, contra Heidegger e a ps-mo-
341
dernidade, que necessitamos da razo hegeliana para voltar a produzir
no encontro entre a vida e as instituies.
Por ltimo, longe de interpretar o sujeito hegeliano como um su-
jeito absoluto claro em termos de totalitarismo; o sujeito hegeliano
constitui-se a partir de uma dialtica com o ethos social de que forma
parte. Em termos mais simples, subjaz a idia de que o homem cons-
titui a sociedade, mas, ao mesmo tempo, constitudo, tambm, por
aquela. Inclusive, a partir de um constante dinamismo. A relevncia de
explicitar tal observao, nos salva do erro, ou melhor dito do horror,
de interpretar a dialtica como tese, anttese e sntese. Tese o que se
pe, sobretudo nos termos de Fichte, a partir do nada, enquanto que
em Hegel justamente o sujeito se pe a partir de algo j pressuposto.
Ou seja, o ethos social.
evidente, ento, que a constituio da subjetividade uma es-
pcie de interao entre os homens e suas sociedades. Uma subjeti-
vidade que se constitui a partir da gura do reconhecimento. Um
reconhecimento de que, diferentemente do sujeito liberal que s pode
instrumentalizar um espao pblico homogneo, o sujeito hegeliano
se constitui ancorado existencialmente no plano da diferena. Da que
Hegel seja tomado pelo multiculturalismo em funo de indicar novas
identidades. Hegel deixa denitivamente a nu o autoritarismo do sujei-
to liberal: no poder se encarregar de um sujeito multicultural situado
no espao pblico, justamente por ter pensado um sujeito formal e
homogneo disposto a excluir, como instncia poltica, toda possvel
diferena. Da que os ndios, os negros, as minorias sexuais, somen-
te possam ingressar no espao pblico despojando-se, obviamente, de
atributos essenciais: o ser negro, ndio, homossexual, etcetera.
Fica claro ento que a partir de uma forte interpretao terica
Heidegger seria presa do nazismo, motivado fundamentalmente por
sua recada na metafsica da subjetividade. Ancorado no humanismo
que tanto em sua variante hegeliana racionalidade absoluta como
em sua variante nietzscheana vontade de poder seriam as chaves de
um sujeito essencialista, todo-poderoso.
Conjuntamente com tal interpretao coexistiria outra, no me-
nos hegemnica que considera a relao do pensamento de Heidegger
com o nazismo como produto de uma mera contingncia, em uma es-
pcie de dissociao entre pensamento e vida.
Com respeito a minha prpria posio, fao eco da pergunta ha-
bermasiana que no pode deixar de interpelar-me: Como possvel que
Heidegger pudesse entender a histria do Ser como acontecer da verda-
Miguel ngel Rossi
342
Filosofia poltica contempornea
de e mant-la imune a um historicismo puro e simples das imagens do
mundo ou interpretaes do mundo que caracterizam as distintas po-
cas. O que me interessa, pois, a questo de como o fascismo intervm
no prprio desenvolvimento terico de Heidegger (Habermas, 1990).
Existiria outro aspecto pelo qual geralmente costuma-se rela-
cionar o pensamento de Heidegger com o nazismo, sustentado funda-
mentalmente pelo lugar que o lsofo concede morte, inclusive como
marca fundacional da constituio da identidade, no que se refere tan-
to ao tema da singularidade como ao da faticidade humana, marca
que somente pode ser transferida ou socializada na constituio de um
pathos herico, de um pathos alemo, coincidente por sua vez e como
contrapartida com a experincia dos campos de concentrao. O curio-
so que desde ambas as instncias justica-se em um sentido lgico,
certamente no tica, indicar a morte ou sua possibilidade como cons-
titutivo de uma comunidade. De todas as formas desprezo tal tica,
em razo de que no existe nenhum texto de Heidegger que d suporte
para sustentar a passagem da singularidade para a intersubjetividade
em relao morte.
Gostaria de abordar agora o ltimo ponto de meu trabalho, que
consiste na defesa do humanismo, no sem antes discordar da inter-
pretao heideggeriana de Nietzsche.
Como bem enfatiza Cragnolini, Heidegger apresenta Nietzsche
como o ltimo elo da cadeia de uma metafsica da subjetividade. Des-
te modo chegaramos consumao do niilismo, em funo de uma
vontade de poder que Heidegger interpretaria como a possibilidade
absoluta e incondicionada da vontade de projetar como assim tam-
bm impor valores. Em termos de Nietzsche, transvalorao. Assim,
parafraseando Cragnolini, quem representaria a vontade de poder para
Heidegger o super-homem, gura do homem tcnico que domina e
quantica tudo o que est a seu alcance. Um homem indiferente pelo
ser e apaixonado pelo ente.
Em profunda oposio leitura heideggeriana, Cragnolini con-
sidera no somente que Nietzsche nos abre a porta para uma plu-
ralidade de perspectivas hermenuticas, seno tambm que a partir
de Nietzsche pode se pensar inclusive um sujeito multicultural. Nas
palavras de Cragnolini:
A idia de vontade de poder como razo imaginativa aponta para
caracterizar seu operar interpretativo e congurador da realidade
que, em tal tarefa, realiza um constante movimento de aglutina-
o de foras em torno de um centro estruturao e de disperso
343
das mesmas desestruturao para novas criaes de sentidos. A
disperso do sentido, o distanciamento do centro, o modo de se
preservar das respostas e das seguranas das losoas buscadoras
de arkha. Na modernidade, a arkh constituda pelo prprio su-
jeito, como ente representador. A idia da vontade de poder como
razo imaginativa permite pensar o sujeito mltiplo: aquele que
designa com o termo sujeito ou eu a essas aglutinaes tempo-
rrias dos quanta de poder que lhe permitem, por exemplo, atuar,
ou pensar, sabendo que o sujeito uma co. Se o sujeito
co, tambm o o objeto e a relao que os une, a represen-
tatividade. O modo de conhecimento que Nietzsche desenvolve a
partir das noes de falsicao, co e interpretao no
fundamentalmente representativo, enquanto assegurador do
ente em questo (Cragnolini, 2000: 5).
Se por um lado concordo com Cragnolini em sua crtica a Heidegger,
por outro considero errnea a hermenutica que costuma se fazer do
sujeito moderno como sede ou fundamento do totalitarismo. Em todo
caso, teria que se distinguir distintos tipos de sujeito e distintos tipos
de subjetividade, obviamente no desvinculadas das prticas sociais
que lhe so inerentes.
Justamente, o problema de Heidegger e talvez de Nietzsche foi
fazer uma leitura da histria da losoa em termos tanto de univocida-
de como linearidade, sem advertir por exemplo as profundas diferen-
as do sujeito lockeano com respeito ao sujeito spinoziano, ou a marca
kantiana de ter sido o primeiro a colocar o tema do sujeito como co,
a qual no pode ser interpretada em termos de verdade ou mentira, se-
no, utilizando uma linguagem psicanaltica, como nexo signicativo
organizacional. A esse respeito, recordemos, inclusive, a importncia
que Kant atribui faculdade da imaginao em A crtica da razo pura
como fecho do esquematismo transcendental a ttulo de justicar nos-
so argumento. Isto , a faculdade da imaginao a que em ltima
instncia consegue reunir o terreno da multiplicidade na busca de um
eu que subjaz e acompanha as possveis representaes.
Deste modo, retomando minha considerao do niilismo como
instncia estrutural da vida do Ocidente, entendo que a sada do mesmo
somente pode ser obtida articulando a fragmentao em uma unidade,
isto , em funo de pensar um sujeito articulador. A questo decisiva no
radica na destruio do sujeito seno em que tipo de sujeito podemos
construir, especialmente em tempos de ssura, em um tempo de niilismo,
em que a pergunta pela ordem social no para nada irrelevante.
Miguel ngel Rossi
344
Filosofia poltica contempornea
Caberia ento perguntar por que recuperar a noo de sujeito,
pergunta que no pode ser respondida prioritariamente em funo de
noes que so inerentes teoria do sujeito tradicional, como so as
noes de livre arbtrio, prxis, responsabilidade, tica, ao, deciso,
todas elas razes mais do que sucientes.
EM DEFESA DO SUJEITO HUMANISTA
Em oposio a toda uma corrente interpretativa a partir da mediao
heideggeriana e ancorada na ps-modernidade, certamente hegemni-
ca em nosso tempo, parto da base de que a noo de sujeito est longe
de ser uma inveno moderna. A esse respeito, h um brilhante texto
de Mondolfo intitulado A compreenso do sujeito humano na cultura
antiga
3
livro de uma beleza e profundidade incalculveis.
O problema est em desarticular a identicao da noo de su-
jeito com a noo de indivduo, obviamente como uma das caracters-
ticas centrais da modernidade, sobretudo em sua variante liberal.
Desta forma, assumo em certa medida o postulado foucaultiano
de pensar a subjetividade jogando ao mesmo tempo na ordem da co
certamente mais do que necessria para a existncia social e tambm
na ordem de construo a partir das prticas sociais e das relaes de
poder. Foucault explicita em seu texto A verdade e as formas jurdicas
4
como a partir das prticas sociais geram-se no somente tipos de ob-
jetos de conhecimentos, seno tambm sujeitos. O interessante que
Foucault, na ltima etapa de sua produo terica, nos convida a reto-
mar o iderio do humanismo, convite nada desprezvel, sobretudo por-
que a partir do Renascimento comea a se pensar o poder como uma
relao em ruptura com uma viso substancialista ou coisicada do
mesmo, ao mesmo tempo que rearmando uma prxis
5
sustentada em
uma antropologia da liberdade. No em vo, Nietzsche em suas Intem-
3 Em tal texto, Mondolfo estabelece como um dos temas centrais a problemtica da sub-
jetividade na antiguidade (Mondolfo, 1978).
4 Proponho-me mostrar a vocs como as prticas sociais podem chegar a engendrar do-
mnios de saber que no s fazem que apaream novos objetos, conceitos e tcnicas, mas
que fazem nascer alm disso formas totalmente novas de sujeitos e sujeitos de conheci-
mento. O mesmo sujeito de conhecimento possui uma histria, a relao do sujeito com o
objeto; ou, mais claramente, a prpria verdade tem uma histria (Foucault, 1990).
5 Todo o humanismo renascentista reivindicou a marca tica baseada na armao do
livre arbtrio, em oposio reforma luterana e sua teoria da dupla predestinao. En-
quanto no primeiro caso se falava da dignidade do homem como imagem e semelhana
do divino, no segundo caso se colocava o acento em sua indignidade.
345
pestivas girou em torno da diferenciao qualitativa entre a Reforma
e o Renascimento, diferena que o pensamento de Schmitt levou em
considerao especialmente para articular uma prxis da deciso tam-
bm ancorada em uma metafsica da liberdade. Nietzsche arma que o
Renascimento, surgido em um instante como um raio de luz, foi logo a
seguir sepultado pela marca da reforma. Weber e Schmitt o seguiram
neste ponto, atentos novidade radical que o humanismo renascentista
instaura com respeito ao plano antropolgico. Tratar-se-ia de antepor
prioritariamente o conceito de existncia sobre o de essncia, existn-
cia no coisicada que a partir de uma natureza indenida, cabe ao ho-
mem, como um sublime escultor, ir desenhando no transcorrer de seu
caminho os matizes de sua essncia, obviamente a partir da prxis de
sua existncia. Da tambm que tais pensadores insistissem na marca
metafsica que o advento da reforma trouxe atrelado. Bastaria mencio-
nar a absolutizao da conscincia luterana conjuntamente com um a
teoria da predestinao divorciada da prxis humana e hipostasiada
em favor do divino para justicar o que estamos dizendo. De fato, uma
das polmicas mais importantes da poca foi a de Lutero e Erasmo, o
primeiro para defender uma teoria da determinao, o segundo para
defender uma teoria da prxis e da ao tica baseadas no postulado
da liberdade. Juntamente e esta minha prpria suposio o erro
tanto de Heidegger como da senda ps-moderna consistiu em extra-
polar os atributos da Reforma ao humanismo, imprimindo-lhe a este
um essencialismo que, em uma espcie de ironia, aquele combatia ra-
dicalmente. Desta forma partimos da suposio de que foi o iderio da
reforma, que comeou desconstruindo a idia de um sujeito enquanto
impossibilidade de uma prxis sustentada na metafsica da liberdade.
Curiosamente, Heidegger, que se aprecia da recuperao do paganis-
mo, contrariamente acaba internalizando em alguma medida o deter-
minismo protestante, agora funo de um ser a partir do imperativo da
voz divina necessita de sujeitos passivos ancorados univocamente no
plano da submisso e escuta.
Deste modo, o autntico humanismo caso me seja permitida a
palavra autntico joga sua essencialidade, ironicamente, a partir da
pretenso heideggeriana, pelo transcorrer de uma existncia desonto-
logizada que em sua prpria autoproduo em liberdade faz caminhos,
faz histria, faz e nos faz sujeitos. A questo, denitivamente, ser vol-
tar a lembrar a recomendao kantiana, no tomar os outros como
meios, o que em termos hegelianos nos levar a pensar em termos de
uma comunidade onde todos possamos ser sujeitos.
Miguel ngel Rossi
346
Filosofia poltica contempornea
BIBLIOGRAFIA
Adorno, Theodor W. 1983 Terminologa Filosca em
<http://personales.ciudad.com.ar/M.Heidegger/adorno.htm> data do
acesso 15/12/2002.
Cragnolini, Mnica 2000 Nietzsche en Heidegger: contraguras para una
prdida. Conferncia na Universidad de So Paulo, Grupo de Estudos
Nietzsche (GEN), 21 de agosto. Em <http://personales.ciudad.com.
ar/M_Heidegger/cragnolini.htm> data do acesso 15/12/2002.
Ferry, Luc y Alain Renault 2001 Del humanismo al nazismo. Las
interpretaciones heideggerianas del nazismo de Heidegger em
<http://personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger/ferry_renaut.htm> data
do acesso 15/12/2002.
Foucault, Michel 1990 (1978) La verdad y las formas jurdicas (Barcelona:
Gedisa).
Habermas, Jurgen 1990 Heidegger: Socavacin del racionalismo Occidental
en trminos de crtica a la metafsica em <http://personales.ciudad.
com.ar/M_Heidegger/habermas.htm> data do acesso 15/12/2002.
Herf, Jeffrey 1993 (1984) El modernismo reaccionario (Mxico: Fondo de
Cultura Econmica).
Mondolfo, Rodolfo 1978 (1969) La comprensin del sujeto humano en la
cultura antigua (Buenos Aires: EUDEBA).
Safranski, Rdiger 1999 La poltica metafsica de Heidegger em <http://
personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger/politica_metasica.htm> data
do acesso 15/12/2002.
Tras, Eugenio 1983 Vigencia de Heidegger em
<http://personales.ciudad.com.ar/M_Heideger/trias.htm> data do
acesso 15/12/2002.
347
Nstor Kohan*
O Imprio de Hardt & Negri: para alm
de modas, ondas e furores**
UM BALANO MADURO
Poucas vezes um lsofo conseguiu tantos leitores em nvel mundial
em to pouco tempo. Hoje Negri faz furor. Imprio, escrito com a cola-
borao de seu discpulo Michael Hardt ainda que em nossa aproxi-
mao nos referiremos somente a Negri por economia de linguagem
tornou-se de uma semana para outra em um controvertido best seller.
Em Nova York e em Paris, em Madri e em Buenos Aires, em Londres e
no Mxico DF, em Berlim e em So Paulo, muitos so os que discutem
e opinam sobre suas provocativas teses. O encontro com Imprio ou
com seus comentrios (porque as adeses ou as rejeies viscerais no
* Docente pesquisador da Universidade de Buenos Aires (UBA) e da Universidade Po
pular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM). Jurado do Premio Internacional Casa de
las Amricas. Publicou livros sobre temas vinculados ao marxismo, tem colaborado
em livros coletivos sobre teoria e losoa poltica, e publicado artigos acadmicos na
Espanha, Alemanha, Mxico, Venezuela, Sucia, Cuba e Itlia.
** O seguinte texto foi redigido e corrigido antes do incio da guerra imperialista e da
invaso anglo-norte-americana no Iraque. Segundo nossa opinio, esta nova guerra
de conquista, brbara e genocida, pe ainda mais em crise o relato de Negri e Hard
(3 de abril de 2003).
348
Filosofia poltica contempornea
sempre vieram acompanhadas da paciente leitura do texto) desataram
em pouco tempo as polmicas mais crispadas de que se tem recorda-
o nos ltimos tempos.
Ecologistas e marxistas, feministas e economistas neoliberais, ps-
modernos e ps-estruturalistas, nacionalistas terceiro-mundistas e popu-
listas de variada pelagem, todos em unssono, sentem-se desaados e in-
terpelados por Imprio. Este texto gera dio ou adeso imediata. Rejeita
as meias tintas e os matizes. um livro apaixonante e apaixonado. Seus
leitores no podem permanecer passivos depois de transitar por ele. Sua
prosa taxativa e terminante. Fora os argumentos de tal maneira que
os faz render frutos at o limite. Seguindo o estilo de seu mestre Louis
Althusser, as formulaes de Negri so propostas invariavelmente como
teses, armam posies, ditam sentenas. Talvez por isso seu texto seja to
provocador e tenha gerado instantaneamente tanto alvoroo no mundo
losco e na poltica, nas cincias sociais e na cultura de nossos dias.
Para os grandes meios de comunicao que o apoiaram, louva-
ram e promoveram, a gura de Negri adquire um carter inocente e
digervel quando se sublinha sua docncia universitria, mas se trans-
forma rapidamente em culpvel quando se lembra que foi e continua
sendo um militante (no o caso de Hardt). Para os parmetros ideol-
gicos utilizados por estes meios trata-se de salvar Negri de si mesmo,
a custa de sua prpria militncia, sacricando a fonte principal da qual
se nutrem invariavelmente suas controvertidas reexes.
Do nosso ponto de vista, esta obra constitui o balano maduro
de sua febril e apaixonada biograa poltica. No dispomos aqui do es-
pao suciente para percorrer seu prolongado e acidentado itinerrio
biogrco, mas cremos que suas frmulas contm s vezes de forma
aberta, outras implcita o benefcio de inventrio que Negri aplica so-
bre toda sua experincia poltica anterior.
O nexo terico imanente entre as propostas e anlises de Imprio
e a biograa de Negri foi sistematicamente ocultado, contornado ou
diretamente desconhecido pelos grandes meios de comunicao.
Entre as numerosas anlises conceituais contidas em Imprio, h
pelo menos cinco problemticas nas quais podemos detectar a marca
indelvel da trajetria poltico-biogrca do autor: o questionamento
de toda via nacional ao socialismo (neste ttulo se faz sentir a antiga
polmica do jovem Negri com a direo do ex-Partido Comunista Ita-
liano (PCI) Togliatti na liderana e sua proposta iniciada em 1956 em
prol de uma via nacional ao socialismo que buscava se diferenciar do
modelo sovitico promovido pelo Partido Comunista da Unio Soviti-
349
ca (PCUS); a rejeio de todo compromisso histrico com o Estado-
nao e suas instituies (aqui emerge ao primeiro plano a polmica
de Negri contra o compromisso de 1974 entre a Democracia Crist
Italiana (DCI) e o ex PCI nos tempos da liderana de Enrico Berlin-
guer; o re-exame auto-crtico do fabriquismo e do trabalhismo (expli-
citamente mencionados ao longo de Imprio); a atualizao dos postu-
lados da corrente auto-batizada como Autonomia (fundamentalmente
na substituio da noo de trabalhador social pelo conceito muito
mais vago e indeterminado de multido); a reexo sobre o fracasso
da luta armada posterior a 68 (principalmente no que diz respeito ao
movimento das Brigadas Vermelhas e s polmicas de Negri com seu
principal lder, o socilogo da Universidade de Trento Renato Curcio).
Paradoxalmente, nenhuma destas cinco problemticas estu-
dada nem por seus entusiastas comentadores acadmicos nem pelos
promotores jornalsticos de Imprio. Na maioria dos jornais a obra
tratada como se fosse a tese acadmica de um professor apoltico ou
assptico, e no como o pensamento maduro de um militante que faz
um balano tardio desde j polmico e muitas errado, do nosso ponto
de vista a partir de seus prprios fracassos polticos e suas prprias
derrotas dos anos 60 e 70.
VOLTAR AOS GRANDES RELATOS
Se Imprio possui uma virtude, ela consiste em ter tentado pr em dia a cr-
tica poltica do capitalismo, a losoa do sujeito e sua (suposta) crise ps-
moderna, a sociologia do mundo do trabalho e a historizao da sociedade
moderna ocidental; tudo ao mesmo tempo e num mesmo movimento.
Esta pretenso absolutamente totalizante, to na contramo das
losoas do fragmento e do micro que at ontem mesmo estavam na
moda e s quais paradoxalmente Hardt e Negri, de agora em diante
H&N, no so totalmente contrrios constitui um dos elementos mais
sugestivos de todo o polmico texto.
Depois de vinte anos de pensamento em migalhas e de um deser-
to de polmicas intelectuais que se assemelhou muito mediocridade,
hoje h sede de ideologia. Apalpa-se, sente-se. Imprio pretende encher
esse vazio. Talvez por isso conseguiu to repentina repercusso. Mesmo
que acreditemos que este livro apresenta mais diculdades que acertos,
de todas formas devemos fazer-lhe justia. Ao recolocar no centro da
cena losca a necessidade de contar com uma grande teoria, ou no
jargo ps-moderno de Gianni Vattimo, com categorias fortes, que
realmente se proponham a explicar, fez uma importante contribuio
Nestor Kohan
350
Filosofia poltica contempornea
s cincias sociais. Apesar de suas teses errneas, apesar de seus desa-
certos polticos ou loscos.
Nestas apertadas linhas nos propomos to-somente a apre-
sentar algumas teses sobre Imprio para identicar na obra ncleos
problemticos e tenses abertas que de nosso ponto de vista per-
manecem sem soluo por parte de seu autor. Seria possvel propor
muitas outras. Estas constituem apenas algumas pinceladas poss-
veis. Nosso modesto objetivo consiste em contribuir para uma dis-
cusso crtica da obra para alm das errticas modas miditicas e
de efmeros furores acadmicos (remember Althusser nos anos 70
ou Foucault nos anos 80!).
Deixamos explicitamente claro que nossa leitura de Imprio no
inocente. Certamente nenhuma o . Apresentamos estas teses para
a discusso e o debate, mas no o fazemos a partir da neutralidade
simulada ou da eqidistncia tpica do paper acadmico seno a partir
de um ngulo socialista, de uma perspectiva antiimperialista, de um
horizonte histrico-poltico ancorado em nossa sociedade latino-ame-
ricana e a partir de um paradigma emancipador centrado na losoa
marxiana da prxis. Insistimos: no somos neutros. Negri e os grandes
meios que o promovem tampouco o so.
TESE I
Embora Negri pretenda elidi-lo, quando analisa a globalizao seu livro
Imprio volta a cair no velho (e vituperado) determinismo.
Negri prope: Durante as ltimas dcadas, enquanto os regimes
coloniais eram derrocados, e aps o colapso final das barreiras so-
viticas ao mercado capitalista mundial, produziu-se uma irresist-
vel e irreversvel globalizao das trocas econmicas e culturais.
Junto com o mercado global e os circuitos globais de produo
emergiu, acrescentam H&N, uma nova ordem, uma nova lgica
e uma nova estrutura de mando em suma, uma nova forma de
soberania: o Imprio. Este tipo de sociedade que estaria se desen-
volvendo diante de nossos olhos seria o sujeito poltico que regula
efetivamente estas mudanas globais, o poder soberano que gover-
na o mundo (H&N, 2002: 13).
Onde reside o carter problemtico destas atribuies? Em
que todo o pensamento poltico de Negri sempre rejeitou inteira-
mente, de forma categrica e terminante, a corrente losca do
determinismo. Assim o fez em suas intervenes juvenis dos anos
351
60, nos tempos do trabalhismo italiano; em suas teorizaes dos
anos 70, na defesa do autonomismo; e tambm em seus textos ma-
duros do segundo exlio em Paris.
Em muitos de seus livros anteriores Negri rejeita categoricamen-
te o determinismo e polemiza com ele.
Neles sustenta que o desenvolvimento da sociedade capitalista
no tem nada a ver com o desenvolvimento de um organismo natural.
Na sociedade capitalista as regularidades somente expressam o resul-
tado contingente nunca necessrio nem tampouco pr-determinado
dos antagonismos sociais e das intervenes coletivas dos sujeitos em
enfrentamento nesses antagonismos.
Para Negri no h leis da sociedade a priori prvias expe-
rincia nem h inteligibilidade precedente dos processos sociais e
histricos: somente h verdade a posteriori do que veio a ocorrer.
Em vrios de seus polmicos escritos o lsofo italiano sustenta que
a posio determinista mascara e encobre o antagonismo e a con-
tradio. Na contramo do determinismo, Negri insiste uma e outra
vez em que os mecanismos da ao humana so imprevisveis. O
resultado das lutas est sempre aberto. Cada nova fase da histria
no revela, ento, nenhum destino escrito de antemo. A histria
est aberta!
Este argumento que atravessa todos os ensaios loscos e
polticos de Negri pertence seguramente ao que de mais brilhante,
rico e estimulante este pensador produziu. Nele nos convoca a in-
tervir na realidade, a que no quemos passivos nem dormidos, a
incidir sobre a histria.
Portanto, a diculdade aparece no primeiro plano quando Im-
prio se abre sustentando como tese central que a globalizao e a
constituio do Imprio enquanto nova forma de mando do capital
no nvel mundial tm como caractersticas centrais a irreversibili-
dade e, sobretudo, irresistibilidade (cabe esclarecer que na tradu-
o de Bixio substitui-se o termo irresistvel pelo de implacvel,
mas apesar deste matiz, a idia chave em torno globalizao per-
manece inalterada).
Ao armar isto, o o condutor do argumento de Negri cai
numa armao determinista, contradizendo o esprito losco
geral brilhante e cativante, por certo que havia animado suas pu-
blicaes anteriores.
De maneira problemtica e at contraditria com toda sua pro-
duo terica juvenil, a nova fase do capitalismo mundial que ele des-
Nestor Kohan
352
Filosofia poltica contempornea
creve utilizando o conceito de Imprio por oposio poca dos im-
perialismos teriam um carter inelutvel. Em outras palavras: no se
pode modicar, no h volta. No h possibilidade alguma de reverter
este processo e, o que mais grave: nem sequer de resistir-lhe!
TESE II
A viso apologtica que Imprio proporciona da globalizao (e sua crti-
ca da teoria da dependncia) conduz Negri a ser escandalosamente indul-
gente com a atual hegemonia mundial dos Estados Unidos.
Aps a queda da Unio Sovitica e a derrubada do sistema socialista
real da Europa do Leste, o american way of life generalizou-se por
todo o orbe. Os Estados Unidos converteram-se na potncia mundial.
So dados dicilmente questionveis. Tanto a guerra do Golfo Prsico
contra o Iraque como a interveno humanitria em Kosovo consti-
tuem provas de uma supremacia mundial sem paralelo na histria mo-
derna e contempornea. O mesmo poderamos dizer dos bombardeios
no Afeganisto ou do recente assessoramento e interveno militar na
Colmbia. Os Estados Unidos se do o luxo de bombardear a embai-
xada da Repblica Popular da China na ex-Iugoslvia e no acontece
absolutamente nada. Algo impensvel nos tempos em que ainda devia
disputar com a Unio Sovitica.
No entanto, ao longo de Imprio, Negri insiste uma e outra vez
em que os Estados Unidos j no constituem um pas imperialista. Esta
tese vai na contramo dos principais tericos da poltica internacional
contempornea, dos mais importantes crticos culturais e das numero-
sas organizaes dissidentes da nova ordem mundial.
Provocativamente e contra todos, Negri prope: Muitos locali-
zam a autoridade ltima que governa o processo de globalizao e da
nova ordem mundial nos Estados Unidos. Os que sustentam isto vm os
Estados Unidos como o lder mundial e nica superpotncia, e seus de-
tratores o denunciam como um opressor imperialista. Ambos pontos de
vista se baseiam na suposio de que os Estados Unidos se tenham ves-
tido com o manto de poder mundial que as naes europias deixaram
cair. Se o sculo dezenove foi um sculo britnico, ento o sculo vinte
foi um sculo americano; ou, realmente, se a modernidade foi europia,
ento a ps-modernidade americana. A crtica mais condenatria que
podem efetuar que os Estados Unidos esto repetindo as prticas dos
velhos imperialismos europeus, enquanto que os proponentes celebram
os Estados Unidos como um lder mundial mais eciente e benevolente,
353
fazendo bem o que os europeus zeram mal. Nossa hiptese bsica, no
entanto, de que uma nova forma imperial de soberania est emergindo,
contradiz ambos os pontos de vista. Os Estados Unidos no constituem
e, inclusive, nenhum Estado-nao pode hoje constituir o centro de um
projeto imperialista (H&N, 2002: 15, itlicas no original).
A quem Negri alude elipticamente quando, com sorna e ironia,
faz referncia crtica mais condenatria dos Estados Unidos? Ob-
viamente a Edward Said, intelectual palestino residente em Nova York.
Said, crtico literrio e cultural, e um dos impugnadores mais agudos
da poltica exterior dos Estados Unidos no mundo contemporneo.
Em Orientalismo (1978), em Cultura e imperialismo (1993) e em
outros de seus livros, reportagens e entrevistas, Edward Said mostrou
que toda a cruzada norte-americana contra o mundo rabe e muulma-
no no constitui mais do que uma nova modalidade da velha poltica
imperialista das grandes potncias ocidentais de dominao sobre suas
reas de inuncia. Nesta poltica imperialista inscreve-se sua campa-
nha contra o terrorismo, fundamentada numa retrica humanit-
ria e pretensamente universalista.
Embora em Imprio Negri celebre Said como um dos mais bri-
lhantes intelectuais sob o selo da teoria ps-colonial (H&N, 2002: 141),
rejeita terminantemente sua viso anti-imperialista da nova ordem
mundial. Do mesmo modo que ocorre com Said, Negri repete exa-
tamente a mesma operao quando analisa a crtica de Samir Amin e
Immanuel Wallerstein ao processo da chamada globalizao. O mesmo
vale para seu (mais do que rpido) descarte da teoria da dependncia.
Em todos estes casos, Negri defende a ferro e fogo uma concep-
o do capitalismo contemporneo onde as categorias de imperialis-
mo, metrpole e dependncia j no tem eccia nem lugar. Negri
no aceita a opinio do crtico cultural palestino residente em Nova
Iorke quando este arma que as tticas dos grandes imperialismos
europeus que foram desmantelados aps a primeira guerra mundial,
esto sendo replicadas pelos Estados Unidos.
Por que, questionando Edward Said, Negri se nega a aceitar que no
mundo contemporneo os estados no so equivalentes ou intercambi-
veis? Por que rejeita com semelhante veemncia as categorias de metr-
pole imperialista e de periferia dependente? Lembremos que o discurso
sustentado no par de categorias metrpole imperialista e pases semi-
coloniais e dependentes havia sido central na teoria da dependncia.
Embora nem todos os partidrios da teoria da dependncia con-
cordassem entre si, como muitas vezes se armou, apressadamente,
Nestor Kohan
354
Filosofia poltica contempornea
em alguma literatura de divulgao sociolgica norte-americana, o cer-
to que todos chegavam a uma concluso similar. Para eles o atraso la-
tino-americano e perifrico no conseqncia de uma suposta falta
de capitalismo mas de sua abundncia. precisamente o capitalismo,
entendido como sistema mundial, o encarregado de produzir uma e
outra vez isto , de reproduzir essa relao de dependncia da peri-
feria em proveito do desenvolvimento e da acumulao de capital nos
pases capitalistas mais adiantados.
Segundo esta teoria, as burguesias dos pases capitalistas desen-
volvidos acumulam internamente capital, expropriando a mais-valia
excedente dos capitalismos perifricos. Deste modo como reconheceu
Ernest Mandel em seu clebre trabalho A acumulao originria do ca-
pital e a industrializao do terceiro mundo impedem, obstaculizam ou
deformam sua industrializao.
Mas os povos dos pases dependentes trabalhadores, campo-
neses e demais classes subalternas no s so espoliados por estas
burguesias metropolitanas. Tambm so explorados por seus scios
menores, as prprias burguesias locais dos pases perifricos. Da
que em uma formulao clssica Andr Gunder Frank tenha carac-
terizado o desenvolvimento econmico-social dos pases dependentes
como lmpen-desenvolvimento e as burguesias locais perifricas
como lmpen-burguesias (seja dito de passagem: na Argentina, no
estavam longe disso Silvio Frondizi e Milcades Pea quando, impu-
gando estes scios locais do imperialismo, formularam sua hiptese
do desenvolvimento capitalista argentino entendendo-o como uma
pseudo-industrializao).
A principal conseqncia de toda esta discusso, como h muito
tempo j tinham esclarecido Ruy Mauro Marino, Vania Bambirra ou o
prprio Andr Gunder Frank, consiste em que no necessariamente a
teoria da dependncia equivale ao populismo burgus e nacionalista.
Homologao sobre a qual, erroneamente, assenta-se todo o relato e a
impugnao de Imprio.
Se o populismo nacionalista culmina de algum modo salvan-
do e legitimando as burguesias latino-americanas, a formulao de
Negri, por oposio, conduz diluio da responsabilidade estrutural
dos Estados Unidos no atraso latino-americano. As correntes polti-
cas mais radicais que empregaram as categorias da teoria da depen-
dncia, em compensao, questionam ao mesmo tempo as burguesias
nativas dos pases latino-americanos e aos Estados Unidos como ba-
luarte do imperialismo.
355
TESE III
Toda a formulao histrica de Imprio se apia num vcio metodolgico
de origem, o eurocentrismo; para legitim-lo, Negri constri um Marx a
sua imagem e semelhana.
Justo quando o FMI e o Banco Mundial exercem um poder desptico
em todo o orbe, Negri volta a reatualizar uma formulao historio-
grca, econmica e sociolgica terica e cronologicamente anterior
teoria da dependncia. Imprio torna sua um tipo de formulao que
se encontra muito mais prxima das formulaes iniciais da Comis-
so Econmica para a Amrica Latina (CEPAL) ou inclusive das teses
dos primeiros anos da dcada do 50. Todas estas correntes atribuam o
atraso latino-americano falta de modernizao e de capitalismo, e s
viam diferenas de grau entre a periferia e a metrpole! Essa precisa-
mente uma das teses centrais de Imprio.
Armar como faz Negri que entre os Estados Unidos e o Bra-
sil, a ndia e a Gr-Bretanha s existem diferenas de grau implica
retroceder quarenta anos no terreno das cincias sociais. Para alm
da inteno subjetiva de Negri ao redigir Imprio, isso conduz objeti-
vamente a desconhecer olimpicamente tudo o que foi acumulado en-
quanto conhecimento social acadmico e poltico do desenvolvimen-
to desigual do capitalismo e das assimetrias que este invariavelmente
gera. Negri comete este enorme desacerto em sua impugnao contra
a teoria da dependncia ao tentar descentrar o papel principal que os
Estados Unidos mantm atualmente em sua dominao mundial.
De onde extrai a comparao entre sociedades to dessemelhan-
tes como os Estados Unidos e o Brasil, a ndia e a Gr-Bretanha? Pois
de um texto central da tradio marxista clssica. Embora seja mais
do que provvel que seus apologistas miditicos o ignorem e seus ade-
rentes polticos o desconheam, Negri obtm esse exemplo pontual do
prlogo que Len Trotsky redige para seu prprio livro A revoluo per-
manente. Obviamente, em Imprio Negri no o diz explicitamente.
Ali Trotsky discutia a viso acirradamente nacionalista de Stlin.
Em oposio a este ltimo, sustentava que as particularidades nacio-
nais destas quatro sociedades e sua evidente assimetria recproca eram
o produto mais geral do desenvolvimento histrico desigual. Preci-
samente Negri omite esse desenvolvimento histrico desigual com
suas assimetrias e suas relaes de poder no nvel internacional para
acabar analisando o capitalismo no nvel mundial como se fosse uma
superfcie plana e homognea.
Nestor Kohan
356
Filosofia poltica contempornea
Mas este desacerto no acidental. Na escrita de Imprio consti-
tui um obstculo sistemtico.
Provm de um fundamento mais profundo: a ideologia do
eurocentrismo.
O dcit eurocntrico do jovem Negri (aquele que militava no
Poder Operrio-POTOP e depois trabalhava na Autonomia Oper-
ria, organizaes que jamais se propuseram como estratgia uma
aliana com setores revolucionrios que no fossem europeus) se
reproduz de maneira ampliada na maturidade de nosso autor. Este
obstculo tem uma pesada carga terica que no s corresponde
debilidade das estratgias anti-capitalistas que Negri prope no li-
vro. Tambm impregna suas tentativas de periodizao da sociedade
moderna e do capitalismo.
Em Imprio sustenta-se que a passagem da fase histrica marca-
da pelo imperialismo a essa nova lgica que emergiria com o nasci-
mento do Imprio coincide exatamente com o trnsito da modernidade
para a ps-modernidade. Negri encadeia dois debates que at agora se
desenvolveram em terrenos diversos. Por um lado, a discusso econ-
mica sobre as etapas do capitalismo e o problema de como classicar
a situao mundial atual. Pelo outro, a discusso losca, arquite-
tnica e esttica sobre se estamos ou no na ps-modernidade. Negri
amalgama ambos os problemas dentro de um mesmo trao, traduzin-
do muitos dos termos loscos e estticos para o mbito econmico e
vice-versa. Essa sem dvida uma de suas habilidades mais brilhantes.
Imprio est repleto destas tradues, certamente j empregadas por
autores como Fredric Jameson ou David Harvey.
A partir de que critrio periodizar ambas as passagens, o incio
da ps-modernidade e o do Imprio?
De que ngulo abordar essas transies? Quais segmentos sociais
e geogrcos deveriam ser tomados como referncia para se alcanar
uma periodizao correta? Novamente, neste ttulo Negri taxativo, ex-
tremamente arriscado e provocador: A genealogia que seguiremos em
nossa anlise da passagem do imperialismo ao Imprio ser primeiro
europia e depois euro-americana, no porque acreditamos que estas
regies so a fonte privilegiada e exclusiva de idias novas e inovaes
histricas, seno simplesmente porque este o principal caminho ge-
ogrco que seguiram os conceitos e prticas que animam o Imprio
desenvolvido atualmente (H&N, 2002: 17).
Isto quer dizer que em Imprio se estabelece uma periodizao
de alcance mundial, mas o critrio utilizado s regional e provincia-
357
no. Negri reconhece isso explicitamente quando sustenta que o con-
ceito de Imprio prope um regime que abarca a totalidade espacial do
mundo civilizado (H&N, 2002: 16).
Por acaso Negri pensa que o que acontece primeiro na Europa
Ocidental e nos Estados Unidos em seguida se repete e se estende de
maneira ampliada no nvel perifrico? Essa era a base terica da socio-
logia estrutural-funcionalista que entrou em crise nos anos 60 a partir
da teoria da dependncia.
Apesar de que mais adiante Imprio dene o eurocentrismo
como uma contra-revoluo em escala mundial (H&N, 2002: 83), o
critrio escolhido e utilizado por Negri para periodizar o trnsito do
imperialismo ao Imprio e da modernidade ps-modernidade conti-
nua sendo eurocntrico.
No parece por isso casual que em Imprio e tambm em seus
livros anteriores o lsofo assinale o ano 68 italiano (na Europa) como
uma inexo histrica mundial sem dar-se conta da guerra do Viet-
n (na sia), da revoluo cubana e sua inuncia (na Amrica lati-
na), nem a guerra e independncia da Arglia (na frica). Para Negri o
mundo civilizado continua recluso na Europa ocidental e, no mxi-
mo, nos Estados Unidos.
Na hora de legitimar semelhante formulao eurocntrica, Negri
apela para a herana mais progressista e eurocntrica de Marx. Um
Marx a sua imagem e semelhana. Por isso sustenta que A questo
central que Marx podia conceber a histria fora da Europa somente
movendo-se estritamente ao logo do caminho j recorrido pela prpria
Europa (H&N; 2002: 120).
Que Marx este que em Imprio Negri cita com tanto entusias-
mo? O Marx que escreveu a srie de artigos para o jornal estaduni-
dense New York Daily Tribune em 1853 acerca do governo britnico
na ndia? Ali Marx questiona no terreno da tica as brutalidades mais
atrozes da dominao britnica sobre a colnia ndia mas pratica-
mente festeja o avano colonial ingls. Na poca 1853 considerava
que este traria consigo uma espcie de progresso para a colnia
e promoveria um potencial desenvolvimento das foras produtivas
para a ndia. Esta viso eurocntrica no havia sido muito diferen-
te daquela j formulada no clebre Manifesto do Partido Comunista
(1848) quando Marx e Engels sustentavam: Em virtude do rpido
aperfeioamento dos instrumentos de produo e ao constante avan-
o dos meios de comunicao, a burguesia arrasta a corrente da civi-
lizao a todas as naes, at as mais brbaras [...] Do mesmo modo
Nestor Kohan
358
Filosofia poltica contempornea
que subordinou o campo cidade, subordinou os pases brbaros ou
semibrbaros aos pases civilizados, os povos camponeses aos povos
burgueses, o Oriente ao Ocidente (Marx e Engels, 1975a: 38). No
mesmo tom Marx sustenta dois anos mais tarde: O ouro californiano
jorra caudalosamente sobre a Amrica e sobre a costa asitica do Pa-
cco e arrasta os obstinados povos brbaros ao comrcio mundial,
civilizao (Marx e Engels: 1975b: 192).
A presena do eurocentrismo nestes escritos de Marx da segunda
metade da dcada de 1840 e da primeira metade da dcada de 1850 foi
amplamente analisada e questionada pelos prprios marxistas durante
os ltimos anos. Os estudiosos do problema tambm demonstraram
que o Marx maduro, o das dcadas de 1860, 1870 e sobretudo dos pri-
meiros anos da de 1880 mudou denitivamente sua viso do assunto
1
.
Esse Marx maduro realiza uma notvel virada que o conduz a revisar
muitos de seus prprios juzos anteriores em torno da periferia do sis-
tema mundial: por exemplo, sobre a China, ndia e a Rssia e inclusive
sobre os pases atrasados, coloniais e perifricos dentro mesmo da Eu-
ropa do sculo XIX como a Espanha e a Irlanda.
Negri, um pensador sumamente erudito e notavelmente infor-
mado sobre os debates acadmicos das ltimas dcadas, no menciona
nenhum dos escritos jornalsticos ou as hoje clebres cartas de Marx
como a que envia em 1881 a Vera Zasulich neste sentido. Nestes
materiais Marx reete sobre vias alternativas e distintas s europias
ocidentais de desenvolvimento histrico, concebendo este ltimo de
maneira muito mais matizada e totalmente alheia ao determinismo
evolucionista. Tambm questiona sua prpria viso de 1853 sobre o
colonialismo progressista da Gr-Bretanha na ndia. Nessa carta de
1881 chega a armar que, a partir do avano ingls, no s a ndia no
foi para a frente, seno que foi para trs.
Negri passa olimpicamente por alto estes numerosos escritos de
Marx, apesar de terem sido traduzidos, editados, analisados e ampla-
mente discutidos nas principais universidades europias e latino-ame-
ricanas durante os ltimos anos.
Ao apoiar-se na suposta autoridade de Marx para festejar e ce-
lebrar o carter avassalador e arrebatador da globalizao, Negri no
pode fazer outra coisa seno desconhecer e evitar esses escritos onde o
prprio Marx questiona a centralidade absoluta da sociedade moderna
1 Essa uma das hipteses centrais de nosso livro Marx en su (Tercer)Mundo (Kohan,
1998).
359
euro-norte-americana e a idia de progresso necessrio que traria a
expanso mundial do capitalismo.
Da que em Imprio Negri acabe desenhando um Marx a ima-
gem e semelhana de sua prpria formulao. Somente partindo do
pensamento do ltimo Marx o mais maduro e o mais crtico do euro-
centrismo se poderia periodizar com maior rigor o desenvolvimento
do capitalismo a partir de um horizonte autenticamente mundial, no
segmentado, provinciano ou regional.
TESE IV
A periodizao do capitalismo e de seus modos de regulao proposta
por Negri em Imprio, embora pretenda ter uma qualidade e um alcance
universal, na realidade se sustenta num marco de referncia estreitamen-
te local e provinciano (o norte da Itlia).
Em Imprio nosso autor tenta homologar trs processos diferentes num
mesmo trao: a passagem do imperialismo ao Imprio, a transmutao
da modernidade em ps-modernidade como se uma viesse cronologi-
camente depois da outra e no fossem coexistentes e combinadas e,
nalmente, o esgotamento do fordismo substitudo pelo ps-fordismo.
O chamativo disso reside no critrio escolhido por Negri para periodi-
zar estas trs passagens.
O lsofo adota como parmetro exclusivo da inexo de cada
etapa o auge das lutas do 68 italiano; a seguinte dcada italiana que
chega at a derrota de 1977, marcada pela autonomia; e pela inovao
das grandes empresas capitalistas italianas.
Isto signica que Negri tenta descrever e explicar um fenmeno
universal a generalizao e expanso do modo de produo capi-
talista para o conjunto da urbe partindo de um critrio exclusiva-
mente local, circunscrito nem sequer a toda Itlia, mas to somente
s cidades do norte industrial. A conseqncia no desejada de sua
formulao (que se origina num balano maduro de sua prpria expe-
rincia poltica anterior) a limitao provinciana do que deveria ser,
segundo seu propsito inicial, um marco de anlise mundial destina-
do a periodizar a lgica geral que adquire o capitalismo globalizado
em todo o planeta.
Obviamente, no h nada de mal em que Negri tenha partido
de sua experincia vital para pensar o problema. O que se mostra in-
correto que tenha generalizado essa experincia biogrca como se
correspondesse histria mundial.
Nestor Kohan
360
Filosofia poltica contempornea
TESE V
Apesar da utilizao da linguagem clssica da esquerda, em Imprio Ne-
gri decreta a morte (sbita) da dialtica marxista e pretende substitu-la
pela metafsica do ps-estruturalismo.
O ps-estruturalismo exerce sobre o leitor neto obviamente no
o caso de Negri uma fascinao imediata. Esse fenmeno se repete
uma e outra vez com quem se choca pela primeira vez com este tipo de
escritos. Porm, o encanto dura pouco. Uma vez que se decanta a fasci-
nao inicial, pode-se apreciar como o ps-estruturalismo corre o risco
de vagar sobre um conjunto de conitos e dominaes pontuais sem
chegar a vislumbrar o nexo global que subordina, incorpora e reproduz
cada uma destas opresses especcas no interior do modo de produ-
o capitalista. Estes conitos so de gneros, de etnias, de culturas,
geracionais, nacionais, ecolgicos, de minorias sexuais, etcetera.
A losoa ps-estruturalista deixa uma perigosa e tentadora por-
ta aberta para sublimar a luta contra cada uma destas opresses sem
apontar ao mesmo tempo contra o corao do sistema capitalista como
totalidade. De forma anloga, a apologia de contra-poderes (sempre
locais) tema preferido de Foucault em seu academicamente celebra-
do Microfsica do poder muitas vezes acaba aceitando resignadamente
uma impotncia diante do poder sem mais.
Apesar de no ser um recm-chegado losoa nem um aciona-
do, para o Negri exilado em Paris que vem de uma derrota (a do movi-
mento da esquerda extraparlamentar italiana dos anos 60 e anos 70), a
rejeio ps-estruturalista da totalidade (e da tomada do poder mediante
uma revoluo poltica), do mesmo modo como sua adscrio metaf-
sica pluralista dos novos sujeitos sociais, lhe caem na mo como um anel
no dedo. No duvida um segundo em adotar as novas formulaes.
Ao se empapar da cultura losca hegemnica da Academia da
Frana durante os anos 70 e comeos dos anos 80, Negri torna seus mui-
tos dos pressupostos que estas correntes universitrias traziam consigo.
Por um lado, Foucault, Deleuze e Guattari lhe proporcionam o jargo e a
metafsica ps-estruturalista, centrada na teoria do biopoder e na reva-
lorizao do antigo pluralismo de origem liberal, lido agora na chave da
esquerda. Uma leitura que mantm no poucas piscadelas com a tradio
anarquista. Por outro lado, o pensamento de Louis Althusser em sua fase
autocrtica dos anos anos 70 e anos 80, am ao eurocomunismo do Par-
tido Comunista Francs (PCF) facilita-lhe adotar um dos lugares comuns
aos principais pensadores franceses daqueles anos: a (suposta) morte do
361
sujeito e o abandono da dialtica. Expresso losca, naquele tempo, do
abandono eurocomunista de toda proposio revolucionria.
A partir de ento, Negri no se separar mais desta nova maneira
de entender a transformao social. Enquanto rejeita as formas desp-
ticas e estatalmente centralizadas do stalinismo, ao mesmo tempo o
Negri exilado, fascinado com o ps-estruturalismo, comea a resgatar
e revalorizar a velha tradio pluralista que at ento havia pertencido
principalmente na histria das idias polticas ao acervo do liberalis-
mo. Realiza essa adoo mediante uma linguagem muitas vezes crtica,
marcada por numerosos neologismos que tanto devem ao estilo fran-
cs, tipicamente acadmico, de Deleuze e Guattari.
Da em diante, a partir de seu segundo exlio francs, Negri se apro-
pria de toda a linguagem do ps-estruturalismo tentando traduzir o traba-
lhismo e, sobretudo, o autonomismo italianos ao jargo losco francs
ento em voga. Cada pgina de Imprio uma el expresso dessa ten-
tativa de traduo. Ele mesmo admite quando identica a genealogia do
conceito de biopoder, remetendo-a diretamente obra de Foucault.
Compreende-se ento porque, em outubro de 1984, Negri escre-
ve uma carta a Flix Guatarri dizendo-lhe sem nenhuma preveno:
Totalidade: sempre a do inimigo. Uma armao metodolgica que
teria espantado Karl Marx. Lembremos que este ltimo, nos Grundris-
se (rascunhos de O Capital aos quais Negri dedicou seu livro Marx alm
de Marx) havia assinalado a categoria de totalidade concreta como
o conceito central de toda sua metodologia, sua crtica da economia
poltica e sua concepo da dialtica.
TESE VI
A virulenta crtica de Negri tradio losca dialtica e a tentativa de
Imprio de expurgar do pensamento emancipador contemporneo toda
a referncia a Hegel constituem uma tentativa tardia de voltar a por em
circulao as velhas e desvalorizadas leituras dellavolpianas e althusse-
rianas do marxismo.
Embora as eufricas resenhas jornalsticas sobre Imprio publicadas
nos grandes meios de comunicao o desconheam, a nova losoa
e o novo pensamento de Negri no fazem mais do que reatualizar
numa chave ps-estruturalista as antigas perspectivas loscas da
escola de Galvano Della Volpe (na Itlia do primeiro dos anos 60) e,
fundamentalmente, de Louis Althusser e seus discpulos (na Frana,
durante sua autocrtica do primeiro qinqnio dos anos 70).
Nestor Kohan
362
Filosofia poltica contempornea
Depois do ps-guerra, e sobretudo da morte de Stlin (1953), o
Partido Comunista Italiano permite que oresam cem ores e que se
abram cem escolas ideolgicas... sempre sob a condio de que acatem
unanimemente sua linha poltica ocial: a institucionalizao da classe
trabalhadora italiana dentro do espartilho empresrio, das redes da
disciplina da FIAT e do estado burgus keynesiano.
Entre essas cem ores toleradas e permitidas, o PCI encontra-
se ento dividido entre duas correntes. A majoritria se postula como
herdeira de Gramsci, cujos Cadernos do Crcere so lidos e interpre-
tados a partir da tica da ortodoxia marxista atravs do ltro ocial
elaborado por Palmiro Togliatti, o velho lder poltico do PCI desde a
priso de Gramsci. A outra vertente, minoritria mas muito inuente,
encabeada pelo lsofo Galvano Della Volpe.
A primeira destas duas correntes, formada pelos lsofos Lucia-
no Gruppi, Nicola Badaloni e Cesare Luporini, entre outros, entende
o pensamento marxista como uma losoa que outorga histria um
lugar metodolgico central em sua reexo. Da ela ser conhecida na-
queles anos como o grupo historicista. Junto com a dimenso histri-
ca, estes marxistas herdeiros de Gramsci tambm atribuem categoria
losca de prxis um lugar destacado em seus livros e artigos.
A concepo de mundo de Marx para o grupo historicista uma
losoa da prxis que faz sua a dialtica de Hegel. Ao mesmo tempo,
este grupo de lsofos comunistas reivindica como tradio prpria
para os revolucionrios italianos a herana cultural de pensadores hu-
manistas como Giordano Bruno e Giambattista Vico.
A segunda vertente dentro do PCI, encabeada por Galvano Della
Volpe e nutrida por seus discpulos Lucio Colletti, Mario Rossi, Giulio
Pietranera, Nicolao Merker e outros, postula em troca um marxismo
menos humanista e mais cienticista. Este outro tipo de marxismo en-
contra-se muito mais prximo e propenso herana experimental de
Galileu Galilei. Por oposio aos gramscianos, mostra-se extremamen-
te crtico da dialtica de Hegel.
A maior confrontao terica entre ambos os setores intelectuais
ocorre em 1962 quando se produz em diversas revistas e jornais italia-
nos de esquerda uma discusso aberta entre os partidrios das duas
tradies loscas comunistas.
Ao longo de toda sua trajetria, Toni Negri, diferentemente dos
pensadores Mario Tronti e Massimo Cacciari (com os quais compar-
tilhou sua primeira militncia), nunca se aproximou ao PCI, nem ao
terreno poltico nem na rbita losca. No obstante, nas numerosas
363
observaes crticas que Imprio dedica ao questionamento da herana
dialtica de Hegel podem ser rastreados os vestgios ou pelo menos os
ecos incofessados de uma atenta leitura dos escritos anti-hegelianos de
Galvano Della Volpe. No causalmente Negri mostra, numa passagem
irnica de um relato autobiogrco, que na Itlia todos eram hegelia-
nos, ento, entre o nal da guerra travada e do comeo da guerra fria:
o tio Benedetto Croce e os sobrinhos gramscianos (Negri, 1993: 18).
Ali pe no mesmo saco os liberais burgueses discpulos de Benedetto
Croce e os comunistas seguidores da linha losca ocial do PCI im-
pulsionada por Togliatti e questionada por Della Volpe.
De forma paralela ao impulso contra Hegel que a escola losca
de Galvano Della Volpe estava promovendo no comunismo italiano,
Althusser e seus discpulos encabearam na Frana uma arremetida
anti-hegeliana de longo flego. O principal objeto de crtica desta esco-
la era Roger Garaudy e seu humanismo. Althusser questionou dura-
mente o marxismo hegelianizante no qual bebia Garaudy quem havia
publicado pouco antes Dieu est mort: tude sur Hegel. No obstante,
diferentemente da crtica externa contra Garaudy de Foucault, Deleuze
e Guattari, sua impugnao do humanismo marxista de desenvolveu
estritamente dentro das mesmas estruturas partidria do Partido Co-
munista Francs (PCF).
Tambm polemizando com Roger Garaudy, mas de dentro deste
PCF, Louis Althusser encabea no incio dos anos 60 uma das empre-
sas tericas mais inuentes daqueles anos. Como professor da Escola
Normal Superior de Paris, Althusser dirigiu em 1964 e 1965 principal-
mente durante o vero de 1965 um seminrio famosssimo de leitura
sobre O Capital de Karl Marx.
Como produto deste seminrio foi publicada a obra coletiva Lire
le Capital, onde alm de Althusser escreviam seus discpulos Etienne
Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey e Jacques Rancire. Esse livro
faria histria.
Garaudy pretendia legitimar as posies internacionais do Parti-
do Comunista da Unio Sovitica em defesa de sua coexistncia pacca
com os Estados Unidos apelando para a ideologia do humanismo.
Mediante esta losoa, Garaudy argumentava que tanto soviti-
cos como norte-americanos eram em ltima instncia, para alm dos
conitos ideolgicos, pessoas que podem conviver em paz.
Althusser e sua escola atropelaram sem piedade este huma-
nismo. Rejeitando este entendimento com as potncias capitalistas,
Althusser e seus discpulos caracterizaram o humanismo pura e sim-
Nestor Kohan
364
Filosofia poltica contempornea
plesmente como ideologia burguesa. Denominaram a categoria de ho-
mem terminantemente como um mito da ideologia burguesa.
Em que consistia o eixo de sua argumentao? Em que toda a
ideologia do humanismo girava em torno aos conceitos de homem,
de essncia humana o que era comum a todos os seres humanos,
para alm das classes sociais e dos sistemas polticos em enfrentamen-
to, de alienao a perda da essncia humana e fundamentalmen-
te de sujeito. Deste modo, Althusser e seus discpulos propunham a
todos os marxistas renunciar a esses conceitos tericos devido a que
conduziam a posies burguesas.
Num de seus mais polmicos ensaios, em junho de 1964, Althusser
chegou a sustentar que o marxismo no somente no um humanismo,
seno que inclusive um anti-humanismo terico. Essa posio, central
em seus livros dos 60, apesar de suas autocrticas dos anos 70, volta a
aparecer intacta em seus ltimos escritos e entrevistas publicadas durante
os 80, pouco antes de morrer. Por exemplo, na entrevista que Althusser
concede professora mexicana Marisa Navarro texto que publicado em
1988 sob o ttulo Filosoa y marxismo insiste outra vez em que a catego-
ria de o homem to cara a Garaudy equivale ao sujeito de direito, livre
de possuir, vender e comprar no mercado, isto ... ao sujeito burgus.
Entre este ltimo texto dos anos 80 e aqueles dos anos 60 medeia
a famosa autocrtica de Althusser de junho de 1972. Seu livro se cha-
mar precisamente Elementos de autocrtica. Nela, o celebrado autor
de Lire le Capital questiona muitas de suas categorias anteriores: sua
denio da losoa, a relao entre a teoria e a poltica, a relao en-
tre a cincia e a ideologia, sua dbil ateno luta de classes, etc., etc.
Quase tudo exceto seu anti-humanismo e sua crtica do sujeito.
Negri continua atenta e pontualmente essa evoluo ideolgica,
sem a qual pouco se compreende das armaes loscas de Imprio,
sumamente crticas da concepo dialtica.
TESE VII
A nova substituio do binmio Hegel-Marx pelo de Maquiavel-Spino-
za propugnado por Imprio no faz mais do que desenvolver estritamente
o programa losco formulado por Louis Althusser em total sintonia
poltica com a mutao eurocomunista do PC francs a partir dos 60.
O lsofo judeu Baruch Spinoza teve e tem na losoa de Toni Negri
uma importncia fundamental. A ele dedica seu celebrado livro escrito
na priso A anomalia selvagem. Poder e potncia em Spinoza (1981).
365
Em conseqncia, para os leitores de Imprio, um dos eixos da
losoa de Althusser que imprescindvel conhecer reside naqueles
trechos onde este ltimo se espraia sobre a reao do marxismo com
Spinoza. Neles, Althusser reconhece que, para poder submeter crtica
a dialtica de Hegel, no teve mais remdio do que dar um rodeio.
Esse rodeio se chama justamente Spinoza.
O que Althusser adota de Spinoza? Em Para ler O Capital subli-
nha O fato de que Spinoza tenha sido o primeiro a colocar o proble-
ma do ler, e por conseguinte de escrever, sendo tambm o primeiro no
mundo em propor ao mesmo tempo uma teoria da histria e uma lo-
soa da opacidade do imediato (Althusser, 1988: 21). Ao que faz refe-
rncia Althusser com a opacidade do imediato? teoria marxista da
ideologia, segundo a qual todo conhecimento imediato, todo sentido
comum, todo conhecimento que no seja cientco, opaco, est tin-
gido necessariamente pela ideologia e portanto no permite alcanar a
verdade do real. Ao caracterizar Spinoza como o primeiro lsofo no
mundo a ter sentado as bases da teoria marxista da ideologia, Althus-
ser constri uma estreita unidade entre Marx e Spinoza... a despeito de
Hegel. J no Hegel o antecedente de Marx, seno Spinoza.
Essa altssima valorizao de Althusser sobre Spinoza volta a apa-
recer em Elementos de autocrtica quando dedica ao pensador judeu um
captulo inteiro. Nele sustenta que o que adota de Spinoza em primeiro
lugar sua rejeio de toda transcendncia teleolgica. Tambm torna sua
a defesa de uma teoria da causalidade sem transcendncia.
Em segundo lugar, o que Althusser toma de Spinoza sua con-
cepo da realidade como um todo sem clausura isto , como um
processo de desenvolvimento que no se fecha no nal, que no ter-
mina nunca. Ambos os ncleos spinozianos servem a Althusser para
questionar duramente Hegel e sua losoa dialtica. Hegel acredita-
va que toda realidade somente encontrava seu sentido e sua verdade
para alm dela mesma, numa nalidade ou teleologia superior que
se encontraria ao nal de seu processo de desenvolvimento, mas que j
estaria pr-anunciada desde sua prpria origem. Pelo contrrio, para
Althusser, o comunismo no constitui o nal feliz da histria humana,
pr-assegurado de antemo.
Em sua autocrtica do incio dos anos 60, Althusser atribui
herana de Spinoza suas melhoras conquistas o ter podido rejeitar
Hegel e seus piores erros o ter subestimado a luta de classes. Ali,
em elementos de autocrtica, Althusser reconhece que se bem Spinoza
serviu-lhe para deixar de lado a dialtica de Hegel, ao mesmo tempo
Nestor Kohan
366
Filosofia poltica contempornea
armou-lhe uma armadilha. Como Spinoza no havia concebido a reali-
dade como uma substncia em processo atravessada por contradies,
ento Althusser, partindo de seu pensamento, no pode criar um mar-
xismo centrado nas contradies de classe, nas lutas de classes. Esse
questionamento lhe foi feito por muitos pensadores quando criticaram
seu livro Para ler O Capital.
A adoo marxista do pensamento de Spinoza (e a conseguinte
rejeio das violentas contradies nas quais se assentava o marxis-
mo dialtico) foram, no pensamento poltico de Althusser, funcionais
a suas simpatias maduras pela renncia eurocomunista de tomar o
poder mediante uma revoluo.
Althusser faleceu em 1990. Antes de morrer, em 1985, havia redi-
gido sua autobiograa. Esta foi publicada postumamente em 1992 com
o ttulo Lavenir dure longtemps [Em portugus: O futuro dura muito
tempo. Os fatos: autobiograas]. Nela volta sobre a sombra insepulta
de Spinoza. Nesses manuscritos explica que o que o levou a passar por
cima de Hegel para construir a genealogia Maquiavel-Spinoza-Marx
(cuja originalidade muitos atribuem, erroneamente, a Negri e seu
Imprio) foi precisamente a idia spinoziana do pensamento sem ori-
gem nem m.
Toni Negri toma contato com Althusser em seu primeiro exlio
francs de 1977. So os anos imediatamente posteriores autocrtica.
Mais tarde, quando regressa Frana para se exilar pela segunda vez,
durante catorze anos, volta a se chocar com o pensamento de Althus-
ser. Dele adota a crtica terminante contra a categoria losca de su-
jeito e contra Hegel. Embora seja provvel que j tenha incursionado
antes nesta crtica devido inuncia da escola italiana de Della Volpe,
apesar de que em sua primeira juventude Negri havia publicado em
Pdua Stato e diritto nel giovane Hegel (1958).
Quando muitos meios de comunicao celebram entusiasmados
e de forma completamente supercial a crtica de Imprio dialtica,
no sempre ca claro qual a fonte ntima dessa rejeio. Em Imprio
Negri volta pontualmente sobre Althusser resgatando dele precisamen-
te sua crtica do sujeito e sua inscrio anti-humanista. Assim prope
que o anti-humanismo que foi um projeto to importante para Fou-
cault e Althusser nos anos 60 pode ser efetivamente ligado com uma
batalha que Spinoza travou trezentos anos antes (H&N, 2002: 95).
Althusser ser justamente a grande autoridade marxista euro-
pia na qual se apia Negri para construir, retrospectivamente, uma
linha losca alternativa clssica conjuno que no campo da es-
367
querda vincula O Capital de Marx com a Cincia da Lgica de He-
gel. Da mo de Althusser, em Imprio Negri constri uma genealogia
histrica anti-hegeliana e antidialtica vinculando Marx com Ma-
quiavel e Spinoza. Essa vinculao que erroneamente muitos meios
de comunicao atribuem genial originalidade de Negri, continua
pontual e exatamente, orao por orao e palavra por palavra, as
detalhadas indicaes de Althusser.
Por que Spinoza e no Hegel? Por que materialismo e no a
dialtica? Pois porque em Imprio Negri associa a dialtica de Hegel,
no com a crtica revolucionria contra a ordem existente (como fazia
Marx no eplogo de 1873 segunda edio alem de O Capital) seno
com a apologia do Estado.
Aos olhos de Negri, se Spinoza expressa o surgimento demo-
crtico da multido, Hegel em compensao coroa todo o desenvol-
vimento contra-revolucionrio da modernidade e representa o mo-
mento repressivo estatal. Para descrever esta via Negri recorre a uma
qudrupla homologao:
representao = abstrao e controle = mediao = Estado
Ao realizar esta caracterizao, Negri volta a repetir textualmente as
velhas e retradas reprovaes que Eduard Bernstein havia formulado
um sculo atrs contra Hegel e o mtodo dialtico em sua obra cls-
sica As premissas do socialismo e as tarefas da socialdemocracia (1899).
Deste modo, Negri deixa expressamente de lado, sem sequer mencion-
la, a extensssima bibliograa losca (desde o jovem Gyrgy Lukcs
at Herbert Marcuse, passando por Henri Lefebvre, Jacques DOnt ou
nosso Carlos Astrada) que interpreta Hegel como um pensador bur-
gus progressista, no como um apologista do Estado.
Dessa forma, Negri culmina unindo a crtica da escola italiana
de Della Volpe e Colletti contra a categoria hegeliana de mediao
supostamente por ser especulativa, metafsica e por no permitir o
desenvolvimento experimental da cincia com a crtica da escola fran-
cesa de Althusser s categorias hegelianas de sujeito e teleologia.
cavalo em ambas as crticas, em Imprio Toni Negri culmina disparan-
do um ataque frontal contra todo o pensamento dialtico.
Se no se conhece o solo losco do qual se nutre esse ataque
frontal contra a dialtica ensaiada por Imprio, corre-se o risco habi-
tual em numerosas aproximaes superciais e de ltimo hora obra
de Negri de no compreender a fundo as razes de semelhante paixo
anti-hegeliana.
Nestor Kohan
368
Filosofia poltica contempornea
Com estas sete teses que na realidade constituem opinies
nossas sobre ncleos problemticos no resolvidos por Negri simples-
mente nos propomos a contribuir, criticamente, ao debate sobre Imp-
rio. As discusses sobre esta obra seguramente se prolongaro com a
publicao da segunda parte do texto que seus autores esto atualmen-
te redigindo. Seja qual for o resultado desse debate, o certo que para
sopesar equilibradamente o valor, os aportes e sobretudo as falncias
de Toni Negri e sua teoria poltica, deveremos fazer um esforo em
pensar a contracorrente. Para alm de modas, ondas e furores. Es-
tas linhas pretendem to-somente aportar um minsculo gro de areia
nesse sentido.
BIBLIOGRAFIA
Althusser, Louis 1988 Para leer El Capital (Mxico: Siglo XXI).
Althusser, Louis 1992 O futuro dura muito tempo. Os fatos: autobiograas (So
Paulo: Companhia das Letras).
Althusser, L.; Balibar, E. e Establet, E. 1980 Ler o capital (Rio de Janeiro:
Zahar Editores).
Hardt, Michael e Negri, Antonio 2002 (2000) Empire (Cambridge: Harvard
University Press) [Em portugus: 2001 Imprio (Rio Janeiro: Record)].
Kohan, Nstor 1998 Marx en su (Tercer)Mundo (Buenos Aires: Biblos).
Marx, Karl e Engels, Friedrich 1975a Maniesto del Partido Comunista
(Buenos Aires: Anteo).
Marx, Karl e Engels, Friedrich 1975b Materiales para la historia de Amrica
Latina (Mxico: Siglo XXI).
Negri, Antonio 1958 Stato e diritto nel giovane Hegel (Padova: Cedam).
Negri, Antonio 1981 A anomalia selvagem. Poder e potencia em Spinoza (Rio
de Janeiro: Editora 34).
Negri, Antonio 1993 Meditando sobre la vida: autoreexin entre dos
guerras em Anthropos (Barcelona) N 144.
369
Eduardo Grner*
O ramo dourado e a irmandade
das formigas
A identidade argentina na Amrica
Latina: realidade ou utopia?
EM 1992, em uma reunio de uma revista na qual eu estava implicado
ou, melhor dizendo, complicado discutia-se a necessidade de que a
revista dissesse algo a propsito dos 500 anos. A pergunta (s apa-
rentemente ingnua) que ento surgia era: o que poderamos dizer ns,
argentinos, sobre esta questo, quando na realidade, culturalmente fa-
lando, formamos parte dos descobridores e no dos descobertos?
Certamente, esta perplexidade tributria daquele chiste exagerado,
mas no inteiramente impertinente, de Borges que denia os argenti-
nos como europeus no exlio, no pretendia de modo algum minimizar
aquilo que na histria argentina tambm h da sangrenta eliminao
de outras culturas elas sim americanas, autctones precedentes.
Simplesmente pretendia dar conta, por sua mesma perplexidade, das
aporias inevitavelmente convocadas no momento de tentar pensar a
cultura rio-platense na relao com a cultura mundial (inclusive, e so-
bretudo, a latino-americana, com a qual tradicionalmente temos nos
sentido o mnimo que se pode dizer incomodados).
* Professor Titular de Teoria Poltica na Faculdade de Cincias Sociais e de Antropologia
da Arte na Faculdade de Filosoa e Letras da Universidade de Buenos Aires (UBA).
370
Filosofia poltica contempornea
O certo que a cultura rio-platense parece-me sempre foi
como uma espcie de campo de batalha em permanente ebulio: ba-
talha de lnguas (mais ainda: de falas, s vezes incomensurveis), de
tradies e rituais muito diversos que freqentemente caram ocul-
tos teria que se dizer, melhor: reprimidos, forcludos pelo mito da
mistura das raas (e o que aconteceu com os negros? uma pergun-
ta que retorna quase que com cada turista novato, e que, consciente-
mente ou no, lembra que os processos coloniais e ps-coloniais na
Amrica no somente afetaram este continente, seno tambm, com
similar dramaticidade, o africano). Um campo de batalha atravessado
inclusive, e desde muito cedo, pela sobre-determinao da luta de
classes; porque, na verdade, e pese ao que armem algumas lendas, a
Argentina se constitui muito rapidamente como um pas capitalista,
embora, claro, mal nos serviria o clssico modelo ingls para enten-
der a natureza de nosso prprio capitalismo.
Talvez seja esta ebulio permanente, esta espcie de indeter-
minao constitutiva, o que faa me responsabilizo pelo risco da
hiptese que a Argentina seja, Argirpolis sarmientina parte, um
pas muito pobre em utopias. No h nada em sua tradio pr ou
ps colombianas que se assemelhe s utopias andinas, maias ou as-
tecas. Parece que h uma espcie de impossibilidade para a cultura
argentina de pensar-se como essa alteridade radical que a imaginao
utpica requer, mas tambm certa capacidade (recentemente muito
deteriorada, tem que se dizer) para se estabilizar numa espcie de
mesmice auto-satisfeita. Seja como for, aquela ebulio, aquela inde-
terminao faamos da necessidade virtude, como se diz talvez o
que a cultura argentina, rio-platense, tem de mais interessante. Re-
ro-me a essa mistura impura e em eterno conito interno que se apre-
senta nela de forma declarada desde seus incios. Podemos pensar em
Esteban Echeverra, por exemplo, quando armava haver aprendido
gramtica na Frana, e que com essa gramtica tinha escrito coisas
como La Cautiva ou El Matadero (algo que torna insignicante as fa-
mosas epgrafes francesas do Facundo de Sarmiento); isto , tinha
escrito essas obras que no somente ocupam um lugar de importn-
cia, seno um lugar fundante da literatura nacional. E, com efeito:
por que haveria de ser menos nacional, em seus efeitos, uma litera-
tura, somente pelo fato de ser pensada em francs? uma pergunta
retoricamente provocativa, por certo. To provocativa, em todo caso,
embora de signo contrrio, como a outrora cannica (hoje est suma-
mente desvalorizada) enunciao a propsito de um assim chamado
371
ser nacional. Devo confessar que, em minha juventude, sempre me
surpreendia ao escutar esta expresso: no entendia como na Argenti-
na, justamente na Argentina, podia ter-se produzido uma solidicao
ontolgica to compacta como a que essa noo sugeria. Ao qual teria
que se acrescentar o fato de que pelo menos nos tempos em que eu
era um estudante de Filosoa o Ser era a categoria universal por
excelncia, e ento no se entendia como podia ter ao mesmo tempo
nacionalidade (e em todo caso, se a tinha, era a grega, como teria dito
Heidegger). claro que para permanecer is ao Estagirita o Ser
se diz de muitas maneiras. E para o cmulo, o castelhano (esta uma
distino que lembro ter lido com surpresa em Canal Feijo, embora
quem a tornou famosa tenha sido Rodolfo Kusch) a nica das gran-
des lnguas ocidentais que distingue entre ser e estar.
A Argentina, pois, esteve sendo, durante muito tempo, o que
pde. E uma cultura que entrou, ao mesmo tempo tardia e rapida-
mente, violentamente, na Modernidade. Pelo menos, na idia que as
classes dominantes locais tinham do que elas chamavam a moderni-
dade: isto , a sociedade burguesa europia. Este fenmeno tem a ver,
possivelmente, com o que armava Marx a propsito de que a burgue-
sia alem havia tentado fazer na cabea de Hegel a revoluo (bur-
guesa) que no havia podido realizar na realidade. E algum poderia
pensar, nessa mesma chave, que a burguesia argentina constituiu na
cabea de Sarmiento, de Alberdi ou de Roca a sociedade que nunca
concretizou na realidade. Se a Argentina entrou rapidamente na mo-
dernidade foi porque a ideologia do que Halpern Donghi chamou
uma vontade de construir uma nao para o deserto argentino foi,
desde o princpio, uma espcie de imperativo categrico, inuencia-
do certamente pelas idias que um Tocqueville ou um Montesquieu
podiam ter nesse ento a respeito do que constitua uma democracia
moderna. Mas tambm, dizamos, entrou tardiamente: no chegou a
ser includa como sim ocorreu com o resto da Amrica na cons-
truo dessa iconograa de alteridade exemplar da qual a Europa se
serviu para construir sua prpria modernidade, a partir do Encobri-
mento de um novo continente.
No temos tempo, aqui, para entrar no complexo debate (que vai
desde o famoso captulo XXIV do Capital at as teses wallersteinianas
sobre o sistema-mundo) acerca do papel que coube colonizao
da Amrica e, em geral, da periferia extra-europia no processo
de acumulao capitalista mundial. Mas me parece sim e isto nada
mais do que outra tmida hiptese de trabalho que essa colonizao
Eduardo Grner
372
Filosofia poltica contempornea
foi decisiva na conformao de uma certa identidade europia (po-
nho a palavra entre aspas, desde logo, porque se sabe que toda iden-
tidade imaginria, no sentido estrito de que se constitui ideologica-
mente numa relao especular com alguma alteridade).
Ento, interessante ou o seria: h muito trabalho por fazer
a esse respeito ver as maneiras em que a Amrica ocupa esse lugar
do Outro na construo, por exemplo, de algumas das mais notveis
losoas polticas modernas. Podemos pensar no estado de natureza
do contratualismo hobbesiano, lockeano ou rousseauniano; ou po-
demos pensar em como a Amrica, junto com a frica e parte da
sia, perde o trem da Histria no desdobramento do Geist hegeliano.
Mas tambm podemos pensar no pensamento chamado utpico, pelo
menos de Toms More em diante. Isto , no somente nas losoas
mais ou menos ociais e dominantes, seno tambm nos discursos
mais crticos (includo, devemos dizer, o do prprio Marx, que teve
poucas palavras felizes para dizer sobre os americanos ps-colombia-
nos). Ou seja: nesta dialtica muito particular com a qual a Europa se
constitui a imagem de si mesma em sua relao com a Amrica. Uma
dialtica do Mesmo e do Outro muito expressiva, por outra parte,
dessa cannica e sempre to socorrida armao benjaminiana de
que no h documento de civilizao que no seja simultaneamente
um documento de barbrie. Assim como em alguma medida a de-
mocracia ateniense foi possvel graas escravido, tambm pode-se
dizer que, na mesma medida a moderna teoria poltica europia foi
possvel graas ao colonialismo. Ainda que, certamente, as condies
de possibilidade de um discurso no invalidem sua eccia nem seu
valor. Nem podem, por outra parte, controlar os efeitos no buscados
desse discurso: a modernidade europia produziu tambm um Marx,
um Nietzche, um Freud: isto , se auto-reproduziu como conito e
como ruptura perptuos.
A Argentina, por esse lugar singular e sem-lugar que ocupou
historicamente entre a modernidade europia e o que eu gostaria de
chamar a paramodenidade vitimada do resto da Amrica Latina (um
resto ao qual s agora, e pelas piores razes, estamos comeando a
compreender que pertencemos) nunca pode fazer muito mais do que
transladar, um tanto mecanicamente, os gestos daquele conito, da-
quela ruptura da modernidade europia. E no , claro, que esses ges-
tos no tenham tido efeitos materiais, freqentemente sangrentos; mas
na Argentina esses efeitos, tambm muito freqentemente, pareceram
ser o resultado de golpes dados no escuro, com muito pouco apego por
373
essa forma de racionalidade crtica negativa que o conito assume ao
olh-lo de frente, e que era reclamada por gente como os membros da
escola de Frankfurt para discutir a modernidade de seu prprio inte-
rior. Uma racionalidade, denitivamente, que assuma o que tampouco
me privarei de chamar mal-entendido constitutivo de toda cultura.
possvel que a tentativa, demasiado narcisista, de positivar esse subs-
trato conitivo seja uma das razes pelas quais os argentinos nos ma-
tamos entre ns, sem poder acabar de denir claramente (no digo
aquilo que somos seno) aquilo que gostaramos ser.
Mas, enm, estvamos nas utopias. Estudou-se pouco que eu
saiba esse vnculo que poderia se estabelecer, pelo menos hipote-
ticamente, entre a funo estrutural que a literatura utpica teve
(e, dentro dela, a utopizao do continente americano) na cons-
tituio do pensamento losco-poltico europeu, e a que tiveram
muitos desses pensamentos utpicos re-transplantados na Amri-
ca, e para nosso caso, a Argentina, no pensamento fundacional de
pioneiros como Sarmiento, Alberdi, Echeverra ou os intelectuais
orgnicos da gerao de 80. Qui, com as honrosas excees de
sempre, essa escassez no seja seno o efeito da rigidez de nossa
historiograa (e de nossa poltica), ou dos sempiternos preconceitos
tericos que confundem aquela inegvel verdade de que a cultura
um campo de batalha, com a no menos inegvel de que a cultura
, justamente, um produto, tambm ele em permanente transforma-
o, desses conitos. Em todo caso, no serei eu quem pretenda, de
forma imodesta, superar essas rigidezes e preconceitos. As seguintes
notas no tm mais do que o propsito de arriscar sem dvida de
maneira vacilante e provisria algumas ocorrncias sobre (quase)
tudo que viemos enunciando.
UM
Ousarei comear de maneira, por assim dizer, um tanto indireta, em-
bora quisesse acreditar que no inteiramente impertinente. Nesse belo
livro do fundador da antropologia cultural anglo-saxnica, George H.
Frazer, que tem por ttulo O Ramo Dourado um livro que certamente
a esta altura da cincia etnolgica pode ser considerado quase como
uma extraordinria novela de viagens exticas relata-se, entre outras
maravilhas, a da utilizao, por parte de muitas culturas distantes en-
tre si tanto espacial como temporalmente, da magia (homeoptica
ou simptica, diz o autor, para distinguir as frmulas mgicas que
atuam por aquilo que os lingistas chamariam respectivamente conti-
Eduardo Grner
374
Filosofia poltica contempornea
gidade e substituio) com o objetivo de construir simbolicamen-
te mundos desejveis cuja mera concepo representa uma metafrica
denncia, uma sagrada crtica dos mundos reais nos quais os sujeitos
esto condenados a viver. O ritual mgico como o estudou exausti-
vamente, muito mais prximo de ns, o antroplogo italiano Ernesto
de Martino tem entre suas funes centrais a de afugentar periodi-
camente o temor do Apocalipsis cultural, de um sempre possvel risco
de afundamento do que De Martino chama a ptria cultural na qual
vivemos (as sociedades arcaicas, muito mais sbias do que as nossas,
intuem que nenhuma sociedade tem completamente garantido seu di-
reito existncia): a criao daqueles mundos desejveis, neste contex-
to, permite simultaneamente repetir, no registro mtico, o feliz momen-
to fundacional da sociedade, e por outro lado antecipar, no registro
escatolgico, uma possvel desapario da sociedade atual, para o qual
necessrio por assim dizer contar com a reserva imaginria de
outra ptria cultural para o futuro (De Martino, 1977).
Esta congurao mtico-ideolgica tem um altssimo carter
de universalidade: com todas suas inumerveis variantes, pode ser en-
contrada praticamente em todas as sociedades que alguma vez foram.
No entanto, no se trata certamente de uma estrutura meramente sin-
crnica, atemporal, subtrada dos condicionamentos histricos. Nas
complexas e sosticadssimas culturas pr-colombianas da Amrica
que sofreram esse gigantesco etnocdio conhecido eufemisticamente
como a Descoberta, a mitologia apocalptica e a utopia escatolgica
expressaram, a sua maneira, essa denncia crtica das desgraas do
presente da qual fala Frazer, assim como a esperana tragicamente
frustrada, como sabemos de uma futura reconstruo da ptria cul-
tural destruda que pudesse ressurgir do Apocalipse.
Em outras situaes histricas digamos: a dessa Europa oci-
dental que adentra a Modernidade, e que o faz entre outros motivos
graas a esse brutal etnocdio do que depois se chamaria Amri-
ca as coisas no aparecem to claras. A razo utpica aparece ali
completamente amalgamada com o incio dessa razo instrumental
moderna da qual falam Weber ou Adorno, gerando uma espcie de
ambigidade constitutiva com freqncia facilmente aproveitvel
pelas mais diversas ideologias ou hegemonias culturais. Abordemos
a questo, de novo, transversalmente: a comunidade mais ou menos
falansteriana que em nais do sculo XIX Len Tolstoi fundara deu
por se chamar a si mesma Irmandade das Formigas, uma denomina-
o que pretende dar conta de uma funcionalidade cooperativa que
375
se ope ao individualismo competitivo liberal, mas na qual no
se trata de neg-lo o ideal de igualdade se confunde perigosamente
com uma efervescente uniformidade despersonalizada. Desde en-
to, na interpretao interessada das classes dominantes e de seus
idelogos e pensadores que se apoderaram do conceito sempre
equvoco da Utopia, a imagem da irmandade das formigas parece ter
acabado por triunfar sobre a do ramo dourado: a metfora serviu
simultaneamente, e no por azar (esse recurso desconhecido pela
ideologia), para (des)qualicar tanto a Utopia como as sociedades
chamadas totalitrias ao menos, quando elas existiam; como sa-
bemos, hoje alcanamos um huxleyano mundo feliz que, para ser
coerentes com aquela comparao, j no requer nem de utopias
nem de totalitarismos, posto que estamos no reino da democracia
globalizada, cuja ntima verdade agora mesmo, enquanto estas li-
nhas entram na imprensa, esto caindo nada utopicamente sobre as
cabeas dos iraquianos.
Enm, seja como for, esse triunfo da imagem do formigueiro
inumano sobre o da re-humanizao ps-apocalptica qual nos refer-
amos teve necessariamente que partir da premissa do estabelecimento
de uma equivalncia (utopia/totalitarismo) que, se no totalmente in-
justicada, pelo menos questionvel. Sabe-se: na ps-modernidade a
cujo princpio do m, permitam-me augurar, estamos assistindo foi
de praxe zombar de todo discurso utpico por consider-lo ing-
nuo, quando no conden-lo enfaticamente como terrorista ou este
pensamento rico em eufemismos inventivos fundamentalista.
Com isso, a clssica expresso de jogar o beb com a gua do
banho adquire uma inesperada atualidade: se plausvel celebrar o
ocaso de um delrio da Razo produtor de monstros (como de modo
clebre dizia Goya), que imaginava poder planicar at o ltimo
detalhe em uma maquinizada vida futura, no menos certo que
nunca como hoje se havia apresentado to drasticamente a possi-
bilidade de eliminar, junto com seus delrios, a prpria Razo, para
conservar somente seus monstros goyescos. A rejeio da utopia
futura em nome da democracia atual, por exemplo, nos priva de
uma utopia democrtica sobretudo levando em considerao que
essa atualidade da democracia, quase no se teria de mencionar,
a do crasso mercado global que, em tpica operao de pars pro
toto, identicado com a democracia: isto , nos deixa desarmados
diante de uma demanda de conformidade com uma democracia j
conquistada, acabada, feita de uma vez para sempre, e no pen-
Eduardo Grner
376
Filosofia poltica contempornea
sada e praticada como uma prxis em permanente redenio e re-
fundao, orientada por um futuro desejvel (embora pudssemos
consider-lo inalcanvel)
1
. , em todo caso, um crepsculo sem
horizonte, um entardecer sem coruja de Minerva que tente levantar
vo em direo de algum novo conjunto de ideais que substituam
aqueles inevitavelmente derrudos.
E, no entanto, nem sempre foi assim. A Utopia o gnero utpi-
co como tal cumpriu um papel fundamental na construo do pen-
samento poltico e social no Ocidente. Um papel, sem dvida repi-
tamos contraditrio, paradoxal, inclusive aportico. Mas sem o qual
esse pensamento, para bem ou para mal, no teria sido o que foi. E
ainda que se tenha feito esse pensamento aparecer como uma expres-
so caracterstica no importa quo marginal da modernidade
europia, seus componentes, os da irmandade formigante como os
do ramo dourado) formaram parte dos grandes projetos de emanci-
pao em outras latitudes, e especialmente na Amrica hispnica nas
primeiras dcadas do sculo XIX. Pensadores e homens de ao os es-
critores-chefes, como os chamaria David Vias no estilo de Sarmiento
ou Alberdi, para nomear somente os casos argentinos mais conspcuos,
lanaram mo desses elementos utpicos ou para-utpicos quando se
propuseram a construir uma nao para o deserto argentino, segundo a
feliz e j citada frmula de Halperin Donghi. A prpria utilizao ide-
olgica da metfora do deserto , trataremos de mostrar, tributria de
uma longa tradio utpica ou contra-utpica que pode ser rastreada
j nos clssicos gregos. Mas a abordagem desta questo nos obrigar,
antes, a dar um pequeno rodeio terico e histrico.
J se transformou num certo lugar-comum ironizar sobre como
se utiliza a metfora da guerra para falar das relaes sexuais. Mas,
tambm no ocorre o inverso? No se usa s vezes a metfora sexual
para falar da guerra e, em geral, da poltica internacional? No tive-
mos, por exemplo, nossa plena etapa genital de relaes carnais, uma
vez superadas as trabalhosas preliminares da seduo e da conquista?
Poderia ver-se ali, suponho, algo como o registro poltico da impossibi-
lidade de organizar adequadamente o fantasma da relao com o outro
sexo, ou simplesmente com o Outro. No demais recordar o nome
1 E, no obstante, a Argentina do ps 19-20 no alcanou, dizem muitos, essa instncia
de prxis refundadora de novas formas de gerao democrtica? Pessoalmente, seria
precavido no otimismo: as enormes ambivalncias do processo solicitam uma sempre
aconselhvel cota de pessimismo da inteligncia.
377
que a cultura ocidental ensaiou, a partir do sculo XVI, para falar dessa
histria de fantasmas, ou desse fantasma histrico: Utopia. E nunca
melhor dito que o Outro no est em nenhuma parte, e justamente
por isso que serve para nos constituir, atravs da co que articula
sua (in)existncia. H que se entender, quando se diz co, que essa
maneira de dizer no pretende minimizar, por exemplo, o horror do
genocdio americano (posto que a Amrica um continente por exce-
lncia inspirador de utopias): ca melhor sublinhado, esse horror, pela
aparente trivialidade conotada no uso da palavra co.
Mas a referncia relao amorosa se que ainda se pode cha-
mar assim a relao com o outro sexo apontava, na verdade, em outra
direo: a saber, a do mal-entendido universal, que qualica tanto ao
equvoco do amor que nos constitui em sujeitos desejantes, como ao
colombiano erro histrico que nos constituiu como ousaremos pro-
nunciar o nome? Americanos. Se Todorov tem razo quando diz que
a conquista da Amrica o modelo propriamente europeu de consti-
tuio do Outro, se a teoria ps-colonial tem razo quando desconstri
os indizveis in-between (o conceito de Homi Bhabha), esses sempre
movedios espaos intersticiais entre as identidades, no menos
certo que essa constituio tem o estatuto de um lapsus translingusti-
co: entre o almirante genovs e a rainha castelhana, com efeito, no h
em comum mais do que essa equivocao que um tal de Vespucci veio
logo corrigir com seu nome de batismo. Esse mal-entendido, contudo,
longe de abrir o universo do sentido, contribuiu para fech-lo. Literal-
mente: a arredondar a imagem do globo, a dar-lhe unidade sob o teto
do primeiro sistema-mundo histrico que na verdade pode se chamar
universal, e que conhecemos com o nome de capitalismo.
Que a conquista da Amrica tenha sido uma condio de pos-
sibilidade de desenvolvimento capitalista europeu pode ser um dado
histrico. Que, alm disso, tenha sido o espao imaginrio privile-
giado de um gnero poltico-literrio, o da Utopia, gnero que pode
ter servido para fazer a autocrtica quando no a catarse daquele
desenvolvimento, tudo isso demonstra o que diz Lacan quando diz
que no h Outro do Outro: no h metalinguagem capaz de sin-
tetizar a distino sempre duvidosa entre a alteridade e a mes-
mice, nem o fato de que todo documento de civilizao tambm
um documento de barbrie, para repetir uma vez mais a dramtica
constatao de Walter Benjamim. A Utopia, nesse sentido, o gne-
ro que d conta do carter ao mesmo tempo inevitvel e impossvel
da relao com o Outro. E a Amrica o nome europeu desse duplo
Eduardo Grner
378
Filosofia poltica contempornea
carter inevitvel/impossvel. O primeiro a tomar conscincia disso,
signicativamente, o escritor ingls que cunha o termo em 1516,
Toms Morus (aquele que com o tempo far com que a religio pro-
testante tenha seu prprio, e competitivo, Santo Toms). Desde en-
to, o gnero no s se multiplica seno que se desdobra, se ramica,
arborece: desde os relatos dos viajantes a terras exticas at a antro-
pologia de gabinete de Frazer, desde os informes dos governadores
coloniais at os estudos cepalinos sobre o (sub)desenvolvimento do
Terceiro Mundo, desde os orientalismos analisados por Edward Said
at os receiturios do FMI, poderamos traar uma genealogia, uma
linha de agrupamento, inclusive uma tipologia fantstica manei-
ra do borgiano idioma analtico de John Wilkins sob o rtulo de a
grande narrativa da grande administrao do Outro.
Nunca faltar, claro, um tributo eccia da iluso retros-
pectiva: h quem se empenhe em incluir, digamos, A Repblica de
Plato ou a Cidade de Deus de Santo Agostinho entre as utopias, e
possvel que essa operao seja justicada, pelo menos em uma
perspectiva puramente heurstica. Mas o certo que o gnero como
o erro da Descoberta que, ao menos em parte, o inspirou sempre
esteve vinculado modernidade: entre outras coisas, porque requer
aquele delrio onipotente da Razo, o sonho da autonomia criativa
do Indivduo, que so invenes posteriores ao Renascimento. Nem
um ateniense do sculo de Pricles (onde a idia trgica de destino
ainda um freio paras as empresas reformadoras individuais) nem
um mstico dos incios da Idade Mdia (onde a idia crist de Pro-
vidncia ainda impede interrogar criticamente a misteriosa justia
dos desgnios divinos) teriam se permitido imaginar como Morus,
Campanella ou Bacon uma ruptura radical com as doxas de poca.
O gnero utpico pertence a essa forma ambivalente de interroga-
o que a modernidade se faz a si mesma, quando introduz em seu
prprio interior a ruptura que faz coexistir o dogma com a heresia,
essa dialgica para abusar do conceito bakhtiniano pelo qual os
extremos da oposio se interlocutam mutuamente. Como esses
extremos da oposio innita, interminavelmente conituosa que
so a Amrica Latina e a Europa.
Porque tudo isto, enm, no era seno para mostrar uma conclu-
so provisria, inspirada na origem utpica da construo da Am-
rica Latina pela Europa. A concluso que esta intruso do Outro no
espao do mesmo no constitui tanto como dissera famosamente Fou-
cault um separao na ordem espessa das coisas, mas antes ou em
379
todo caso, tambm uma nova sutura que dissimula a impossibilidade
de excluir, pura e simplesmente, a Outridade. E isto o que conduz ao
n problemtico e feroz da questo com a qual havamos comeado: a
da identidade latino-americana (e argentina?).
DOIS
Como todo o mundo sabe (mas nge que no, para viver mais tran-
qilo) o conceito de identidade talvez o mais resvaladio, confuso,
contraditrio e indizvel inventado posto que uma inveno pelo
pensamento moderno posto que exclusivamente moderno. Com efei-
to: somente a assim chamada Modernidade (a qual, alm do mais, teria
que se qualicar: a Modernidade burguesa) necessitou esse conceito
para atribu-lo, em princpio, a outro e fundamental desde o ponto
de vista ideolgico de suas invenes: o Indivduo e sua expresso
macro-terica, o Sujeito cartesiano, base losca, poltica e econ-
mica de toda a construo social da burguesia europia a partir do
Renascimento. claro que h outra Modernidade, uma Modernidade
(auto) crtica exemplarmente representada pelo pensamento de Marx,
Nietzsche ou Freud, que implacavelmente se dedicou a questionar esse
universalismo da Identidade, esse essencialismo do Sujeito moderno.
E, entre parnteses, e com um apenas aparente paradoxo, semelhante
questionamento que supe uma imagem fraturada do Sujeito moder-
no, fraturada seja pela luta de classes, pela vontade de poder apanha-
da por detrs da moral convencional, ou pelas pulses irrefreveis de
seu Inconsciente innitamente mais radical do que as declamaes
poetizantes (o qual no o mesmo, mas sim o contrrio, que dizer po-
ticas) sobre no se sabe qual dissoluo do sujeito, s quais nos tem
acostumado e saturados a vulgata postmoderna.
Seja como for, a noo de Identidade, cunhada originariamente
para falar dos indivduos, logo se transladou ao mbito das sociedades,
e comeou a se falar de Identidade nacional. Outra necessidade bur-
guesa, evidentemente, estreitamente vinculada construo moderna
dos Estados nacionais. Isto , da estrita delimitao territorial e pol-
tica que permitisse ordenar um espao mundial cada mais desterri-
torializado pelo funcionamento tendencialmente (como se diz agora)
globalizado da economia. A construo de uma identidade nacional
na qual os sditos de um Estado pudesse se reconhecer simbolicamente
em uma cultura compartilhada foi desde o princpio um instrumento
ideolgico de primeira importncia. E desde o princpio a lngua e,
portanto, a Literatura, entendida como instituio foi um elemento
Eduardo Grner
380
Filosofia poltica contempornea
decisivo de tal construo: para colocar apenas um exemplo fundante,
j nos derradeiros anos da Idade Mdia Dante Alighieri provocou um
verdadeiro escndalo poltico ao escrever sua opera magna no dialeto
toscano que depois passaria a ser o italiano ocial e no no ecum-
nico latim, que era a lngua global dos cultos.
Escrever na lngua nacional e popular da comunidade, e no
no cdigo secreto da elite, era um movimento indispensvel em direo
conquista daquela identicao (leia-se: daquele reconhecimento de
uma identidade) do povo com seu Estado.
Mas isso tudo? As coisas no sero um pouco mais complica-
das? Por exemplo: a quase natural predisposio do capitalismo e
ergo da nova classe dominante em ascenso, a burguesia a se expan-
dir mundialmente teve como rpido efeito (e h inclusive aqueles que
dizem que foi uma causa, e no um efeito) a promoo pelos Estados
europeus da empresa colonial, que no s sups o mais gigantesco ge-
nocdio da histria humana (uns 50 milhes de aborgenes desapare-
cidos somente na Amrica o demonstram) seno j o dissemos um
igualmente gigantesco etnocdio, que implicou o arrasamento de ln-
guas e culturas s vezes milenares, e sua substituio forada pela ln-
gua e pela cultura do Estado metropolitano, assim como a inveno
de naes, no moderno sentido poltico e econmico, ali onde, na
maioria dos casos, s havia delimitaes lingstico-culturais.
As guerras da Independncia, levadas a cabo fundamentalmente
sob a direo das elites transplantadas (com a nica exceo da primei-
ra delas, Haiti, onde a conjugao tnica e de classe desatou uma ins-
lita para a poca insurreio protagonicamente popular), isto , das
novas burguesias coloniais que haviam desenvolvido interesses pr-
prios e localistas, em geral aceitaram e ainda aprofundaram, com a
ajuda das potncias rivais da antiga metrpole, como Inglaterra e Fran-
a a situao herdada de balcanizao. E seus intelectuais orgni-
cos, repetindo foradamente e em condies bem distintas do modelo
europeu, dedicaram-se a gerar culturas nacionais ali onde no havia
existido verdadeiras naes no sentido moderno do conceito.
A situao interessante por sua complexidade: se por um lado o
processo de criao e denio de tais culturas nacionais teve muito
de co, pelo outro cumpriu um papel ideolgico nada desprezvel na
luta anticolonial, tendente a demonstrar que as culturas locais (no
sentido da cultura daquelas elites transplantadas: as anteriores, e real-
mente autctones, j haviam sido destrudas em distintos graus) po-
diam aspirar autonomia em relao s ptrias-mes, Espanha e Por-
381
tugal. Mas, ao mesmo tempo, e enquanto se havia partido de uma co
de autonomia, no puderam tomar sua inspirao da cultura das novas
ptrias-mes informais, das novas metrpoles neocoloniais, ps-colo-
niais e imperialistas cuja penetrao econmica (e, por via indireta,
poltica) necessariamente tinha que ser acompanhada do que na poca
chamou-se colonizao cultural. Isto criou uma particular posio de
culturas intersticiais (de culturas de in-between, segundo o j clebre
conceito do terico ps-colonial Homi Bhabha), sob a qual a prpria
noo de cultura nacional sofreu sucessivos deslocamentos, conforme
a ideologia, a postura poltica, a posio tnica ou de classe daqueles
que tentaram reapropriar-se dessa noo. Para exemplicar com algo
mais do que bvio: de uma cultura nacional oposta aos valores me-
tropolitanos tradicionais, mas inspirada em novos valores metropolita-
nos (a modernidade, o racionalismo, o positivismo ou o liberalismo
francs ou anglo-saxnico), passou-se em outros casos idia de uma
cultura nacional resistente a esses valores novos, na medida em que
veiculavam ideologicamente tambm novas formas de dependncia, ne-
ocolonialismo ou pelo menos heteronomia. Essa resistncia teve suas
vertentes de direita nacionalismo autoritrio duro restaurador das
tradies hispnicas e refratrio a toda modernidade embora fosse
pretensamente racionalista/iluminista ou de esquerda antiimperia-
lismo mais ou menos populista que no questionava a modernidade
como tal mas discutia seu funcionamento a servio dos interesses das
novas metrpoles e das fraes das classes locais que se faziam de ca-
deias de transmisso para aquelas. Mas, salvo vozes com uma inexo
mais complexa e majoritariamente isoladas que se obcecaram com a
interrogao sobre o que signicava, nestas condies, uma cultura j
no limitadamente nacional seno latino-americana (Maritegui, Ma-
nuel Ugarte ou Vasconcelos, por exemplo), em geral no se questionou
seriamente aquela origem ccional da idia mesma de uma cultura
nacional que (inclusive sem chegar metafsica abstrusa do Ser Na-
cional, como muitos o zeram) se deu por mais o menos assentada.
Outra vez, dialeticamente, como se diz, a idia de Nao utilizada
pelos prprios europeus como emblema de uma superioridade nacio-
nal justicadora do colonialismo no deixou de ter efeitos simblicos
importantes na resistncia ao prprio Imprio. E volta a t-los hoje, no
marco da globalizao, e tambm nos dois sentidos contraditrios an-
tes citados: o dos neo-fundamentalismos reacionrios e o dos movimen-
tos de resistncia ps-coloniais, quando existem. Mas aquela origem
ccional continua sem se submeter a um verdadeiro debate.
Eduardo Grner
382
Filosofia poltica contempornea
Talvez apenas uma tmida hiptese de trabalho isto explique
por que, se bem que em toda tentativa de denir uma cultura nacional
ou regional a Literatura, como vimos, tem um papel decisivo, no caso
da Amrica Latina foi o espao dominante e quase nos atreveramos a
dizer o nico realmente com xito de construo de tal cultura: como
se dissssemos que a plena e consciente assuno de uma matria-prima
ccional foi a sobressalente forma de prxis na articulao de uma verda-
de latino-americana que pertence em boa medida ordem do imaginrio,
o textual transbordando s vezes em um barroquismo cujos excessos de
signicao utuante denunciam uma relao instvel com a realida-
de, o alegrico, em um sentido benjaminiano das runas sobre as quais
construir um futuro ainda indizvel, etc. Por outra parte, a (re)construo
de uma Verdade a partir de materiais ccionais no nenhuma operao
inslita: exatamente o mecanismo descoberto por Freud para o funcio-
namento do Inconsciente que se vira para dizer uma verdade inter-dicta
(entre-dita) mediante os textos ccionais do sonho, do lapsus, do ato
falho, e certamente tambm da obra de arte; e por isso que o prprio
Freud podia armar que a Verdade tem estrutura de co.
Mas entenda-se bem: no estamos adotando um textualismo ex-
tremo ou um desconstrucionismo resoluto que veja na co ou na dis-
perso escritural uma no se sabe que substituio da realidade material
dura, desgarrada, conituosa e freqentemente mortal que os latino-ame-
ricanos como tantos outros sujeitos ps-coloniais sofremos na prpria
carne cotidianamente. S estamos dizendo que o mal-entendido origin-
rio de nossa prpria identidade nacional parece ter sido tomado por boa
parte de nossa Literatura como o substrato mesmo, o cenrio ou o pano
de fundo da produo esttica (no s literria); e aqui, por certo, seriam
necessrias anlises especcas que dessem conta da irredutvel singula-
ridade das textualidades concretas: de outra maneira corre-se o risco de
cair em certas generalizaes abusivas que mais abaixo criticaremos. Mas
permita-nos ao menos ensaiar esta generalizao; talvez a grande Litera-
tura latino-americana seja o subproduto paradoxal, no plano do imagin-
rio, da impotncia de uma prxis poltica e social renovadas no plano do
real. Talvez possa se dizer desse horizonte utpico de nossa literatura
algo semelhante ao que em sua poca formulou Marx, quando explicava
a emergncia da mais grandiosa losoa poltica burguesa, a de Hegel,
precisamente pela impotncia alem para realizar em sua prpria reali-
dade nacional (que a princpio do sculo XIX era ainda uma quimera)
a Revoluo que os franceses haviam realizado na sua. Talvez se possa
dizer, parodiando aquele famoso dictum de Marx, que ns latino-america-
383
nos zemos pela pena de nossos escritores a revoluo, a transformao
profunda que anda no pudemos fazer sobre o equvoco originrio que
oprime como um pesadelo o crebro dos vivos.
TRS
Neste contexto, queria aproveitar esta oportunidade para tratar de um
tema lateral e especicamente acadmico, mas que a meu juzo tem
implicaes histrico-sociais, polticas e ideolgicas mediatas mas de
longo alcance.
Rero-me ao modo em que, h alguns anos, a literatura latino-
americana est sendo tomada com cada vez mais nfase como objeto
de estudo, no denominado Primeiro Mundo, pelos Estudos Culturais
e em particular pela chamada Teoria Ps-colonial.
bvio, para comear, que este interesse no por acaso, nem
se d em um marco qualquer. Se bem que j desde o to promovido
boom dos anos 60, nossas literaturas por assim dizer ingressaram pela
porta principal no mercado cultural mundial e adquiriram carta de
cidadania nos Departamentos de Lnguas estrangeiras ou de Literatura
Comparada das universidades norte-americanas e europias, hoje esse
mesmo interesse se d no marco do que eufemisticamente se chama
globalizao: o que, sem dvida, cria problemas, desaos e interrogan-
tes relativamente inditos para uma teoria da literatura historicamente
situada, como a chamaria Sartre (1966). E isso ainda levando em con-
siderao que, de certo modo, para ns latino-americanos a globaliza-
o comeou h exatamente 508 anos.
De modo que, se me permitido, no vou realizar aqui a anlise
de obras e autores particulares (se bem que realizarei algumas menes
de passagem quando me parea necessrio), seno que tentarei apenas
abrir algumas questes vinculadas ao que eu gostaria de chamar como
certas condies de produo discursivas da teoria literria aqui e ago-
ra, no sem deixar estabelecido que com todas as mediaes que se
queiram toda teoria literria e cultural desde j tambm, no sentido
amplo do termo, uma teoria poltica
2
.
Vou partir, como cabe fazer nestas empreitadas ensasticas que
obrigam brevidade, de uma armao caprichosa e dogmtica: uma
2 Com o que quero dizer, simplesmente, que a literatura sempre, potencialmente, uma in-
terrogao crtica lngua (portanto s normas) congelada da polis: no se trata, portanto,
de reduzir a literatura poltica, seno pelo contrrio, de alargar as bordas do que se costu-
ma chamar poltica, para fazer ver que ela no se detm nas fronteiras do institucional.
Eduardo Grner
384
Filosofia poltica contempornea
noo central para a teoria literria e para a crtica cultural contem-
porneas a noo de limite. O limite, como se sabe, a simultanei-
dade a princpio indizvel do que articula e separa: a linha entre a
Natureza e a Cultura, entre a Lei e a Transgresso, entre o Consciente
e o Inconsciente, entre o Masculino e o Feminino, entre a Palavra e a
Imagem, entre o Som e o Sentido, entre o Mesmo e o Outro. tambm
e nisto se constitui em um tema quase obsessivo da Teoria ps-colo-
nial a linha entre territrios, materiais e simblicos: territrios nacio-
nais, tnicos, lingsticos, subculturais, raciais; territrios, enm, gen-
ricos, no duplo sentido das negociaes da identidade no campo das
prticas sexuais, e dos gneros literrios ou estticos em geral. Se esta
questo dos limites se transformou em um tema central, no somente
(embora tambm seja por isso) por uma subordinao caracterstica
das modas acadmicas, seno porque o sintoma de uma inquietude,
de um mal-estar na cultura: o mal-estar ligado a uma sensao difusa
de apagamento das fronteiras, de descolamento dos espaos, de dester-
ritorializao das identidades.
Essa experincia, necessrio repetir, no unicamente o efeito
da produo textual ou das intervenes hermenuticas do inte-
lectual crtico ou do professor universitrio embora se possa nomear
mais de um lsofo miditico que tenha contribudo para dramatiz-
la, e geralmente para festej-la; tambm, e talvez principalmente, por
assim dizer o efeito de sentido (ou de sem-sentido) das condies ma-
teriais de produo do capitalismo contemporneo, cuja estratgia de
globalizao (eufemismo com o qual se substituiu termos mais velhos
e gastos, como imperialismo, ou neocolonialismo, mas que efetiva-
mente indica formas novas dessas antigas operaes) aponta por certo
para o apagamento de fronteiras culturais, e isso em sentido amplo
mas estrito: a cultura o territrio de produo, distribuio e con-
sumo de mercadorias simblicas ou imaginrias atravessa, desde o
predomnio capitalista tardio de foras produtivas como a informtica
e os meios de comunicao, toda a lgica das relaes econmicas e
sociais, de tal modo que se poderia dizer que hoje toda a indstria
cultural, no sentido frankfurtiano (Adorno e Horkheimer, 1968).
Toda ela inclui constitutivamente uma interprelao ideolgica produ-
tora de subjetividades sociais aptas para a dominao.
No territrio que compete a ns diretamente, esse desvanecimen-
to de limites pode ser vericado no apagamento das distines entre o
Real e o Imaginrio, entre, digamos, o Mundo e sua Representao, que
foi fartamente tematizado pelas teorias ps-modernistas, ps-estrutu-
385
ralistas, desconstrucionistas e outras plantas de variada espcie. E
necessrio dizer que, nestas condies, muito difcil discriminar at
onde devemos celebrar a imensa potencialidade de estmulos tericos
e crticos que essas condies abrem, e a partir de quando esse apaga-
mento dos limites sob a dominao fetichista do que Fredric Jameson
chamaria a lgica cultural do capitalismo tardio (1991) transforma-se
em uma gigantesca e pattica obscenidade. Mas, em todo caso, o que
sim pode se dizer que pela primeira vez depois de muito tempo, a teo-
ria literria e a crtica da cultura (especial, ainda que no unicamente,
na Amrica Latina) vem-se confrontadas de novo com suas prprias
condies de produo, com as condies de produo do mundo no
qual (e do qual) vive, e com o conseguinte apagamento dos prprios
limites disciplinares. A questo dos limites tambm, para a teoria
literria e cultural, a questo de seus limites.
No entanto, h um certo incmodo associado ao conceito de li-
mite. Parece ser uma palavra que indica uma terminao, uma se-
parao infranquevel entre territrios, uma ntida distino entre es-
paos. Mas essa impresso pode revelar-se enganosa, ou pior ainda,
paralisante, enquanto implica a idia de uma borda preexistente, de
um ponto cego pr-constitudo, e no de uma produo do olhar; j
em ns do sculo XVIII, Kant era perfeitamente consciente deste inc-
modo, quando dizia que uma barreira , justamente, o que permite ver
o outro lado. Daqui por diante, pois, procurarei substituir esse termo
pelo de linde, com o qual tento toscamente traduzir a complexa noo
de interstcio, do in-between de Homi Bhaha, esse entre-dois que cria
um terceiro espao de indeterminao, uma terra de ningum na
qual as identidades (includas as dos dois espaos linderos em questo)
esto em suspenso, ou em vias de redenio (Babha, 1996). Escla-
reamos: no se trata aqui de nenhum multiculturalismo que supe,
outra vez, a iluso na existncia pr-constituda de lugares simbli-
cos diferenciados em pacca coexistncia nem de nenhuma hibridez
que imagina uma estimulante mistura cultural da qual qualquer coisa
poderia sair, mas pelo contrrio, da perspectiva que faz anteceder o
momento do encontro ao da constituio. O momento do encontro: isto
, em ltima instncia, o momento da luta; isto , o momento profun-
damente poltico.
Com efeito: o conceito de linde tem a vantagem de chamar a
ateno sobre um territrio submetido, em sua prpria delimitao,
dimenso do conito e das relaes de fora, donde o resultado do
combate pela hegemonia (pela faculdade de faz-los dizer que coisas
Eduardo Grner
386
Filosofia poltica contempornea
a que palavras, para express-lo tal como o coelho de Lewis Carroll)
indeterminvel mas no indeterminado, posto que tambm ele est so-
bredeterminado pelas condies de sua prpria produo. Quero dizer:
esse terceiro espao tambm tem seus prprios lindes, na medida em
que a disperso textual que supe em um extremo a dissoluo das ln-
guas e das identidades na terra de ningum, supe, no outro extremo,
a permanente disputa por um reordenamento, por uma volta ao redil
do texto em seus limites genricos, estilsticos, inclusive nacionais.
Suponho que no nada por azar que estas noes tenham
emergido no seio desse captulo dos estudos culturais que se deu por
chamar Teoria Ps-Colonial. A produo cultural, esttica e literria
(e por suposto, em primeiro lugar, a produo da experincia existen-
cial) das sociedades colonizadas, descolonizadas e re/neo/ps-coloni-
zadas no transcurso da Modernidade, no outra coisa em toda
sua complexa multiplicidade do que uma consciente ou inconsciente
disputa pela denio de novos lindes simblicos, lingsticos, identi-
trios, e, ousaria dizer, at subjetivos, em condies hoje absolutamen-
te inditas: em condies nas quais j no h, no pode haver, uma
volta atrs dessas sociedades a situaes pr-coloniais, mas onde
no se trata, tampouco, da conquista de uma autonomia nacional
plena, inimaginvel no mundo hegemnico da economia globalizada;
em condies na quais diante do papel subordinado e marginal que
cabem a essas sociedades na chamada nova ordem mundial a emer-
gncia de todo tipo de fundamentalismos nacionalistas, religiosos ou
tnicos, no representa absolutamente (como se apressaram a quali-
car os tericos neoconservadores ao estilo de Huntington, 1996) um
retrocesso a mticas pautas culturais arcaicas ou pr-modernas, se-
no pelo contrrio, uma fuga para adiante como reao aos efeitos
sobre elas da chamada ps-modernidade, uma reao que portanto
constitutiva dos prprios lindes dessa ps-modernidade; em condi-
es, nalmente, nas quais as dramticas polarizaes econmicas
sociais internas a essas sociedades e o processo de marginalizao
provocado por elas produziu uma gigantesca dispora em direo ao
mundo desenvolvido, com os conseguintes conitos raciais, culturais
e sociais que todos conhecemos.
Em todas essas condies, no de se estranhar que se ponha
em jogo quase tragicamente, poderamos dizer a questo dos lindes,
das identidades, das aporias e paradoxos de jogos de linguagem que
no tm regras pr-estabelecidas nem tradies congeladas s quais se
remeter. Em todas estas condies, a literatura (e, em geral, as prti-
387
cas culturais) transforma-se em um enorme caldeiro em ebulio, no
qual se cozinham processos de ressignicao de destino incerto e de
origem em boa medida contingente. Segundo armam os entendidos,
a desordem lingstico-literria criada por esta situao transborda to-
das as grades acadmicas que de forma prolixa construmos para con-
ter as derivas do signicante, includas todas as sensatas polifonias
e heteroglossias bakhtianas com as quais nos consolamos de nossas
paralisias pedaggicas.
E sublinho a frase segundo armam os entendidos, no somente
porque eu no o sou, seno tambm porque o que no deixa de ser
tambm um consolo parece ser que impossvel s-lo. E isso por
uma razo muito simples: no sei se sempre se consciente eu no o
era, at h pouco de quantas lnguas se falam nos pases chamados
ps-coloniais; so algo assim como cinco mil. s quais, desde logo,
necessrio somar toda a srie de dialetos e socioletos emergidos no
marco da dispora e mistura cultural. Somente na ndia, por exem-
plo, h vinte lnguas reconhecidas pelo Estado, e mais de trezentas
so praticadas extra-ocialmente. Em todas elas, de se supor, se faz
literatura escrita ou oral, se produz algum artefato cultural. Neste
contexto, o que pode querer dizer uma expresso to alegre e des-
preocupada como a de literatura universal? Ou literatura comparada?
Comparada com o qu?
No poderia querer dizer outra coisa alm do fato de que esta
situao revela caso ainda seja necessrio explicitar o escandaloso
etnocentrismo de adjudicar alguma espcie de universalidade s qua-
tro ou cinco lnguas nas quais, com muita sorte, alguns poucos erudi-
tos so capazes de ler.
Tudo o qual, sem dvida e se nos despreocupamos da sorte de
uns tantos centos ou milhares de pessoas (incluindo as que ainda no
nasceram, mas que j tm sua sorte lanada) cria um cenrio, diga-
mos, semioticamente apaixonante. Para comear, cria a conscincia
(falsa, no sentido de que tudo isto no deveria constituir nenhuma no-
vidade) de um novo linde, uma nova brecha, uma nova terra de nin-
gum aberta entre essa desordem de produo textual e nossa estrita
(im)possibilidade de aceder a ele, salvo pelas contadssimas excees
nas quais podemos ler, digamos, Kureishi, Mahfuz ou Rushdie em pro-
lixas tradues para o dialeto (estritamente incompreensvel para um
argentino) de certas editoras espanholas.
Mas tambm aparece a possibilidade de uma nova acepo do
conceito homibhabhiano de linde, justamente como conceito lindero,
Eduardo Grner
388
Filosofia poltica contempornea
intermedirio ou ponte ou como se queira cham-lo ente a ca-
tegoria de orientalismo (Said, 1989), e a de essencialismo estratgico
(Chakravorty Spivak, 1996). Quero dizer: em um extremo, o orien-
talismo pode ser entendido como uma categoria geral que d con-
ta do processo de fetichizao universalista pelo qual esse territrio
indecidvel e indizvel da desordem literria tenta ser subsumido e
reordenado sob a fabricao de uma alteridade homognea e auto-
consciente que se chamasse, por exemplo, a literatura do Outro, e
aparecesse carregada de todo o enigmtico exotismo inevitvel quan-
do do Outro ignoramos quase tudo mas pretendemos de todos os mo-
dos dar conta dele (situao que escritores latino-americanos conhe-
cem bem, condenados a ser forever more realistas mgicos, sob pena
de no encontrar mais lugar em papers universitrios e congressos
primeiromundistas); no outro extremo, o essencialismo estratgico
pode ser tomado como o gesto poltico-ideolgico de pretender assu-
mir-se plenamente na identidade fechada e consolidada desse Outro
expulso para as margens, para a partir dessa posio de fora abrir
uma batalha tendente a demonstrar que o lugar do Outro no era
nenhum territrio pr-construdo ou originrio, nenhuma reserva de
rousseauniana pureza natural, seno o produto de uma dominao
histrica e cultural. No meio, o linde aparece como uma espcie de
corretivo para ambas as tentaes essencialistas ou ontologizantes,
recordando-nos que nesse territrio trata-se, precisamente, de uma
luta pelo sentido, de um conito para ver quem adjudica as identida-
des, as lnguas, os estilos. Para ver, denitivamente, quem (como, de
onde, com que capacidade de imposio) constri a identidade.
Nestas condies, enm, no de se estranhar tampouco o inte-
resse dos tericos ps-coloniais pela teoria e pela crtica ps-estrutu-
ralista. A leitura desconstrutiva, a crtica do logocentrismo, a noo de
diferena (que o prprio Homi Bhaha, por exemplo, ope de di-
versidade) parecem singularmente apta para explorar os lindes. Sobre
isto convm, contudo, levantar algumas reservas, quase sempre perti-
nentes diante dos excessivos entusiasmos do mercado cultural. Creio
que a teoria ps-colonial tanto como os estudos culturais deveriam
atender aos seguintes riscos.
Primeiro: em que pese s vantagens que assinalamos, a fas-
cinao ps-estruturalista tem, para os ns polticos da teoria ps-
colonial, aspectos que com a nica inteno de assustar um pou-
quinho vou chamar de direita. A saber, a lgica de fetichizao do
particular, do fragmento, da arreferencialidade (que no o
389
mesmo que o anti-referencialismo), da a-historicidade (que no o
mesmo que o anti-historicismo) e, para dizer tudo, do textualismo,
entendido como a militncia pseudoderridiana do dentro do texto
tudo/fora do texto nada. O textualismo, claro, tem a enorme virtu-
de de nos tornar sensveis para as singularidades da escritura, para
as disseminaes do sentido, e outros ganhos que obtivemos sobre
a hipercodicada e binarista aridez do estruturalismo duro, tanto
como sobre os economicismos ou sociologismos redutores. Contu-
do, no me parece tanto ganho a possvel cada no que Vidal-Naquet
chamaria o inexistencialismo que desestima o conito entre o texto
e a realidade qualquer que seja o estatuto que se d a esse termo
problemtico (1995). Se se trata de estudos culturais e ps-colonia-
lidades, vou me permitir, com alguns matizes, acompanhar a Stuart-
Hall, um pioneiro neste campo de trabalho, quando diz (cito):
Mas eu ainda penso que se requer pensar no modo no qual as
prticas ideolgicas, culturais e discursivas continuam existin-
do no seio de linhas determinantes de relaes materiais [...]
Por certo, temos que pensar as condies materiais em sua for-
ma discursiva determinada, no como uma xao absoluta.
Mas creio que a posio discursivista cai freqentemente no
risco de perder sua referncia prtica material e s condies
histricas (Hall, 1994).
A materialidade qual se refere Hall no a do materialismo vul-
gar empiricista.
aquilo que do real pode ser articulado por uma teoria que sai-
ba que no todo o real articulvel no discurso. Mas, ento, necessrio
ter uma teoria que reconhea alguma diferena entre o real e o discurso.
Ainda no terreno do puro signicante da poesia ou da literatura de
vanguarda, discutvel que no haja nada fora do texto: a literatura
mais interessante da modernidade ocidental, justamente, a que expli-
citamente pe em cena a impossibilidade de que o texto contenha tudo
(Kafka ou Beckett, para citar casos paradigmticos). A eliminao da
realidade como do Outro de cuja natureza inacessvel o texto se torna
sintoma, parece-me um empobrecimento e no um ganho.
E isso para no mencionar dentro da mesma vertente tex-
tualista os riscos de descontextualizao de certas expresses pro-
gramticas como a da morte do autor. Sem dvida na obra de Ro-
land Barthes, Foucault ou Derrida esta se revela uma metfora de
alta eccia, mas, o que ocorre quando em circunstncias histricas
Eduardo Grner
390
Filosofia poltica contempornea
e culturais diferentes (como costumam ser as da produo textual em
condies ps-coloniais, e nas especicamente latino-americanas)
essa metfora se literaliza?
A morte do autor, pode ser tomada como mero fenmeno textual
por, digamos, Salman Rushdie? Entre ns, pde ser tomada como me-
tfora por Harold Conti, por Rodolfo Walsh, por Franscisco Orondo,
por Miguel Angel Bustos?
Segundo risco: o de outra forma de fetichismo (paradoxalmen-
te complementar anterior), a saber, o da universalizao abusiva, ou
do Orientalismo s avessas, isto , um essencialismo pelo qual se
atribui ao Outro uma innita bondade ontolgica, e prpria cultura
uma espcie de maldade constitutiva to des-historizada como a do
hipertextualismo. Isto : dando a volta no arrazoado dos moderni-
zadores mais ou menos rostowianos, que pretendiam que o Centro
fosse o modelo que mostrava Periferia seu indefectvel futuro, faz-
se da cultura perifrica uma trincheira de resistncia aos males da
modernizao, com o qual camos no mesmo lugar no qual j nos
havia colocado Hegel: fora da Histria. A Amrica Latina e o Terceiro
Mundo, nos sugerido, no devem pertencer Modernidade, que foi
a fonte de todos os males que nos aigem, conforme viemos a nos
dar conta, graas a certas formas do pensamento ps-estruturalista,
ps-marxista e/ou ps-modernista de to bom rating em nossas uni-
versidades, e que se precipitam na condenao de qualquer forma de
racionalidade moderna ou de grande relato terico. Esclareamos:
no cabe dvida de que o racionalismo instrumental iluminista, po-
sitivista ou progressista tem um grau de cumplicidade imperdovel
no genocdio colonial e na demonizao ou na subordinao inclusi-
ve textual do Outro (e, que se diga em parnteses, no s do Outro
oriental, como o demonstram entre outras coisas alguns campos de
concentrao alemes). Mas, novamente: e Marx? e Freud? e Sartre?
e a Escola de Frankfurt, j que antes a mencionamos? No pertencem
eles tambm, a sua maneira resistente, racionalidade europia mo-
derna? No so, por assim dizer, a conscincia implacavelmente crti-
ca dos limites, das inconsistncias e das iluses ideolgicas da Razo
ocidental, a partir de dentro dela mesma?
Aquela forma de massicao textual, pois, que ope em blocos
abstratos a Modernidade no-Modernidade (seja esta pr ou ps),
ou um Mundo Primeiro a um Terceiro (onde agora h, sabe-se, um Se-
gundo excludo) pode ser profundamente despolitizadora porque tende
a eliminar a anlise das contradies e ssuras internas das formaes
391
culturais, e no s entre elas, profundamente des-historizante porque
toma a ideologia colonialista ou imperialista como essncias textuais
desconectadas de seu suporte material no desenvolvimento do capi-
talismo, profundamente ideolgica porque toma a parte pelo todo,
achatando as tenses e os lindes da produo cultural e, teoricamente
paralisante porque bloqueia a possibilidade de que a teoria ps-colo-
nial e os estudos culturais constituam um autntico grande relato,
incorporando as complexidades da relao conitiva da Modernidade
com seus mltiplos Outros: poderamos dizer, neste sentido, que o que
a teoria ps-colonial est potencializada para revelar e denunciar jus-
tamente que a crtica aos grandes relatos ocidentais tem razo pelas
razes contrrias s que argumenta o ps-modernismo: a saber, porque
a grande narrativa da modernidade incompleta, um relato pequeno
disfarado de grande, na medida em que se constitui a si mesmo pela
excluso ou pela naturalizao de uma boa parte das condies que
o tornaram possvel, exemplarmente (mas no unicamente) o colonia-
lismo e o imperialismo. Teremos que voltar a isto. Mas, em todo caso,
ainda que fosse por razes inversas, dispensar as culturas perifricas de
sua incluso na Modernidade outra maneira de exclu-las, quando o
que se requer pensar as maneiras conituosas e desgarradas, inclusi-
ve sangrentas, de sua incluso nela.
De dentro mesmo da teoria ps-colonial, Aijaz Ahmad (com boas
razes, a meu ver) criticou Said e o prprio Fredric Jameson, em
algum de seus textos menos felizes por fazer do chamado Terceiro
Mundo uma quimera homognea e sem ssuras em sua identidade de
vtima, e da cultura europia um bloco slido de vontade de poder im-
perialista, racista e logocntrica (Ahmad, 1993). Como se ambas as es-
feras (celestial uma, infernal a outra) no estivessem atravessadas pela
luta de classes, a dominao econmica, tnica ou sexista, a corrupo
poltica, a imbecilidade miditica, em uma palavra, todos os vcios do
capitalismo tardio transnacionalizado, que hoje em dia no existe um
lado de fora. claro que devemos muitos desses vcios histria da
dominao imperialista e neo-colonial que agora chamamos globa-
lizao. Mas justamente por isso necessrio que vejamos tambm
os lindes internos que atravessam nossas prprias sociedades, nossas
prprias lnguas, nossas prprias produes culturais. Assim como o
Primeiro Mundo deveria recordar seus prprios lindes internos, dos
quais nem sempre pode estar orgulhoso, seria bom recordar, por exem-
plo, que a singular lngua francesa, com a qual a cultura rio-platense
teve sempre estreitas relaes carnais, da qual nossa literatura sem-
Eduardo Grner
392
Filosofia poltica contempornea
pre invejou o papel progressista de profunda unidade cultural, era at
no muito tempo apenas o dialeto hegemnico da Ile de France; que
em 1789, 80% do povo que fez a revoluo chamada Francesa no
falava francs, mas sim occitano, breto, langue doil ou basco, e que
a celebrada unidade cultural sob a lngua francesa se imps muitas
vezes a sangue e fogo, por um feroz processo de colonialismo interno
(Calvet, 1973). Como diria Walter Benjamim: no h documento de
civilizao que no o seja tambm de barbrie.
Tambm ns latino-americanos, precipitando-nos muitas vezes
na defesa irrestrita de nossas literaturas e culturas nacionais, esque-
cemos freqentemente nossos prprios lindes internos: preferimos nos
encantar com nosso reexo homogneo e cristalino no espelho desse
Outro que nos foi construdo pelas culturas do centro para manter al-
guma esperana de que ali longe existe alguma macondiana terra no
contaminada pelo barro e pelo sangue da Histria globalizada: com o
qual, claro, nos condenam a algumas centenas de anos de solido, na
espera de que nossas literaturas continuem construindo sua alegoria
nacional, como a chama Jameson em seu famoso artigo sobre A lite-
ratura do Terceiro Mundo na era do Capitalismo Multinacional (1980).
E conste que cito criticamente Jameson somente para extremar meu
argumento, posto que estou falando do que possivelmente seja o mais
inteligente e sutil terico marxista da literatura com o qual conta hoje
em dia o Primeiro Mundo, admirvel por ser dos poucos que no ventre
mesmo do pensamento dbil ps-moderno no deps as armas da
crtica. Mas tambm ele, no fundo, quer alimentar aquela esperana,
quer absolutizar esse lugar do Outro, postulando que toda literatura do
Terceiro Mundo no outra coisa que a construo textual da alegoria
nacional e a busca da Identidade perdida pelas mos do imperialismo
e do colonialismo. Mas um frgil favor o que ele nos faz assim, ao
passar uma rasoura igualadora em nossos conituosos lindes e nesses
nossos mal-entendidos originrios que apontvamos mais acima, blo-
queando a viso do campo de batalha cultural que constitui a literatura
latino-americana (para no falar em geral do Terceiro Mundo, essa
entelquia dos tempos em que havia outros dois).
hora de sermos claros: no existe uma coisa como a literatura
do Terceiro Mundo; no existe uma coisa como a literatura latino-ame-
ricana; no existe sequer nada como a literatura argentina, cubana ou
mexicana. Decerto que para me circunscrever s literaturas argenti-
nas no nego a forte presena de algo assim como uma alegoria na-
cional nas obras de Marechal, de Martnez Estrada, ou mais atrs,
393
de Sarmiento ou Echeverra. Mas seria necessrio realizar um esforo
mprobo para encontr-la em Macedonio Fernndez, em Bioy Casa-
res ou em Silvina Ocampo, ou ainda no prprio Borges, que sendo
um escritor muito mais nacional do que a crtica costuma advertir,
no obstante considera a Argentina, antes o contrrio, uma alegoria do
Mundo. Inclusive, como se pode ler em El Aleph, um ponto innitesi-
mal em uma casa de um bairro escondido de Buenos Aires pode conter
o Universo inteiro: e como soa isso, em todo caso, como alegoria da
globalizao ao inverso?
Poderamos fazer o raciocnio, pelo inverso, para mostrar que
a funo alegoria nacional da literatura no privativa da Amri-
ca Latina nem do Terceiro Mundo: por acaso no se poderia ler O
Vermelho e o Negro de Stendhal ou A Guerra e a Paz de Tolstoi como
alegorias nacionais dessas sociedades que tm que reconstituir intei-
ramente sua identidade depois das catstrofes da Revoluo Fran-
cesa ou da invaso napolenica? No se poderia ler como alegoria
nacional o Ulisses de Joyce, que transpe a epopia homrica, isto ,
o prprio ato de fundao da literatura ocidental, s ruas irredutivel-
mente locais da Dubln de incios do sculo? claro que aqui serei
objetado com meus prprios argumentos: justamente porque ao in-
verso do que ocorre com a Frana, com a Irlanda ou com a Rssia a
Amrica-Latina no partiu de uma autntica Identidade Nacional,
que se necessita alegoriz-la mediante a literatura, de maneira se-
melhante a como Hegel e os romnticos alemes o zeram em sua
poca mediante a losoa. Admito-o: eu mesmo comecei propondo
essa hiptese; mas o que estou tentando mostrar agora que essas
diferenas so histricas: tm a ver com o desenvolvimento particular,
desigual e combinado, dos distintos segmentos mundiais denidos e
delimitados pelas transformaes do modo de produo capitalista, e
no supem uma diferena de natureza, ontolgica.
Insisto: no sob a homogeneidade da alegoria nacional, ainda
quando ela exista, que se encontrar a diferena especca das literatu-
ras latino-americanas, ou pelo menos no a mais interessante. Antes
pelo contrrio, estou convencido de que nossas literaturas com sua
enorme fragmentao e diversidade esttica e cultural, para no di-
zer lingustica (pois h uma lngua rio-platense como h uma ln-
gua caribenha) nossas literaturas, digo, constituem em todo caso
um modo de usar as lnguas chamadas nacionais em decomposio
como alegoria de um mundo que se tornou alheio a ns, e em boa me-
dida incompreensvel, mas no porque estejamos fora dele, em algum
Eduardo Grner
394
Filosofia poltica contempornea
limbo de Alteridade solidicada: estamos dentro do mundo capitalista
globalizado, mas estamos a como um turco est em Berlim, um argeli-
no em Paris ou um chicano em Nova Iorque: em uma situao de con-
ito com nossos prprios lindes, que por outra parte no so somente
nacionais, seno tambm de classe, embora esta seja uma categoria
que o textualismo e o multiculturalismo ps-moderno tende a nos
fazer esquecer.
As literaturas de alegoria nacional, quero dizer, de qualquer
modo no so lidas nem produzidas da mesma maneira por aqueles
para quem a Nao um mero campo de caa e depredao, do que
por aqueles para quem uma dor interminvel e insuportvel, um pe-
sadelo do qual no se pode despertar, como dizia o prprio Joyce da
Histria. Talvez seja esta inconsciente resistncia a alegorizar o Horror,
a estetiz-lo para torn-lo tranqilizadoramente compreensvel, o que
tenha impedido a literatura argentina, por exemplo, ter a grande nove-
la do chamado Processo.
E no h estudo cultural nem ps-colonial que possa respon-
sabilizar-se disso, que possa integrar ao texto da teoria esse plus de
horror indizvel que sustenta nossa Histria.
Que isto seja dito no como um chamado para o desesperar da
teoria, seno exatamente o contrrio: para torn-la ecaz ao apontar-
lhe seu lindes, para lhe dar um limite que nos permita ver o que h para
alm dela, o que somente uma prxis de construo permanente, na
luta interminvel pelo sentido, nos permitir interrogar. Como diria o
prprio Sartre: agora no se trata tanto do que a Histria nos tem feito,
seno do que ns somos capazes de fazer com o que ela nos tem feito.
QUATRO
Mas h uma segunda questo, mais geral e losca, caso se queira
dizer assim, qual j nos referimos de passagem e que produziu equ-
vocos, a nosso juzo, lamentveis na corrente principal das disciplinas
preocupadas pela cultura (incluindo a teoria literria). A impossibili-
dade de um pensamento histrico est ligada tambm para as teorias
ps crise da Razo Ocidental e de suas idias de Sujeito e de Tota-
lidade. Posto que essas noes so caractersticas da Modernidade (ou
seja, para diz-lo sem os eufemismos do jargo ps, do Capitalismo),
todo o pensamento moderno massivamente identicado com uma
Razo e um Sujeito monolticos e onipresentes em sua vontade tota-
lizadora e instrumentalista de conhecimento utilitrio e dominao.
Paradoxalmente, esta uma imagem por sua vez monoltica e falsa-
395
mente totalizadora da Modernidade. Porque, pela terceira vez, o que
ocorre com, por exemplo, Marx ou Freud? Eles so os dados anmalos
desta imagem, aqueles que precisamente desmentem essa auto-ima-
gem moderna da onipotncia da Razo e do Eu, mostrando as feridas
internas no cicatrizveis da Modernidade: noes como a de luta de
classes ou a de sujeito dividido denunciam as rupturas irreconciliveis
consigo mesmas dessas totalidades do Eu, da Sociedade, da Histria,
identidades solidrias em seu completamento abstrato, ideal, do modo
de produo que sustenta a civilizao moderna. De um modo de pro-
duo no qual todo o pensamento pode ser um ato de violncia s vezes
insuportvel, cuja mxima pretenso , dizia Nietzsche, a mais for-
midvel pretenso da losoa na mquina platnica do racionalismo
ocidental: tornar tudo manipulvel, at o amor.
H, pois, pelo menos duas imagens da Modernidade: a imagem
homognea ilustrada da histria moderna como progresso irrefre-
vel da Razo, imagem compartilhada pela crtica do antimodernismo
ps (como reexo especular de simetria invertida, poderamos dizer),
e a imagem dialtica, desgarrada e autocrtica que nos transmitida
por Marx e Freud de dentro mesmo da prpria modernidade, como cons-
titutivo mal-estar na cultura em conito permanente com as iluses
sem porvir de uma Razo instrumental. De uma Razo cujos limites
e perverses internas, radicalizando uma via aberta por Weber, sero
mostradas at as ltimas conseqncias e de maneira implacvel por
Adorno e pela Escola de Frankfurt (Adorno e Horkheimer, 1968). Isto
: pelos amargos herdeiros de uma teoria crtica da Modernidade que
em sua poca obrigada a pensar o Terror, obrigada a pensar a expe-
rincia limite da humanidade ocidental: a do campo de concentrao e
do extermnio em massa, que (e absolutamente imprescindvel no es-
quecer isto) uma experincia, ou melhor um experimento, da Razo.
Com efeito, o imenso mrito da Escola de Frankfurt o ter tido
a coragem de no se somar ao coro bem-pensante de almas belas que
atriburam essa experincia a um inexplicvel abismo de irracionalida-
de desviante da Histria e do Progresso; como se no estivesse nas pos-
sibilidades mesmas da forma dominante da racionalidade moderna (da
racionalidade instrumental capitalista sobre a que haviam alertado, de
diferentes maneiras, Marx e Freud). Como se a verdade no fosse para
coloc-lo nas tambm famosas e terrveis palavras de Benjamim que
todo documento de civilizao simultaneamente um documento de
barbrie. seu mrito, repito, ter visto isto sem por outro lado sucum-
bir tentao do irracionalismo ou do cinismo.
Eduardo Grner
396
Filosofia poltica contempornea
claro que, pese radicalidade indita dessa experincia ex-
trema, Adorno e seus companheiros podiam ter advertido esta ironia
trgica ainda antes. Podiam t-la advertido, por exemplo, no lugar fun-
dacional que para o pensamento do Ocidente tem, conforme vimos,
o genocdio americano (e mais tarde, de todo o mundo no europeu
sob o colonialismo), na autoconstituio etnocntrica e racista de sua
prpria imagem civilizatria, de sua prpria imagem de racionalidade
moderna, do Sujeito cartesiano, de uma totalidade histrica iden-
ticada como ainda se pode ver em Hegel com a Razo da acumu-
lao capitalista europia, mas da qual ca expulsa (por excluso, por
dissoluo no silncio, ou por puro e simples extermnio) o Outro que
em primeiro lugar permitiu a constituio dessa imagem. Isto tambm
algo, talvez, que Freud podia ter explicado aos lsofos historicistas e
progressistas. Isto , podia ter-lhes explicado que a Totalidade da Ra-
zo s pode dobrar-se sobre si mesma tampando imaginariamente o
buraco de uma particularidade inassimilvel, de uns resduos, de umas
runas do Eu racionalizante, cuja renegao precisamente a condio
de existncia da Totalidade. Ou seja: podia lhes ter explicado, no fun-
do, o mesmo que autocontraditoriamente j havia explicado o prprio
Hegel (um lsofo neste sentido muito mais materialista que todos
os positivistas que o acusam de espiritualismo) se em sua poca tivesse
tido um Freud que o interpretasse: a saber, que precisamente a exis-
tncia do Particular o que constitui a condio de possibilidade do uni-
versal, e simultaneamente a que demonstra a impossibilidade de sua
totalizao, de seu fechamento; demonstra que dito vulgarmente o
Universal vem com defeito de fbrica. Ou em uma terminologia mais
atual e sosticada que o Outro com maiscula , constitutivamente,
um Outro castrado
3
. To castrado como essa Totalidade Originria
qual se alude de forma indefectvel quando se fala de uma ontolgica
Identidade Nacional.
Mas isto, desde j, algo muito diferente da mania ps de pon-
ticar sobre a pura e simples desapario das identidades e dos su-
jeitos. Para comear, nem Freud nem Lacan, por exemplo, falaram
jamais de semelhante desapario, seno, em todo caso, da diviso
do sujeito, o que outra maneira de falar da castrao do Outro, da
impossvel completude simblica da identidade. Mas, justamente: essa
impossibilidade torna mais necessrias (se bem que inconscientes) as
articulaes entre, por exemplo, a identidade de classe e a dos mo-
3 Para esta questo em Hegel, ver Slavoj Zizek (1994).
397
vimentos sociais, para retomar um problema sumamente atual. E
bvio que este problema no pode ser pensado hoje do mesmo modo
em que podia ter sido pensado por Marx, mas isso no um argumento
contra Marx, seno a seu favor: demonstra que tambm a articulao
das identidades coletivas est sujeita materialidade histrica.
J que estamos em trmites de reconhecer mritos sem dvida
uma grande virtude da teoria ps-colonial (Said, Spivak, Bhabha et
al.) a de ter reintroduzido a histria isto , a poltica no sentido for-
te nos estudos culturais, retomando a linha subterrnea da histria
dos vencidos, inclusive em um sentido benjaminiano, ao mostrar de
que diversas maneiras e complexas formas as runas do colonialismo
continuam relampejando hoje nos discursos e nas prticas do mundo
(no to) ps-colonial.
Mas no deixa de ser um mrito ambguo: se por um lado o re-
curso s teorias e tcnicas de anlise ps e a certos autores-guias
(Foucault, Lacan, Derrida, De Man) permite aos pensadores ps-colo-
niais renar extraordinariamente suas categorias de anlise frente s
antigas teorizaes antiimperialistas (digamos as de um Lnin ou as
mltiplas verses da teoria dependentista), especialmente no que faz
crtica cultural e ideolgica, por outro lado, e com escassas excees
Aijaz Ahmad talvez a mais notria, o recurso praticamente exclusi-
vo a essas metodologias implica o quase completo abandono de formas
de pensamento (Marx, Freud, a Escola de Frankfurt) que, como viemos
defendendo enfaticamente aqui, continuam sendo indispensveis para
uma totalizao da crtica a um modo de produo em boa medida
constitudo tambm pela experincia colonialista e ps-colonialista.
Por outro lado, e paradoxalmente, a reintroduo da dimen-
so histrico-poltica por parte da teoria ps-colonial adoece com
freqncia de um excesso metafsico e com o tempo des-historizan-
te (o que possivelmente tambm se explique pelo recurso massivo
aos textualismos ps) que cai em certas ontologias substancialistas
muito similares quelas prprias da velha denominao de Terceiro
Mundo como entelquia indiferenciada na qual todos os gatos so
pardos: problemtico, por exemplo, aplicar o mesmo tipo de anlise
produo cultural de sociedades nacionais ou das metrpoles
em relao s ditas sociedades externas que conseguiram sua in-
dependncia poltica formal j bem avanado o sculo XX (digamos,
a ndia, o Magreb ou a maior parte, se no todas, das novas naes
africanas) e por outra parte as naes (todas as do continente ame-
ricano, para comear) que conquistaram tal independncia durante
Eduardo Grner
398
Filosofia poltica contempornea
o sculo XIX, em alguma medida como sub-produto das revolues
burguesas metropolitanas em particular a francesa, embora tam-
bm a revoluo anticolonial norte-americana e as crises metropo-
litanas e muito antes de que se constitusse como tal o sistema es-
tritamente imperialista e neocolonial. Embora no seja este o lugar
para estudar a fundo o problema, tem que haver diferenas enormes
entre a auto-imagem simblica e/ou a identidade imaginria de um
pas digamos, a Arglia constitudo como tal no marco de um sis-
tema de dependncias internacionais plenamente desenvolvidas, de
guerra fria entre blocos econmicos e polticos conituosos, de
um Ocidente a caminho de um capitalismo tardio em processo de
renovao tecnolgica profunda, com corrida armamentista e peri-
go de guerra atmica, com plena hegemonia da indstria cultural e
da ideologia do consumo, etc., e por outra parte um pas digamos,
a Argentina constitudo um sculo e meio antes, quando nada disto
existia nem era imaginvel.
bvio que a produo cultural e simblica de duas sociedades
to radicalmente diferentes em suas histrias pelo menos dicilmente
comensurvel. Mas alm disso h essa outra diferena fundamental da
qual falvamos antes: enquanto as revolues anticoloniais do sculo
XIX (as latino-americanas em geral, repetimos que com a nica exceo
do Haiti) foram feitas pelas elites econmicas locais que buscavam uma
maior margem de manobras para seus negcios e portanto uma maior
autonomia com respeito aos ditados da metrpole, e somente sob sua
frrea direo permitiram certo protagonismo popular, as revolues
anti-coloniais ou ps-coloniais do sculo XX (da Arglia ao Vietn, do
Mxico ndia, da China Granada, de Cuba a Angola, dos mau-mau a
Nicargua, etc.) foram fundamental e diretamente assumidas pelas mas-
sas plebias, pela conjuno de fraes da classe trabalhadora e do cam-
pesinato, pelo povo, alm ou aqum de que esses movimentos tenham
sido logo absorvidos (ou abertamente trados) pelas elites emergentes.
Isto no s deu a esses movimentos um carter completamente diferente
aos do sculo anterior do ponto de vista de sua prxis poltica, seno que
no plano terico a prpria diferena obriga a reintroduzir a perturba-
dora (mas persistente) questo de classe. Mais adiante veremos que por
certo esta no a nica questo: em anlises como os j cannicos en-
saios proto-ps-coloniais de Frantz Fanon sobre a revoluo argelina,
as questes tnica, de gnero, de psicologia social e culturais em geral
tm uma importncia de primeira; mas a tem, precisamente, em sua
articulao sempre especca, no redutvel com a questo de classe.
399
De todos modos, o que nos importava destacar agora o fato mesmo
da diferena entre seculares estilos revolucionrios, que impedem sua
homologao sob frmulas tericas gerais. Pretender p-los no mesmo
saco implica uma homogeneizao, ela sim reducionista e empobrece-
dora, ainda que se faa em nome de Lacan ou Derrida.
Isso o que s vezes aconteceu para voltar a um caso j cita-
do mesmo com pensadores to complexos como Jameson, quando
tentou interpretar toda a literatura do Terceiro Mundo sob o regime
hermenutico global da alegoria nacional, com o qual o tiro sai pela
culatra e se obtm, para continuar com a gura, o pior dos mundos:
por um lado dita uma obviedade de um grau de generalizao pou-
co til (qualquer produto da cultura de qualquer sociedade transmite
em alguma medida imagens nacionais), por outro lado se passa um
rasouro unicador que tende a suprimir toda a riqueza das especici-
dades estilsticas, semnticas, retricas, etc., que tratando-se de obras
de arte conformam propriamente falando a poltica da produo es-
ttica, que tambm est, entre parnteses, atravessada pela dimenso
histrica: neste sentido, como se poderia comparar, digamos, os j co-
nhecidos Nahgib Mafouz ou Hani Kureishi com, digamos, Sarmiento
ou Borges? E isso para no mencionar que, ainda comparando con-
temporneos entre si, aquela diferena entre as respectivas histrias
costuma ser decisiva para a estratgia de interpretao e leitura: no
difcil encontrar alegorias nacionais mesmo descontando o mon-
tante de reducionismo da especicidade esttica que supe ler sob esse
regime de homogeneizao em autores provenientes de sociedades de
descolonizao recente que ainda esto lutando pela prpria constru-
o de sua identidade; a tarefa menos simples nos provenientes
de sociedades de descolonizao antiga, em todo caso submetidas a
outros processos de dependncia, neocolonialismo ou globalizao
subordinada. Mesmo que extremando muito a metfora e buscando
mais de cinco ps no gato, se requer esforos mprobos para encontrar
a alegoria nacional (ao menos, para encontr-la como estratgia cen-
tral da escritura) em Adolfo Bioy Casares, em Juan Carlos Onetti ou
em Macedonio Fernndez. Mas ainda quando possvel encontr-la de
maneira mais ou menos transparente (o que mais fcil nas literaturas
das naes no rio-platenses, como uma identidade tnica e cultural
mais complexa e contraditria) revela-se patente que ela se constri de
um modo radicalmente distinto ao das sociedades que, como dizamos,
ainda lutam por encontrar sua identidade, s muito recentemente
confrontadas com o problema da autonomia nacional.
Eduardo Grner
400
Filosofia poltica contempornea
E o problema se complica ainda mais quando como ocorre fre-
qentemente nos estudos culturais e nos tericos da ps-colonialidade
amplia-se o conceito de ps-colonial para incluir as minorias tnicas,
culturais, sexuais, etc., internas s prprias sociedades metropolitanas,
seja por via da dispora imigratria das ex-colnias ou por opresso
multissecular das prprias minorias raciais (indgenas e negros em
quase toda a Amrica, por exemplo). A extraordinria complexidade
que pode alcanar a alegoria nacional de um autor negro ou chicano
de Nova Iorque, de um autor paquistans ou jamaicano de Londres, de
um autor marroquino ou etope em Paris, um autor turco em Berlim,
ao qual poderia se acrescentar que fosse mulher, judia e homossexual,
essa extraordinria complexidade de cruzamentos entre distintas e s
vezes contraditrias situaes ps-coloniais no deixa, para o crtico
se que quer ser verdadeiramente crtico e no simplicar em exces-
so sua leitura outro remdio a no ser retornar anlise cuidadosa
das estratgias especcas da produo literria nesse autor, das singu-
laridades irredutveis do estilo, isto : para nos colocarmos novamente
em termos adornianos, das particularidades que determinam sua auto-
nomia especca com respeito totalidade ps-colonial.
Recentemente um autor norte-americano no muito conhecido,
Patrick McGee, inspirando-se em Adorno, mas tambm em Lacan, uti-
lizou um argumento semelhante a este para discutir algumas posies
do pai da teoria ps-colonial, Edward Said. Com efeito, em um livro
de resto notvel em muitos sentidos, Said escreve (1997): todas as
formas culturais so hbridas, mistas, impuras, e chegou o momento,
para a anlise cultural, de reconectar sua crtica com a realidade; em
seguida critica a Escola de Frankfurt (como ns o zemos de passa-
gem) por seu silncio diante da questo do imperialismo e do colo-
nialismo, sem bem que admite que isto assim para a maior parte da
crtica cultural dos pases metropolitanos, com exceo da teoria fe-
minista e dos estudos culturais inuenciados por Raymond Williams e
Stuart Hall. No entanto, como mostra McGee, a prpria nfase de Said
no carter fetichizador das categorias da anlise esttica nas metrpo-
les aponta para a pertinncia histrica da lgica da teoria adorniana
(McGee, 1997). Na Teoria Esttica, por exemplo, a obra de arte aut-
noma no transcende a histria, seno que se constitui como uma
forma histrica especca, que depende da separao das esferas so-
cioeconmica e esttica caracterstica da cultura burguesa, e que re-
monta pelo menos ao sculo XVIII, em meados do qual, casualmente,
com Baumgarten e depois com Kant, a Esttica se autonomiza como
401
disciplina. Se se ignora a autonomia da obra de arte, ento se supe
que a relao entre a obra e seu contexto imediata e transparente.
Assume-se que a mensagem da obra est completamente contida em
seu signicado, independentemente da forma. Semelhante anlise,
portanto, ignora ou ao menos supersimplica a relao sintomtica
da obra com seu contexto histrico, neste caso seu contexto ps-Ilus-
trao (que inclui, claro, o contexto ps-colonial, embora Adorno
no o mencione). Em compensao, quando Adorno descreve a obra
de arte, leibnizianamente em aparncia, como mnada sem janelas,
sua inteno no separ-la do contexto histrico, seno articul-la
como forma social especca. Segundo Said, na medida em que esta
forma social prpria e nica do Ocidente, um erro argumentar
que as literaturas no-europias, essas com mais bvias liaes com
o poder e a poltica, podem ser estudadas respeitavelmente, como se
sua realidade fosse to pura, autnoma e esteticamente independente
como a das literaturas ocidentais.
A isto se pode replicar, por certo, de vrias maneiras. Comece-
mos por reproduzir alguns dos argumentos de McGee com os quais
concordamos plenamente, para em seguida expor alguns prprios.
Como diz McGee, esta maneira de pensar traz em si o perigo para-
doxal e contraditrio com os propsitos mesmos de Said de menos-
prezar o prazer propriamente esttico que se pode obter da leitura dos
textos ps-coloniais, terceiro-mundistas ou como se queira cham-
los, posto que sugere para tais textos uma simplicidade artstica que
desestima sua real complexidade e sosticao. Mas, justamente, se
toda obra de arte hbrida, mista e impura, e Said faz disso uma
condio de sua complexidade esttica, to mais hbridos, mistos e
impuros pelas razes j apontadas sero os textos ps-coloniais
em geral, submetidos em maior medida ainda ao entrecruzamento de
lnguas, culturas e constelaes simblicas heterclitas, e em particu-
lar os textos latino-americanos, construindo suas prprias alegorias
sobre as runas do equvoco originrio de suas culturas nacionais.
Por que, ento, negar-lhes tal complexidade para reduzi-los a uma
mera questo de contedo, de liao com o poder e a poltica
imediata e transparente? No que esta liao no exista, e prova-
velmente seja certo que ela mais evidente, por necessidades histri-
cas, que nas altas literaturas metropolitanas. Mas trata-se de uma
questo de grau e no de natureza, que no afeta a importncia da
forma esttica em que tal liao se articula para dar a cada obra
sua diferena especca de estilo.
Eduardo Grner
402
Filosofia poltica contempornea
Mas ento acrescentaramos ns se o carter de autonomia
esttica da obra to vlido para os textos ps-coloniais como para
os europeus, reciprocamente no certo que a literatura europia seja
intrinsecamente to autnoma, esteticamente independente e por-
tanto respeitvel como parece crer Said: em primeiro lugar, ainda
que parea um trusmo (mas um trusmo que Said no parece levar
em considerao), a literatura e a cultura europia em geral no
alheia exatamente o contrrio cultura no-europia, caso se re-
corde o que foi dito mais acima sobre a importncia do colonialismo
para a prpria constituio da identidade europia moderna. Em
segundo lugar, a literatura e a cultura europia esto to atravessadas
como a no-europia pelo barro e sangue da histria, s que suas
estratgias de conteno ideolgica (como as chamaria o prprio
Jameson) so mais sutis e sosticadas, pela simples razo de que ti-
veram mais tempo e maior necessidade de desenvolver-se. Mas, da
mesma forma como ocorre em qualquer literatura o texto esttico,
sua autonomia relativa com respeito a essas estratgias de conten-
o, as estruturas em boa medida inconscientes e desejantes de
sua produtividade textual (para recordar essa noo de Kristeva),
freqentemente rompem seus prprios condicionamentos, e o fazem
no terreno da especicidade e da singularidade de sua forma esttica.
Como o sublinha provocativamente o prprio Adorno, a junta mili-
tar grega sabia muito bem o que fazia quando proibiu as obras de Be-
ckett, nas quais no se diz nem uma palavra sobre poltica. Portanto,
no principalmente na natureza, novamente, das obras metropolita-
nas e ps-coloniais onde se deveria buscar a diferena (que por certo
existe, tanto no registro da forma como do contedo), seno no
olhar do crtico, que deveria se dedicar a encontrar as maneiras es-
peccas em que atuam as contradies internas em uns e em outros
textos, a maneira especca em que esse trabalho textual particular
sintomatiza a relao com a totalidade histrica, to complexa e sos-
ticada em uns e em outros, ainda que por razes distintas.
Na verdade, um terico como o conhecido Aijaz Ahmad chegou
a sugerir que estas decincias, combinadas com os excessos do ps-
estruturalismo, implicam o perigo no mais de liquefazer o potencial
radicalismo poltico da teoria ps-colonial, seno de precipit-la dire-
tamente no conservadorismo, na medida em que o recurso terico
disseminao do sentido, dissoluo das identidades ideolgico-po-
lticas e ao textualismo podem ser tema de apaixonantes debates aca-
dmicos, mas tendem a separar a teoria de qualquer forma de com-
403
promisso poltico com as prticas de resistncia: As formas materiais
de ativismo so assim substitudas por um compromisso textual que
visualiza a leitura como a nica forma apropriada de fazer poltica
(Ahmad, 1997). No entanto, no que Ahmad adote uma atitude de
militncia populista contra a teoria. Como tampouco o faz Bart Mo-
ore-Gilbert ao propor, sugestivamente, que a teoria ps-colonial foi
decisiva para tornar visveis as inter-conexes entre a produo cul-
tural e as questes de raa, imperialismo e etnicidade [...] mas certa-
mente pode-se argumentar que ainda falta muito por fazer no campo
ps-colonial. Como sugeri antes, a rea das questes de classe ainda
no foi insucientemente considerada, inclusive na anlise do discurso
colonialista, e o mesmo pode se dizer com respeito cultura popular
(Moore-Gilbert, 1997, grifos nossos).
Tanto Ahmad como Moore-Gilbert, contudo, negligenciam um
pouco unilateralmente, em nossa opinio, um fator do qual j mos-
tramos suas ambigidades mas do qual gostaramos de resgatar sua
pertinncia. A teoria ps-colonial s vezes inclusive apesar de si mes-
ma fez o gesto para ns muito importante de reintroduzir uma di-
menso no s histrica como esttico-losca nas cincias sociais,
contribuindo, por assim dizer, para despositiviz-las. O problema que
o fez pela via exclusiva e excludente da losoa e da teoria esttica
ps, quando uma maior ateno no necessariamente excludente,
desde j dialtica negativa (no sentido de um Adorno, mas tambm,
a sua maneira e ainda que no a chame assim, de um Sartre) permiti-
ria pensar uma relao mais complexa e conituosa entre, digamos, a
Parte e o Todo: por exemplo, para nosso caso, entre a parte ccional
de uma noo como a de cultura nacional, e por outro lado os efeitos
materiais bons ou maus dessa co, e cuja bondade ou maldade
no pode ser decidida abstratamente, por fora das relaes de fora
que vinculam a Parte latino-americana ao Todo de um mundo que
cada vez menos parecemos estar em condies de no escolher, ao mes-
mo tempo que cada vez mais parece transformar-se naquele pesadelo
do qual no podemos despertar.
Mas, ao chegar at aqui, no podemos nos subtrair de fazer-(nos)
uma pergunta incmoda (que, por certo, no estaremos em condies
de responder de forma acabada): que relao podemos pensar, nal-
mente, em nossa latino-americanidade e essa cultura ocidental que
nos constituiu em seu Outro?
A primeira tentao a de responder-(nos) que, como latino-ame-
ricanos, e por bvias razes histricas, tampouco podemos nos desviar
Eduardo Grner
404
Filosofia poltica contempornea
do fato de que a cultura ocidental , tambm, nossa, em maior medida
talvez do que o para sia ou frica, embora no necessariamente por
melhores razes. Ela o , sem dvida, ambgua e conitivamente: como
desgarrado linde ou in-between que ainda (embora menos no Rio da
Prata que no resto do continente) guarda a memria desse desgarra-
mento inicial. Isto no nenhuma novidade; os mais lcidos pensadores
ps-coloniais penso, entre os argentinos, em uma riqussima tradio
que vai desde Echeverra, Sarmiento ou Alberdi at, digamos, Martnez
Estrada sentiram o desgarramento como o problema cultural mesmo
da Amrica Latina. Em todo caso, o que constituiria uma novidade
seria o decidir-se a propor de uma vez por todas uma batalha frontal
para nos reapropriamos do melhor dessa cultura como uma arma contra
o pior e desde nossa situao de desgarrado linde in-between: a partir
de uma situao de Mesmo/Outro, por tanto, que permitiria em uma
proximidade crtica despojada da fascinao da aura mostrar o Oci-
dente como Outro de si mesmo, maneira de Marx, Nietzsche ou Freud.
E no que isto no tenha sido feito antes agora penso, por exemplo,
em um Maritegui, mas o abandono dessa empresa nas ltimas dca-
das signicaria que, kierkegaardianamente, semelhante repetio apa-
receria como uma novidade.
Ainda que, para dizer a verdade, h, na Amrica Latina, uma ex-
ceo notvel tanto por sua prtica como pela reexo terica que sua
prpria prtica provoca: o movimento antropofgico brasileiro, a partir
de Oswald de Andrade e sua continuidade em poetas-crticos como Ha-
roldo de Campos. Com efeito, como ponto de partida para abordar o
problema da identidade cultural e a legitimao do desenvolvimento
nacional do trabalho intelectual nos pases subdesenvolvidos, os
poetas concretistas dessa gerao foram capazes de recuperar desde
o emblemtico Macunama de Mrio de Andrade at as teses crticas
sobre o logocentrismo de origem platnico (e de projeo, diramos
agora, orientalista) de Jacques Derrida. A identidade brasileira foi
concebida assim como a constante construo de uma diferena, bus-
ca que em si mesma o modo brasileiro de ser universal. O prprio
Haroldo de Campos desenvolve esta perspectiva descentralizante em
seus estudos sobre o desenvolvimento do barroco latino-americano,
sobre o modelo da antropofagia oswaldiana, que digere outras cultu-
ras vomitando o que no til quela construo diferencial. Nossas
culturas, tal como so hoje, no tiveram infncia nunca foram infans
no-parlantes: nasceram j adultas, falando complexas e mltiplas
lnguas culturais, mas alheias. Articular-se como diferena em rela-
405
o com essa panplia de universalia, eis a nosso nascer como cultura
prpria (de Campos, 2000). Algo semelhante com toda a modstia do
caso estamos ns mesmos tentando sugerir, ao falar em outra parte
da cultura argentina como de um pentimento (retomando a metfora
pictrica das capas superpostas de pintura nos quadros de pintores
arrependidos de sua obra anterior, e que com o passar do tempo co-
meam a se entrever por detrs da nova pintura; tambm podamos ter
falado, neste caso, de palimpsesto, maneira de Gerard Genette): capas
superpostas e em competio, das quais o quadro nal ainda que
sempre provisrio o testemunho de seu conito, da cultura prpria
como campo de batalha bakhtiniano, no qual no se trata tanto dos te-
mas como do acento, do predomnio da lngua e do estilo (Grner,
1995). Outra vez, trata-se aqui da tenso poltica irresolvel entre o
Todo que s Todo porque renega de sua parte que o faz parecer Todo,
e a Parte que luta pelo reconhecimento de seu conito com o Todo, e
nessa mesma luta se lana em direo a um horizonte novo.
Mas de qualquer modo, esta desobrigao, como dissemos, se-
ria enganosa. Ela o seria, em primeiro lugar, pessoalmente, posto que
o autor deste texto foi (mal ou bem) formado principalmente nessa cul-
tura, e no v razo algum para renunciar a se servir dela criticamente.
Ainda assim, esse dado autobiogrco trivial. O que realmente im-
portante so as razes tericas, histricas e alegricas que legitimam
o chamado a um retorno das grandes questes excludas comeando
pelos fundamentos utpicos de nossa identidade como matriz e
plataforma de lanamento de uma construo de novos fundamentos
para pensar e praticar um futuro m das pequenas histrias tambm
para a Amrica Latina e para a Argentina. Isto , de regressar irman-
dade das formigas em direo ao horizonte do ramo dourado.
BIBLIOGRAFIA
Adorno, Theodor W. e Horkheimer, Max 1968 Dialctica del Iluminismo
(Buenos Aires: Sur).
Ahmad, Aijaz 1993 In Theory (Londres: Verso).
Ahmad, Aijaz 1997 Culture, nationalism and the role of intellectuals in
Meiksins Wood, Ellen and Bellamy Foster, John (eds.) In defense of
history: Marxism ant the postmodern agenda (New York: Monthly
Review).
Babha, Homi 1996 The location of culture (Londres: Routledge).
Calvet, Jean-Louis 1973 Le colonialisme lingistique en France en Les
Temps Modernes (Paris) N 324-6.
Eduardo Grner
406
Filosofia poltica contempornea
Chakravorty Spivak, Gayatri 1996 Outside in the Teaching Machine (Londres:
Routledge).
De Campos, Haroldo 2000 De la Razn Antropofgica y Otros Ensayos
(Mxico: Siglo XXI).
De Martino, Ernesto 1977 La Fine del Mondo. Contributo allanalisi delle
apocalissi culturali (Torino: Einaudi).
Grner, Eduardo 1995 La Argentina como pentimento em Un gnero
culpable (Rosario: Homo Sapiens).
Hall, Stuart 1994 Critical dialogues in Cultural Studies (Londres: Routledge).
Huntington, Samuel P. 1996 El choque de las civilizaciones (Buenos Aires:
Paids).
Jameson, Fredric 1980 Third-World Literature in the era of Multinational
Capitalism in Social Text, N 19.
Jameson, Fredric 1991 Ensayos sobre el postmodernismo (Buenos Aires:
Imago Mundi).
McGee, Patrick 1997 Cinema, theory and political responsibility in
contemporary culture (New York: Cambridge University Press).
Moore-Gilbert, Bart 1997 Postcolonial theory: Context, practices, politics
(Londres: Verso).
Said, Edward 1989 Orientalism (Londres: Penguin).
Said, Edward 1997 Cultura e imperialismo (Barcelona: Anagrama).
Sartre, Jean-Paul 1966 Qu es la literatura? (Buenos Aires: Losada).
Vidal-Naquet, Pierre 1995 Los asesinos de la memoria (Mexico: Siglo XXI).
Zizek, Slavoj 1994 Tarrying with the Negative (Londres: Verso).
407
Gildo Maral Brando*
Teoria Poltica a partir do
Sul da Amrica?**
O PANO DE FUNDO desta reexo sobre alguns problemas da teoria po-
ltica e social na e a partir da Amrica do Sul , evidentemente, a situao
brasileira, no s porque dela que tenho conhecimento direto, como
porque so muito variveis os graus de institucionalizao acadmica das
cincias sociais em nossos pases. Variao que provavelmente tem a ver
com os impactos que os regimes militares tiveram nas comunidades uni-
versitrias e com o modo pelo qual elas praticaram estratgias de sobre-
vivncia e crescimento em algumas, o cenrio ps-ditatorial foi de terra
arrasada e sua eventual reconstruo se deu via instituies privadas, em
outras, as ditaduras reprimiram a crtica e simultaneamente favoreceram
a montagem de sistemas de ps-graduao. Em todos os casos, porm, a
extenso da derrota ideolgica da esquerda, o predomnio acachapante do
liberalismo, a transformao dos Estados Unidos em modelo indisputado
de boa vida e boa teoria, a perda de capacidade da universidade de deci-
* Professor associado do Departamento de Cincia Poltica da Universidade de So
Paulo. Coordenador cientco do Ncleo de Apoio Pesquisa sobre Democratizao
e Desenvolvimento (NADD-USP).
** Verso menos desenvolvida deste artigo foi publicada com o nome de Teoria Poltica
e Institucionalizao Acadmica em Quirino, Vouga e Brando (2004).
408
Filosofia poltica contempornea
dir autonomamente a sua agenda de pesquisa, e as polticas de fomento
adotadas pelas fundaes internacionais e pelas agncias governamentais,
tm levado a uma progressiva americanizao das cincias sociais, num
movimento que sostica tecnicamente o padro da atividade cientca e
rompe com as melhores tradies sul-americanas de global traders intelec-
tuais, por vezes restaurando um colonialismo mental que parecia abando-
nado desde os tempos do cepalismo.
De qualquer maneira, sintomtico que o interesse pela teoria (po-
ltica, social) ressurja na Amrica do Sul e no Brasil no momento em que
a batalha pela institucionalizao acadmica das cincias sociais parece
ter sido denitivamente vitoriosa, e que intervenes reveladoras de certo
desconforto com alguns resultados dessa empreitada venham luz quan-
do as presses das agncias nanciadoras de pesquisa e as disputas meto-
dolgicas internas s prprias disciplinas parecem forar um novo passo
no sentido da padronizao unidimensional da atividade cientca e do
enquadramento disciplinar da formao do cientista social. encorajador
que ele ocorra a contrapelo, quando a profundidade da crise intelectual e a
velocidade das transformaes econmicas, sociais, tecnolgicas e polti-
cas contemporneas explodiram os quadros apodrecidos de nosso pensa-
mento, tanto em sua verso apocalptica como na integrada.
Na experincia brasileira, a prossionalizao das cincias sociais e os
investimentos no sentido de construo da teoria caminharam em sentido
oposto. Como lembrou Gabriel Cohn em interveno em Encontro da Asso-
ciao Nacional de Ps-Graduao e Pesquisa em Cincias Sociais, as tenta-
tivas mais ambiciosas de produzir teoria, simultaneamente estimuladora da
pesquisa emprica, atualizada frente aos desenvolvimentos da losoa e da
reexo metodolgica internacional, e solidamente amarrada defesa da
relevncia dos projetos intelectuais para a vida pblica, se esgotam no incio
dos anos 60 com a polmica entre Guerreiro Ramos e Florestan Fernandes
sobre a natureza e o papel da teoria social. Depois disso, ao longo do pro-
cesso de institucionalizao das disciplinas acadmicas durante o perodo
militar, a teoria vira um instrumento para ser acionado pontualmente, ao
tempo em que h uma politizao exacerbada da cincia social
1
.
1 O perodo de institucionalizao acadmica e prossional das cincias sociais no Bra-
sil coincide com uma retrao no esforo de construo de teoria. As tentativas mais
ambiciosas nesse sentido realizadas no pas esgotam-se no incio dos anos 60 (talvez a
polmica entre Guerreiro Ramos e Florestan Fernandes nos anos 50, sobre a natureza e
o papel da teoria social, seja decisiva para entender esse perodo). Nas ltimas dcadas, o
regime militar e, em menor escala, o engajamento nas questes prementes da transio
inibiram uma atividade que tendia a apresentar-se como um luxo, a ser deixado para ou-
409
ntida hoje a defasagem entre as ambies com as quais parti-
mos, marcadas pela vontade de responder ao desao marx-weberiano
de produzir um conhecimento capaz de se enfrentar com os demnios
do nosso tempo, e alguns resultados aos quais chegamos, quando se
tenta impor a hegemonia de um partido acadmico que retalha o co-
nhecimento em autarquias, reica o mtodo ao tom-lo com indepen-
dncia do objeto que se quer investigar e como substituto da teoria, e
reduz a formao cientca ao aprendizado e ao renamento de proce-
dimentos tcnicos ao tempo em que, externa corporis, professa uma f
desmedida na engenharia institucional que, entretanto, no dispensa a
mediao dos polticos prossionais para ter insero na vida pblica.
Ao contrrio da sociologia da vida intelectual que se erige a si
prpria em sociologia do conhecimento, no possvel explicar essa
defasagem apenas pelas disputas polticas internas atividade acad-
mica ou supor que resulta essencialmente de escolhas racionais da elite
dos cientistas envolvidos ou das estratgias micropolticas das coteries.
Ela tambm est ligada a efeitos perversos de nossa histria poltica re-
cente e mudanas na prpria estrutura e modos de ser da sociedade,
o que por outro lado assegura a sua no-gratuidade. Evidentemente,
no passa pela cabea de ningum abrir mo do que se conquistou
durante esses 20, 30 anos, mas preciso no minimizar a percepo de
que alguma coisa perdemos nesse processo. Por isso mesmo, os resul-
tados que comemoramos hoje, diferentes em tudo da esperana, rela-
tivizam o discurso autocongratulatrio no momento de seu triunfo.
TRADIO E INOVAO
Em se tratando da sociologia e da cincia poltica, esse desconforto tem RG
e CPF e manifesta-se como retorno ao debate sobre a questo da teoria, an-
tes recalcada pela apontada politizao exacerbada da cincia social, mas
tambm, e principalmente, pelos resultados da absoro acrtica da anti-
ga revoluo behaviorista e da moderna institucionalista, que juntas
contriburam para obliterar a reexo metodolgica sobre os pressupostos
tros em melhores condies. O problema, que vem de longe, : quem so esses outros?
bem provvel que as diculdades para identic-los e, mais ainda, para tornar aceitveis
nomes e tendncias contemporneas, tenha contribudo para a propenso do retorno
direto aos clssicos (e sua contrapartida, os modismos locais e passageiros). Nas novas
condies do trabalho cientco em escala mundial, a questo sobre os outros e sobre
ns mesmos certamente se redene, e as questes de fundamentao terica retornam
em novos registros (Cohn, 1997).
Gildo Maral Brando
410
Filosofia poltica contempornea
conceituais da atividade investigativa que se est fazendo, para fomentar o
analfabetismo generalizado quanto aos problemas formais da exposio, e
para encerrar a vocao nos limites da prosso. Desse ponto de vista, os
termos usados por Sheldon S. Wolin para combater a metodolatria, e mes-
mo, direita, os de Isaiah Berlin para criticar uma cincia poltica incapaz
de educar o discernimento poltico, continuam plenamente atuais
2
.
De qualquer maneira, quem nas cincias humanas fala em teoria
est condenado a enfrentar os problemas da relao entre a cincia e a -
losoa, de um lado, e da relao entre teoria e pesquisa emprica e histo-
riogrca, de outro, posto que ambas constituem o campo nevrlgico da
discusso. Elas no so, como se sabe, radicalmente separadas. De fato,
a questo de mtodo constitui a interseco entre as duas, sobretudo se
a entendermos mais no sentido kantiano de crtica ao conhecimento do
que como algo limitado utilizao e ao aprendizado escolar de tcnicas
e procedimentos de pesquisa, de resto parte importante da discusso.
Por outro lado, e ao contrrio das cincias naturais, que precisam
esquecer seus fundadores, as cincias sociais no avanam seno refazen-
do o seu prprio caminho e, por isso mesmo, a questo dos clssicos lhe
constitutiva, est inscrita na sua estrutura e modo de ser
3
. No caso da
cincia poltica essa vasta temtica se v sobrecarregada pela inescapvel
relao da disciplina com a sua prpria tradio com o fato de ela no
ter como no se haver com a histria (milenar!) da teoria poltica, com
pensadores que apesar de no terem tido a duvidosa felicidade de serem
nossos contemporneos
4
, criaram categorias, estabeleceram padres, a-
graram dilemas e nos legaram reexes sobre a experincia humana e as
instituies polticas sem as quais no se vai a nenhum lugar
5
.
2 Ver Sheldon S. Wolin (1969) e Isaiah Berlin (1996). Na linhagem de Wolin, mas com
olhos voltados para a circunstncia brasileira, o agudo comentrio de Renato Lessa
(2001) em Da arte de fazer as boas perguntas. Para uma viso dos debates sobre a na-
tureza da teoria poltica na academia norte-americana, ver John G. Gunnel (1993).
3 Entre a vasta literatura existente, ver Jeffrey C. Alexander (1999).
4 Referindo-se, no primeiro dos Tres Estudios sobre Hegel, costumeira estratgia de dis-
criminar o que est vivo e o que est morto em um grande pensador, Adorno diz que ela
anuncia, por parte de quem possui a duvidosa felicidade de viver depois [...] a desavergonha-
da pretenso de assinalar soberanamente ao defunto o seu lugar e, deste modo, colocar-se em
certo sentido, acima dele; na abominvel pergunta sobre o que (o seu pensamento) signica
para o presente [...] ressoa semelhante presuno. No se pe, em contrapartida, a pergunta
inversa, o que signica o (nosso) presente diante (desse grande pensamento) (1969: 15).
5 Keynes sabia que por trs de cada economista vivo h sempre um grande pensador
morto; os antroplogos mais do que os socilogos, que sempre somos obrigados a voltar
aos clssicos. J os cientistas polticos, cuja cincia a mais tributria deles, aparente-
mente desejariam ignor-los.
411
Essa relao com a tradio torna-se dramtica numa cincia
poltica jovem como a nossa, na medida em que a apropriao dos
clssicos e a capacidade de interpelar, a partir da nossa circuns-
tncia, os grandes textos fundadores, so critrios seguros para
aferir a maturidade intelectual de um pas. Como diz Luiz Werneck
Vianna (1997: ix):
Pode-se aferir o nvel de maturidade da reexo intelectual de
um pas, particularmente os de capitalismo retardatrio, por sua
aptido em se apropriar da tradio clssica de um determinado
ramo do saber. O que ainda mais expressivo quando sua cultura
nacional no se limita a traduzir os clssicos, mas se empenha
na reconstituio de sua trajetria, na inquirio de suas motiva-
es e procura, por esforo prprio, avaliar o signicado de suas
contribuies. Nessa apropriao, como inevitvel, a tradio
clssica, por maior que seja o rigor de seu intrprete, tem o seu
inventrio de idias posto sob nova luz: indagados por uma cul-
tura distante da sua, e que os evoca a m de estabelecer alicerces
intelectuais prprios, cada autor clssico como que nasce outra
vez, podendo at experimentar desenvolvimentos ignorados em
seu contexto de origem.
H, evidentemente, quem se recuse a entend-lo, como esse analfa-
betismo ilustrado que se liga exclusivamente em tabelas e nmeros
e se enfada com a ensima leitura de Maquiavel, Hobbes ou Rous-
seau, sem ao menos advertir que no h exemplo de cincia poltica
no mundo que as tenha dispensado, que mal estamos comeando a
fazer a terceira ou quarta, e que algumas das que vm sendo produ-
zidas no so de maneira nenhuma variaes sobre o mesmo tema,
mas interpretaes de padro internacional e, convenhamos, bastan-
te inovadoras. E claro que sempre h aqueles para quem a teoria
para os outros e que nos aconselham sempre se limitar pesquisa
emprica, que j nos d trabalho suciente e, bem feita, nos asse-
gura cidadania acadmica internacional. Atitude que se casa com
um ponto de vista generalizado no e do prprio centro, para o qual
ns fazemos a teoria, vocs devem falar de seus pases. Mas o fato
de um Machado de Assis apenas comear a ser internacionalmente
reconhecido no mesmo p de igualdade de um Dostoievski ou um
Henry James para citar exemplo do campo mais institucionalizado
da literatura, ou de termos de agentar o auto-elogio de um An-
thony Giddens por seu papel na xao da trade de clssicos da
Gildo Maral Brando
412
Filosofia poltica contempornea
sociologia
6
quando um Florestan Fernandes j a havia delineado e
melhor! vinte anos antes, tem pouco a ver com critrios cientcos
ou literrios, mas tudo com realidades sociais, econmicas, geogr-
cas e polticas. Nesse sentido, se no quisermos nos condenar a com-
parecer ao mercado internacional de idias apenas como produtores
de matria-prima tropical para consumo e industrializao pelos in-
telectuais dos pases centrais, a produo de teoria de primeira qua-
lidade e a realizao de leituras inovadoras dos grandes pensadores
polticos, parecem ser um desao institucional inelutvel
7
.
CONTRA A METODOLATRIA
Longe de mim a pretenso de cobrir todos esses temas. O que pretendo
fazer aqui circunscrito: preocupado com a construo de meu objeto,
esboarei alguns argumentos sobre o que parece constituir princpios
fundantes da cincia social e poltica institucionalizada: a comparti-
mentalizao do saber, a ruptura entre o normativo e o emprico, a
separao entre a explicao cientca e a explicao histrica, e o an-
tagonismo entre teoria poltica e histria das idias. Na tentativa de re-
lativiz-los, proporei a constituio ou a consolidao da teoria poltica
como uma rea de pesquisa interdisciplinar, autnoma intelectualmen-
te, capaz de servir educao poltica de homens socialmente empe-
nhados e de contribuir para a internacionalizao ativa e no passiva
da cincia social que se faz na Amrica do Sul e no Brasil.
Meu argumento parte da tese de que, se a teoria no apenas
uma hiptese de trabalho que se mostra til para o funcionamento
do sistema dominante, mas sim, como quer Horkheimer (1975), um
momento inseparvel do esforo histrico de criar um mundo que sa-
tisfaa s necessidades e foras humanas, ento o projeto de construir
teoria no possvel sem relativizar princpios bsicos que tem nortea-
do boa parte de nossa atividade acadmica.
6 Na introduo de Poltica, Sociologia e Teoria Social. A primeira edio de Fundamentos
Empricos da Explicao Sociolgica, por exemplo, de 1959, e os ensaios que a compe
foram redigidos entre 1953 e 1957.
7 O que poderia ser complementado por uma poltica cultural diplomtica mais agres-
siva, que alm de multiplicar a criao de centros de estudos brasileiros no exterior,
promovesse a traduo das obras signicativas e incentivasse a publicao de artigos
em revistas no restritas temtica tnica (digamos assim, usando o deplorvel jargo
multiculturalista com o qual se costuma designar os mestios e metecos que habitamos
a vasta periferia do Imprio).
413
De fato, as cincias sociais contemporneas tm caminhado nou-
tra direo
8
. Elas tm trabalhado com o pressuposto de que o real no
s analtica, mas ontologicamente divisvel e passvel de ser decomposto
em seus elementos, cada pedao ou parte tendo em si mesmo, em seu
desenvolvimento supostamente imanente, o segredo de sua existncia. A
cincia poltica em especial, ainda quando admite tacitamente a pertinn-
cia de outras variveis, tem se desenvolvido postulando que a dinmica
do conito poltico e institucional guarda relaes essencialmente exter-
nas e formais com processos que se do fora dela, no sendo possvel a
reconstituio da totalidade, nem relevante a explorao da reciprocida-
de das determinaes em jogo. Em conseqncia, tem operado em dois
registros distintos, mas complementares: tem condenado ao ostracismo
as anlises das estruturas sociais (privilegiando a ao coletiva de deter-
minados atores em conjunturas dadas) e abandonado o campo da longa
durao aos historiadores situao prontamente acolhida por estes, que
alegre e sobranceiramente apontam poltica o seu lugar
9
; e tem, junto
com a sociologia, deixado de lado a pretenso de formular teorias globais
da mudana social em benefcio de teorias regionais e de alcance relativo,
capazes de abarcar, como diria Marx, uma diversidade de casos empricos
sob um princpio geral. Pela mo dos analticos, essa orientao penetrou
inclusive num terreno a ela tradicionalmente refratrio, a julgar pelo que
diz Jon Elster (1989), para quem o marxismo precisa do desenvolvimento
do que Robert K. Merton chamava de teorias de alcance mdio.
A julgar pelos seus resultados e sem cair no obscurantismo, no
h como negar o extraordinrio avano propiciado por tal perspectiva,
8 Retomo, nesse ponto, meu artigo Totalidade e determinao econmica, em Brando
(1977).
9 Como em Fernand Braudel (1986). Arriscando-me a cometer injustia, diria que embora
os pais fundadores no possam ser responsabilizados por isso, a Escola dos Annales aca-
bou consolidando senso comum para o qual tudo se passa como se houvesse uma diviso
social do trabalho na qual historiadores se ocupariam da longa durao, socilogos da
mdia, enquanto caria reservado para os politlogos e jornalistas o vnementiel, o
conjuntural, a superfcie das coisas. alvissareiro, entretanto, que ela tenha acabado por
promover o retorno da histria poltica, sem abrir mo dos resultados da crtica his-
tria tradicional centrada nas grandes personalidades, que havia ajudado a demolir. Para
uma leitura pragmtica dessa briga de parentes, Peter Burke (2002). Vale notar tambm
que na medida em que acentuam o horror generalizao e abandonam o projeto de
integrar histria e teoria, os (parte dos) historiadores se tornam pssimos aliados na luta
contra uma cincia social (poltica) que gostaria de se desinfetar da histria, seja como
reconhecimento da historicidade dos fatos, seja como forma de abordagem da realidade.
Sobre a relao entre essas disciplinas, nenhuma interveno recente foi to brilhante
como o comentrio de Fernando A. Novais ao texto de Leopoldo Waizbort (2002).
Gildo Maral Brando
414
Filosofia poltica contempornea
que favoreceu a apreenso de uma srie de fenmenos e ajudou a re-
nar nosso entendimento de processos setoriais. E seguramente, o de-
sao do institucionalismo e a crtica ao paradigma outrora dominante
segundo o qual processos e variveis polticas no passam de subpro-
dutos de tendncias macrossociais e macroeconmicas representaram,
pelo menos do ponto de vista acadmico, uma verdadeira carta de al-
forria da anlise propriamente poltica, por outro lado potencializa-
da pelas notveis transformaes da sociedade contempornea e pelo
andamento das transies democrticas, que lhes conferiram legitimi-
dade. No h, entretanto, como no perceber que essa reao acabou
por cair no extremo oposto, reduzindo a poltica ao meramente institu-
cional e tratando-a como se ela se explicasse por si mesma operao
oposta, mas de fato complementar disseminao da percepo ps-
moderna de que tudo poltica ou de que esta, onipresente, no tem
centro nem sujeito, posto que todos o so. Em ambas as situaes, aca-
bou tambm por reforar a notvel ojeriza que, sob o impacto da crise
das grandes teorias e da derrota do marxismo, uma cincia societria
como a sociologia e outra estatista como a economia, desenvolveram
aos problemas duros do poder, da dominao e da explorao.
Mas se for verdade que a poltica e a cincia que lhe corresponde
so, no uma parte destacvel do real, mas o estudo do complexo de
atividades prticas e tericas pelas quais os que governam no s jus-
ticam e mantm o seu domnio, como logram obter o consentimento
ativo dos governados ou, em termos weberianos, o estudo do comple-
xo de aes, idias e instituies por meio das quais indivduos e grupos
demonstram sua vocao dominao ento no basta esquartejar o
objeto entre uma cincia poltica, uma economia, e outra sociolo-
gia, especialmente se temos que nos defrontar com grandes mutaes
sociais, como as transformaes morfolgicas contemporneas
10
. Nem
basta, por outro lado, refugiar-se em formulaes normativas em tudo
aquilo que no se consegue fundamentar em termos materialistas.
Nesse sentido, chega a ser constrangedor o esforo que se faz, es-
pecialmente na cincia poltica, para tentar esquecer que a fonte mais
10 Em sua Teoria da Ao Comunicativa, Habermas considera que dentre as cincias
sociais, apenas a sociologia manteve sua capacidade de interpelar a sociedade em seu
conjunto, recusando sua reduo a uma cincia especializada e assumindo os problemas
que a cincia poltica e a economia foram deixando de lado na medida em que se con-
verteram em disciplinas estritas (1981). Mas mesmo Habermas rel a sociologia encami-
nhando-a para uma direo normativa que no honra a tradio.
415
comum e duradoura dos conitos e dos processos polticos continua
a ser aquilo que Madison chamou de distribuio variada e desigual
da propriedade, e que a explorao dessas formas institucionais de
dependncia do poltico frente ao econmico tem sido o objeto, no
o programa, de qualquer teoria crtica digna de seu nome (Hamilton
et al., 1988; Horkheimer, 1975). Por isso mesmo, no estamos conde-
nados a tomar os processos polticos como variveis independentes e
no h como no denunciar o carter ideolgico dessa operao, pois a
diculdade analtica verdadeira consiste no no isolamento, mas na re-
construo dos elos essenciais da cadeia e do modo como interagem ou
se pode atuar sobre eles: os linkages atravs dos quais aes, institui-
es, idias e processos se determinam reciprocamente. Nessa medida,
no s o apelo explicao histrica se torna inevitvel ela que a poli-
tical science descartara tanto ao separar intelectualmente o exame dos
valores e das instituies da anlise dos processos, como por acreditar
que a histria dos homens havia alcanado a sua plenitude, como a
autonomia da poltica deixa de ser pensada como autarquia para ser
tomada como momento superior do conjunto das relaes sociais.
O objeto, em outras palavras, determina o mtodo com o qual se
vai abord-lo. Entendida dessa forma, a cincia poltica
[...] no dispe de liberdade para eleger e construir seus con-
ceitos, dado que os compreende como dependentes do processo
histrico-social em seu conjunto, e estruturados por ele. Esta ci-
ncia histrica da sociedade no se ala isolada frente a seu ob-
jeto, ao contrrio, se considera inserida na sociedade enquanto
totalidade histrica. Em conseqncia, est condicionada pelos
interesses sociais que nela atuam, do mesmo modo como o in-
teresse do cientista por seu objeto exerce uma inuncia sobre a
sociedade (Kammler 1971: 15).
Evidentemente, as diferenas entre as disciplinas cientcas continuam
de p, vez que no so exclusivamente analticas as mudanas nas for-
mas de pensar reetem modicaes profundas no prprio ser social,
nas formas de sua reicao. Como mostraram Weber e Habermas,
uma das caractersticas bsicas do mundo moderno precisamente
a crescente autonomizao das diferentes esferas da vida. Mas se no
possvel eliminar a especializao por ato de vontade, no tam-
bm vlido supor que qualquer disciplina, ou qualquer campo interno
a uma disciplina, que tenha obtido cidadania acadmica corresponda
necessariamente a mudanas e a individualizaes no ser social. Ainda
Gildo Maral Brando
416
Filosofia poltica contempornea
que recusemos o carter absolutista e a carncia de mediaes da crti-
ca lukcsiana separao disciplinar das cincias sociais e destas com
relao economia poltica, isso continua no sendo verdadeiro, res-
pondendo antes a interesses desmedidos das burocracias prossionais
e apenas tangencialmente s necessidades da diviso social do trabalho
intelectual. No se trata, portanto, de ignorar essa diviso, mas de re-
lativiz-la, de transcend-la, horizonte pluridimensional que longe de
ser utpico atualizado permanentemente pela exigncia, prpria do
movimento do objeto, de imploso das fronteiras disciplinares.
EM MEIO AO ESTERCO DAS CONTRADIES
Posta a questo dessa maneira, o ponto decisivo a considerar que
a produo de um conhecimento capaz no apenas de classicar os
fatos, identicar regularidades, generalizar proposies e enquadr-
las em sistemas conceituais, mas tambm de apreender as tendncias
imanentes ao desenvolvimento da sociedade global, e que, alm disso,
tenha inscrito em sua estrutura analtica o interesse pela organizao
racional da atividade humana, tambm exige e necessita tanto da in-
tegrao entre teoria poltica e histria das idias como do dilogo e
mesmo da aliana entre a cincia social e a losoa.
No primeiro caso, porque no plano estritamente intelectual no
indiferente para o modo de ser e os usos da cincia e da teoria pol-
tica que ela recepcione ou negue a tradio. Evidentemente, a crtica
dos anacronismos das histrias loscas do pensamento poltico de
rigor, mas a presuno de que os interesses tericos contemporneos
nada tm a ver com a pesquisa sobre os textos histricos supe, na
verdade, a existncia de ruptura epistemolgica e ontolgica entre o
passado e o presente, ou, se se quiser, entre a modernidade e o perodo
clssico, ou entre a modernidade e a ps-modernidade. Ora, esta no
uma questo que se resolva no plano do debate metodolgico (e algu-
ma ?), mas in media res implica uma hiptese sobre a natureza dos
processos sociais contemporneos.
Isso de forma alguma nega a poderosa e inovadora contribuio
da chamada Escola de Cambridge para a renovao da histria do pen-
samento poltico e para tornar a disciplina aceitvel aos olhos do mains-
tream da cincia poltica. Apesar disso, e se o comentrio tem sentido,
caberia indagar se ela no chega, por vias transversas, aos mesmos re-
sultados da antiga revoluo behaviorista ou, mais genericamente, dos
adversrios da compreenso histrica da teoria e da relevncia da teoria
para os estudos histricos. De fato, de Easton rational choice, a polito-
417
logia hard jamais deixou de reconhecer a necessidade da teoria poltica,
apenas recusou seu casamento com a histria em geral e com a das idias
polticas em particular, defendeu a adoo de uma teoria liberta do peso
da tradio, separou o normativo do emprico e reduziu-a a instrumento
encarregado de controlar a estrutura valorativa dentro da qual a cincia
emprica trabalharia concentrada na acumulao de dados observveis,
na formulao de hipteses e teorias de alcance mdio que pudessem ser
falseadas, e na interpretao desses resultados, evitando assim a conta-
minao entre juzo de fato e juzo de valor
11
. Ora, esta quer uma teoria
poltica a-histrica, aquela uma histria a-terica: podem conviver muito
bem entre si.
Por outro lado, no desconheo que com a crise das grandes te-
orias, com o recuo para as explicaes ad hoc para a mudana social e
com a nfase compensatria no normativo, as cincias sociais foram
invadidas por uma tendncia losofante que recuperou o pior do en-
sasmo sua falta de rigor, sua arbitrariedade formal e pouca ou ne-
nhuma preocupao com a investigao emprica e forneceu, malgr
lui mme, aparncia de verdade pretenso dos novos positivistas, que
julgam que pesquisa o que eles fazem e todo o resto arcasmo e per-
da de tempo. Mas do fato de que a perda de referenciais tenha levado
socilogos e tericos polticos a produzirem sublosoa no se segue
nem a ilegitimidade do ensaio como forma de exposio nem que a
necessidade daquela relao deva ser desconsiderada. E isso no ape-
nas porque impossvel eliminar a interpretao em qualquer cincia
social, que no se esgota na explicao, mas tambm porque a loso-
a no pode ser tomada apenas como uma ideologia pr-cientca, e
sim como uma inescapvel forma de reexo que tanto tem formulado
verdades fundamentais a respeito da natureza humana e das relaes
dos homens entre si e com o mundo, como tem por vezes demonstrado
maior conscincia do que a cincia social convencional de que, no ter-
reno das coisas humanas, o modo de dizer to importante quanto o
que se diz, o percurso pesa tanto ou mais do que o resultado.
Se tal aliana to difcil de formular como de realizar porque
ambos os lados tm precria conscincia de sua mtua dependncia.
De fato, os lsofos em sua maioria pensam a poltica como uma regio
circunscrita e subalterna do saber, e a atividade poltica como a apli-
11 Para tal concepo da histria das teorias polticas, ver J. G. A. Pocock (2003). De Da-
vid Easton, entre outros textos, ver The New Revolution in Political Science (1969).
Gildo Maral Brando
418
Filosofia poltica contempornea
cao prtica de uma losoa ou de uma tica, no como uma forma
de ver e de lidar com o mundo consistente e subsistente por si mesma.
Instituintes, pretendem formular os princpios fundantes de qualquer
ao e apenas tomam o mundo pelas abstraes que fazem dele. No por
acaso, so quase todos uma tragdia quando se metem a fazer e a falar
de poltica. J os cientistas polticos costumam ser engenheiros institu-
cionais e essa caracterstica, expressa na predominncia seja dos insti-
tucionalismos, seja das teorias da escolha racional, acabou produzindo
uma massa enorme de estudos sobre governo, elites, administrao, par-
tidos, relaes entre poderes e eleies, que ignoram a histria, pem
entre parnteses a inuncia da sociedade e dos grupos sociais sobre as
instituies, e falam de todo o resto, menos do lado demonaco do po-
der da dominao. De perspectiva distinta, mas chegando aos mesmos
resultados, boa parte do que se convencionou chamar de Teoria Poltica
h muito deixou de se preocupar com a anlise dos processos reais e das
foras reais que podem levar transformao ou conservao do esta-
do de coisas, em benefcio de reexes abstratas sobre o bom governo,
sobre os princpios pelos quais se pode chamar uma sociedade de justa,
ou sobre os valores e imperativos que deveriam pautar a conduta racio-
nal dos indivduos tomados sempre com independncia da natureza
efetiva das relaes sociais em que a estes dado viver.
Para o meu argumento, entretanto, no imperativo admitir que
as cincias sociais precisam ser loscas para serem cientcas
12
su-
ciente considerar que sem a aliana entre elas no h possibilidade de
assumir como projeto a construo de boa teoria
13
. No caso que nos inte-
ressa, a teoria poltica esta zona onde tal cooperao possvel e apenas
neste mbito ela pode ser construda. Podemos chamar este modo de con-
ceb-la de teoria crtica ou de tradio pica da teoria poltica. Pouco
importa, o que interessa que neste sentido, ela menos uma subdiscipli-
na de uma cincia poltica ou social estrita do que um projeto intelectual
voltado para integrar teoria e histria, um modo de interpelar usemos o
palavro a totalidade, o movimento da sociedade em seu conjunto
14
.
12 O marxismo ocidental (hegeliano) foi sempre enftico na defesa dessa tese, melhor
formulada por Lucien Goldmann, mas, salvo engano, ela compartilhada por quase to-
das as tendncias humanistas que se opem ao cienticismo dominante.
13 De diferentes perspectivas, Renato Janine Ribeiro, Luiz Eduardo Soares e Renato Les-
sa (1998) tambm exploram a necessidade dessa aliana em suas intervenes na mesa
redonda Por que rir da Filosoa Poltica?.
14 Como em Sheldon S. Wolin (1960; 1970).
419
No pretendo terminar com nenhuma nota utpica. Sei bem
uma concepo unitria e realista do mundo que est subjacente,
anal, ao modo de pensar a sociedade e a poltica aqui sugerido j
no conta sequer com aquela garantia metodolgica que um dia se
considerou prpria da dialtica como mtodo de anlise enm ade-
quado s estruturas do capitalismo, como pensamento que, fora de
moda nas cincias naturais, encontrava nas cincias humanas o seu
ambiente natural, como teoria cujos conceitos e estrutura categorial
reproduziriam exivelmente o andamento da prpria realidade. Dila-
pidada a sobrevida que havia adquirido uma vez passado o momen-
to de sua realizao, perdida a carga de universalidade que um dia
ambicionou, ela parece (denitivamente?) reduzida a mero ponto de
vista, pesado e anacrnico, tanto mais que a prpria evoluo do ca-
pitalismo, a derrota poltica e o irremedivel esgotamento do que se
pretendia transformao do mundo, parecem tornar obsoletas a cons-
telao histrica e a ambio terica que lhes permitiram nascer
15
.
Mas o desao ao qual tentava responder no continua, apesar
de tudo, de p? Em que lugar encontrar-se-ia outra orientao com
coragem de pensar impiedosamente, inclusive contra si prpria, em
meio ao esterco das contradies? Em seus melhores dias, essa pers-
pectiva constitua, como j se disse, um precioso recurso contra a re-
duo positivista do fato humano coisa ou ao comportamento frag-
mentado (Giannotti, 1966: 7). Por mais fora da moda que esteja, ela
conserva sobre a cincia (poltica, social) convencional a vantagem,
lha do ceticismo, de jamais esquecer que o que os atores dizem no
corresponde simplesmente ao que fazem, que as escolhas dos agentes
no se do no limbo e no resumem o sentido global do processo, que
os indivduos e as instituies s podem ser explicados historicamente,
e, principalmente, que tudo que existe merece perecer. Tudo isso con-
dicionado pela distinta maneira de abordar o dado. Como disse Lucien
Goldmann em um de seus ltimos escritos:
O grande valor da dialtica precisamente o de no julgar mo-
ralmente e no dizer apenas: queremos a democracia, neces-
srio introduzi-la, queremos a revoluo, necessrio faz-la
mas perguntar-se quais as foras reais de transformao, qual
15 Na perspectiva da histria das idias, talvez os principais marcos dessa evoluo se-
jam Histria e Conscincia de Classe (1922), Crtica Razo Dialtica (1960), e Dialtica
Negativa (1966).
Gildo Maral Brando
420
Filosofia poltica contempornea
a maneira de achar na realidade, no objeto, na sociedade, o su-
jeito da transformao, para tentar falar na sua perspectiva e as-
segurar, sabendo perfeitamente quais so os riscos do malogro,
o caminho para... (1972: 117).
BIBLIOGRAFIA
Adorno, Theodor W. 1969 Aspectos em Tres Estudios sobre Hegel (Madrid:
Taurus).
Alexander, Jeffrey C. 1999 A importncia dos clssicos em Giddens, Anthony
e Turner, Jonathan (orgs.) Teoria Social Hoje (So Paulo: UNESP).
Berlin, Isaiah 1996 The Sense of Reality: Studies in ideas and their history
(London: Farret Streus & Giroux).
Brando, Gildo Maral 1977 Totalidade e determinao econmica em
Temas de Cincias Humanas (So Paulo: Grijalbo) N 1.
Brando, Gildo Maral 2004 Teoria Poltica e Institucionalizao Acadmica
em Quirino, Clia Galvo; Vouga, Cludio e Brando, Gildo Maral
(orgs.) Clssicos do Pensamento Poltico (So Paulo: EDUSP).
Braudel, Fernand 1986 Histria e Cincias Sociais (Lisboa: Editorial
Presena).
Burke, Peter 2002 Histria e Teoria Social (So Paulo: UNESP).
Cohn, Gabriel 1997 Teoria para os outros em Programas e Resumos do XX
Encontro Anual da ANPOCS (Caxambu, MG) outubro.
Easton, David 1969 The New Revolution in Political Science in American
Political Science Review, Vol. LXII, N 3.
Elster, John 1989 Marx Hoje (Rio de Janeiro: Paz e Terra).
Giannotti, Jos Arthur 1966 Prefcio em Origens da Dialtica do Trabalho
(So Paulo: Difel).
Goldmann, Lucien 1966 Cincias Humanas e Filosoa (So Paulo: Difuso
Europia do Livro).
Goldmann, Lucien 1972 A Criao Cultural na Sociedade Moderna (So Paulo:
Difel).
Gunnel, John G. 1993 The Descent of Political Theory. The genealogy of an
American vocation (Chicago: The University of Chicago Press).
Habermas, Jrgen 1981 Theory of Communicative Action (Boston: Beacon
Press) Vol. I Reason and the rationalization of society.
Hamilton, Alexander; Madison, James and Jay, John 1988 The Federalist
Papers (New York: Bantam Books).
Horkheimer, Max 1975 Postscript Traditional and Critical Theory em
Critical Theory. Selected Essays (New York: The Continuum Publishing
Corporation).
421
Janine Ribeiro, Renato; Soares, Luiz Eduardo e Lessa, Renato 1998 Por que
rir da Filosoa Poltica? em Lessa, Renato (org.) Revista Brasileira de
Cincias Sociais (So Paulo: ANPOCS) N 36, fevereiro.
Kammler, Jorg 1971 Objeto y mtodo de la ciencia poltica em Abendroth,
Wolfgang y Lenk, Kurt (orgs.) Introduccin a la Ciencia Poltica
(Barcelona: Anagrama).
Lessa, Renato 2001 Da arte de fazer as boas perguntas em Lua Nova (So
Paulo: CEDEC) N 54.
Pocock, J. G. A. 2003 O estado da arte em Miceli, Srgio (org.) Linguagens
do Iderio Poltico (So Paulo: EDUSP).
Quirino, Clia Galvo; Vouga, Cludio e Brando, Gildo Maral (orgs.) 2004
Clssicos do Pensamento Poltico (So Paulo: EDUSP).
Vianna, Luiz Werneck 1997 Prefcio em Jasmin, Marcelo Alexis de
Tocqueville: a historiograa como cincia da poltica (Rio de Janeiro:
Acess Editora).
Waizbort, Leopoldo 2002 Inuncias e inveno na sociologia brasileira
(Desiguais, porm combinados) em Miceli, Srgio (org.) O Que Ler
na Cincia Social Brasileira, 1970-2002 (So Paulo: Editora Sumar/
ANPOCS) Vol. IV.
Whitehead, Alfred North 1967 Science and the Modern World (New York:
MacMillan).
Wolin, Sheldon S. 1960 Politics and Vision. Continuity and innovation in
Western political thought (Boston: Little, Brown and Company).
Wolin, Sheldon S. 1969 Political Theory as a Vocation in American Political
Science Review, Vol. LXIII, N 4, December.
Wolin, Sheldon S. 1970 Hobbes and the Epic Tradition of Political Theory (Los
Angeles: Williams Andrews Clark Memorial Library).
Gildo Maral Brando
Você também pode gostar
- Cesar Guimarães: Uma Antologia de Textos PolíticosNo EverandCesar Guimarães: Uma Antologia de Textos PolíticosAinda não há avaliações
- Brasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoNo EverandBrasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoAinda não há avaliações
- Transições à democracia: Europa e América latina no século XXNo EverandTransições à democracia: Europa e América latina no século XXAinda não há avaliações
- O pensamento político em movimento: Ensaios de filosofia política (Volume 2)No EverandO pensamento político em movimento: Ensaios de filosofia política (Volume 2)Ainda não há avaliações
- O Brasil republicano em perspectiva: diálogos entre a história política e a história intelectualNo EverandO Brasil republicano em perspectiva: diálogos entre a história política e a história intelectualAinda não há avaliações
- Dimensões do Político: temas e abordagens para pensar a História PolíticaNo EverandDimensões do Político: temas e abordagens para pensar a História PolíticaAinda não há avaliações
- Os Novos Populismos Contemporâneos como Fenômeno Global: As Estratégias de Construção de Inimigos e Ameaças nas Campanhas de Nicolás Maduro e Viktor Órban (2018)No EverandOs Novos Populismos Contemporâneos como Fenômeno Global: As Estratégias de Construção de Inimigos e Ameaças nas Campanhas de Nicolás Maduro e Viktor Órban (2018)Ainda não há avaliações
- A Presença do Invisível: um olhar sobre o neoliberalismo em discursos presidenciais de Fernando Collor a Dilma RousseffNo EverandA Presença do Invisível: um olhar sobre o neoliberalismo em discursos presidenciais de Fernando Collor a Dilma RousseffAinda não há avaliações
- Conflitos Ideológicos & Direitos Humanos: As Declarações de Direitos na História e o Conflito entre IdeologiasNo EverandConflitos Ideológicos & Direitos Humanos: As Declarações de Direitos na História e o Conflito entre IdeologiasAinda não há avaliações
- A comunicação dos marginalizados nas rupturas democráticasNo EverandA comunicação dos marginalizados nas rupturas democráticasAinda não há avaliações
- Juristas em resistência: memória das lutas contra o autoritarismo no BrasilNo EverandJuristas em resistência: memória das lutas contra o autoritarismo no BrasilAinda não há avaliações
- Governança global: conexões entre políticas domésticas e internacionaisNo EverandGovernança global: conexões entre políticas domésticas e internacionaisAinda não há avaliações
- Anarquismo e Ação Direta: Persuasão e Violência na ModernidadeNo EverandAnarquismo e Ação Direta: Persuasão e Violência na ModernidadeAinda não há avaliações
- Histórias e memórias dos fascismos numa época de criseNo EverandHistórias e memórias dos fascismos numa época de criseAinda não há avaliações
- Imprensa, comunicações e ditaduras na Argentina e no Brasil: narrativas de um presente sombrio e lutas por memórias públicasNo EverandImprensa, comunicações e ditaduras na Argentina e no Brasil: narrativas de um presente sombrio e lutas por memórias públicasAinda não há avaliações
- O populismo reacionário: ascensão e legado do bolsonarismoNo EverandO populismo reacionário: ascensão e legado do bolsonarismoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Esferas Públicas no Brasil: Teoria Social, Públicos Subalternos e DemocraciaNo EverandEsferas Públicas no Brasil: Teoria Social, Públicos Subalternos e DemocraciaAinda não há avaliações
- Trabalho, partido e mercado na crise neoliberal: Novo projeto social-democrataNo EverandTrabalho, partido e mercado na crise neoliberal: Novo projeto social-democrataAinda não há avaliações
- Brasil em transe: Bolsonarismo, nova direita e desdemocratizaçãoNo EverandBrasil em transe: Bolsonarismo, nova direita e desdemocratizaçãoNota: 3 de 5 estrelas3/5 (4)
- Racismo Estrutural: Uma perspectiva histórico-críticaNo EverandRacismo Estrutural: Uma perspectiva histórico-críticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Dois Séculos de Imigração no Brasil: Imagem e Papel Social dos Estrangeiros na Imprensa (Volume 1)No EverandDois Séculos de Imigração no Brasil: Imagem e Papel Social dos Estrangeiros na Imprensa (Volume 1)Ainda não há avaliações
- Democracia Constitucional e Populismos na América Latina:: entre fragilidades institucionais e proteção deficitária dos direitos fundamentaisNo EverandDemocracia Constitucional e Populismos na América Latina:: entre fragilidades institucionais e proteção deficitária dos direitos fundamentaisAinda não há avaliações
- 32 PDFDocumento548 páginas32 PDFgabrielseabrafmAinda não há avaliações
- Círculo De FerroNo EverandCírculo De FerroAinda não há avaliações
- OS INTELECTUAIS BRASILEIROS A REALIDADE SOCIALNo EverandOS INTELECTUAIS BRASILEIROS A REALIDADE SOCIALAinda não há avaliações
- Ética e política da libertação, de Enrique Dussel: Roteiros e apresentações de aulasNo EverandÉtica e política da libertação, de Enrique Dussel: Roteiros e apresentações de aulasAinda não há avaliações
- Gramsci e Michels: Intelectuais, Partidos e OligarquizaçãoNo EverandGramsci e Michels: Intelectuais, Partidos e OligarquizaçãoAinda não há avaliações
- Dilemas da revolução brasileira: democracia contra demofobiaNo EverandDilemas da revolução brasileira: democracia contra demofobiaAinda não há avaliações
- A Luta Pela Cidadania No BrasilDocumento26 páginasA Luta Pela Cidadania No BrasilLucas Coelho BrandãoAinda não há avaliações
- Direito, Estado e Sociedade: intersecções: Volume 5No EverandDireito, Estado e Sociedade: intersecções: Volume 5Ainda não há avaliações
- Projetos de estado na América Latina contemporânea (1930-1960)No EverandProjetos de estado na América Latina contemporânea (1930-1960)Ainda não há avaliações
- Da Consciência À Potência de Ação Um Movimento Possível Do Sujeito Revolucionario Da Psicologia LaneanaDocumento19 páginasDa Consciência À Potência de Ação Um Movimento Possível Do Sujeito Revolucionario Da Psicologia LaneanaJuliana SoaresAinda não há avaliações
- O ódio como política: a reinvenção das direitas no BrasilNo EverandO ódio como política: a reinvenção das direitas no BrasilAinda não há avaliações
- Teoria Democrática Contemporânea: Robert Dahl e o Conceito de PoliarquiaNo EverandTeoria Democrática Contemporânea: Robert Dahl e o Conceito de PoliarquiaAinda não há avaliações
- Desafios sociais: textos críticos em Ciências Humanas - Volume 1No EverandDesafios sociais: textos críticos em Ciências Humanas - Volume 1Ainda não há avaliações
- Insurgência e Descolonialização Analética da América LatinaNo EverandInsurgência e Descolonialização Analética da América LatinaAinda não há avaliações
- Decolonialidade a partir do Brasil - Volume IVNo EverandDecolonialidade a partir do Brasil - Volume IVAinda não há avaliações
- 100 Anos da Revolução de Outubro (1917 – 2017): Balanços e PerspectivasNo Everand100 Anos da Revolução de Outubro (1917 – 2017): Balanços e PerspectivasAinda não há avaliações
- Criminologia Positivista no Brasil: análise decolonial na obra de Nina RodriguesNo EverandCriminologia Positivista no Brasil: análise decolonial na obra de Nina RodriguesAinda não há avaliações
- Entre a nação e a revolução: Marxismo e nacionalismo no Peru e no Brasil (1928-1964)No EverandEntre a nação e a revolução: Marxismo e nacionalismo no Peru e no Brasil (1928-1964)Ainda não há avaliações
- O futuro da 'outra tradição' em Hannah ArendtDocumento5 páginasO futuro da 'outra tradição' em Hannah ArendtGeraldo Barbosa NetoAinda não há avaliações
- Antropologia e Política, KushnirDocumento6 páginasAntropologia e Política, KushnirPatrice SchuchAinda não há avaliações
- Tap DS Programa2022Documento6 páginasTap DS Programa2022Ester Dos SantosAinda não há avaliações
- Princípios. Revista de Filosofia. Vol. 19, Numero 32. Dezembro de 2011.Documento559 páginasPrincípios. Revista de Filosofia. Vol. 19, Numero 32. Dezembro de 2011.principiosufrnAinda não há avaliações
- 1-O Problema Da Definição de Obra de ArteDocumento30 páginas1-O Problema Da Definição de Obra de ArteHenrique Silva100% (1)
- Avaliação Sumativa 1 - Dieta MediterrânicaDocumento6 páginasAvaliação Sumativa 1 - Dieta MediterrânicaodeteAinda não há avaliações
- Jurisprudência Regime de BensDocumento26 páginasJurisprudência Regime de BenswannnyAinda não há avaliações
- PASSAURA - Memorial Andaimes PDFDocumento3 páginasPASSAURA - Memorial Andaimes PDFMárcio Antônio ScariotAinda não há avaliações
- Analise Completa Marco Legal Da GD Lei 14.300 de 2022Documento43 páginasAnalise Completa Marco Legal Da GD Lei 14.300 de 2022Deyvison AlvesAinda não há avaliações
- Bela e FeraDocumento12 páginasBela e FeraRaíza SabrinaAinda não há avaliações
- 2636 Sagrada Familia de Jesus Maria e Jose 1Documento4 páginas2636 Sagrada Familia de Jesus Maria e Jose 1João Benjamim de Oliveira NetoAinda não há avaliações
- Arte EducaçãoDocumento272 páginasArte EducaçãoWeslley FerreiraAinda não há avaliações
- O Livro de Bolso Do ProletariadoDocumento139 páginasO Livro de Bolso Do ProletariadovalentebauruAinda não há avaliações
- Nomes Comerciais e Científicos de Peixes (2006)Documento24 páginasNomes Comerciais e Científicos de Peixes (2006)Francisca LourençoAinda não há avaliações
- Plano-De-Aula 1 EM HistoriaDocumento2 páginasPlano-De-Aula 1 EM HistoriaHeldelene Rocha CavalcantiAinda não há avaliações
- Teste de Desempenho Escolar (TDE)Documento10 páginasTeste de Desempenho Escolar (TDE)Raquel AndradeAinda não há avaliações
- Conjuncoes 2Documento9 páginasConjuncoes 2annaAinda não há avaliações
- Lista Variação Bips - BiosDocumento6 páginasLista Variação Bips - BiosVindictaeAinda não há avaliações
- Lista de Instrução de Integração - Sbserviços - 27 - 04 - 2023Documento2 páginasLista de Instrução de Integração - Sbserviços - 27 - 04 - 2023Alex Bertolace ServiçosAinda não há avaliações
- Medresumo GinecologiaDocumento140 páginasMedresumo GinecologiaJéssica TavaresAinda não há avaliações
- Emanuel Lasker - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento128 páginasEmanuel Lasker - Wikipédia, A Enciclopédia LivrerobertofigueiraAinda não há avaliações
- Muestra B1 CTEDocumento8 páginasMuestra B1 CTEMargielly de AzevedoAinda não há avaliações
- Portfolio de Fios Amabella Threads 1658173408967651Documento12 páginasPortfolio de Fios Amabella Threads 1658173408967651Marcelle MagalhãesAinda não há avaliações
- TERMO DE COMPROMISSO - Modelo de PreenchimentoDocumento5 páginasTERMO DE COMPROMISSO - Modelo de PreenchimentoMarize ClossAinda não há avaliações
- Apostila ComApDocumento63 páginasApostila ComApJesus Neto100% (3)
- Procedimentos DO Saidjur Fase DE Conhecimento:: 1 - Nos Casos DE Intimação Designando AudiênciaDocumento12 páginasProcedimentos DO Saidjur Fase DE Conhecimento:: 1 - Nos Casos DE Intimação Designando AudiênciaRafael MarquesAinda não há avaliações
- Enind PDFDocumento26 páginasEnind PDFcarlos_silva_301Ainda não há avaliações
- Louis LAmour-x-O Ultimo Da Raça-BasDocumento192 páginasLouis LAmour-x-O Ultimo Da Raça-BasAlekseiAinda não há avaliações
- Capítulo 1 Do E-BookDocumento26 páginasCapítulo 1 Do E-BookKenzo Effect100% (1)
- Educação indígena e diversidade culturalDocumento7 páginasEducação indígena e diversidade culturalSilvania Felix100% (1)
- Democratização do acesso ao cinema no BrasilDocumento26 páginasDemocratização do acesso ao cinema no BrasilJeniffer YaraAinda não há avaliações
- Pós Colheita e BeneficiamentoDocumento30 páginasPós Colheita e BeneficiamentoPablo Vieira0% (1)
- Sistemas de proteção contra incêndio em instalações com hidrocarbonetosDocumento48 páginasSistemas de proteção contra incêndio em instalações com hidrocarbonetosBruno Reis100% (5)
- Cabo automotivo PPDocumento1 páginaCabo automotivo PPClaDom CladomAinda não há avaliações