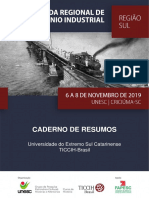Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto Completo ANPUH-SC Tiago Coelho PDF
Texto Completo ANPUH-SC Tiago Coelho PDF
Enviado por
Anonymous rNsdWAl0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações7 páginasTítulo original
Texto Completo ANPUH-SC Tiago Coelho.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações7 páginasTexto Completo ANPUH-SC Tiago Coelho PDF
Texto Completo ANPUH-SC Tiago Coelho PDF
Enviado por
Anonymous rNsdWAlDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
Anais do XV Encontro Estadual de Histria 1964-2014: Memrias, Testemunhos e Estado,
11 a 14 de agosto de 2014, UFSC, Florianpolis
O movimento operrio em Cricima no contexto do golpe: do sindicato aos bares
Tiago da Silva Coelho
1
Resumo: O movimento operrio dos mineiros de Cricima demonstrou a sua fora em vrias
manifestaes e greves por todo o sculo XX. Durante as dcadas de 1950 e 1960 os
trabalhadores do carvo insuflaram as relaes sociais ao deflagrarem inmeros movimentos que
paralisaram as atividades em vrias minas e empresas. No momento do golpe civil-militar de
1964 os mineiros, principalmente os dirigentes do sindicato, foram alvo de um dossi que
avaliava a periculosidade de cada um dos indivduos e sua trajetria dentro do contexto das greves
e manifestaes da dcada anterior. O referido dossi, assinado pelo comandante das foras do
23 Grupo de Infantaria de Blumenau deslocado para Cricima no contexto do Golpe Newton
Machado Vieira, responsabiliza um grande grupo de trabalhadores mineiros por crimes civis e
militares contra a ordem pblica e social. No inqurito policial militar, o ento Coronel Newton
Vieira, cita inmeros subversivos na cidade de Cricima, Ararangu, Tubaro entre outras,
detendo-se por muitas pginas nos mineiros, principalmente nos membros do sindicato, indicando
este local como subversivo e corrompedor da moral do trabalho. Outro estabelecimento citado no
inqurito como subversivo, foi o bar. Para Vieira os bares eram espaos to nocivos aos
trabalhadores mineiros quanto o sindicato, e que eram nesses locais que ocorriam atos criminosos
como aliciamento de trabalhadores, acordos de greves e manifestaes e a assinatura do grupo dos
11, idealizado por Leonel Brizola. A presente comunicao visa discutir o papel dos bares na vida
dos trabalhadores mineiros da cidade de Cricima, observando estes espaos como locais de
discusso e de sociabilidade no contexto do golpe militar de 1964.
Palavras-chave: Movimento operrio, sindicato, bar.
[...] nos botequins, onde se achavam bebendo
para esquecer as tremendas dificuldades que
tinham de enfrentar em suas vidas.
Com estas palavras acima citadas, o Coronel do 23 Grupo de Infantaria de Blumenau,
Newton Machado Vieira, deslocado Cricima no contexto do Golpe civil-militar de 1964,
encaminha-se para a finalizao da ambientao escrita sobre as regies mineradoras do sul
de Santa Catarina. Ambientao pensada a ttulo de introduo ao Inqurito Policial Militar
(IPM) que tinha como finalidade apurar as aes de subversivos atuantes especificamente
nesta atividade empregatcia e nas cidades de Ararangu, Cricima, Jaguaruna, Lauro Mller
e Tubaro.
1
Mestre em Histria PUCRS, professor do departamento de Histria da Universidade do Extremo Sul Catarinense -
UNESC. E-mail: tiagocoelho@unesc.net
Anais do XV Encontro Estadual de Histria 1964-2014: Memrias, Testemunhos e Estado,
11 a 14 de agosto de 2014, UFSC, Florianpolis
2
Alm de apresentar o caminho natural ao mineiro que, cansado da labuta diria,
encontra no ambiente do boteco, de conversas e de lcool a fora para superar as adversidades
que encontra na sua profisso e na regio qual habita, o Cel. Vieira compreende que o mineiro
levado a este caminho pela opresso proveniente das relaes sociais que so impostas aos
trabalhadores pelos donos de carbonferas, mas principalmente pelos arrendatrios de minas.
Porm, para dar maior visibilidade e veracidade fala do Cel. Vieira, importante
compreender tambm as relaes sociais existentes na cidade de Cricima e que tangem o
mundo dos trabalhadores mineiros.
A fala do Cel. Vieira pautada pelo momento de exceo vivenciado no pas e que
chegava a cidade de Cricima, reconhecido espao de infiltrao comunista. Diz-se hoje
chamada poca de Cuba brasileira. Sobre esta afirmao pouco pode ser dito, para muitos
ela uma construo ps-ditadura, o que verdico dentro deste contexto a ampla
participao dos mineiros em histricos movimentos trabalhistas na regio, possibilitando o
aparecimento de muitos correligionrios do Partido Trabalhista Brasileiro PTB e do Partido
Comunista Brasileiro PCB.
O PTB em Cricima era forte nas campanhas eleitorais, esteve sempre prximo da
prefeitura, quando no disputava o cargo de vice-prefeito elegia sempre vereadores de sua
sigla. J o PCB, articulava-se na ilegalidade imputada ao partido em 1946, conseguindo
alicerar-se em indivduos com grande representatividade na regio como o advogado do
Sindicato dos Mineiros, Aldo Dittrich.
Alis, o sindicato tambm era um importante elemento de ligao dos trabalhadores
mineiros de Cricima. Ele era um espao de lutas e combates, criado em 1945 por iniciativa
do Ministrio do Trabalho incorporando o sul catarinense a poltica varguista de tutela dos
trabalhadores. Porm ele nem sempre fora um espao de reivindicaes, Terezinha Gascho
Volpato define trs perodos e trs diferentes formas de atuao do Sindicato dos Mineiros de
Cricima. A primeira vai do ano de criao at 1956, seria a fase burocrtica, aonde o
sindicato atuava vinculado principalmente s aes governamentais, associado tambm a
uma fase de peleguismo na qual as aes e lutas inexistiam ou existiam em menor escala. A
segunda fase vai de 1957, quando a chapa de oposio encabeada por Antnio Parente
eleita, at o ano de 1964. Este segundo momento um perodo de maior militncia e
organizao dos trabalhadores, aonde as greves eram utilizadas para pressionar os
mineradores por melhores condies trabalhistas.
Anais do XV Encontro Estadual de Histria 1964-2014: Memrias, Testemunhos e Estado,
11 a 14 de agosto de 2014, UFSC, Florianpolis
3
Foi nesse perodo compreendido entre os anos 1957 e 1964 que se formou um
sindicato identificado socialmente com a luta e a resistncia. Esta imagem de
sindicato forte era partilhada pelos mineiros e pela populao da regio. O
fortalecimento do grupo era avaliado principalmente pelo poder de compra dos
salrios. Na comparao entre vrios perodos, h unanimidade em reconhecer
aquele tempo de lutas como o perodo de grandes conquistas salariais. (VOLPATO,
2001, p.166)
A terceira etapa analisada por Volpato o perodo que inicia em 1964 e vai at os anos
finais da ditadura civil-militar, neste momento o sindicato foi fechado seus lderes presos e os
mineiros mais politizados ou filiados a partidos polticos so perseguidos. Este o momento
em que o Cel. Newton Vieira investiga as aes dos sindicalizados para seu IPM.
(VOLPATO, 1984)
A atuao do Sindicato dos Mineiros de Cricima no segundo perodo identificado por
Volpato foi inquestionvel, a ponto do Deputado Federal e dono da Carbonfera
Metropolitana Diomcio Freitas empreender um lobby para dividir os mineiros da cidade a
partir da criao de um novo sindicato localizado na regio do Rio Maina em 1962. Essa
associao conseguiu rapidamente a carta sindical, constituindo assim o Sindicato dos
Trabalhadores na Extrao de Carvo do Distrito de Rio Maina, ou seja, criaram um
sindicato na mesma base territorial, o que proibido pela legislao trabalhista brasileira.
(MIRANDA, 2013, p.119)
O estopim para tal empreendimento do Sr. Freitas fora a grande greve acontecida anos
antes quando da compra da Carbonfera Metropolitana em sociedade com o Sr. Santos
Guglielmi. A compra da carbonfera gerou desconforto nos mineiros que fizeram uma srie de
exigncias no atendidas pelos novos patres, assim deflagraram uma greve no dia 27 de
Dezembro de 1959, movimentando a cidade ao menos pelos 30 dias posteriores.
Na manh daquele domingo, conforme o jornalista Z Dassilva narra no seu livro
Histrias que a bola esqueceu: a trajetria do Esporte Clube Metropol e de sua torcida, os
homens do sindicato em apoio aos mineiros da Carbonfera Metropolitana, deflagraram a
greve e marcharam da sede do sindicato at o Caf So Paulo na Praa Nereu Ramos, praa
central da cidade para comunicar aos fregueses daquele estabelecimento que a greve era pra
valer. (DASSILVA, 1996, p.17-18) O anncio feito em um bar central emblemtico, pois
do lado direito da Praa, o Caf So Paulo reunia o pessoal do comrcio, enquanto no outro
Anais do XV Encontro Estadual de Histria 1964-2014: Memrias, Testemunhos e Estado,
11 a 14 de agosto de 2014, UFSC, Florianpolis
4
lado ficava o Bar Damasco, local freqentado pelos mineiros aps o expediente.
(DASSILVA, 1996, p.22)
O Caf So Paulo era o local da elite criciumense, ali se reuniam figuras importantes
da cidade e foi escolhido pelos membros do sindicato chefiado por Antonio Parente, como o
local ideal para tal comunicado. O que chama a ateno na citao de Z Dassilva a
existncia de dois ambientes diferenciados e de frequentadores bem diferentes. Poucas
palavras frente o autor apresenta que todas as quintas-feiras no horrio das 19h os mineiros
saam do Bar Damasco para a reunio semanal do Sindicato. Essa diviso tambm pode ser
vista na fala do Sr. Joo Abel Benedet em entrevista para o documentrio Caf Rio
Lembrana viva desde a dcada de 40.
Os cafs tradicionais aqui era o Caf So Paulo, que hoje uma sapataria -
infelizmente no existe mais - e o Caf Rio, eram os mais antigos. Aqui [Caf Rio]
era frequentado pelo partido PSD e l era mais o da UDN, no era bem especfico,
mas era uma tendncia. [...] Foram dois cafs que fizeram histria em Cricima.
(CAF, 2013)
As relaes dos seres humanos com bebidas alcolicas datam de aproximadamente 8
mil anos atrs, com os bares e estabelecimentos vendedores de bebidas alcolicas h indcios
que remontam a idade antiga, com relao aos operrios j pr-existem antes mesmo da
industrializao. A famosa citao de Thompson sobre a Santa Segunda-feira apresenta
muitos indcios desta afinidade:
Quando numa boa Santa Segunda-Feira,
Sentados beira do fogo da forja,
Contando o que se fez no domingo,
Com alegria jovial conspiramos,
Logo escuto a porta do alapo se erguer,
Na escada est minha mulher:
Ao diabo, Jack, vou bater na tua cara,
Tu levas uma vida de bbado irritante,
Ficas a sentado em vez de trabalhar, [...] (THOMPSON, 1998, p.282)
E continua com as reclamaes da mulher sobre a vida de bbado irritante levada
por Jack. Claro que o papel feminino de responsabilidade pelo lar no pode ser negligenciada,
porm a relao que busca-se ressaltar neste ensaio a dos trabalhadores com os bares e a
relao destes sujeito/espao na organizao da classe operria. Continuamos com Thompson
Anais do XV Encontro Estadual de Histria 1964-2014: Memrias, Testemunhos e Estado,
11 a 14 de agosto de 2014, UFSC, Florianpolis
5
para explanar um pouco mais esta vinculao. No primeiro volume do seu estudo sobre a
Formao da Classe Operria Inglesa, A rvore da liberdade, j nos primeiros pargrafos do
primeiro captulo sobre a organizao e criao da Sociedade Londrina de Correspondncia, o
que seria a primeira associao de carter sindical, Thompson assim subscreve:
O primeiro encontro da sociedade londrina ocorrera dois meses antes, numa taverna
nos arredores da Strand (O Sino, em Exeter Street), com a presena de nove
homens bem-intencionados sbrios e industriosos. Mais tarde, seu fundador e
primeiro secretrio, Thomas Hardy, rememorava o encontro: Aps terem jantado
po, queijo e cerveja, como de hbito, e fumado seus cachimbos, com um pouco de
conversa sobre a dureza dos tempos e o alto preo de todas as coisas necessrias
vida ... veio tona o assunto que ali os reunira a Reforma Parlamentar , um tema
importante a ser tratado e deliberado por tal tipo de gente. (THOMPSON, 1987,
p.15)
O primeiro sindicato surgido ainda no sculo XVIII, em 1792, foi gestada em um bar.
Uma taverna, aonde os operrios comiam, comentavam sobre seu dia, sobre as dificuldades e
bebiam, como de hbito. O hbito de beber e conversar sobre o dia permaneceu intacto
durante muitos anos, havendo inmeros exemplos dessa relao do trabalhador com os
botecos, botequins, tavernas e bares. No livro de Sidney Chalhoub, Trabalho, lar e botequim,
existem inmeros exemplos destas relaes entre os trabalhadores, os bares e at mesmo as
bebidas alcolicas e o alcoolismo. Como Chalhoub trabalha com processos criminais, h de
notar que muitos destes possuem no enredo, no pano de fundo ou at mesmo na motivao o
bar, a cachaa e as demais bebidas alcolicas, sem contar o jogo.
Seja no limiar da modernidade inglesa, na industrializao daquele pas, no Brasil na
nascente repblica, ou na Cricima do carvo, os trabalhadores possuem uma grande relao
com os bares. O historiador Ismael Gonalves Alves, em sua dissertao de mestrado
intitulada Faces da assistncia social do setor carbonfero catarinense: (Cricima, 1930-1960),
aonde sobre um dos problemas encontrados pela assistncia social na regio carbonfera eram
os botecos e os prostbulos da maracangalha. Sobre a rotina do mineiro e a sua relao com o
Bar, Jos da Silva em depoimento ao autor afirma:
Na maioria das famlias de mineiros a rotina era a mesma. Ao sair do trabalho o
homem passava primeiro no bar para tomar um gole de cachaa como aperitivo.
Aps dirigia-se para casa onde tomava um banho preparado pela esposa em uma
bacia colocada no centro da cozinha. Esta, em seguida, lhe servia o jantar. Aps
cumprir este ritual dirio o mineiro retornava para o botequim. (Jos da Silva
Apud ALVES, 2009, p.91)
Anais do XV Encontro Estadual de Histria 1964-2014: Memrias, Testemunhos e Estado,
11 a 14 de agosto de 2014, UFSC, Florianpolis
6
Se voltarmos ambientao do Cel. Vieira, apresentada no prlogo deste ensaio, que
tinha por finalidade ressaltar a participao de mineiros nos movimentos subversivos
anteriores e posteriores ao Golpe civil-militar, ao afirmar que os trabalhadores do carvo esto
a merc destes movimentos nos espaos mais preponderantes para a subverso: O sindicato, a
Rdio Difusora e os botecos.
E tornando ainda mais quele operrio, que ao incio dsta dissertao estava
trabalhando e lutando contra tudo isto [espaos insalubres de trabalho e lazer] e
todos stes [trabalhadores empregados indevidamente], o homem ao sair do seu
trabalho, no tendo um lar agradvel para estar, uma praa de esportes onde pudesse
distrair sadiamente, vai para uma bodega, das inmeras que por aqui existem, onde
se junta agitadores, que procuram habitualmente stes lugares. (VIEIRA, 1964,
p.1)
E por agitadores o Cel. Newton Vieira deixa bem claro tratar-se dos homens que
organizavam o grupo dos onze. Este grupo, segundo Morgana Modolon baseando-se nas
falar de dois indiciados no citado IPM, Jorge Feliciano (presidente do sindicato dos mineiros
em 64) e Ciro Pacheco (funcionrio do sindicato), era um grupo de resistncia pensado e
iniciado por Leonel Brizola, na mesma linha das aes ocorridas no contexto da legalidade de
1961. O grupo dos onze tinha um carter inicialmente poltico, de discusso e para formao
de membros que opusessem resistncia um possvel golpe. Os entrevistados acreditavam na
possibilidade deste grupo tornar-se paramilitar e enfrentar as foras golpistas, porm com o
acelerado andamento do golpe as foras foram pegas despreparadas. E as diversas fichas de
adeso aos grupos de onze, organizadas em cada bairro, caram nas mos da ditadura
integrando at mesmo o IPM do Cel. Vieira. (MODOLON, 2012, p.41-42)
Assim, o Cel. Vieira ao discorrer sobre cada um dos indiciados no IPM, identificava-o
como membro de um grupo de onze, e constata algo interessante para este estudo, todos os
membros dos grupos dos onze, ou melhor Nenhum deles, ou muito raramente, foi procurado
em sua prpria residncia para assinar, a lista de filiao mas sim o fez naqueles locais, em
especial nos botequins, onde se achavam bebendo para esquecer as tremendas dificuldades
que tinham de enfrentar em suas vidas. (VIEIRA, 1964, p.2)
Mesmo aceitando as duras penas enfrentadas pelos operrios, tais questes no
justificam suas aes, ao culpabilizar os mineiros sindicalizados como subversivos, por
frequentarem os botecos, a Rdio Difusora ou o Sindicato dos Mineiros de Cricima, o Cel.
Anais do XV Encontro Estadual de Histria 1964-2014: Memrias, Testemunhos e Estado,
11 a 14 de agosto de 2014, UFSC, Florianpolis
7
Newton Vieira transfere as responsabilidades anteriormente imputadas aos mineradores para
os mineiros. Ao frequentarem os botecos, locais de perdio, beberragem e subverso,
retirado dos trabalhadores o direito ao lazer, apregoado at mesmo pelo Cel. Vieira.
Referncias
ALVES, Ismael Gonalves. Faces da assistncia social do setor carbonfero catarinense:
(Cricima, 1930 1960). Florianpolis, 2009. 161p. Dissertao (mestrado). Centro de
Cincias da Educao - FAED, Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.
CAF Rio Lembrana viva desde a dcada de 1940, Gravao de Vdeo, 14min. Curso de
Jornalismo da SATC. Disponvel em: https://www.youtube.com/watch?v=fBgxdy9R4OE
Acesso em: 20 jul. 2014.
CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim. 2 Ed. Campinas/SP: Editora da
UNICAMP, 2001.
DASSILVA, Jos. Histrias que a bola esqueceu: a trajetria do Esporte Clube
Metropol e de sua torcida. Florianpolis: CMM Comunicao, 1996.
MIRANDA, Antnio Luiz. Trajetrias e experincias do movimento operrio sindical
de Cricima SC: da ditadura militar a Nova Repblica (1964-1990). Florianpolis,
2013. 214p. Tese (doutorado). Centro de Filosofia e Cincias Humanas - CFH,
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
MODOLON, Morgana Vieira. A ditadura militar em Cricima: aspectos da represso e
resistncia. Cricima, 2013. 62p. Monografia (graduao). Curso de Histria,
Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC.
THOMPSON, E.P. A formao da Classe Operria Inglesa: A rvore da liberdade. So
Paulo: Companhia das Letras, 1987.
__________. Costumes em Comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. So
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
VIEIRA, Newton Machado. Inqurito policial militar [atividades subversivas em
Cricima]. 1964.
VOLPATO, Terezinha. A pirita humana: os mineiros de Cricima. Florianpolis: Ed. da
UFSC, 1984.
Você também pode gostar
- Deus Odeia Todos NósDocumento157 páginasDeus Odeia Todos NósThiago Henrique Muniz100% (4)
- Casa BianchiDocumento2 páginasCasa BianchiSuzan Marques100% (1)
- Bertrice Small - AdoraDocumento245 páginasBertrice Small - AdorathomaschampodryAinda não há avaliações
- Fichamento VillaçaDocumento5 páginasFichamento VillaçaCínthia Soares MansoAinda não há avaliações
- Relatorio Sobre o Estado Do Ambiente Do Municipio de DondoDocumento169 páginasRelatorio Sobre o Estado Do Ambiente Do Municipio de DondoAntonio PedroAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos Jornada Regional de Patrimônio Industrial PDFDocumento35 páginasCaderno de Resumos Jornada Regional de Patrimônio Industrial PDFAnonymous rNsdWAlAinda não há avaliações
- I Encontro Nacional Arte e Patrimônio Industrial PDFDocumento5 páginasI Encontro Nacional Arte e Patrimônio Industrial PDFAnonymous rNsdWAlAinda não há avaliações
- Autorização de Uso de ImagemDocumento2 páginasAutorização de Uso de ImagemAnonymous rNsdWAlAinda não há avaliações
- Mito e MitologiaDocumento4 páginasMito e MitologiaAnonymous rNsdWAlAinda não há avaliações
- SNH2017 Caderno ProgramacaoDocumento551 páginasSNH2017 Caderno ProgramacaoAnonymous rNsdWAlAinda não há avaliações
- Rivera Versus PollockDocumento21 páginasRivera Versus PollockAnonymous rNsdWAlAinda não há avaliações
- PERCURSOS A Imagem e o Ensino de História em Tempos Visuais PDFDocumento12 páginasPERCURSOS A Imagem e o Ensino de História em Tempos Visuais PDFTiago Da Silva CoelhoAinda não há avaliações
- Conteúdo Mitologia YorubáDocumento111 páginasConteúdo Mitologia Yorubájosé_oberg100% (1)
- A Corrupção No Ambiente de NegociosDocumento16 páginasA Corrupção No Ambiente de NegociosNatalia QueirozAinda não há avaliações
- Tony Garnier e A Cidade IndustrialDocumento92 páginasTony Garnier e A Cidade IndustrialDângela Muniz50% (2)
- Planeamento Urbano e Meio AmbienteDocumento12 páginasPlaneamento Urbano e Meio AmbienteJordao PiauoneAinda não há avaliações
- Gazeta de Votorantim, Edição 215Documento16 páginasGazeta de Votorantim, Edição 215Gazeta de VotorantimAinda não há avaliações
- 4 Ano MT 2ed WebDocumento260 páginas4 Ano MT 2ed WebSilvio OliveiraAinda não há avaliações
- Skate - Dilemas em Torno Da Prática Do Street PDFDocumento24 páginasSkate - Dilemas em Torno Da Prática Do Street PDFAgnaldo GeremiasAinda não há avaliações
- Otimização Do Espaço Com Uso de Móveis Multifuncionais A Realidade Das Grandes Metrópoles - TCC Renata HagmannDocumento36 páginasOtimização Do Espaço Com Uso de Móveis Multifuncionais A Realidade Das Grandes Metrópoles - TCC Renata HagmannKaren BorgesAinda não há avaliações
- SipparDocumento2 páginasSipparAlex BrazAinda não há avaliações
- Aula 5 Cidade No JardimDocumento19 páginasAula 5 Cidade No JardimAnaJúliaBarrosAinda não há avaliações
- Lei Municipal 4290-2019 - Plano Diretor Do Município de Coronel Fabriciano (Com Anexos)Documento94 páginasLei Municipal 4290-2019 - Plano Diretor Do Município de Coronel Fabriciano (Com Anexos)Ítallo Campos100% (1)
- Breath of Fire Dragon QuarterDocumento18 páginasBreath of Fire Dragon QuarterYnpw666Ainda não há avaliações
- Gisela Wajskop - Brincar Na Educacação Infantil PDFDocumento129 páginasGisela Wajskop - Brincar Na Educacação Infantil PDFFrancisco CarvalhoAinda não há avaliações
- Colonização de Lourenço Marques - Alfredo Freire de AndradeDocumento19 páginasColonização de Lourenço Marques - Alfredo Freire de AndradeLisboa24100% (1)
- BUDGE, Sir E A W - A Religião Egípcia (Livro)Documento60 páginasBUDGE, Sir E A W - A Religião Egípcia (Livro)Jarson BrennerAinda não há avaliações
- 12Documento144 páginas12marcusmidiaticoAinda não há avaliações
- Thordezilhas Arvore Das Artes MágicasDocumento116 páginasThordezilhas Arvore Das Artes MágicasGabriel MarquesAinda não há avaliações
- Espaço Geográfico Slide 2Documento4 páginasEspaço Geográfico Slide 2felippepereirapicoliAinda não há avaliações
- Vale Do AmanhecerDocumento19 páginasVale Do AmanhecerdroeagleAinda não há avaliações
- 09 Detonado PlatinumDocumento99 páginas09 Detonado PlatinumFelipe SantosAinda não há avaliações
- BARBOSA, A. São Paulo, Cidade Azul. 2012 (RESENHA)Documento4 páginasBARBOSA, A. São Paulo, Cidade Azul. 2012 (RESENHA)JoséDuarteBarbosaJúniorAinda não há avaliações
- Código de Obras - 4 RJ 2007Documento239 páginasCódigo de Obras - 4 RJ 2007Bed ZedAinda não há avaliações
- Semiótica Do Espaço UrbanoDocumento6 páginasSemiótica Do Espaço UrbanoCintia RibeiroAinda não há avaliações
- Entendendo As CidadesDocumento2 páginasEntendendo As CidadesAnacléa BernardoAinda não há avaliações
- Como Se Diverte A Lapinha? O Lazer Dos Moradores de Um Bairro Da Velha Salvador.Documento160 páginasComo Se Diverte A Lapinha? O Lazer Dos Moradores de Um Bairro Da Velha Salvador.Lorena VolpiniAinda não há avaliações