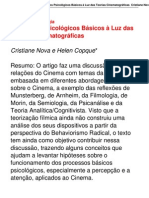Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ATPS de Direito Constitucional I
ATPS de Direito Constitucional I
Enviado por
Luciano MoraisDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ATPS de Direito Constitucional I
ATPS de Direito Constitucional I
Enviado por
Luciano MoraisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
3
Sumrio
ETAPA 3 ........................................................................................................................ 4
Passo 1 ........................................................................................................................ 4
Passo 2 ........................................................................................................................ 4
Passo 3 ........................................................................................................................ 5
Passo 4 ...................................................................................................................... 14
ETAPA 4 ...................................................................................................................... 19
Passo 1 ...................................................................................................................... 19
Passo 2 ...................................................................................................................... 21
Passo 3 ...................................................................................................................... 21
Passo 4 ...................................................................................................................... 24
Exerccios ............................................................................................................. 24
REFRENCIAS ........................................................................................................... 27
ETAPA 3
Passo 1
Aps o estudo sobre os itens desta atividade (direitos sociais; normas
programticas; mnimo existencial; reserva do possvel; princpio da proibio do
retrocesso; e ativismo judicial), analisar os direitos sociais prescritos no art. 6 da
Constituio Federal de 1988 e estabelecer quais daqueles direitos formam o que a
doutrina denomina de mnimo existencial. .
Os direitos sociais prescritos no artigo 6 a educao, a sade, a alimentao, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurana, a previdncia social, a proteo maternidade e
infncia, a assistncia aos desamparados.
Os direitos abrangidos pelo mnimo existencial so os que esto relacionados com os
direitos sociais, econmicos e culturais, previstos na Constituio Federal (como o trabalho,
salrio mnimo, alimentao, a sade, vestimenta, lazer, educao, repouso, frias e despesas
importantes, como gua e luz). So direitos de 2 gerao que possuem carter programtico,
pois o Estado deve desenvolver programas para que esses direitos alcancem o indivduo.
O mnimo existencial, portanto, abrange o conjunto de prestaes materiais
necessrias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna. Ele to
importante que consagrado pela Doutrina como sendo o ncleo do Princpio da Dignidade
da Pessoa Humana, previsto no artigo 1, III da CF.
Passo 2
Promover a discusso entre os integrantes da equipe se possvel estabelecer uma
hierarquia de relevncia entre os direitos eleitos pela equipe como pertencentes ao grupo
que compe o mnimo existencial. Justificar a resposta.
A discusso foi muito polemica, pois uns acreditavam que no tem como estabelecer
tal hierarquia pois todos esses direitos so muitos importantes e necessrio para uma vida
digna, por outro lado alguns acreditam que sim, que mesmo todos sendo to importante e
necessrio existem uns que devem ter prioridade e por isso atravs de nossa discusso
chegamos a estabelecer essa hierarquia de relevncia da seguinte maneira: A sade em
primeiro lugar pois sem sade o ser humano no capaz de fazer mais nada e no tem como
levar uma vida digna porque o que adiantaria algum ter um bom emprego uma boa educao
e no ter sade. A alimentao em segundo lugar porque traves da pessoa se alimentar
direito que ele permanece com a sua sade em perfeito estado, e porque a alimentao no
est em primeiro lugar sendo que sem ela o ser humano no vive, pois bem, chegamos a esse
consenso porque quando nos referimos em alimentao estamos falando em caf da manh,
almoo, janta e essas coisas e sabemos que tem muitas famlias que no tem condies de
tomarem caf da manh todos os dias e nem de almoarem e jantar do bom e do melhor mais
tem uma boa sade e existem muitas famlias que tem essas condies e no tem uma sade
perfeita, o que mostra que a sade continua sendo o mais importante. E a seguir vem o direito
ao trabalho pois atravs dele que uma pessoa pode conquistar o salrio mnimo, e assim ter
condies de estudar e ter o direito a educao se vestir com roupas dignas poder ter seus dias
de lazer e repouso e etc.
Ento nossa hierarquia fica assim: sade, alimentao, moradia, trabalho, salrio
mnimo, educao, vestimenta, lazer e repouso e frias, lembrando que no uma afirmativa
de que seja isso o certo e sim o pensamento da equipe.
Passo 3
Cada membro da equipe dever escolher um desses direitos e descrever uma
sntese da sua situao no Brasil (concretizao do direito), apontando aquilo que j se
avanou e os pontos ainda falhos.
Antonio Kerlon descreve o direito sade:
A Constituio Federal de 1988 (CF88) inaugurou um novo momento polticoinstitucional no Brasil ao reafirmar o Estado democrtico e definir uma poltica de proteo
social abrangente. Reconheceu a sade como direito social de cidadania e com isso a
inscreveu no rol de um conjunto integrado de aes de iniciativa dos Poderes Pblicos e da
sociedade voltados para assegurar a nova ordem social, cujos objetivos precpuos so o bemestar e a justia sociais. A partir da CF88, o Estado encontra-se juridicamente obrigado a
exercer as aes e servios de sade visando construo da nova ordem social. Desde a
CF88, um conjunto expressivo de leis, portarias ministeriais e aes de mbito administrativo
objetivaram viabilizar o projeto desenhado. Durante os anos 1990 e 2000, cresceu
progressivamente o nmero de mandatos judiciais com reivindicaes relativas ao direito
sade. As atuaes do Judicirio e do Ministrio Pblico tm revelado inconsistncias e
contradies no mbito legal e normativo do SUS, bem como problemas no equacionados
pela poltica de sade, questionando a atuao do Executivo e criando novas demandas por
legislao, o que recoloca a questo do direito sade na pauta de discusso, o modelo
poltico e de proteo social desenhado encontrou um contexto de implantao adverso
consolidao dos preceitos constitucionais nos anos noventa. Na sade, ainda que tenha
havido avanos importantes - como mudanas poltico-institucionais relacionadas
construo de um arcabouo decisrio para o SUS e a expanso das aes e servios pblico
de sade no territrio nacional - o percurso da poltica expressou com vigor as tenses entre o
projeto da reforma sanitria e a agenda hegemnica de reforma do Estado. Tal agenda, de
inspirao neoliberal, se mostrou adversa expanso da atuao do Estado e imps restries
ao exerccio de suas responsabilidades na garantia da sade como direito de cidadania. Tais
restries se manifestaram de forma acentuada, principalmente em cinco mbitos: os
obstculos consolidao da Seguridade Social; o instvel aporte de recursos financeiros; a
insuficiente proviso de insumos relevantes para a sade, como medicamentos; a fragilidade
das polticas de recursos humanos em sade e a persistncia de distores nas relaes entre
pblico e privado na sade. Em ltima instncia, as limitaes se traduziram em violaes ao
direito e na manuteno de graves desigualdades em sade, suscitando questionamentos em
relao possibilidade de concretizao de um sistema de sade orientado pelas diretrizes de
universalidade e integralidade no Brasil.
Alguns estudos mostram que a atuao dos tribunais tm se dado em reas no
equacionadas pela poltica nacional de sade, como o caso da proviso de medicamentos.
Aponta-se tambm que o objeto da ao judicial muitas vezes inclui medicamentos de eficcia
no comprovada e no registrados no pas, mas que grande parte dos mandados judiciais tm
sido utilizados como recurso para o acesso a medicamentos de competncia obrigatria do
Estado e indicados pelo Ministrio da Sade, como os medicamentos do Programa de
Assistncia Farmacutica Bsica, aqueles considerados estratgicos para o controle de
determinadas doenas e agravos ou mesmo de uso raro e indicao excepcional.Com isso,
evidencia-se que a ampliao da atividade jurdica seja ao menos em parte decorrncia das
deficincias da prpria administrao pblica, podendo ter um efeito benfico na
responsabilizao do Estado em desenvolver procedimentos adequados de incorporao,
compra e distribuio de procedimentos teraputicos pela rede pblica. Mas com essa prtica
corre-se o risco de se desenvolver a via judicial como principal meio para se garantir o acesso
ao medicamento, o que no mnimo contraditrio quando se pensa a sade como direito
social de cidadania.
O Luciano descreve o direito a educao:
Pensar a Educao como Direito Humano reconhecer que a educao escolar implica
no envolvimento da escola em toda a ambincia cultural e comunitria em que est inserida,
para que o ser humano seja visto em sua totalidade, permitindo-lhe at mesmo o
reconhecimento de seus direitos e deveres como cidado o elemento fundamental a
educao. Direito esse que a segurado por lei, o que falta garanti-la efetivado e respeitado
os direitos sem distino de cor, raa, idade, nvel social.
Observa se que nos ltimos anos o governo brasileiro est priorizando a educao,
tornando-a um bem pblico, oportunizando todos terem acesso escola, at mesmos os que
passaram da faixa etria. A responsabilidade dos governos, tanto federal, como estaduais e
municipais em cumprir o Pacto internacional acabar com a desigualdade, emancipando assim
os indivduos. No entanto toda mudana apresentada, veio apenas favorecer os interesses
internacionais dentro do Brasil, desrespeitando nossa realidade educacional, que continua
excluindo e marginalizando cada vez mais. A grande preocupao quantitativa pois gera
lucro, recursos financeiros, a qualidade que devia ser evidncia fica esquecida, a falta de
compromissos educacionais no forma uma populao crtica, participativa, conhecedora dos
seus deveres e direitos.
Uma nova forma de excluso social na educao vem ocorrendo, no mais pela
ausncia de vagas, mas pela qualidade do ensino oferecido, que afeta a todos, fazendo com
que o aluno no consiga aprender o que necessrio. Acredito eu que com o modelo
educacional vigente reforamos uma populao alienada, desconhecendo seus direitos, a
educao como direito humano um elemento na construo da justia com equidade
social.
O Glauco descreve o direito alimentao:
A Constituio Brasileira de 1988 possui um dos textos mais avanados no que se
refere proteo e a promoo dos direitos humanos. O Direito Humano Alimentao
Adequada est previsto entre os direitos sociais da Constituio, desde a aprovao da
Emenda Constitucional n.64, em fevereiro de 2010, sendo introduzido no art. 6 CR/88.
Antes disso, o Direito Humano Alimentao Adequada j estava implcito em outros
dispositivos constitucionais tais como o direito sade, ao salrio mnimo, assistncia
social, educao, alimentao escolar, reforma agrria, no discriminao e o direito
vida, dentre outros. A Constituio Federal de 1988 estabelece tambm como um dos
princpios fundamentais da Repblica Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.
O Direito Humano Alimentao Adequada, conforme descrito no relatrio emitido
pelo Conselho Nacional de Segurana Alimentar e Nutricional (CONSEA), em 2010, se
realiza quando todas as pessoas tem acesso garantido e ininterrupto alimentao adequada e
saudvel por meios prprios e sustentveis. As estratgias para a realizao do Direito
Humano Alimentao Adequada so mltiplas e pressupem a garantia de outros direitos
humanos. Cabem aos Estados as obrigaes de respeitar, proteger, promover e prover os
direitos humanos, pois ele o detentor do poder e do exerccio sobre os poderes Executivo,
Legislativo e Judicirio, incluindo a guarda e a execuo do oramento pblico. Assim, a
obrigao de garantir a realizao do Direito Humano Alimentao Adequada implica em
destinar oramentos pblicos e implementar polticas pblicas universais que incluam
progressivamente (e prioritariamente) a populao vulnervel fome e pobreza.
Da mesma forma ainda exposto pelo relatrio do CONSEA (2010) que o Direito
Humano Alimentao Adequada violado toda vez que pessoas, grupos ou comunidades
vivenciam situaes de fome por no terem acesso a alimentos em quantidades e qualidade
adequadas, de forma regular, para satisfazer suas necessidades alimentares e nutricionais,
como tambm pessoas mal nutridas de qualquer idade por deficincias de nutrientes (anemias
e outras carncias especficas). E ainda, consumir alimentos de m qualidade nutricional e
sanitria e aqueles produzidos com a utilizao de agrotxicos, so exemplos de violaes ao
Direito Humano Alimentao Adequada.
O Bruno descreve o direito moradia:
Sabe-se que a moradia desde os tempos remotos uma necessidade fundamental dos
seres humanos de baixa renda que a grande maioria pois, para os detentores do poder parece
no ser. O grande problema da falta de moradia para tantos cidados, alm de proceder de um
passado histrico, fruto no s de ausncia de polticas pblicas, mas, tambm de uma
poltica que sempre esteve voltada para os interesses individuais, deixando de lado os menos
favorecidos, burlando, assim, todos os tratados internacionais e os direitos sociais garantidos
pela Carta Magna. O direito moradia digna foi reconhecido e implantado como pressuposto
para a dignidade da pessoa humana, desde 1948, com a Declarao Universal dos Direitos
Humanos e, foi recepcionado e propagado na Constituio Federal de 1988, por advento da
Emenda Constitucional n 26/00, em seu artigo 6, caput.
Art. 6 So direitos sociais a educao, a sade, a alimentao, o trabalho, a moradia,
o lazer, a segurana, a previdncia social, a proteo maternidade e infncia, a assistncia
aos desamparados, na forma desta Constituio.
Como bem se v, a constitucionalizao do direito moradia, e sua incluso dentre os
direitos sociais, abriu uma discusso acerca da validade e eficcia de tal norma. No h
dvida de que a incluso do direito moradia no rol dos direitos sociais traz repercusses ao
mundo ftico que no, podem ser olvidadas pelos juristas. Considerando que os direitos
sociais esto na esteira dos direitos fundamentais do ser humano, tem-se, como decorrncia,
que eles subordinam-se regra da auto aplicabilidade, ou seja, aplicao imediata conforme
preceitua o artigo 5, 1 da Constituio Federal. Sem esquecer que aps a data de 1948,
vrios tratados internacionais reafirmaram que os Estados tm a obrigao de promover e
proteger o direito moradia digna e, j existe inmeros textos diferentes da ONU que
reconhecem tal direito. Apesar disso, a implementao deste direito ainda um grande
desafio.
Ao longo do tempo e das transformaes da sociedade, o conceito de propriedade tem
sofrido profundas alteraes, assim como a compreenso dos homens em relao ao poder
que exerciam sobre as coisas tambm foi alterado. Antigamente a propriedade era
compreendida em mbito estritamente individual, tendo seu proprietrio liberdade absoluta
para fazer o que desejasse com os seus bens, ou seja, tinha poder ilimitado no que se referia
ao uso e gozo da propriedade, direito esse exercido sem preocupao ou interesse social e
coletivo. Depois a relao entre o bem e o proprietrio deixou de ser vista como absoluta
10
passando a ser vista como uma relao entre um indivduo e a sociedade, onde proprietrio
tem a obrigao de usar seu bem sem desrespeitar os direitos tidos como coletivos. Nasce,
ento, a formulao da ideia acerca da funo social da propriedade.
Nesse sentido, a humanidade, a propriedade, para ser juridicamente protegida, deve
cumprir uma funo social. Ante a esse contexto, trago colao as sabias palavras de Carlos
Roberto Gonalves (2006, p. 206) sobre o conceito de propriedade:
O conceito de propriedade, embora no aberto, h de ser necessariamente dinmico.
Deve-se reconhecer, nesse passo, que a garantia constitucional da propriedade est submetida
a um imenso processo de relativizao, sendo interpretada, fundamentalmente, de acordo com
parmetros fixados pela legislao ordinria.
Perante a viso adotada, a propriedade deixa de ser um direito absoluto, ilimitado e
perptuo que tinha como base o direito de usar, fruir e abusar da coisa e passa a sofrer
restries para que seu uso favorea a comunidade na qual se insere e deve ser exercido de
forma consciente. E foi neste sentido que as Constituies Federais passaram a proteger a
propriedade. Com a Constituio Federal de 1934, inicia-se um novo conceito de propriedade,
por previso do seu artigo 113, o direito de propriedade no poderia ser exercido contra o
interesse coletivo, j que passou a ser compreendida, tambm, sob um aspecto social. Esta
compreenso sobre o princpio da funo social trazido pela Constituio de 1934, foram
mantidos nas Constituies de 1937 e 1946, onde esta trouxe, esculpido dentre os seus
direitos individuais, o direito propriedade, alm do social. A Constituio Federal de 1967
realou o tema da funo social da propriedade, conservado, inclusive, na Emenda
Constitucional de 1969, na qual o direito de propriedade permaneceu sob os dois aspectos, os
quais sejam: individual e social.
Na Carta Magna, o direito propriedade foi garantido enquanto direito fundamental,
em seu artigo 5, inciso XXII, sendo um direito inviolvel e essencial ao ser humano, lanado
ao lado de outros direitos, como a vida, a liberdade, a sade, etc. E, tambm, foi atribudo ao
direito de propriedade, o interesse social, vez que no mesmo artigo, inciso XXIII preleciona o
seguinte: a propriedade atender a sua funo social, ficando, portanto, condicionada
efetividade de sua funo social.
Assim, no que tange propriedade urbana, est tambm deve cumprir sua funo
social. A Constituio Federal de 1988, regulamenta tal dever em seu artigo 182,
11
determinando que o Municpio, atravs do Plano Diretor, quem estabelece critrios para
aplicao da funo social da propriedade urbana, ordenando a cidade de forma a garantir o
bem-estar dos seus habitantes e seu desenvolvimento.
Art. 182. A poltica de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Pblico
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funes sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
2 A propriedade urbana cumpre sua funo social quando atende s exigncias
fundamentais de ordenao da cidade expressas no plano diretor. [...].
O Brasil, inserido neste contexto, com o intuito de fazer com que as propriedades
cumpram a sua funo social, criou-se o Ministrio das Cidades; os governos municipais tm
se empenhado na implantao de projetos de regularizao fundiria, na elaborao de planos
diretores, podendo ter, para tanto, fontes de financiamento destas polticas pblicas. E, no ano
de 2001, sobreveio o Estatuto da Cidade, Lei Federal n 10.257, que trouxe uma srie de
instrumentos jurdicos para serem utilizados na gesto das cidades. A irregularidade urbana,
que ao longo do tempo foi tratada como problema individual, passa a ser enfrentada como
poltica pblica a ser tutelada pelo Estado, em face da enorme intensidade que atingiu em
nosso pas.
O Diego descreve o direito ao lazer:
O direito ao lazer assegurado a todos os cidados brasileiros na Constituio da
Repblica Federativa do Brasil em seu artigo 6, o que estabelece ao Estado uma ordem para
que possa proporcionar a todos a satisfao deste direito. No Direito do Trabalho no
diferente ao trabalhador, tambm cidado, permitido o direito ao lazer, nesse caso no
amparado somente pelo princpio da dignidade da pessoa humana, mas tendo como alicerces
o valor social da ordem econmica amparada pela valorizao do trabalho humano para
propiciar ao trabalhador uma existncia digna.
O direito social ao trabalho contribui para o crescimento e desenvolvimento da
sociedade, porm o trabalho nos moldes que assumiu no mais dignifica o homem, mas o
torna servil, sem oportunidade de relacionar-se, de desfrutar da retribuio financeira obtida
com a venda da sua energia durante o processo de trabalho. Ele precisa relacionar-se com o
12
meio onde vive e ocupar seu devido lugar de cidado e no de objeto do processo de
produo. O reconhecimento do direito social do lazer contribui para a expanso do ser
humano na sua essencialidade, com a liberao para o convvio familiar, a confraternizao
com os amigos, a prtica de atividades ldica, esportivas, culturais, ao desfrute das artes, ao
estudo, o que o condiciona a um crescimento pessoal, familiar e social.
O sistema capitalista tem se mostrado ineficaz em atender aos anseios da sociedade em
dispor um tempo ao gozo do lazer produtivo com a reduo da jornada de trabalho para que o
trabalhador possa desfrutar do cio criativo e se desenvolver socialmente. O direito ao lazer
ao ser estabelecido pelo constituinte representa uma necessidade para satisfao e garantida
de dignidade da pessoa humana e a sua desconsiderao e ausncia atentam contra os valores
da vida e os fundamentos da Repblica Federativa do Brasil. Na qualidade de direito
fundamental so relevantes que seu reconhecimento no pode ser deixado ao deleite do
legislador infraconstitucional, pois o homem tem o direito fundamental de ser reconhecido
como sujeito de direitos. O lazer tem papel de motivador social e poltico, um tempo fora do
ambiente que limita o homem, o ambiente laboral cheio de regras, ante um lazer que define a
liberdade e a vontade do trabalhador. E como cidado de direitos, deve ter a possibilidade de
usufruir de todos os direitos constitucionalmente oportunizados, como a cultura, a educao, o
trabalho, o lazer para satisfao de sua condio humana e o Estado deve garantir esse, pois a
pessoa humana o mais importante valor a ser protegido, da qual se afirmam os valores
sociais, ticos, culturais e polticos.
A melhoria da condio de vida do trabalhador com o respeito aos direitos
fundamentais e aos direitos sociais proporciona a garantia de uma dignidade mnima e
correo das desigualdades decorrentes das relaes trabalhistas. E a aplicabilidade do direito
social ao lazer a essas relaes contribuem para a formao do homem social, daquele que
participa dos atos do meio onde vive. Com tempo para o gozo do lazer as pessoas se
relacionam verdadeiramente, se organizam, refletem sobre a vida, sobre os valores, sobre suas
condies, reencontram o ser humano aprisionado pelo trabalho.
13
O Daniel descreve o direito a segurana:
Artigo 3: Toda pessoa tem direito vida, liberdade e segurana pessoal.
Artigo 5: Ningum ser submetido tortura, nem a tratamento ou castigo cruel,
desumano ou degradante.
Artigo 9: Ningum ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Artigo 10: Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audincia justa e
pblica por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e
deveres ou do fundamento de qualquer acusao criminal contra ela.
Declarao Universal dos Direitos Humanos
A existncia de conflitos so fatos comuns e que acontecem em todas as sociedades
humanas. Para prevenir e mediar estes conflitos, praticamente todas as culturas criam regras,
normas e leis que determinam o que certo e errado, alm de qual ser a sano para aqueles
que desobedecem. As regras existem para proteger as pessoas e garantir que uma sociedade
funcione de maneira equilibrada. Segundo as leis brasileiras e tratados internacionais, todas as
pessoas devem ter direito segurana, o que significa que as pessoas devem ter o direito de se
sentirem confortveis, tranquilas, sem medos e ameaas constantes. A garantia do direito
segurana leva proteo de outros direitos, como por exemplo, o de ir e vir (sem medo de
passar por determinados locais), direito de proteo da intimidade e da liberdade (sem
monitoramentos constantes) e o direito de proteo da integridade fsica e psicolgica (sem
ameaas e sem violncia). O direto segurana no significa o fim de todos os conflitos,
ameaas e violncia, mas sim a existncia de instituies confiveis e que busquem prevenir
de maneira eficiente estes episdios e agir de forma equilibrada e justa quando algo acontece.
Agir com justia significa reconhecer e respeitar os direitos de todos, agindo de maneira
imparcial e equilibrada.
Instituies de Segurana e Justia
No nosso pas, a aplicao das regras e a proteo das pessoas so garantidas pelas
instituies de segurana e justia. Em linhas gerais, estas instituies so representadas
pelas:
14
- Polcias: so responsveis por controlar o crime, prevenir a desordem e garantir que
os direitos das pessoas sejam respeitados. As polcias atuam no que seria a ponta do sistema
de segurana e justia, trabalhando na preveno e investigao de crimes, intermediando
conflitos e agindo em casos de calamidade pblica.
- Ministrio Pblico: so responsveis por acompanhar o trabalho da polcia e, quando
consideram que houve um crime e que existem provas suficientes, denunciam o caso um
juiz. A partir da denncia, o Ministrio Pblico passa a agir como um advogado de acusao,
trabalhando para que a lei seja aplicada e para que o responsvel pelo crime seja punido.
- Justia: ou o poder Judicirio responsvel por intermediar as disputas entre as
pessoas, decidindo quem tem direito ou no a alguma coisa, quem deve cumprir uma
obrigao e quem culpado ou inocente. A funo do Judicirio garantir os direitos das
pessoas e promover a justia por meio da aplicao da lei.
- Defensoria Pblica: responsvel por oferecer assistncia jurdica todos os
cidados que no podem pagar por um advogado, acompanhando o caso do comeo ao fim do
processo, sem qualquer custo.
- Sistema prisional: as instituies que compem o sistema prisional atuam nos casos
em que a justia determina a suspenso da liberdade de uma pessoa que cometeu um crime. A
tarefa destas instituies garantir que as penas sejam cumpridas em estabelecimentos que
separem os presos por idade, sexo e delito cometido, alm de garantir sua dignidade e
reintegrao sociedade.
Passo 4
1. Apresentar um caso, cujo ponto central da discusso seja a relao entre todos
ou alguns desses temas (direitos sociais; normas programticas; mnimo existencial;
reserva do possvel; princpio da proibio do retrocesso; e ativismo judicial), na
jurisprudncia brasileira, sintetizando os principais argumentos da deciso.
Direitos sociais so aqueles que visam a garantir aos indivduos o exerccio e usufruto
de direitos fundamentais, em condies de igualdade, para que tenham uma vida digna, por
meio da proteo e garantias dadas pelo Estado Democrtico de Direito. Os direitos sociais
foram conquistados principalmente ao longo dos sculos, sendo a maioria deles no sculo XX
15
por meio da presso de movimentos sociais e de trabalhadores. Caracterizam-se por serem
direitos fundamentais e necessariamente sujeitos observncia do Estado. A demanda por
direitos sociais teve origem no sculo XIX, com o advento da Revoluo Industrial, e eles
foram primeiramente estabelecidos pelas constituies Mexicana em 1917 e de Weimar em
1919, mas foram positivados no mbito internacional em 1948 por meio a Declarao
Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Naes Unidas, e
mais tarde detalhados no Pacto Internacional dos Direitos Econmicos, Sociais e Culturais,
em 1966.
Os direitos sociais surgem no prisma de tutela aos hipossuficientes, assegurando-lhes
situao de vantagem, direta ou indireta, a partir da realizao de igualdade visam tambm
garantir a qualidade de vida das pessoas. A declarao de igualdade formal, propiciada com a
declarao dos direitos humanos de primeira dimenso, no foi suficiente para proporcionar
igualdade de condies no acesso a bens e servios. No havia garantia expressa, prevista em
Lei ou norma constitucional, a tutelar o acesso ao trabalho, lazer, moradia, sade, segurana,
previdncia social, alimentao. A desigualdade econmica criou abismos entre os detentores
da riqueza e os pobres; estes no ostentavam condies para desfrutar de prestaes mnimas
para uma vida digna, Vale destacar que a Constituio Federal de 1988 estabelece como
objetivos fundamentais da Repblica, erradicar a pobreza e a marginalizao, bem como
reduzir as desigualdades sociais e regionais (artigo 3, inciso III), metas que s podero ser
alcanadas com o avano dos direitos sociais.
As normas programticas consubstanciam programas e diretrizes para atuao futura
dos rgos estatais. Sua funo estabelecer os caminhos que os rgos estatais devero
trilhar para o atendimento da vontade do legislador constituinte, para completar sua obra.
Segundo Jorge Miranda de aplicao diferida, e no de aplicao ou execuo imediata;
mais do que comandas-regras, explicitam comandos-valores; conferem elasticidade ao
ordenamento constitucional; tm como destinatrio primacial - embora no nico - o
legislador, a cuja opo fica a ponderao do tempo e dos meios em que vem a ser revestidas
de plena eficcia (e nisso consiste a discricionariedade); no consentem que os cidados as
invoquem j (ou imediatamente aps a entrada em vigor da Constituio), pedindo os
tribunais o seu cumprimento s por si, pelo que pode haver quem afirme que os direitos que
delas constam, mxime os direitos sociais, tem mais natureza de expectativas que de
verdadeiros direitos subjetivos; aparecem, muitas vezes, acompanhadas de conceitos
indeterminados ou parcialmente indeterminados. Normas de contedo programtico so
16
aquelas que, apesar de possurem capacidade de produzir efeitos, por sua natureza necessitam
de outra lei que as regulamente, lei ordinria ou complementar. Essas normas, portanto, so
de eficcia mediata, e segundo essa corrente de entendimento tm que ser completadas
posteriormente, s assim produzindo os efeitos desejados pelo legislador. Entretanto,
constituem um marco constitucional, j que impediro que se produzam normas
infraconstitucionais que as contrariem no todo ou em parte, ensejando atos de declarao de
inconstitucionalidade quando for o caso que afronta a seus preceitos.
O mnimo existencial deve ser visto como a base e o alicerce da vida humana. Trata-se
de um direito fundamental e essencial, vinculado Constituio Federal, e no necessita de
Lei para sua obteno, tendo em vista que inerente a todo ser humano. Quando falamos em
mnimo existencial, importante nos lembrarmos do Ttulo II Garantias e Direitos
Fundamentais, da Constituio Federal. Nesse Ttulo encontramos direitos to fundamentais,
sem os quais no conseguiramos viver. Por isso, o mnimo existencial est ligado ideia de
justia social. O mnimo se refere aos direitos relacionados s necessidades sem as quais no
possvel viver como gente. um direito que visa garantir condies mnimas de existncia
humana digna, e se refere aos direitos positivos, pois exige que o Estado oferea condies
para que haja eficcia plena na aplicabilidade destes direitos.
A reserva do possvel pode ser chamada tambm de reserva do financeiramente
possvel ou ainda reserva da consistncia. Nasceu na Alemanha, com o julgamento do caso
Numerus Clausus I, julgado pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, pois em 1960, face
ao grande nmero de interessados em reas como direito, medicina, farmcia e outras, foram
impostos certos limites quantidade de estudantes que ingressariam em determinados cursos
universitrios. Mas, como o artigo 12 da Lei Fundamental Alem prev que todo cidado
alemo tem o direito livre escolha da profisso, os estudantes utilizaram esta argumentao.
E, no julgamento, firmou-se o posicionamento de que o indivduo somente poder requerer do
Estado prestao que seja no limite do razovel.
O princpio da proibio do retrocesso social vem garantir que tais direitos no sejam
suprimidos, a nosso ver, o conceito que mais se encaixa ao princpio da proibio do
retrocesso social, que tambm pode ser usado como objetivo, numa sntese de conceitos
divulgados por Ingo Sarlet, JJ Gomes Canotilho, entre outros, o princpio garantidor do
progresso adquirido pela sociedade durante os perodos de mudanas e transformaes. A
ideia da proibio do retrocesso legal est diretamente ligada ao pensamento do
17
constitucionalismo dirigente que estabelece as tarefas de ao futura ao Estado e sociedade
com a finalidade de dar maior alcance aos direitos sociais e diminuir as desigualdades. Em
razo disso tanto a legislao como as decises judiciais no podem abandonar os avanos
que se deram ao longo desses anos de aplicao do direito constitucional com a finalidade de
concretizar os direitos fundamentais.
Como ativismo judicial designou uma postura proativa do Poder Judicirio que
interfere de maneira regular e significativa nas opes polticas dos demais poderes. No
existe consenso entre os estudiosos do Direito quanto definio do termo ativismo
judicial. As origens da postura ativista remontam jurisprudncia da Suprema Corte norteamericana que autocriou o controle judicial da constitucionalidade das leis federais. At as
primeiras dcadas do sculo XX, o ativismo da Suprema Corte foi de natureza conservadora,
pois setores reacionrios encontraram amparo jurdico para a segregao racial e para a
imposio de um modelo econmico liberal Sob a presidncia de Warren (1953-1969) e
durante os primeiros anos da Corte Burger (at 1973) a Instituio produziu uma srie de
jurisprudncias progressistas no concernente a direitos fundamentais, em especial em questes
envolvendo negros.
2. Diante da atual conjuntura evolutiva dos direitos sociais brasileiros, apresentar
alguns itens que poderiam fazer porte de uma reforma social, alterando-se a Constituio
vigente, considerando os temas estudados no passo 1.
Diversos so os itens que poderiam fazer porte de uma reforma social, alterando a
Constituio vigente, entre eles esto sade, a educao o trabalho a segurana e etc. A
sade, por exemplo, deveria ser feita uma reforma para que os hospitais tivessem um nmero
exato de medico trabalhando dentro deles e que no pudesse de maneira nenhuma um hospital
ficar sem clinico, pediatra e enfermeiros d ao Estado a obrigao de contratar profissionais
na rea para melhor atenderem a sociedade assim como a educao e a segurana que as
maiorias das vezes muitos aprendem a se droga e a se prostituir dentro de escolas, e porque o
Estado no pe como lei todas as escolas terem assistncia de policias o tempo todo para
assim garantir a educao e a segurana de todos acho que tudo isso deveria ser passado por
uma reforma, mais tambm acredito que mais do que criar lei e fazer reformas se o estado
fizesse valer as que j esto em vigor j ajudaria muito. Como ativismo judicial designamos
uma postura proativa do Poder Judicirio que interfere de maneira regular e significativa nas
opes polticas dos demais poderes. No existe consenso entre os estudiosos do Direito
18
quanto a definio do termo ativismo judicial. As origens da postura ativista remontam
jurisprudncia da Suprema Corte norte-americana que autocriou o controle judicial da
constitucionalidade das leis federais. At as primeiras dcadas do sculo XX, o ativismo da
Suprema Corte foi de natureza conservadora, pois setores reacionrios encontraram amparo
jurdico para a segregao racial e para a imposio de um modelo econmico liberal Sob a
presidncia de Warren (1953-1969) e durante os primeiros anos da Corte Burger (at 1973) a
Instituio produziu uma srie de jurisprudncias progressistas no concernente a direitos
fundamentais, em especial em questes envolvendo negros.
19
ETAPA 4
Passo 1
Pesquisar os principais itens defendidos no debate poltico ps Constituio de
1988 acerca de uma necessria reforma poltica, elenc-los e dividi-los em duas partes,
sendo uma com aqueles assuntos menos relevantes conforme o entendimento do grupo e
a outro com os itens julgados pelo grupo como sendo os de maior relevncia.
A prioridade dessa reforma poltica a necessidade de mudana das regras eleitorais,
os principais assuntos so, sistema eleitoral, financiamento de campanha, voto facultativo,
suplncia de senador, coligaes, reeleio, clusula de desempenho, datas de posse e
candidatura avulsa, o trabalho resultou em onze proposies legislativa, trs foram rejeitadas
duas foram aprovadas e levada para a cmara e seis ainda tramitam na casa.
Os assunto mais relevantes so:
O fim do voto secreto no Congresso e no Senado tambm est nos planos do PT
Como hoje: o Senado aprovou uma Proposta de Emenda da Constituio (PEC) que
acabou com o voto secreto no Legislativo, mas apenas para a cassao de mandato
parlamentar e vetos presidenciais. O voto secreto para a eleio de membros da Mesa Diretora
da Cmara e do Senado e indicaes de autoridades como ministros do Supremo Tribunal
Federal e procurador-geral da Repblica foi mantido.
Como ficaria: A proposta que o voto fosse aberto em todas as circunstncias.
O fim do financiamento empresarial das campanhas
Como hoje: Os partidos recebem doaes de campanhas de diversas empresas. Para
muitos que criticam o modelo, isso pode fazer com que os polticos fiquem devendo um
favor a elas
Como ficaria: A proposta que haja um financiamento pblico, criado por um fundo
de recursos pblicos e gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Haveria um teto mximo
20
de gastos para cada cargo em disputa, elaborado pelo TSE. Alm disso, o limite de doao de
pessoas fsicas seria de at 700 reais por eleies.
O fim da reeleio presidencial
Como hoje: Presidentes, governadores e prefeitos podem se reeleger uma vez.
Como ficaria: A possibilidade de reeleio acabaria e o mandato seria estendido de
quatro para cinco anos. Essa foi uma das propostas de Marina Silva e Acio Neves durante as
eleies. Dilma Rousseff no defende a ideia.
E os assuntos menos relevantes so:
O voto proporcional em dois turnos: No primeiro turno, os eleitores votariam apenas
no partido. A quantidade de votos que cada partido receber vai definir a quantidade de
cadeiras que ele poder ocupar. No segundo turno, o partido lanaria seus candidatos, em uma
quantidade duas vezes maior que o nmero de cadeiras recebidas, e o eleitor vota
nominalmente em seu candidato.
A unificao das eleies municipais e nacionais outra proposta do PSDB
Como hoje: O Brasil realiza eleies a cada dois anos, alternando as eleies
municipais com as estaduais e federais.
Como ficaria: As eleies ocorreriam apenas de quatro em quatro anos e serviriam
para eleger presidente, governador, deputado estadual e federal, senador e vereador. Uma das
justificativas o alto custo de realizar uma eleio no Brasil. Segundo o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), o gasto bruto registrado nas eleies municipais de 2012 foi de 395,2 milhes
de reais.
21
Passo 2
Cada integrante do grupo dever analisar as regras previstas nos arts. 14, 15, 16
e 17 da Constituio Federal de 1988 e elencar aquelas que, a seu juzo, devem ser
modificadas.
Analisando o artigo 14, 15, 16 e 17 da constituio ao nosso juzo a nica coisa que
realmente deveriam ser modificadas o voto no artigo 14, deveria ser obrigatrio apenas para
maiores de 18 anos facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos, porm os
analfabetos no deveriam votar, para que no houvesse tantas pessoas voltando de maneira
irresponsvel e sem informao, porque no acreditamos que uma pessoa que analfabeta
tenha capacidade para eleger um representante do povo, poltica coisa sria e necessrio
que as pessoas vote com conhecimento, e bem informados.
Passo 3
Ler a histria e a evoluo do voto no Brasil: Pesquisar argumentos contra e
favorveis ao voto facultativo, Resumir os argumentos e concluir se o voto deve ou no
ser um direito-dever ou somente um direito.
H quem diga que a permisso do eleitor em decidir ou no votar um risco para o
nosso sistema eleitoral. Analistas ainda argumentam que necessrio a obrigatoriedade dos
votos devido ao atual cenrio poltico brasileiro, onde a compra de votos ainda reina
juntamente com a precria formao poltica por boa parte da populao brasileira. O voto no
Brasil obrigatrio desde sua instituio pela Constituio outorgada em 1824.
Posteriormente Constituio de 1824, o voto obrigatrio foi confirmado em 1932 pelo
Cdigo Eleitoral da poca e tambm pela Constituio de 1934, a atual Constituio traz a
obrigatoriedade do voto eleitoral para todos os cidados, exceto para os analfabetos que
facultativo, os menores de 16 anos no podem votar e para os de 16 anos e menores de 18 e os
idosos maiores de 70 anos facultativo.
22
Os principais argumentos para os que defendem a obrigatoriedade do voto:
O voto um poder-dever;
A maioria dos eleitores participa do processo eleitoral;
O exerccio do voto fator de educao poltica do eleitor;
O atual estgio da democracia brasileira ainda no permite a adoo do voto
facultativo;
A tradio brasileira e latino-americana pelo voto obrigatrio;
A obrigatoriedade do voto no constitui nus para o Pas, e o constrangimento ao
eleitor mnimo, comparado aos benefcios que oferece ao processo poltico-eleitoral.
J o voto facultativo (voto no obrigatrio) praticado na maioria dos pases do
mundo. Segundo a Agncia Central de Inteligncia dos EUA, dos 236 pases em que se h
eleies, em apenas 31 deles o voto obrigatrio.
O voto um dever do cidado e no uma obrigao como dispe o 1 do Art. 14 da
CF/88:
Art. 14
1 - O alistamento eleitoral e o voto so:
I - obrigatrios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
C) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
Os principais argumentos para os que defendem o voto facultativo:
O voto um direito e no um dever;
23
O voto facultativo adotado por todos os pases desenvolvidos e de tradio
democrtica;
O voto facultativo melhora a qualidade do pleito eleitoral pela participao de eleitores
conscientes e motivados, em sua maioria;
A participao eleitoral da maioria em virtude do voto obrigatrio um mito;
iluso acreditar que o voto obrigatrio possa gerar cidados politicamente evoludos;
Ns somos favor da desobrigao do voto obrigatrio para as eleies estaduais e
federais, pois acredito assim como a professora chinesa Ann Lee, que um trabalhador rural ou
outro que trabalhando doze horas por dia no tem a plena possibilidade de votao, assim
como acredito que atravs do voto facultativo, teramos um tipo de campanha eleitoral
diferente da atual, onde o candidato precisaria convencer os eleitores pouco mobilizados a
participar das eleies (assim como ocorre nos EUA).
Claro que no transcorrer dessa mudana ocorreria uma elevada diminuio da
quantidade do eleitorado, porm nada que com o tempo no mude, afinal os candidatos
precisaro dos votos, acredito que somente atravs da poltica feita de forma democrtica,
pode-se melhorar a sade, educao, segurana e o desenvolvimento social num todo. E a
nica forma democrtica de se fazer valer o voto, atravs da faculdade da pessoa em querer
ou no votar, ao contrrio de ser obrigada a votar.
24
Passo 4
Exerccios
1- A reforma poltica proposta pela equipe compreende o voto facultativo? Por
qu?
R: No, porque ainda no h nenhum ndice de mudana, eles acreditam que pelo fato
de a multa de quem no voltam seja coisa mnima no h necessidade de o voto ser
facultativo, mais o que deve ser visto que muita gente volta s pra depois no terem dor de
cabea e estarem irregulares para algumas atividades na sociedade e voltam sem darem a
mnima de importncia era isso que a reforma poltica tinha que compreender.
2- Para que seja estabelecida a mudana da regra atual de voto obrigatrio
para voto facultativo o que seria necessrio?
R: Por uma Proposta de Emenda Constitucional, que modificaria algumas clusulas da
Constituio que a reforma defende ou por uma Assembleia Constituinte, formada por um
grupo especial de deputados e senadores, que tem o poder de modificar a Constituio ou
mesmo elaborar uma nova Carta.
Ou seja, legalmente, um plebiscito ou referendo no seriam necessrios para que as
mudanas fossem feitas.
3- Conforme desafio inicial, entregar para o professor, com as devidas
justificativas de cada item, a proposta de reforma poltica desenvolvida pela equipe.
Nesse projeto tambm devero conter os itens das reformas penal e social desenvolvidos
nas etapas anteriores, com as concluses do grupo acerca desses debates, justificando se
esses assuntos integraro ou no a proposta da equipe sobre a reforma poltica.
A propostas de reforma poltica desenvolvidas pela nossa equipe so essas:
Como toda atividade econmica o turismo gerador de impactos positivos e negativos
em todas as dimenses da sustentabilidade. Sanar os negativos nas regies tursticas onde o
25
turismo convencional se estabeleceu impossvel, mas minimiz-los fundamental e
inadivel tanto para a populao local como para os turistas (que aos poucos vo preferindo
opes menos impactadas). Onde o turismo est chegando e nos segmentos e nichos ainda em
fase de implantao e consolidao no Pas a avaliao dos impactos com envolvimento e
principalmente o protagonismo das comunidades locais a sada, principalmente para
minimizar os negativos e potencializar os positivos. Desburocratizar os processos de
certificao; conceder incentivos fiscais e de formao e capacitao a quem utilizar bioconstrues, energias alternativas, coleta seletiva de lixo, armazenamento de gua da chuva,
pagar salrios justos, fomentar o turismo de base comunitria; coibir a especulao imobiliria
e a venda do nosso Territrio para os ditos investidores, so caminhos que considero
importantes. Fazer o desenvolvimento sustentvel possvel, no o pregado pelos puristas
ambientais, considerar sempre a multidimensionalidade da sustentabilidade nos projetos e
aes, e isso s se faz com muita educao.
O turismo pode ser fomentador de iniciativas de planejamento regional e local, por ser
uma atividade que possui uma dinmica espacial (deslocamento), sociocultural (encontros), e
econmica (trocas monetrias), dependendo da convergncia de uma srie de interesses, onde
as iniciativas no devem ser determinadas por um pequeno grupo de atores sociais e
econmicos.
No entanto, exatamente por isso que ela se torna conflituosa. Temos, de uma forma
geral no Brasil, o pssimo hbito do imediatismo e do sucesso instantneo da pressa por
resultados, onde os grupos polticos, sociais e econmicos pensam em curto prazo, e o
desenvolvimento do turismo deve ser pensado e a mdio e longo prazo. Alm disso, ainda
temos certa incipincia do entendimento do assunto turismo, a criao da falsa expectativa da
atividade como soluo de problemas de locais e regies historicamente pouco desenvolvidas,
o que pode acontecer, mas no ser um ato milagroso, e sim trabalhoso, e para isso
necessrio pessoal capaz, o que ainda temos pouco.
E acreditamos que precisamos tambm de uma pequena mudana
Comea com expediente de trabalho para Segunda a sexta 8 horas dirias.
Diminuio para 13 salrios anuais.
Diminuio para 15 salrios mnimos o valor do salrio mensal de cada poltico.
26
Se for pego sendo corrupto, todos os seus bens so confiscados, leiloados e o dinheiro
retorna unio (onde foi lesado).
Se houver reincidncia, priso perptua, pois nesta posio, muitas pessoas so
prejudicadas de diferentes formas.
COMBATE CORRUPO. SE ISSO ACONTECER DE FORMA EFETIVA, O
REFLEXO SE DAR EM TODOS OS SETORES.
27
REFRENCIAS
Constituio da Republica Federativa do Brasil de 1988
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 28. ed. So Paulo: Atlas, 2012.
TAVARES, Andr Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10 ed. Rev. E atual.
So Paulo: Saraiva, 2012.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11 ed.
Rev. E aum. So Paulo: Saraiva, 2009, pp. 42-43.
Você também pode gostar
- Paulo Nascimento - Dilemas Do Nacionalismo. Pag. 33Documento124 páginasPaulo Nascimento - Dilemas Do Nacionalismo. Pag. 33Josian PereiraAinda não há avaliações
- Auschwitz Institute Direitos e Cidadania emDocumento105 páginasAuschwitz Institute Direitos e Cidadania emHumberto PazottiAinda não há avaliações
- Apresentação Do Livro "As Multifaces Da 'Geração Z' e Suas Dinâmicas de Consumo"Documento17 páginasApresentação Do Livro "As Multifaces Da 'Geração Z' e Suas Dinâmicas de Consumo"Wandressa SantosAinda não há avaliações
- Amostra Psicologia JurídicaDocumento24 páginasAmostra Psicologia JurídicaCaroline MoraisAinda não há avaliações
- Transt Burnout03Documento46 páginasTranst Burnout03drcrismash100% (1)
- A Denúcia Social Na Música Admirável Gado NovoDocumento5 páginasA Denúcia Social Na Música Admirável Gado NovoAlan CardosoAinda não há avaliações
- Cinema e Psicologia Processos Psicologicos Basicos a Luz Das Teorias Cinematograficas Cristiane Nova e Helen Copque Resumo o Artigo Faz Uma Discussao Sobre as Relacoes Do Cinema Com Temas Da Psicologia Embasada EmDocumento69 páginasCinema e Psicologia Processos Psicologicos Basicos a Luz Das Teorias Cinematograficas Cristiane Nova e Helen Copque Resumo o Artigo Faz Uma Discussao Sobre as Relacoes Do Cinema Com Temas Da Psicologia Embasada EmAnike LamosoAinda não há avaliações
- A Revolução MexicanaDocumento18 páginasA Revolução MexicanaArtur FernandesAinda não há avaliações
- 03 Processo Organizacional - ADMDocumento77 páginas03 Processo Organizacional - ADMlucianocostaAinda não há avaliações
- Roteiro - 1 Ano - 221026 - 142521Documento9 páginasRoteiro - 1 Ano - 221026 - 142521DaniAinda não há avaliações
- Fichamento de Sociologia - Giddens e BeckerDocumento5 páginasFichamento de Sociologia - Giddens e BeckerDébora QueirozAinda não há avaliações
- RUBIN. Pensando Sobre Sexo - FichaDocumento8 páginasRUBIN. Pensando Sobre Sexo - FichaDiego SouzaAinda não há avaliações
- Proposições Curriculares Ensino Fundamental Língua Portuguesa Belo Horizonte SMED 2009Documento137 páginasProposições Curriculares Ensino Fundamental Língua Portuguesa Belo Horizonte SMED 2009Iara Pires VianaAinda não há avaliações
- Tese Mestrado Colégio Imperial MilitarDocumento204 páginasTese Mestrado Colégio Imperial MilitarursulamariniAinda não há avaliações
- Dissertacao Versao Integral Rodrigo Garcia Vilardi 5861744Documento323 páginasDissertacao Versao Integral Rodrigo Garcia Vilardi 5861744Inacio Manuel Winny NhatsaveAinda não há avaliações
- Novos Exercícios Vestibular Sociologia e Filosofia Sócrates e Os SofistasDocumento4 páginasNovos Exercícios Vestibular Sociologia e Filosofia Sócrates e Os SofistasMarcelo da LuzAinda não há avaliações
- Conhecimento e Metodologia Do Ensino Da DançaDocumento50 páginasConhecimento e Metodologia Do Ensino Da DançaEngels CâmaraAinda não há avaliações
- Ebook CSM - 1Documento233 páginasEbook CSM - 1Fernanda LimaAinda não há avaliações
- CFESS DialogosDoCotidiano Caderno2 FinalDocumento58 páginasCFESS DialogosDoCotidiano Caderno2 FinalIsabel A. VianaAinda não há avaliações
- PLANO DE CURSO - CRMG - História Anos FinaisDocumento33 páginasPLANO DE CURSO - CRMG - História Anos FinaisZe ViniciusAinda não há avaliações
- Revista FlorestanDocumento270 páginasRevista FlorestanMarcos MesquitaAinda não há avaliações
- Tese TiktokDocumento348 páginasTese TiktokChantel RamseyAinda não há avaliações
- Terapia OcupacionalDocumento27 páginasTerapia OcupacionalPaula VieiraAinda não há avaliações
- Livro-A Cena Musical Da Black Rio-Luciana Oliveira-2018 PDFDocumento308 páginasLivro-A Cena Musical Da Black Rio-Luciana Oliveira-2018 PDFCeiça FerreiraAinda não há avaliações
- Constru TCC IdosoDocumento30 páginasConstru TCC IdosoLiana SantiagoAinda não há avaliações
- 1904-Texto Do Artigo-10046-1-10-20200522Documento17 páginas1904-Texto Do Artigo-10046-1-10-20200522Karian LeaoAinda não há avaliações
- Da Epistemologia Jurídica Normativista Ao Construtivismo Sistêmico II - Leonel Severo RochaDocumento33 páginasDa Epistemologia Jurídica Normativista Ao Construtivismo Sistêmico II - Leonel Severo RochaivanpfAinda não há avaliações
- Morro e Pista - Carolina GrilloDocumento22 páginasMorro e Pista - Carolina GrilloabordagempolicialAinda não há avaliações
- O Estado e o Urbano (Chico de Oliveira)Documento18 páginasO Estado e o Urbano (Chico de Oliveira)Isadora Stefani PachecoAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Criminalizaçao Da Pobreza Cecília CoimbraDocumento13 páginasDireitos Humanos e Criminalizaçao Da Pobreza Cecília CoimbraNayaraXsAinda não há avaliações