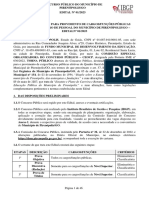Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Possibilidades de Pesquisas em Artes Visuais Com Deficientes Visuais
Possibilidades de Pesquisas em Artes Visuais Com Deficientes Visuais
Enviado por
fafupsiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Possibilidades de Pesquisas em Artes Visuais Com Deficientes Visuais
Possibilidades de Pesquisas em Artes Visuais Com Deficientes Visuais
Enviado por
fafupsiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
POSSIBILIDADES DE PESQUISAS EM ARTES VISUAIS COM DEFICIENTES
VISUAIS
Dnia Soldera
danisoldera@gmail.com
PPGACV FAV/UFG
Orien. Prof. Dr. Alice Ftima Martins
profalice2fm@gmail.com
PPGACV FAV/UFG
Resumo
Neste artigo, fao uma reviso bibliogrfica sobre possibilidades e desafios para a incluso de
pessoas portadoras de deficincia visual nas aulas de artes visuais. Pude constatar que a
temtica tem sido abordada por pesquisadores e educadores. Os artigos e outros documentos
que resultam desses trabalhos, disponibilizados aos professores de artes, podem subsidiar
suas aes nos processos de incluso.
Palavras-chave: Educao em arte; Deficincia visual; Incluso.
Abstract
In this article, I propose a literature review about possibilities and challenges for the inclusion of
people with visual disability in Visual Arts classes. It was possible to see that this topic has been
studied by researchers and educators. Articles and other documents that are the result of their
work, if available to teachers of Arts, may subsidize their actions in the processes of inclusion.
Keywords: Art education; Visual disability; Inclusion.
Este artigo um recorte do meu trabalho de concluso de curso, datado
de 2011, com o ttulo Um aluno cego na educao em artes visuais: um estudo
de caso na Universidade Federal de Santa Maria (RS). Aqui, apresento a
pesquisa bibliogrfica sobre deficincia visual, arte, incluso e educao,
apontando alguns pesquisadores e tericos que trabalham com o tema da
deficincia visual e suas relaes com o ensino de arte, possibilidades de
abordagem e maneiras de se trabalhar, alm de tecer alguns comentrios. O
objetivo principal iniciar um debate sobre a deficincia visual e suas relaes
com a arte, e trazer algumas pesquisas que foram e esto sendo desenvolvidas
e que podem ser teis para dar corpo a trabalhos como este.
Pensar na educao em artes visuais, e na prpria arte, evoca,
inicialmente, o campo das imagens, reprodues e/ou obras de arte e vdeos,
enfim, visualidades. Aps algumas pesquisas, conversas e reflexes sobre a
ideia de arte e o contexto educativo, principalmente em escolas pblicas, a
partir da lei da incluso uma escola para todos surgem questionamentos
sobre as aulas de arte para alunos com deficincia visual, e de como se d a
educao em arte com um aluno cego, no ensino regular.
O que despertou minha inquietao e curiosidade para desenvolver a
1192
pesquisa envolve situaes cotidianas, como quando os jovens estudantes
querem participar/desfrutar da sociedade e da escola, das atividades e
possibilidades por elas oferecidas e ainda encontram um mundo organizado
predominantemente por e para videntes. No ambiente escolar, um aluno com
deficincia visual est includo na disciplina de arte e, como raramente so
possibilitadas visitas a exposies, o nico contato com obras de arte que a
maioria das turmas tm por meio de reprodues de imagens, geralmente
bidimensionais.
Certamente existem outras motivaes, pois tenho trs tias paternas
cegas e uma com baixa viso. Elas no nasceram assim: adquiriram esta
condio entre os dezessete e vinte e quatro anos, no existindo correo
conhecida para o nervo ptico comprometido. Das quatro apenas a mais velha,
teve oportunidade de estudar no Instituto Santa Luzia de Porto Alegre (RS).
Aprendeu Braille, a fazer cestarias, bordados com cordas, dentre outras
atividades que a colocaram no mercado de trabalho. As demais ficaram em
casa para ajudar nos afazeres domsticos e cuidar dos irmos. E, assim como
as outras irms videntes, tambm aprenderam a fazer tric, croch, ponto cruz,
tranar palha de trigo para fazer chapus e bolsas, alm de cuidar de horta e
jardim.
Com base nessas histrias, compartilho da opinio de autoras como
Pereira e Costa (2007, p. 91), quando observam que a capacidade daqueles
que no enxergam fica limitada pelos pr-julgamentos, suposies dos que tm
viso normal, pois frequentemente as pessoas ficam admiradas e ao mesmo
tempo incrdulas ao saber que, por exemplo, minha tia cega e faz bolos,
pes, lava e passa roupas, entre outras atividades dirias, pois no consideram
possvel algum, supostamente dependente, morar sozinha.
Em relao a essas situaes fico inquieta em pensar que, ao mesmo
tempo em que ela to auto-suficiente, no possa ver minhas pinturas, os
contrastes, formas, a vibrao das cores e o ambiente da tela.
Mas esta inquietao no central neste texto, pois as questes
relativas s artes visuais e seu ensino no fazem parte do universo da minha
tinha, por mais que ela diga, muitas vezes, que gostaria de ver minhas
produes artsticas. Frustra-me pensar que, ao ir a uma exposio, do mesmo
modo que ela, tantos outros cegos se sintam excludos e necessitem da
1193
percepo/narrativa de outra pessoa para se ambientar, ou imaginar o que
esteja sendo descrito. Muitas vezes, contam com a possibilidade de frequentar
exposies com obras tridimensionais e poder perceb-las por si prprios
atravs do tato, quando permitido tocar as peas nestes espaos
institucionalizados.
Essas questes me motivaram a buscar possibilidades para entender
como deficientes visuais podem participar de maneira colaborativa e construtiva
das aulas de arte.
Deficincia visual, arte, incluso e educao
No incio da dcada de 1990 dois documentos importantes no cenrio
mundial formaram o marco do princpio da formulao das polticas pblicas da
educao inclusiva: a Declarao Mundial sobre Educao para Todos1 (1990)
e a Declarao de Salamanca2 (1994). No Brasil, a LDBEN, de 1996, determina
que os sistemas de ensino ofeream as condies para atender as
necessidades dos alunos com deficincias, e em 1999, um Decreto define a
existncia da educao especial transversal, complementando o ensino regular
em todos os nveis. A partir da, as leis que norteiam esse campo da educao
vm sempre se atualizando e adaptando para melhor atender os educandos
com necessidades educacionais especiais.
Com base nesses dados, uso duas fontes que tm pontos de vista
diferentes, porm convergentes, com relao ao conceito de deficincia visual,
pois acredito que elas se complementam para definir/embasar essa rea
especfica da educao especial que pesquiso. A primeira, do Governo Federal
brasileiro, atravs do Ministrio da Educao, mais direta e at mesmo tcnica,
que define deficincia visual como sendo a reduo ou a perda total da
capacidade de ver com o melhor olho e aps a melhor correo tica.
(BRASIL, 1994, p.16). E segue diferenciando os dois tipos de deficincia visual
que so:
1
A Declarao Mundial sobre Educao para Todos foi elaborada em junho de 1990, na Conferncia Mundial sobre
Educao para Todos, que aconteceu em Jomtien, Tailndia.
2
A Declarao de Salamanca (Salamanca - 1994) trata dos Princpios, Poltica e Prtica em Educao Especial. Tratase de uma resoluo das Naes Unidas adotada em Assemblia Geral, a qual apresenta os Procedimentos-Padres
das Naes Unidas para a Equalizao de Oportunidades para Pessoas Portadoras de Deficincias. A Declarao de
Salamanca considerada mundialmente um dos mais importantes documentos que visam a incluso social, juntamente
com a Conveno sobre os Direitos da Criana (1988) e da Declarao Mundial sobre Educao para Todos (1990).
Faz parte da tendncia mundial que vem consolidando a Educao Inclusiva.
1194
Baixa viso: a alterao da capacidade funcional da viso,
decorrente de inmeros fatores isolados ou associados tais como:
baixa acuidade visual significativa, reduo importante do campo
visual, alteraes corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes que
interferem ou limitam o desempenho visual do indivduo. A perda da
funo visual pode ser em nvel severo, moderado ou leve, podendo
ser influenciada tambm por fatores ambientais inadequados.
Cegueira: a perda total da viso at a ausncia de projeo de luz.
(BRUNO e MOTA, 2001, p. 33).
Masini (1993), um estudioso da educao, cita uma definio sugerida
pela American Foundation for the Blind (Fundao Americana para o Cego) e
considera ser mais apropriada para fins educacionais voltados deficincia
visual, em que diz que pessoa cega aquela
cuja a perda da viso indica que pode e deve funcionar em seu
programa educacional, principalmente atravs do uso do sistema
Braille, de aparelhos de udio e de equipamento especial, necessrio
para que alcance seus objetivos educacionais com eficcia, sem o
uso da viso residual (1993, p. 62).
J a portadora de baixa viso ou viso subnormal ainda segundo Masini
a que conserva viso limitada, porm til na aquisio da educao,
mas cuja deficincia visual, depois de tratamento necessrio, ou
correo, ou ambos, reduz o progresso escolar em extenso tal que
necessita de recursos educativos (1993, p. 62).
Na ausncia da viso, a percepo do mundo ao redor do deficiente
visual fica fracionada e isso interfere em seu desenvolvimento, fazendo com
que ele busque outras formas de se relacionar com o mundo atravs de um
conjunto sensorial perceptivo diferente do vidente. Cardeal (2009), com base
em Hatwell (2003) e Amiralian (1997) diz que h diferena entre os que
nasceram cegos ou perderam a viso antes dos cinco anos por praticamente
no possurem memria visual - e que constituram-se e estruturaram seu
desenvolvimento a partir do tato, da audio e dos outros sentidos - daqueles
que perderam a viso aps alguns anos, tendo alguma estrutura j formada
atravs da visualidade (2009, s/ p.). Pois para os que nasceram cegos, as
percepes do mundo se do de maneira distinta da dos videntes,
necessitando de estmulos diversos pelo tato, olfato, paladar, sons; e contato
fsico com os objetos, seres vivos, enfim o espao de vivncia dirio como um
todo, pois no possuem nenhum tipo de referncia imagtica na memria. S
1195
depois de experimentar que reconhecem. Ento, quando a perda da viso
acontece a partir dos cinco/seis anos, todo o trabalho de percepo e estmulo
citado anteriormente necessrio, mas, alm disso, preciso (re)aprender tudo
que j sabia anteriormente, porm de maneira diferente. Esse trabalho de
reabilitao feito por profissionais da rea da sade juntamente com
educadores especiais.
Arte-incluso-educao
A proposta da educao inclusiva, como o prprio nome j sugere,
segundo Ferreira (2010) incluir alunos portadores de necessidades especiais
nas salas de ensino regular, e buscar atender as necessidades educativas
especiais de todos os alunos em um sistema regular de ensino, de forma a
promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos.
Em 1994, na cidade de Salamanca, Espanha, ocorreu uma Conferncia
Mundial sobre Educao Especial, realizado pela Unesco, e foi um grande
marco na histria da educao inclusiva e tornando-se muito conhecida a
Declarao de Salamanca, como j mencionado anteriormente. L vrios
conceitos e propostas sobre educao e incluso foram debatidos e segundo
Ferreira (2010, p. 42) tambm a definio de necessidades especiais
referindo-se a todas as crianas e jovens em que as necessidades perpassam
sua capacidade ou suas dificuldades de aprendizagem.
Vrios autores compartilham da mesma opinio quando se diz que a arte
pode ter funo muito importante no processo de incluso. Godoy reafirma isso
ao dizer que a arte possibilita a transgresso, superao dos limites e das
regras (2000, s/ p). Para ele todas as pessoas podem alar vos na arte,
independentemente de suas condies fsicas e/ou sensoriais, pois a arte no
conhece diferenas, limites, sendo assim, coloca a todos em p de igualdade.
Assim, por meio das linguagens artsticas, o portador de necessidades
especiais poder falar de si prprio, expressar-se e tambm conhecer-se, saber
de suas potencialidades, capacidades e possibilidades. Para Azevedo (2000), a
educao em arte no determina padres de acertos e erros, ao invs disso
trabalha construindo hipteses a partir da interao de saberes, e acaba por se
tornar um processo que se d coletivamente. E ainda diz que o portador de
necessidades especiais um sujeito concreto, histrico/social que constri sua
1196
subjetividade sua identidade [...] a partir da relao dialtica: potencialidade x
dificuldade (AZEVEDO, 2000, s/ p.), essas novas potencialidades se traduzem
em formas de se adaptar ao contexto/sistema hegemnico e critic-lo (Idem,
ibidem, s/ p), e assim forar tal contexto a se modificar, se abrir, a no ser to
excludente (idem, ibidem, s/ p). A arte abre muitas possibilidades no sentido da
valorizao do indivduo e da humanizao, ao mostrar que ele pode e capaz
de produzir e fruir arte, mas alm desse aspecto tambm importante na
aproximao dessas pessoas com o mundo a sua volta.
Pensar a respeito desse assunto, a incluso, principalmente das
crianas, com necessidades especiais nas escolas comuns de ensino regular,
comeou a ser pensado como essa relao em sala de aula se daria e como
inserir esses novos alunos no processo de ensino/aprendizagem, sem
comprometer a aprendizagem do todo alunos com e sem necessidades
especiais. Pensando nessa realidade fui procurar materiais do Ministrio da
Educao e Cultura (MEC) e artigos cientficos que norteassem esse trabalho
dos professores que, na maioria das vezes, no tem qualificao/preparo para
trabalhar com portadores de necessidades especiais. Meu principal interesse
era saber se existia algo que orientasse aos professores de artes, e aos
demais, a como trabalhar em sala de aula com alunos cegos e deficientes
visuais.
Encontrei alguns materiais do MEC, nada muito especfico, dentre eles
um volume com o captulo Recomendaes teis (S; CAMPOS; SILVA,
2007, p. 20), voltado para a educao do aluno com baixa viso ou portador de
viso subnormal (aquele que ainda possui algum vestgio de viso) que traz
recomendaes aos professores de classe comum para mediar/viabilizar a
aprendizagem deste aluno.
Ao encontrar esse material a motivao com relao ao tema cresceu,
embora seja voltado especificamente para alunos com baixa viso. Chamou-me
tambm ateno o fato de tratarem-se de recomendaes tcnicas, que
orientam quanto a localizao do aluno na sala, os cuidados com iluminao e
as adaptaes dos materiais de aula. No entanto, preocupaes quanto aos
contedos, como sero ministrados e quais as melhores maneiras de faz-lo
para que o deficiente visual acompanhe e participe efetivamente do andamento
da aula e da construo do conhecimento, no so mencionadas.
1197
Ao ir mais fundo nas pesquisas bibliogrficas, encontrei um artigo da
doutoranda em educao especial, Josefa Pereira, licenciada em educao
artstica, que possui inquietaes muito prximas as minhas e j tem material
publicado. Em um de seus artigos, Pereira (2009, s/ p.) d algumas
recomendaes que podem ajudar o trabalho do professor, ela inicia chamando
a responsabilidade para o professor, dizendo que ele precisa acreditar nas
potencialidades dos seus educandos, pois com estmulos eles apresentaro
resultados satisfatrios, alm disso, ele no pode ter medo de aprender com o
deficiente visual.
Pereira (2009, s/ p.) ainda esclarece que o educador deve possibilitar a
explorao ttil dos materiais levados para a sala de aula. E tratando das
possibilidades de trabalhar com o deficiente visual, preciso explorar suas
potencialidades, seus sentidos, suas memrias imagticas, sensoriais ou ainda
visuais, e isso possvel promovendo
a concretizao de conceitos por meio de vivncias no cotidiano e
mediante a utilizao de recursos didticos que possam ser
percebidos por todos os sentidos do corpo (ttil, cinestsico, auditivo,
olfativo, gustativo e visual) conduta indispensvel para uma
educao abrangente, que contemple as diversidades existentes entre
os educandos. (BRUNO; MOTA, 2001, p. 75)
Esses recursos didticos podem ser construdos com diferentes
materiais, e so muito importantes para estimular a percepo das formas
utilizando desenhos bidimensionais em relevo, com linhas, gros, sucata;
auxiliar na compreenso de contedos por exemplo construir uma maquete.
Isso tudo para tornar a aprendizagem mais significativa e despertar o interesse
desses educandos em aprender, pois como reafirma Diehl (2006, p. 2) no artigo
sobre imagem corporal, eles constroem o seu mundo fsico basicamente
atravs de sensaes tteis, olfativas e auditivas.
Partindo dessas informaes e da necessidade latente de se pensar e
fazer mais sobre os assuntos relacionados a arte e seu papel socialmente
reconhecido e da distncia que ela est dos deficientes visuais, mais
especificamente dos cegos, que pesquisadores e educadores, de vrias
nacionalidades, includos a os brasileiros, esto pesquisando, elaborando e
desenvolvendo tcnicas, estratgias, adaptaes e outros trabalhos que
possibilitam algumas maneiras de aproximao da pessoa cega com o mundo
1198
das visualidades. Referente a esse assunto encontrei algumas matrias e
materiais como a reportagem online veiculada no Jornal da Unicamp, em que
divulgavam a pesquisa de iniciao cientfica da artista plstica Laura Chagas,
orientada por Lucia Reily, a qual produziu um livro com imagens tteis
pensando especificamente nos deficientes visuais. Esse trabalho foi feito com
algumas pinturas da arte brasileira trabalhadas com alto relevo atravs do EVA
(etil vinilacetato) ou superfcies de texturas diversas com o objetivo de
possibilitar o contato desde a infncia com obras pictricas. Chagas (NETTO,
s/p.) diz que alunos com deficincia visual necessitam, desde pequenos de
referenciais para estimular o tato e o material produzido por ela pode ser usado
pelos professores como uma possibilidade para motivar e entusiasmar esses
alunos a conhecerem obras de arte nacionais, porm no encontrei refrencias
de que esse material tenha sido comercializado ou distribudo para escolas,
mas pode ser encontrado na Unicamp.
Tambm no campo de investigaes acadmicas est a professora
doutora da UFRJ, Virgnia Kastrup, que tem orientado estudos na rea da
deficincia visual. Vou destacar dois artigos que tratam da questo do acesso
do deficiente visual a arte. O primeiro Acessibilidade ttil e a incluso de
deficientes visuais nos museus de arte, foi elaborado juntamente com a Juliana
Magalhes em que abordam que o deficiente visual tem direito a visitar museus
e usufruir das exposies, mas no entanto, na maior parte dessas instituies o
toque nas obras proibido, tornando o acesso a arte apenas referente a
acessibilidade ao espao fsico. Essas questes relacionadas a proibio do
toque so amplamente tratadas no texto, assim como a necessidade de
discusses mais aprofundadas e concretas acerca do acesso ttil do cego as
obras.
Ainda se tratando do acesso do deficiente visual as exposies de arte,
temos uma importante referncia no assunto, a exposio Potica da
Percepo, que aconteceu no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, no
final de 2008, contou com vinte e oito artistas nacionais, com curadoria de
Paulo Herkenhoff. A mostra foi organizada com obras que estimulavam os cinco
sentidos, podendo ser vistas, tocadas, cheiradas, ouvidas e at degustadas,
pensada para permitir o acesso de pessoas com deficincias. A preocupao
com a acessibilidade foi pensada tambm quanto ao espao fsico da sala, que
1199
tinha pista ttil para os cegos percorrerem a exposio em um circuito de
legendas e catlogos em Braille, alm de espao para os cadeirantes
transitarem em torno das peas.
A outra pesquisa Por uma esttica ttil: sobre adaptaes de obras de
artes plsticas para deficientes visuais, que mencionei antes, em que Kastrup
orienta Almeida e Carij (2010), e traz a anlise de trs estratgias comuns: as
adaptaes construidas em alto-relevo, as selees de esculturas e o uso
representacional de texturas. Todas possibilitam o acesso do deficiente visual
s artes plsticas, segundo os autores, a maioria das verses tteis nada tm
de ttil, pois ao ignorar as caractersticas cognitivas e as dimenses
expressivas do tato, acaba-se por reproduzir padres visuais. Outro assunto
importante abordado pela Cardeal (2009) em sua dissertao de mestrado, o
livro ttil, em que analisa o reconhecimento ttil das ilustraes em relevo no
livro infantil para crianas cegas. Para que isso fosse possvel ela observou as
maneiras com so utilizados os recursos desse tipo de ilustrao, suas
possibilidades, comprometimentos, abrangncias e limites.
Em um artigo que trata de uma experincia com deficientes visuais em
que se buscou um ensino de artes que fosse para todos, Arajo (s/ data)
escreve que o mundo em que vivemos repleto de imagens e cores, e que
sempre interagimos com essa infinidade de informaes visuais veiculadas
diariamente. No entanto, somos seres diferentes e principalmente diversificados
e, por isso mesmo, percebemos o mundo de forma individual e nica.
Por essa razo, por vermos um mesmo mundo de tantas maneiras que
quero buscar alternativas para que uma mesma aula/proposta seja possvel de
ser executada de inmeras formas, respeitando as capacidades de cada um.
Pois, assim como cada ser humano nico (tendo grandes diferenas mesmo
entre irmos prximos), e entre videntes cada um pensa e v de maneira
diversa, tambm entre os deficientes visuais existem vrios graus de deficincia
que chegam at a cegueira e, consequentemente, variadas maneiras de se
relacionar com as imagens e com a arte, diferentes forma de pensar e trabalhar
com imagens e com o mundo a sua volta.
Consideraes
Por mais que o assunto deficincia visual e cegueira fosse familiar para
1200
mim, as informaes a esse respeito sempre foram informais, baseadas em
experincias empricas. Neste sentido, a pesquisa bibliogrfica foi muito
esclarecedora, em termos mais tcnicos, e potencialmente instigante com
relao a pesquisas e prticas que possibilitam novos olhares para o deficiente
visual.
Ao procurar entender como ocorre a educao em arte com o deficiente
visual na escola regular, encontrei uma relao razovel de documentos
impressos e em formato digital que orientam a atuao do professor. Encontrei
tambm relatos de iniciativas que partiram de alguns educadores e apresentam
resultados satisfatrios. Por meio dessas fontes, pude tambm perceber a
disposio dos educandos com deficincia visual que fazem parte dessas
iniciativas, a curiosidade que os move, a busca por informaes e que motivam
ainda mais esses professores.
Em vista dos argumentos apresentados, penso que por meio do
conhecimento, da busca, troca e entrecruzamento de informaes, que
realidades podem ser conhecidas, dialogadas e oportunidades abordadas, pois
a melhor forma de encurtar e potencializar caminhos est na educao.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALMEIDA, M. C. de; CARIJ, F. H.; KASTRUP, V. Por uma esttica ttil: sobre
adaptaes de obras de artes plsticas para deficientes visuais. In: Fractal:
Revista de Psicologia, v.22 n.1, p. 85 100, Jan/Abr. 2010.
BRASIL. Poltica nacional da educao especial. Secretaria da Educao
Especial. Braslia: SEEP/MEC, 1994.
BRUNO, Marilda Moraes Garcia; MOTA, Maria Glria Batista da (Coord.) A
Escolarizao do Aluno com Deficincia Visual. In: Programa de Capacitao
de Recursos Humanos do Ensino Fundamental: deficincia visual vol. 2,
Braslia: Ministrio da Educao, Secretaria de Educao Especial, 2001. (Srie
Atualidades Pedaggicas; 6)
CARDEAL, Mrcia. Ver com as mos: a ilustrao ttil em livros para crianas
cegas - dissertao de mestrado em Artes Visuais CEART/UDESC.
Florianpolis: 2009.
FERREIRA, Aurora. Arte, escola e incluso: atividades artsticas para trabalhar
com diferentes grupos. Petrpolis: Vozes, 2010.
MASINI, Elcie F. S. A educao do portador de deficincia visual: as
1201
perspectivas do vidente e do no vidente. Braslia, ano 13, n. 60, out./dez.
1993. (Em aberto).
S, Elizabet Dias de; CAMPOS, Izilda Maria de; SILVA, Myriam Beatriz
Campolina. Atendimento educacional especializado: deficincia visual. So
Paulo: MEC/SEESP, 2007. (54p. Atendimento educacional especializado).
Documentos Eletrnicos
ARAJO, Haroldo de. Experincia com deficientes visuais, em projeto de
pesquisa e extenso: despertou a paixo pela busca de um ensino de artes
acessvel
a
todos.
(Comunicao).
Disponvel
em:
<http://aaesc.udesc.br/confaeb/comunicacoes/haroldo_de_araujo.pdf>. Acesso
em: 15/04/2012.
AZEVEDO, Fernando A. G. de. Arte na perspectiva da incluso. In: Anais V
Congresso nacional de arte-educao na escola para todos. Braslia, 2002.
Disponvel em: <http://www.arteducacao.pro.br/Artigos/anais.htm>. Acesso em:
15/04/2012.
DIEHL, Rosilene Moraes. Imagem corporal: corporeidade da pessoa com
deficincia visual. Disponvel em: <http://www.cbce.org.br/cd/resumos/255.pdf>.
Acesso em: 15/04/2012.
GODOY, Arnaldo A. Arte jornada para as estrelas. In: Anais V Congresso
nacional de arte-educao na escola para todos. Braslia, 2002. Disponvel em:
<http://www.arteducacao.pro.br/Artigos/anais.htm>. Acesso em: 15/04/2012.
MAGALHES, J. M. Q.; KASTRUP, Virgnia. Acessibilidade ttil e a incluso de
deficientes
visuais
nos
museus
de
arte.
Disponvel
em:
<http://www.psicologia.ufrj.br/boletimip/index.php?option=com_content&task=view&i
d=93&Itemid=16>. Acesso em: 15/04/2012.
NETTO, Carmo Gallo. O toque especial na pintura. Jornal da Unicamp,
Unicamp,
4
a
10
dez.
de
2006.
Disponvel
em:
<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/dezembro2006/ju346pag12.h
tml >. Acesso em: 15/04/2012.
PEREIRA, J. L. C.; COSTA, M. da P. R. da. O aluno com deficincia visual em
sala de aula: informaes gerais para professores de artes. Revista Eletrnica
de Educao. So Carlos: UFSCar, v. 3, n. 1, 2009. Disponvel em:
<http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/32>.
Acesso
em:
15/04/2012.
Dnia Soldera, mestranda em Arte e Cultura Visual na linha de Culturas da
Imagem e Processos de Mediao do Programa de Ps-Graduao em Arte e
Cultura Visual Mestrado/Doutorado - FAV/UFG, licenciada em Artes Visuais
pela UFSM e bacharel em Desenho e Plstica na mesma instituio. rea de
atuao: arte-educao.
1202
Alice Ftima Martins, arte educadora (UnB) com experincia na educao
bsica e na formao de professores; Mestre em Educao (UnB); Doutora em
Sociologia (UnB); Ps-Doutora em Estudos Culturais (UFRJ); professora no
curso de Licenciatura em Artes Visuais e no Programa de Ps-Graduao em
Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG.
1203
Você também pode gostar
- Amor Clarice LispectorDocumento23 páginasAmor Clarice Lispectord dAinda não há avaliações
- Obra Girândola..Documento219 páginasObra Girândola..sonia sampaioAinda não há avaliações
- A GEOGRAFIA PARA ESTUDANTES CEGOS - Produção Didática (CARMO, 2013)Documento24 páginasA GEOGRAFIA PARA ESTUDANTES CEGOS - Produção Didática (CARMO, 2013)Yvina PedrosaAinda não há avaliações
- Acuidade Visual Na CriançaDocumento11 páginasAcuidade Visual Na CriançaMarcos Henrique Gonçalves100% (1)
- Ae Pag11 Teste 1 Grelha CorrDocumento1 páginaAe Pag11 Teste 1 Grelha Corrsara s.mendesAinda não há avaliações
- Análise Dos Contos "O Cego Estrelinho" e "A Esteira Do Parto"Documento2 páginasAnálise Dos Contos "O Cego Estrelinho" e "A Esteira Do Parto"Ellen100% (2)
- 0 - Edital 001.2023 - Concurso Publico - Secretaria Municipal de Educacao PDFDocumento46 páginas0 - Edital 001.2023 - Concurso Publico - Secretaria Municipal de Educacao PDFHebert SilvaAinda não há avaliações
- (2015) Teorias e Práticas Urbanas Edited by G Costa, H Costa e R Monte-MórDocumento556 páginas(2015) Teorias e Práticas Urbanas Edited by G Costa, H Costa e R Monte-MórKellen Dorileo Louzich100% (1)
- Estudo 24 Jesus Restitui A Visao Ao Cego 1 PDFDocumento1 páginaEstudo 24 Jesus Restitui A Visao Ao Cego 1 PDFRivaneide Da silvaAinda não há avaliações
- IFPD - Avaliação de Invalidez FuncionalDocumento2 páginasIFPD - Avaliação de Invalidez FuncionalClaudia Mourão FernandesAinda não há avaliações
- Edital PaulíniaDocumento57 páginasEdital PaulíniaantroposologogmailcoAinda não há avaliações
- Atividade Física e Esportivas para Pessoas Com Deficiência Visual PDFDocumento17 páginasAtividade Física e Esportivas para Pessoas Com Deficiência Visual PDFJoão VianaAinda não há avaliações
- Baixa Visão e CegueiraDocumento47 páginasBaixa Visão e CegueiracsalvigAinda não há avaliações
- A Presença Da Pessoa Com Deficiência Visual Nas ArtesDocumento63 páginasA Presença Da Pessoa Com Deficiência Visual Nas Arteslininhatina8914Ainda não há avaliações
- Cartilha Orientação e MobilidadeDocumento28 páginasCartilha Orientação e MobilidadeAninha Ribeiro100% (1)
- KNS - HakiDocumento11 páginasKNS - HakiJorge CorreaAinda não há avaliações
- Do "Pesquisarcom" Ou Tecer e Destecer FronteirasDocumento7 páginasDo "Pesquisarcom" Ou Tecer e Destecer FronteirasSebastianAinda não há avaliações
- Apresentação Educação Especial Surdo CegoDocumento17 páginasApresentação Educação Especial Surdo CegoALICIA PAULINO NERESAinda não há avaliações
- 474 - Edital Residencia Multiprofissional 2022Documento103 páginas474 - Edital Residencia Multiprofissional 2022Arthur GomesAinda não há avaliações
- Prova 2º SEMANA Teste PSICOMOTRICIDADEDocumento7 páginasProva 2º SEMANA Teste PSICOMOTRICIDADEAPARECIDAAinda não há avaliações
- Desenvolver Uma Memória FotográficaDocumento90 páginasDesenvolver Uma Memória FotográficaValeriano De OliveiraAinda não há avaliações
- Modulo 2Documento15 páginasModulo 2fasezarrteAinda não há avaliações
- OBJETO-DE-REFERENCIA-1 SurdocegueiraDocumento37 páginasOBJETO-DE-REFERENCIA-1 SurdocegueiraCriseida Rowena Zambotto De LimaAinda não há avaliações
- #2 O Médico - Ana P. VilarDocumento777 páginas#2 O Médico - Ana P. Vilarsamaramonteiro.1989Ainda não há avaliações
- Deixe Um LegadoDocumento203 páginasDeixe Um LegadoAna Carolina Mota SantanaAinda não há avaliações
- PDF - ANAIS SENESEN 2019Documento129 páginasPDF - ANAIS SENESEN 2019Antonio JúniorAinda não há avaliações
- A Relevância Da Participação de Pessoas Com Deficiência em Projetos de Acessibilidade: A Biblioteca Do CETENSDocumento8 páginasA Relevância Da Participação de Pessoas Com Deficiência em Projetos de Acessibilidade: A Biblioteca Do CETENSLaissa SoaresAinda não há avaliações
- 00 - Edital Concurso AraporãDocumento47 páginas00 - Edital Concurso Araporãmatheus leiteAinda não há avaliações
- Trabalho de Vigilância em Saúde PúblicaDocumento16 páginasTrabalho de Vigilância em Saúde PúblicaDiego FigueiredoAinda não há avaliações
- Caso de Autista Barrado em Metrô Pode Mudar Lei Do Cão-GuiaDocumento4 páginasCaso de Autista Barrado em Metrô Pode Mudar Lei Do Cão-GuiaAna Karolline RodriguesAinda não há avaliações