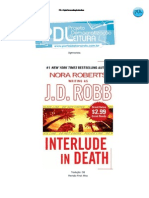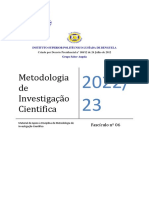Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1563 4860 1 PB PDF
1563 4860 1 PB PDF
Enviado por
Denis SoaresTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1563 4860 1 PB PDF
1563 4860 1 PB PDF
Enviado por
Denis SoaresDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Prticas Laboratoriais para o Estudo de Transdutores
Laboratories Practice To Transducers Study
Francisco Granziera Jnior1;Leandro Antonio Pasa2;Kleber Romero Felizardo2;
Andr Sanches Fonseca Sobrinho2
Resumo
Este trabalho consiste na criao de uma coletnea de experincias prticas com o objetivo de verificar
os princpios fsicos de diferentes tipos de transdutores eltricos e comparar os resultados obtidos com
os modelos tericos.
Palavras-chave: Transdutores. Sistemas Analgicos. Instrumentao Eletrnica.
Abstract
The objective of this work was to gather a collection of practical laboratory experiences , to discover
the physical principles of different types of electrical transducers , and to compare them with theoretical
models.
Key words: Transducers. Analog Systems. Electronic Instrumentation.
Introduo
Antigamente, o conhecimento do mundo nossa
volta restringia-se apenas a informaes que
pudessem ser diretamente aceitas pelos nossos rgos
de sentidos. Porm a evoluo da tecnologia fez
surgir uma gama de dispositivos denominados
transdutores que estenderam a nossa capacidade de
percepo (destes rgos) de forma qualitativa e
quantitativa.
Um transdutor um sistema que transforma
formas de energia para fins de medida. Ele mede uma
forma de energia que est relacionada a outra atravs
de uma relao conhecida. O transdutor um sistema
completo que produz um sinal eltrico de sada
proporcional a grandeza que est sendo medida. O
sensor apenas a parte sensitiva de um transdutor
(WERNECK, 1998).
Por exemplo, um microfone um transdutor
capaz de gerar um sinal eltrico em sua sada se seu
diafragma for excitado por uma onda sonora.
Como exemplos de transdutores, temos os de
temperatura, presso, luz, som, gs, etc. Este trabalho
apresenta uma coletnea de experincias prticas
envolvendo a utilizao de transdutores, visando
implementar de forma simples, barata e criativa,
sistemas onde seja possvel levantar o
comportamento de diversos tipos de transdutores e
posteriormente confront-los com a base terica.
Todos os experimentos citados foram realizados no
Laboratrio de Instrumentao Biomdica do
Departamento de Engenharia Eltrica da
Universidade Estadual de Londrina no decorrer da
disciplina (2ELE029) de Sensores ministrada no
curso de mestrado do referido departamento.
Graduado em Engenharia Eltrica na Universidade Estadual de Londrina, Mestrando do curso Engenharia Eltrica da mesma
instituio. Possui trabalhos publicados nas reas de propulso-foguete combustvel slido e instrumentao eletrnica
embarcvel. E-mail: granziera@uel.br
2
Alunos de Mestrado 2003/2004 de Engenharia Eltrica UEL. E-mail: granziera@uel.br.
Semina: Cincias Exatas e Tecnolgicas, Londrina, v. 25, n. 1, p. 83-90, jan./jun. 2004
83
Os experimentos relatados realam a utilizao
dos seguintes tipos de transdutores: indutivo de
deslocamento, de relutncia varivel, de fora e de
temperatura. Para cada experincia apresentada a
metodologia aplicada seguida da aquisio dos dados
e posterior concluso.
Foi montado o circuito da Figura 2.2, conforme
as seguintes condies:
Tenso de alimentao: 2V
Freqncia: 2MHz
Resistncia em srie: 2k
Indutncia dos enrolamento primrio: 7,4H
Experincia
deslocamento
1:
sensor
indutivo
de
O transdutor de deslocamento consiste de um
dispositivo eletromecnico baseado em indutncia
mtua. Quando o enrolamento primrio energizado
por intermdio de uma fonte CA, devido indutncia
mtua, uma tenso induzida tambm no
enrolamento secundrio. Porm, com a introduo
do ncleo de ferrite dentro destes enrolamentos, a
indutncia mtua e a tenso no secundrio tambm
aumentam de forma proporcional ao deslocamento
do ncleo de ferrite.
Indutncia do enrolamento secundrio: 14H
E nrolam ento
secundrio
1K
2V
2M H z
E nrolam ento
prim rio
Vo
N cleo de
F errite
Figura 2.2 Procedimento para medio do deslocamento
Aquisio de dados
Metodologia
Para esta experincia, os enrolamentos primrio
e secundrio foram montados sobre uma seringa
hospitalar e o ncleo de ferrite foi fixado na parte
interna desta seringa, conforme a Figura 2.1. O
enrolamento foi montado de maneira que cobrisse
apenas metade da seringa. Assim, na condio inicial,
o ncleo de ferrite esta totalmente fora do
enrolamento. Com a introduo do ncleo no
enrolamento, a indutncia mtua entre os
enrolamentos aumenta, fazendo a tenso de sada
(enrolamento secundrio) tambm aumentar.
ncleo
de ferrite
seringa
enrolam ento prim rio
enrolam ento secundrio
Figura 2.1 Montagem do transdutor indutivo de
deslocamento
84
Com o circuito montado e alimentado com a
tenso especificada, realizaram-se as medies.
Inicialmente mediu-se a indutncia com o ncleo de
ferrite totalmente fora e posteriormente este foi sendo
introduzido nos enrolamentos com intervalos de 1
mm, medindo-se a tenso de sada para cada
intervalo. As medidas esto na Tabela 2.1. A coluna
Distncia da tabela indica o quanto o ncleo avanou
para dentro do enrolamento.
Tabela 2.1 Medidas realizadas Distncia(mm) Tenso (V)
Distncia (mm)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Tenso
(V)
2,40
2,50
2,58
2,72
2,84
3,04
3,22
3,44
3,64
3,84
4,04
4,26
4,46
4,62
4,72
4,78
Semina: Cincias Exatas e Tecnolgicas, Londrina, v. 25, n. 1, p. 83-90, jan./jun. 2004
A Figura 2.3, a seguir, mostra o grfico que
relaciona a tenso de sada (no enrolamento
secundrio) com a distncia do ncleo de ferrite no
interior da seringa.
J o circuito que gera a Figura 2.4 possui os
enrolamentos separados um do outro (no se
sobrepem), sendo que a indutncia mtua s ocorre
quando h a presena do ncleo de ferrite no interior
de ambos. Desta forma, na situao inicial sem a
presena do ncleo no interior do secundrio, a tenso
no enrolamento secundrio 0V.
5,0
4,5
Tenso de sada (V)
sobreporem, independentemente da existncia do
ncleo de ferrite no interior destes. Assim, na
situao inicial, sem a presena do ncleo, a tenso
no enrolamento secundrio 2.4V.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
0
10
15
20
25
30
35
D istncia (m m )
Figura 2.3 Grfico das medidas realizadas
Concluso
Verifica-se que a curva obtida para a tenso de
sada coerente com curvas tericas encontradas
nas referncias bibliogrficas (PALLS-ARENY;
WEBSTER, 2001; WERNECK, 1998) as quais
apresentam o comportamento demonstrado na
Figura 2.4.
Nesta figura, diferentemente da Figura 2.3,
observa-se que o eixo da tenso inicia-se em 0V.
Vo(V)
L(m m )
Figura 2.4 Curva terica do sensor indutivo
Isso ocorre devido ao fato do circuito montado
na Figura 2.2 j apresentar indutncia mtua devido
aos enrolamentos primrio e secundrio se
Este sensor indutivo de deslocamento encontra
aplicaes didticas em estudos de Sensores,
Automao industrial etc. Por exemplo:
monitoramento de avano e recuo de pistes, abertura
e fechamento de vlvulas, onde for necessrio um
controle contnuo de posio etc.
Experincia 2: transdutor de fora utilizando
um extensmetro de fio vibrante
Metodologia
Dentro dos vrios mtodos de medio de fora
ou deformao que se conhece podemos citar como
mais popular os strain gages (SG). Os SG so
resistores de preciso com dimenses reduzidas cuja
resistncia varia linearmente com a fora de
deformao aplicada ao objeto ao qual o mesmo est
colado.
As medidas com SG so inviveis em algumas
situaes. Por exemplo, se for desejado medir o
quanto uma viga de concreto se desloca em relao
a uma outra em uma construo ou em algum arranjo
qualquer semelhante a esse, seria difcil aplicar o
mtodo de medir fora ou pequenos deslocamentos
usando um SG usual.
Pode ser utilizado em casos como este um
extensmetro de fio vibrante cuja grandeza a medir
a freqncia acstica gerada com um toque na linha,
como numa corda de violo. A sua freqncia de
Semina: Cincias Exatas e Tecnolgicas, Londrina, v. 25, n. 1, p. 83-90, jan./jun. 2004
85
oscilao ( f ) proporcional raiz quadrada da fora
de trao aplicada sobre o mesmo, como segue
(PALLS-ARENY; WEBSTER, 2001):
f =
1
2l
(1)
Onde:
l comprimento do fio
Figura 3.2 Processo de Identificao da freqncia de
oscilao
a densidade linear do fio, ou seja, = m l
F a fora de trao
A figura 3.1 mostra um arranjo montado em
laboratrio para verificar a relao da equao 1.
O grfico da figura 3.3 ilustra o sinal de udio
coletado e sua DFT para uma fora de tensionamento
de 39,2 N. So vrias raias, a informao de
freqncia pode ser extrada observando a freqncia
da primeira raia ou distncia entre elas.
Sinal de audio formato wav
0.4
Amplitude (V)
0.2
-0.2
-0.4
Figura 3.1 Arranjo para verificao da equao 1
10
12
14
16
Amostras 44.1 kHz
DFT[sinal]
18
4
x 10
Neste arranjo, mostrado na figura 3.1, o
comprimento do fio permanece inalterado. A fora
aumentada em degraus de 1 kg cada. Para cada
degrau, feita uma perturbao na corda, com um
basto, de modo que a mesma oscile emitindo um
sinal sonoro. Esse sinal sonoro captado por um
microfone e o udio gravado no computador
utilizando um simples programa de mdia disponvel
em qualquer computador que possua placa de som.
O sinal gravado a uma taxa de 44100 Hz com
resoluo de 16 bits, ou seja, qualidade de CD,
durante 3 segundos. Sobre o arquivo em formato wav
resultante da gravao, realizada uma DFT
(Discrete Fourier Transform) de forma que a
freqncia de oscilao e suas harmnicas, para
aquela fora, seja fcil de ser identificada. A figura
3.2 ilustra a seqncia descrita.
86
Amplitude
150
Aquisio dos Dados
100
50
500
1000
1500
2000
2500
3000
Freqncia (Hz)
Figura 3.3 DFT de um dos sinais adquiridos
Assim, para cada 1 kgf de peso adicionado,
realizado todo um processo de medidas que resulta
na tabela 3.1.
Tabela 3.1 Medidas de peso versus freqncia
Peso
(kgf)
9,8
19,6
29,4
39,2
49,0
58,8
Freqncia
medida (Hz)
262
355
440
502
571
626
Freqncia
calculada (Hz)
269
382
467
539
603
660
Semina: Cincias Exatas e Tecnolgicas, Londrina, v. 25, n. 1, p. 83-90, jan./jun. 2004
Erro
(%)
2,6
7,6
6,1
7,4
5,6
5,4
nome de efeito termoeltrico e utilizado para medir
temperaturas num espectro bastante amplo
(WERNECK, 1998).
Onde:
l = 285 mm
= 414 g/m
Metodologia
Os dados calculados apresentam um erro em
relao aos dados coletados, pois o cordo de nylon
utilizado extensvel, ou seja, a densidade varia
significativamente com a tenso aplicada.
O grfico da figura 3.4 apresenta uma comparao
dos valores medidos com os valores reais.
Valores Calculados
Valores Medidos
700
O objetivo deste experimento foi fazer a aquisio
de dados de temperatura via LabVIEW de um
termopar do tipo K (Chromel/Alumel), que suporta
uma temperatura mxima de 1.300 C, possui um
coeficiente de temperatura de 42 V/C e uma sada
de 4,095 mV a 100 C.
O sistema foi montado utilizando-se a placa de
desenvolvimento do LabVIEW (PCI-6024E) e o
software LabVIEW.
600
500
A faixa de temperatura testada foi de 25 C a 400
C, e as temperaturas elevadas na juno so
provocadas por uma chama de isqueiro.
400
Freqncia (Hz)
300
200
100
0
-100
0
10
20
30
40
50
60
Fora (N)
Figura 3.4 Grfico comparativo
Concluses
Os strain gages de fio vibrante so teis em
medidas de fora, principalmente na rea de
construo civil. A transduo mecnica pode ser
observada e comprovada de uma forma simples que
pode ser montada em qualquer laboratrio de
sensores, bastando alguns pesos calibrados, fio de
nylon e um computador provido de um software de
anlise matemtica.
Experincia 3: verificao do comportamento
do termopar via LABVIEW
Ao colocarmos dois metais diferentes em contato
eltrico, haver uma diferena de potencial entre eles,
que funo da temperatura. Esse fenmeno tem o
Como temperatura de referncia, utilizou-se um
termmetro digital, cuja preciso de 0.01 C. Para
a temperatura ambiente, a temperatura lida no
termmetro digital foi de 25.25 C e a temperatura
mdia lida no termopar foi de 25.50 C. Portanto,
tm-se um erro de leitura de 0.25 C. O objetivo deste
experimento foi construir um sistema de aquisio
de dados com exatido de 0.5 C; portanto, um erro
de leitura de 0.25 C est dentro do limite prestabelecido.
Para aquisitar a tenso na juno do termopar pelo
LabVIEW , os terminais do termopar foram
conectados a uma das entradas analgicas da placa
de aquisio, na configurao de canal diferencial.
Foi ajustada a sensibilidade do termopar para este
canal, cujo valor 42 V/C. Deste modo, a tenso
lida neste canal automaticamente convertida para
temperatura.
A Figura 4.1 mostra a vista do diagrama de blocos
do LabVIEW. Neste diagrama possvel escolher
a taxa de amostragem e o nmero de amostras da
aquisio. No trmino da aquisio, os dados
aquisitados so gravados em um arquivo
Termopar.txt.
Semina: Cincias Exatas e Tecnolgicas, Londrina, v. 25, n. 1, p. 83-90, jan./jun. 2004
87
O tempo que o termopar leva para estabilizar-se
novamente, aps o pico de temperatura, mais
demorado. O termopar leva 10 segundos para atingir
o equilbrio com a temperatura ambiente.
Concluses
Figura 4.1 Vista do diagrama de blocos do LabVIEW
Para este experimento, a taxa de amostragem foi
de 10 Hz e o tempo de aquisio foi de 1 minuto
(600 amostras).
O LabVIEW um poderoso sistema para a
aquisio de dados aliado ao estudo de transdutores,
pois rene na mesma ferramenta o condicionamento
do sinal, a digitalizao e a gravao dos dados de
forma simples e precisa.
A Figura 4.2 mostra o resultado obtido.
Experincia 4: sensor de relutncia varivel
300
O objetivo do experimento foi implementar um
sensor para medir pequenas espessuras, da ordem
de mm, de materiais no ferromagnticos.
200
Temperatura ( C )
250
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
Tempo (s)
As medidas de espessuras, por meio de sensores
de relutncia varivel, baseiam-se na variao do
fluxo magntico, em funo da variao do
entreferro. Isto ocorre porque uma variao no
entreferro altera a indutncia do enrolamento. Assim,
pode-se relacionar a indutncia de um circuito
magntico com a espessura do entreferro. No
experimento foram utilizadas folhas de papel como
entreferro.
Figura 4.2 Resultados obtidos
Metodologia
Resultados
Durante os 15 primeiros segundos, o sensor
monitorava a temperatura ambiente, cuja temperatura
mdia estava em torno de 29 C.
Aps este instante, acendeu-se um isqueiro bem
prximo juno do termopar por apenas 2
segundos, o que gerou o pico de temperatura
apresentado na Figura 4.2. O restante do tempo, o
sensor ficou sujeito a temperatura ambiente.
Um indutor, com 24 voltas, foi enrolado em um
ncleo tipo NEE 65/33/26 (conforme a Tabela 5.1)
THORNTON
(THORNTON
INPEC
ELETRNICA LTDA., 2004). O fio utilizado foi o
24 AWG. Foram recortadas folhas de papel (tipo
Chamex A4, com 75 g/m2), no tamanho da rea
transversal do ncleo. Estas foram adicionadas uma
a uma no entreferro, efetuando-se as medies da
indutncia. Foram realizadas quatro medies.
Verifica-se que o tempo de resposta do termopar
muito rpido. O sensor obteve um tempo de
resposta de 2 segundos para uma variao instantnea
de temperatura de 29 C a 290 C.
88
Semina: Cincias Exatas e Tecnolgicas, Londrina, v. 25, n. 1, p. 83-90, jan./jun. 2004
Tabela 5.1 Parmetros do ncleo
Comprimento efetivo (l)
rea transversal (A)
Peso aproximado (p)
Permeabilidade do ncleo
Aquisio dos Dados
147mm
532 mm2
193,5g
1604 H/m
As medidas da indutncia foram obtidas atravs
do aparelho LCR Meter, cdigo MX-1001, da
Minipa. Os resultados das medies esto
representados na Tabela 5.2.
Tabela 5.2 Medidas da Indutncia
Enrolam ento
Ncleo
F olhas de papel
F olhas de P apel
Ncleo
Figura 5.1 Esquema da montagem do experimento
A indutncia medida e a relutncia relacionamse atravs das seguintes equaes (PALLSARENY; WEBSTER, 2001):
2
L=
N
R
(2)
N de
Folhas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Medida 1
(H)
4340
2270
1290
1000
798
676
589
525
472
436
404
377
Medida 2
(H)
4320
1980
1360
1060
844
714
618
551
502
458
423
393
Medida 3
(H)
4310
1880
1310
1070
873
738
638
565
509
467
427
398
Medida 4
(H)
4360
1830
1260
1050
875
756
660
587
530
476
446
413
Anlise dos Dados
A figura 5.2 mostra um grfico da indutncia
mdia das quatro medies efetuadas.
1,6
1,4
Onde:
-1
Relutncia (MH )
1,2
L a indutncia
N o nmero de espiras
R a relutncia
1,0
0,8
Medida
Medida
Medida
Medida
0,6
1
2
3
4
0,4
l
l
+ 0
R=
0 r A 0 A0
0,2
(3)
0,0
0
4
6
Nmero de Folhas de Papel
10
12
Onde:
0 - permeabilidade magntica no vcuo.
H
( 4 107 m )
r - permeabilidade do ncleo.
A rea transversal do ncleo.
l - comprimento efetivo do ncleo.
l 0 - caminho das linhas de campo, no entreferro.
A0 - rea transversal do entreferro.
Figura 5.2 Grfico da relutncia, em funo do nmero
de folhas no entreferro.
Determinao da espessura do papel:
Utilizando-se as equaes 3 e 4, determinou-se a
espessura de uma folha de papel. Como N = 24,
temos:
Semina: Cincias Exatas e Tecnolgicas, Londrina, v. 25, n. 1, p. 83-90, jan./jun. 2004
89
L=
242 576
=
R
R
(4)
Para uma folha de papel, a indutncia mdia
medida foi: L = 1990 H .
Assim, temos:
R=
576
= 289447 H 1
1990
(5)
1
147 103
+
6
1,25664 10 1604 532 106
1
l0
1,25664 106 532 106
137085 + l0 1, 49581 109 = 289447
(6)
(7)
l0 = 101,859 m
Este valor a medida da espessura de uma folha
de papel.
Para verificar a coerncia deste resultado,
utilizou-se um Paqumetro Digital, marca Mitutoyo,
para medir a espessura de uma resma de papel (tipo
Chamex A4, com 75 g/m2). A espessura encontrada
foi de 48,3 mm. Dividindo-se este valor por 500 (uma
resma de papel), chega-se espessura mdia de uma
folha de papel: 96,6 m.
Verifica-se uma boa aproximao do resultado das
medies, pois a diferena entre valores obtidos
atravs da relutncia e atravs da medida, foi de
aproximadamente 5,26 m. Assim, temos um sensor
apropriado para medies de espessuras de materiais
no ferromagnticos.
90
Os experimentos apresentados geraram resultados
que permitem uma aproximao razovel entre teoria
e prtica, fazendo com que os participantes dos
experimentos ratificassem e visualizassem os
conceitos tericos abordados na disciplina de forma
simples e conclusiva.
Para cada tipo de transdutor relatado, foi utilizada
uma ferramenta para visualizao do comportamento
da grandeza fsica envolvida.
Substituindo o valor de R na equao 3:
R=
Concluso Geral
Entre estas ferramentas foram utilizados desde
instrumentos simples como voltmetro, indutmetro,
paqumetro e outros onde foi necessrio um prprocessamento para visualizao do sinal, entre eles
o LABVIEW e MATLAB.
Agradecimentos
A CAPES e ao CNPq pelo apoio prestado ao
Mestrado e ao Depto de Engenharia Eltrica que
disponibilizou o Laboratrio.
Referncias
PALLS-ARENY, R.; WEBSTER, J. G. Sensors and
Signal Condition. New York: John Wiley & Sons, 2001.
WERNECK, M. M. Transdutores e Interfaces. Rio de
Janeiro: Livros Tcnicos e Cientficos, 1998.
THORNTON. Thornton Inpec Eletrnica Ltda.
Disponvel em: <http://www.thornton.com.br>. Acesso
em: 22 mar. 2004.
Semina: Cincias Exatas e Tecnolgicas, Londrina, v. 25, n. 1, p. 83-90, jan./jun. 2004
Você também pode gostar
- O+poder+do+cha?+de+sumic?o+2 0++Documento81 páginasO+poder+do+cha?+de+sumic?o+2 0++Emily AndradeAinda não há avaliações
- Imantação CiganaDocumento1 páginaImantação CiganaJanaina Vittori100% (4)
- Apresentacao PM GeralDocumento89 páginasApresentacao PM GeralLeo SantanaAinda não há avaliações
- História Da EnfermagemDocumento40 páginasHistória Da EnfermagemClaudio CostaAinda não há avaliações
- The Vampire GateDocumento61 páginasThe Vampire GateDemitrius Silva100% (1)
- Fernando PessoaDocumento17 páginasFernando PessoaCarlos MirraAinda não há avaliações
- Lista de PeliculasDocumento11 páginasLista de PeliculasJannsen Justa100% (1)
- Mantra EmagrecerDocumento10 páginasMantra Emagrecerlagop13Ainda não há avaliações
- Mantra EmagrecerDocumento10 páginasMantra Emagrecerlagop13Ainda não há avaliações
- Os Instrumentos de Trabalho Do Primeiro Grau de APDocumento3 páginasOs Instrumentos de Trabalho Do Primeiro Grau de APRicardo RosyAinda não há avaliações
- Eixo Dianteiro l200 OutdoorDocumento58 páginasEixo Dianteiro l200 OutdoorPafuncio de Alecrim100% (1)
- Guia PNLD: Luiz Roberto Dante Fernando VianaDocumento164 páginasGuia PNLD: Luiz Roberto Dante Fernando VianaFabio Antonio100% (2)
- Eb70-Mc-10.366 MC Dompsa PDFDocumento93 páginasEb70-Mc-10.366 MC Dompsa PDFViviane OliveiraAinda não há avaliações
- Redacao Preparatorio Enem PDFDocumento54 páginasRedacao Preparatorio Enem PDFYohanan Moraes IsbellAinda não há avaliações
- Ndu 001Documento1 páginaNdu 001Fabio RobertoAinda não há avaliações
- A Concubina Do Sheik - Nadia AidanDocumento34 páginasA Concubina Do Sheik - Nadia Aidanlagop13Ainda não há avaliações
- J.D. Robb - Série Mortal - 14 - Interlúdio Mortal (PTBR) (PDL)Documento96 páginasJ.D. Robb - Série Mortal - 14 - Interlúdio Mortal (PTBR) (PDL)BiaCris2014Ainda não há avaliações
- 107 DreamshapernasaladeaulaDocumento17 páginas107 DreamshapernasaladeaulaCintia Mara Souza PalmaAinda não há avaliações
- FISPQ Diacetona ÁlcoolDocumento2 páginasFISPQ Diacetona ÁlcoolAndrey Cj7Ainda não há avaliações
- Gru Simples Pagamento Exclusivo No Banco Do Brasil S.ADocumento1 páginaGru Simples Pagamento Exclusivo No Banco Do Brasil S.AMatheus AnthônierAinda não há avaliações
- Material de Apoio MIC 2022 - 23 06Documento5 páginasMaterial de Apoio MIC 2022 - 23 06Macha DãoAinda não há avaliações
- Pladis de EngenhariaDocumento20 páginasPladis de EngenhariaC arlos BaptistaAinda não há avaliações
- Aula 8 Organização de ComputadoresDocumento13 páginasAula 8 Organização de ComputadoresJuliana CB JuAinda não há avaliações
- Aula 3° AnoDocumento2 páginasAula 3° Anomat1028Ainda não há avaliações
- Quadro de Especialidades Por Cartão 2024Documento1 páginaQuadro de Especialidades Por Cartão 2024josuemcseteAinda não há avaliações
- Tabela ANSIDocumento5 páginasTabela ANSIWellinton MarcioAinda não há avaliações
- Jornal Moçambique Nº. 355Documento23 páginasJornal Moçambique Nº. 355pedro inacio FumoAinda não há avaliações
- Engenharia em Mapas Impermeabilizacao Nov2022Documento57 páginasEngenharia em Mapas Impermeabilizacao Nov2022rodrigoahp001bkpAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios - 2 AvaliaçãoDocumento4 páginasLista de Exercícios - 2 AvaliaçãoWildenberg RamosAinda não há avaliações
- TCC - MBA USP ESALQ (Gustavo Henrique Da Silva) FinalDocumento27 páginasTCC - MBA USP ESALQ (Gustavo Henrique Da Silva) FinalGustavo DuboisAinda não há avaliações
- TV LCD Mané Hbuster - HBTV-32D05HD PDFDocumento34 páginasTV LCD Mané Hbuster - HBTV-32D05HD PDFwaldijrAinda não há avaliações
- Direito - Comercial - e - Tributario - 2023 - Contratos - MercantisDocumento4 páginasDireito - Comercial - e - Tributario - 2023 - Contratos - Mercantisalmoxarifado.mgtecbombasAinda não há avaliações
- FranciscoDocumento2 páginasFranciscojheniffer fidelesAinda não há avaliações