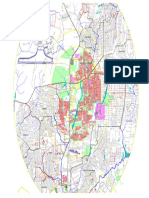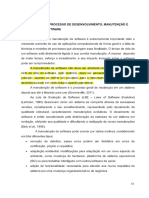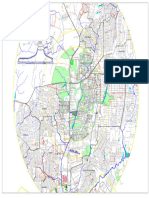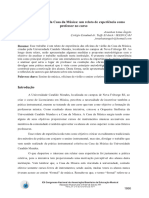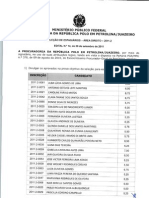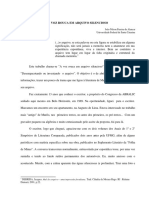Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sandrajatahy Imaginando o Imaginário PDF
Sandrajatahy Imaginando o Imaginário PDF
Enviado por
samirarabello0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações19 páginasTítulo original
sandrajatahy Imaginando o imaginário.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações19 páginasSandrajatahy Imaginando o Imaginário PDF
Sandrajatahy Imaginando o Imaginário PDF
Enviado por
samirarabelloDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 19
Em Busca de uma Outra Hist6ria: Imaginando o Ima-
ginario
RESUMO
O texto uborda a temdtica do
imagindrio como uma das tendéncias
contempordneas de andlise da chamada
Nova Histéria Cultural, tendéncia esta
que se insere na propalada crise dos
paradigmas normativos da realidade que
caracterizam as ciéncias humanas nesta
nossa fin de sigcle, Entendendo 0 imagi-
ndrio como um sistema de idéias €
imagens de representagdo coletiva, 0
texto busca resgatar as posturas teéricas
que, a partir de um novo patamar epis-
temolégico, recuperaram novas cate~
gorias de andlise que tém enriquecido 0
estudo da Historia.
Sandra Jatahy Pesavento*
ABSTRACT
The text deals with the thematic
of the imaginary as one of the contempo-
rary tendencies for the analysis of the so-
called New Cultural History. Such ten-
dency finds its place in the outspread cri-
sis of normative paradigms of reality
which characterize the human sciences
during our fin de sidcle. Understanding
the imaginary as a system of ideas and
images of collective representation, the
text aims at bringing to light the theoreti-
cal lines whick, from a new epystemologic
standard, recuperated categories of
analysis that have enriched the study of
History.
O tema do imagin4rio est4 na ordem do dia, como uma das mais
instigantes tendéncias de andlise da nossa fin de siécle. Apresenta-se no
bojo de uma série de constatagGes relativamente consensuais que caracte-
rizam a nossa contemporaneidade no apagar das luzes do século XX: a
crise dos paradigmas de andlise da realidade, o fim da crenga nas verdades
absolutas legitimadoras da ordem social e a interdisciplinaridade,
Refere Baczko que a interrogagao atual das ciéncias humanas deri-
va da perda da certeza das normas fundamentadoras de um discurso cien-
tifico unitério sobre o homem e a sociedade.' Na medida em que deixa de
ter sentido uma teoria geral de interpretagao dos fendmenos sociais, apoia-
da em idéias-imagens legitimadoras do presente e antecipadoras do futuro
(0 progresso, o homem, a civilizagao), ocorre uma segmentacio das cién-
cias humanas e um movimento paralelo de associagao multidisciplinar em
busca de safdas. Novos objetos, problemas e sentidos se ensaiam, marca-
*Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Rey, Bras, de Hist.
dos por um ecletismo teGrico e um grande apelo em termos de fascinio
tematico. Conclui Baczko que os imagindrios sociais, enquanto objeto de
hist6ria, sao safdos deste esvaziamento e desta sedugao.?
No plano das condigGes concretas da existéncia, a faléncia dos re-
gimes socialistas, por um lado, abalou a convicgao de que era possivel a
construgo de uma sociedade alternativa ao capitalismo, dada a forma his-
t6rica de realizago totalitéria em que tais regimes haviam descambado,
Por outro lado, as préprias economias do Primeiro Mundo nao conseguem
resolver as questes sociais internas, aumentando o némero de desempre-
gados e sem lar, ao passo que a vigéncia da liberal democracia nao impede
a ascensio da direita no Velho Mundo, com posigdes que podem ser asso-
ciadas a uma conota¢ao nitidamente fascistizante. Em suma, afin de siécle
se colocaria numa encruzilhada de incertezas.
Na opinido de Baczko, a prépria concepgio dos Annales de uma
“histéria global” ter-se-ia esfacelado. Para isso teria contribufdo a propalada
abertura da hist6ria para todos os aspectos da realidade e em diregao as
diferentes ciéncias. Tornou-se mais facil perceber a descontinuidade do
que acontinuidade dentro deste contexto multifacetado e dfspare, dificul-
tando a concretizagao da historia total.*
A chamada “crise dos paradigmas”, implicando para as ciéncias
humanas mudangas de contetido e método, assim como 0 ecletismo teéri-
co, € percebida por varios autores, independente das énfases de andlises
dos seus respectivos enfoques.*
A mesma inflexio no dom{nio das ciéncias humanas é percebida
por Chartier,‘ que, porém, vé no processo em curso um fortalecimento da
geografia, Face o declinio dos esquemas tedricos explicativos sobre os
quais a histéria se apoiava, processo este acompanhado do esgotamento de
suas aliangas tradicionais, como a economia ¢ a sociologia, ela teria sua
vitalidade conservada pelo ecletismo e pela assungao de uma postura cada
vez mais relativista sobre o social.’ Novos “sécios” se apresentam, no
dominio da literatura e da antropologia, que dio 0 reforgo a tendéncia de
apresentar o trabalho histérico como a claboragao de relagdes conjeturais,
onde se admite a incerteza,
A CRISE DOS PARADIGMAS / O ESTUDO DO IMAGINARIO
Deuma forma geral, os autores que se referem a crise dos paradigmas
da nossa fin de siécle estabelecem uma crftica, ora velada, ora explicita,
10
aos modelos histéricos interpretativos vigentes na outrafin de siécle e que
perduraram enquanto forma de interpretagao da realidade até cerca de
metade do século XX: 0 historicismo de Ranke, transmudado cm intimeras
variantes de laudatérias “histérias nacionais”, o positivismo de Comte,
com seus pressupostos normativos cientificos, estabelecendo os critérios
da verdade absoluta, ¢ 0 marxismo, mais especialmente a sua versao
leninista e, posteriormente, stalinista, com seu corolario de postulados: 0
reducionismo econémico, o mecanicismo, o etapismo evolutivo.
Por outro lado, através da histéria, o estudo do imaginario tem sido
relegado a uma posig&o secundaria. Esta desvalorizagio deu-se face ao
avango do pensamento racional ¢ cientffico no Ocidente, cujo exemplo sao
as vias de interpretagdo histérica acima referidas. Houve um movimento
reiterado de ruptura a partir do racionalismo cartesiano, com tudo aquilo
que representava opiniées, pré-nogoes e formas de conhecimento transmi-
tidas pela tradigdo ou pelos vieses ideolégicos.’ Para Descartes, a imagi-
nacio era fruto do erro e da falsidade, cabendo-lhe, no maximo, 0
designativo de um estdgio inferior do conhecimento. Ora, quando se afir-
mava que 0 atributo por exceléncia do homo sapiens era o pensamento
racional (cogito, ergo sum), tudo aquilo que escapasse aos critérios e ri-
gores da Idgica formal ¢ que se baseasse em razbes relativas* era pratica-
mente desprezado.
Assim, apés Descartes, 0 saber racional se separou do imaginario,
numa postura que se estenderia até Comte ¢ que opunha o cientificismo,
como critério de verdade, ao ilusério da fic¢ao. O racionalismo cartesiano
instituiu-se como método universal de uma pedagogia do saber cientifico,
podendo mesmo ser dito que os renomados estdgios evolutivos positivistas
so etapas de extingao do simbélico.?
O saber cientffico, tinica fonte do conhecimento, deveria se despo-
jar da imaginagao deformadora. Nao € por acaso que, no senso comum, 0
imaginério aparece como algo inventado, fantasioso e, forgosamente, “no
sério”, porque nao cientifico.
Todavia, se 0 século XIX marcou um dpice do pensamento racio-
nal, tal como vinha se desenvolvendo desde o século XVIII, esta mesma
sociedade, norteada pelo cientificismo ¢ pelas imagens produzidas pelos
avan¢os da técnica, voltou-se contra os seus pressupostos. Esta postura, de
uma certa forma iconoclasta com relago a seus valores, foi capaz de res~
gatar a importancia das imagens na vida mental através da contribui¢ao da
psicandlise e da etnologia. Na opiniao de Gilbert Durand," as duas verten-
tes, apesar de romperem com largos séculos de coergdo contra 0 imagin4-
1
tio, instauraram uma hermenéutica redutiva: Freud, ao estabelecer 0
determinismo da libido sobre o psfquico, e a antropologia social, com
Malinowski, Dumezil, Lévi-Strauss, ao cingir os sfmbolos a estrutura so-
cial. Apesar da importancia de tais contribuigdes, elas nao tiveram, na
passagem do século XIX para o século XX, a forga para abalar as certezas
normativas da razao. Pelo contrario, estas se encontravam em um de seus
momentos de mais ampla consagra¢fo. O que se quer chamar a atengao é
que, dialeticamente, os caminhos contraditérios da razdo levaram ao res-
gate de dimensées nao propriamente racionais.
Mas tais investidas - psicanaliticas e antropolégicas - seriam alheias
aos historiadores, ainda por longo tempo presos as correntes anteriormen-
te mencionadas: o historicismo, 0 positivismo, o marxismo. Mesmo as con-
cepgdes de Marx sobre os reflexos fantasmagoricos inversos do real como
uma camara escura (a ideologia)!' nio mereceram maior atengio e desdo-
bramentos conccituais.
As proprias anélises de Bachelard, na década de 40, que represen-
taram a “grande virada” epistemolégica em diregio ao imagindrio, no
tiveram grande repercussao junto a Hist6ria. Coube ao autor a iniciativa
de tentar reconciliar a ciéncia com o sonho, entendendo que, na propria
inovagdo tecnolégica, csté presente a poténcia criadora da imaginagio."?
Reabilitada, a imaginagio ocuparia o papel de base ou referéncia da atitu-
de cientifica, nela repousando o élan criador. Estabelecia-se, assim, 0 en-
tendimento da ciéncia ¢ da imaginagao como ordens consistentes da reali-
dade. Nao haveria ruptura entre racional ¢ imaginario, embora, segundo
Bachelard, seus eixos de constituigio fossem diferentes.
Os historiadores iriam esperar a renovagao vinda do proprio mar-
xismo, com E. P. Thompson, Christopher Hill, Raymond Williams, ou da
escola francesa dos Annales para sc voltarem para uma hist6ria social,
tornada cada vez mais cultural." Desencantados com a rigidez e 0
economicismo de um marxismo ortodoxo, assim como rejeitando as velhas
concepgdes positivistas de uma histéria factual, politica e diplomatica, a
nova tendéncia passou a afirmar a nao existéncia de verdades absolutas,
marcando 0 recuo de uma posicao cientificista herdada do século passsado.
Estimulando novos olhares ¢ abordagens com a realidade, em uma outra
vertente, a histéria social dos anos 60 e 70 restabeleceu o “oficio do histo-
riador”. Como um mestre da narrativa, este € alguém que, munido de um
método, resgata da documentagio empirica as “chayes” para recompor 0
encadeamento das tramas sociais. No decorrer dos anos 80, a histéria so-
cial desembocou na chamada “nova hist6ria cultural”, que passou a lidar
12
com novos objetos de estudo: mentalidades, valores, crengas, mitos, repre-
sentagdes coletivas traduzidas na arte, literatura, formas institucionais.
Portanto, a emergéncia das questdes culturais, como a tendénciaup
to date de anilise hist6rica nas ultimas décadas, insere-se na inflexdo das
ci€ncias humanas da nossa fin de sidcle, balizada pelo quadro geral de
declinio das posturas cientificistas e racionalizantes de compreensao do
mundo.
Desta forma, nao é por acaso que o realce assumido pelo imaginé-
rio enquanto objeto de preocupagao temética.e investigagio tenha crescido
justamente no momento em que as razGes cartesianas e as certezas do
processo cientffico nao se apresentam como capazes de dar conta da comple-
xidade do real.
Mas 0 esgotamento do conceito de totalidade ou o fim dos
dogmatismos nio podem ser entendidos como fim de um esquema de refe-
réncias. Ou seja, por mais que se recorram a argumentos tais como a falén-
cia das certezas cient/ficas, ou o reconhecimento da fluidez e indeterminagao
das explicagées sobre o social, no h4 como nio tentar uma aproximagio
tedrica do tema em pauta.
Como diz Jacques Le Goff, mesmo que a definigo do imaginério
seja flufda ¢ que o tema tenha sido “surpreendido pela moda”,'* ela néo
deve se tornar a panacéia explicativa da histéria. Por outro lado, também
nao bastam aproximagdes um tanto imprecisas, como as utilizadas por Le
Goff para o termo “mentalidades”. O historiador o chama de “nogio vaga”,
“ambigua”, “inquietante”.' Philipe Ariés aproxima a nogdo & de incons-
ciente coletivo, espécie de estrutura mental ou visdo de mundo dos tempos
passados.'* André Burguitre a chama menos de uma subdisciplina no inte-
rior da pesquisa histérica que de um campo de interesse e de sensibilidade,
vasto e heterogéneo."” Espécie de histéria-encruzilhada, ela deve o seu
charme, tal como diria Le Goff, justamente por sua imprecisio, por sua
vocacao em designar os residuos de andlise hist6rica, o “nao-sei-qué da
histéria”..." Concordando com o carter um tanto vago da nogao, Michel
Vovelle declara que 0 conceito ao qual se aproxima mais seria o de “visio
de mundo”. Constitui-se em algo mais amplo que a ideologia por integrar
“o que nao esté formulado, 0 que permanece aparentemente como ndo
‘significante’, 0 que se conserva muito encoberto ao nivel das motiva-
¢6es inconscientes”.'”
O IMAGINARIO E A MENTALIDADE
A aproximagao do conceito de imaginario com a nogiio de mentali-
dade nfo 6 fortuita. Além de ser a grande vedette da hist6ria cultural, a
hist6ria das mentalidades tem muitas vezes se confundido com a hist6ria
do imaginério. Muitos historiadores, marxistas ou no, transitaram da his-
t6ria social para a histéria das mentalidades, passando das estruturas so-
ciais as atitudes e representagdes coletivas, resgatando as complexas me-
diagdes entre a concreticidade da vida real dos homens e as representagdes
que os mesmos produzem de si e do mundo.”
Sobre a histéria cultural pesa, pois, uma certa indefinigdio conccitual,
uma imprecisao tedrica ou metodolégica de abordagem. Diga-se de passa-
gem que as criticas recaem sobretudo sobre a matriz francesa e a sua
vinculagao direta com a Nova Histéria. Esta ora é denunciada como uma
hist6ria leve, supérflua ¢ de obviedades, fazendo concessées & moda e a0
grande publico, ora é criticada pela sua auséncia de teoria. Na sua versio
francesa, a histéria cultural se apresentaria como uma alternativa ao mar-
xismo, mas dele ndo se desprenderia nem ofereceria um suporte teérico
metodolégico substituti vo. Para alguns autores do inicio da década de 80,
© resultado teria sido um tipo de hist6ria que era a0 mesmo tempo tema,
objeto ¢ método. Manifestava uma preferéncia pelas questies periféricas
em detrimento dos temas centrais (os comportamentos desviantes, os mar-
ginais, as feiticeiras), optando pelo estudo do inverso do vivido (0 imagi-
nario, o sonho), ao invés das condigdes concretas da existéncia...2! E inte-
ressante notar que certas criticas 4 histéria cultural partiram justamente de
investigadores que nela trabalham. Enquanto Frangois Furet aponta que a
sua falta de definigio é compensada por um apelo 4 moda,” Darnton é
ainda mais incisivo: apesar dos prolegomenos e dos discursos sobre o mé-
todo, os franceses nao desenvolveram uma nogio coerente das mentalida-
des como um objeto de estudo.?
Em suma, as criticas sobre a histéria intelectual ¢ das mentalida-
des, ponta avancada da histéria social na sua versdo dos anos 80, tende-
ram a incidir sobre a imprecis&o teérica subjacente. Como se viu,
contemporaneamente hd uma espécie de consenso em torno da faléncia das
grandes certezas cientificas ou dos grandes esquemas explicativos glo-
bais; rejeita-se a ligago mecdnica ¢ reflexa entre a infra e a superestrutu-
ra, abrindo o leque de possibilidades e intermediages entre as instancias
da realidade; aposta-se na transdisciplinaridade, reforgando as ligacdes
com outros campos do conhecimento e dando a impressao que, de repente,
14
tudo é realmente hist6ria, nada escapando ao campo do historiador. Have-
ria, de um lado, uma espécie de esvaziamento, ou mesmo esfacelamento,
de pressupostos de natureza tedrica, mas, por outro, registrar-se-ia uma
enorme sedugao pelos novos objetos e campos de andlise, suscitando olha-
res até entdo inusitados sobre a realidade. E neste contexto que emergem
os estudos sobre 0 imagindrio. Dom{nio extremamente controvertido, sem
diivida, mas onde se pretende resgatar um melhor contorno de entendimen-
to © aproximagao tedrica do que as mentalidades.
De saida, cabe deixar claro que a busca de uma abordagem néo
infletira pelo tipo de definigao do “ndo-ser” (0 imagindrio nao € isso ou
no € aquilo), salvo quando a negativa conduz a uma afirmagao. Como
refere Héléne Védrine,* 0 imagindrio nao pode ser o impensado ou o nao
expresso, Neste sentido, ele necessariamente trabalha sobre a linguagem,
€ sempre representa¢o e nao existe sem interpretacao,
Cabe, pois, esbogar uma tentativa para melhor delimitar 0 nosso
campo de anilise, a fimi de permitir a sua abordagem desde o ponto de
vista da histéria, Rebatendo a idéia de que imagindrio seria uma palavra
mais vazia ainda que mentalidades, Le Goff aponta que os historiadores se
empenham em dar um contetido mais preciso a esta historia do imagina-
tio.
A estratégia da abordagem conceitual poderia comegar com a no-
go de representagao. Representagio, diz Le Goff, & tradugdo mental de
uma realidade exterior percebida e liga-se ao processo de abstragio.%* O
imagin4rio faz parte de um campo de representagZo e, como expressio do
pensamento, se manifesta por imagens ¢ discursos que pretendem dar uma
definigao da realidade.
Mas imagens e discursos sobre 0 real nao sao exatamente o real ou,
em outras palavras, nao sio expressées literais da realidade, como um fiel
espelho. Hé uma décalage entre a concretude das condigdes objetivas ca
representagao que dela se faz. Como afirma Bourdieu,” as representagdes
mentais envolvem atos de apreciagdo, conhecimento e reconhecimento e
constituem um campo onde os agentes sociais investem seus interesses ¢
sua bagagem cultural. As representagdes objetais, expressas em coisas ou
atos, siio produto de estratégias de interesse e manipulagao.
Ou seja, no dominio da representagao, as coisas ditas, pensadas e
expressas tm um outro sentido além daquele manifesto. Enquanto repre-
sentagao do real, 0 imagindrio é sempre referéncia a um “outro” ausente.
O imaginério enuncia, se reporta e evoca outra coisa nfo explicita e nao
presente.
15
Este processo, portanto, envolve a relagao que se estabelece entre
significantes (imagens, palavras) com os seus significados (representa-
gées, significagdes),™ processo este que envolve uma dimensio simbélica.
Nesta articulacao feita, a sociedade constréi a sua ordem simbdli-
ca, que, se por um lado no é 0 que se convenciona chamar de real (mas
sim uma sua representagao), por outro lado € também uma outra forma de
existéncia da realidade hist6rica... Embora seja de natureza distinta da-
quilo que por hébito chamamos de real, é por seu turno um sistema de
idéias-imagens que dé significado a realidade, participando, assim, da sua
existéncia. Logo, o real é, a0 mesmo tempo, concretude ¢ representagao.
Nesta medida, a sociedade é institufda imaginariamente, uma vez que ela
se expressa simbolicamente por um sistema de idéias-imagens que consti-
tuem a representago do real.”
Portanto, o imagindrio, enquanto representagao, revela um sentido
ou envolve uma significagao para além do aparente. E, pois, epifania, apa-
Tigo de um mistério, de algo ausente e que se evoca pela imagem e discur-
sot
A igor, todas as sociedades, ao longo de sua histéria, produziram
suas proprias representagdes globais: trata-se da elaboragao de um siste-
ma de idéias-imagens de representagdo coletiva mediante 0 qual elas se
atribuem uma identidade, estabelecem suas divisées, Iegitimam seu poder
© concebem modelos para a conduta de seus membros.” Seriam, pois, re-
presentagées coletivas da realidade, e nao reflexos da mesma. Hé, assim,
uma temporalidade da histéria nas representagies.
Refere Evelyne Patlagean:
“O dominio do imagindrio é constituido pelo conjunto das
representagdes que exorbitam do limite colocado pelas
constatagées da experiéncia e pelos encadeamentos deduti-
vos que estas autorizam (...). Em outras palavras, o limite
entre 0 real e 0 imagindrio revela-se varidvel, enquanto que
0 territério atravessado por este limite permanece, ao con-
trdrio, sempre e por toda parte idéntico, jd que nada mais é
Sendo 0 campo inteiro da experiéncia humana, do mais co-
letivamente social ao mais intimamente pessoal’.
Logo, niio existe na elaboragio das idéias-imagens de representa-
go coletiva uma necesséria correspondéncia com o que se chamaria “a
verdade social”. Ao descartar a concepgio de que tais imagens espelham a
16
tealidade, nao se est4 incorrendo numa postura oposta, de que a realidade
ou 0 real € o concreto ¢ 0 pensado, ¢ o “nao-real” é 0 “ndo-verdadeiro”.
Nao se est diante de um “didlogo platénico”, mas de uma forma de enten-
dimento que encara a realidade nao s6 como “o que aconteceu”, mas tam-
bém como “o que foi pensado” ou mesmo “o que se desejou que aconte-
cesse”.
Segundo Gilbert Durand, o imagindrio é um conjunto de imagens
de relagdes de imagens que constituem o capital pensante do homo sapiens.
‘Se o imaginirio € 0 cerne da propriedade realmente humana - a capacidade
de representar a si propria, a sua vida e ao mundo -, ele é, por exceléncia,
© campo privilegiado da hist6ria.
A questao, da forma como foi colocada, remete a indagagao: como
se articulam as representagdes do mundo social com o proprio mundo so-
cial, uma vez que nao sao o seu reflexo? Ou, em outras palavras, qual a
articulagao que se estabelece entre texto ¢ contexto?
Desde jé, cabe colocar uma certa dificuldade para entender, como 0
faz Alain Pessin, que o “lugar” da formago do imaginério e do mito pode
se constituir como um lugar auténomo.s Uma coisa é entender, como reco-
nhece o autor, que existem complexos imagindrios que subvertem as con-
digdes ditas estruturais da vida coletiva; outra é retomar uma discussao, a
nosso ver, in6cua e ultrapassada, sobre a primazia dos nfveis ou instdncias
da realidade.
Posigao oposta teriam os neomarxistas ingleses, como Thompson,*
quando estabelecem que o sentido de um discurso s6 pode ser dado por um
extradiscurso, Ou seja, a explicac&o do social seria sempre priméria, esta-
belecendo-se a necessdria correlagao entre o contexto (econdmico, social
€ politico) e o discurso sobre aquele contexto, operando a linguagem como
o meio de representacao.
Relativizemos as afitmagdes, abandonando posigées polares de
determinancia. Recorrendo a Barthes,” encontramos a consideragao de
que a historia é modo de representacdo baseado no que se chama “ilusio
referencial”. Todo fato histérico - e, como tal, fato passado - tem uma
existéncia lingiifstica, embora o seu referente (0 real) seja exterior ao dis-
curso. Entretanto, o passado jd nos chega enquanto discurso, uma vez que
nao € possivel restaurar o real jd vivido em sua integridade, Neste sentido,
tentar reconstituir o real é reimaginar o imaginado,* e caberia indagar se
os historiadores, no seu resgate do passado, podem chegar a algo que nfio
seja uma representagio...
Partimos da premissa de que s6 6 possivel decifrar a representagio
17
através da articulagao texto/contexto. Esta € a postura de Ginzburg® quando.
estabelece que nfo se pode abandonar a idéia da totalidade para estabele-
cer acompreensdo de um texto. Sea realidade por vezes nos parece opaca
¢ incompreensivel, € preciso buscar indicios, estabelecer relagées e procu-
rar significados em dados aparentemente irrelevantes, mas que adquirem
sentido dentro de um contexto mais amplo, que é a necesséria referéncia
para a interpretagao, Igualmente Darnton“ estabelece a impossibilidade
de pensar o real sem relacioné-lo com um conjunto de categorias, postu-
lando a articulag&o texto/contexto como essencial para resgatar a
historicidade de um evento dado. Para Roger Chartier, nao € possivel en-
tender uma hist6ria cultural desconectada de uma histéria social, posto
que as representagdes sao produzidas a partir de papéis sociais, Assim
como Darnton, Chartier entende que nao hd real oposigao - ou oposi¢ao
antitética - entre mundo real e mundo imaginério. O discurso e a imagem,
mais do que meros reflexos estaticos da realidade social, podem vir a ser
instrumentos de constituigao de poder ¢ transformagao da realidade. Con-
cluindo, a representacao do real, ou o imagindrio, 6, em si, elemento de
transformacio do real e de atribuigao de sentido ao mundo.*!
Para Bourdieu, a instancia das representagées €, em si, um campo
de manifestagao de lutas sociais ¢ de um jogo de poder. Ainda para este
autor, € preciso ultrapassar a alternativa economicista/culturalista, que ou
vé 0 objeto simbélico como reflexo mec4nico do real ou o vé como uma
finalidade em si, Segundo 0 autor, nada de menos inocente que a questo,
que divide o mundo intelectual, de saber se devem entrar no sistema de
critérios nao s6 as propriedades “objetivas”, mas também as “‘subjetivas”,
quer dizer, as representacies que os agentes sociais se fazem da realidade
€ que contribuem para a realidade das divisdes.* Para Bourdieu, o mundo
social é também representagio e vontade, ¢ todo discurso contém, em si,
estratégias de interesses determinados. A autoridade de um discurso e a
sua eficdcia em termos de dominagao simbélica vém de fora: a palavra
concentra 0 capital simbélico acumulado pelo grupo que o enuncia e pre-
tende agir sobre o real, agindo sobre a representagao deste real.*>
Para Julia Kristeva, o que justamente nos atrai no estudo do imagi-
nario é esta ambivaléncia e esta mélange entre subjetivo e objetivo, este
quiasma entre a forga do ser e a espiritualidade da idéia. E proprio do
imagindrio passar do simbélico ao fisico ¢ ser as duas coisas a0 mesmo
tempo, proceso este que, indo da sensagio & idéia, é a forga de sua sedu-
¢ao.*
Segundo esta linha de articulacao texto/contexto, para desvelar a
18
relagao de representagao, os novos “aliados” da hist6ria cultural refor¢am
@ argumentagao. Clifford Geertz,’ ao definir a cultura como um sistema
simbélico, indica que a sua decifragao implica uma busca de significados.
E preciso resgatar nos comportamentos humanos, constituidos como agdes
simbélicas, 0 seu significado socialmente reconhecido.
Isto s6 pode ser obtido através de uma descrigAo densa € 0 estabele-
cimento de conexécs entre os varios elementos. Retorna-se, pois, ao con-
texto, como fonte de significancia que da sentido & representacdo. Nos
caminhos da nova histéria cultural, a busca de revelago de um sentido
pode ser dada pela recuperago detalhada de um evento isolado, que per-
mite entender 0 conjunto no qual se insere.**
J4 Darton, historiador com nitida influéncia da antropologia, defi-
niu a sua tarefa como uma busca de significados, mergulhando na dimen-
so social dos textos e fazendo novas perguntas ao material antigo. Em
obra bastante conhecida,"” Darton se movimenta com desenvoltura do
texto ao contexto e deste novamente ao texto.
Da mesma forma, a alianga estabelecida pela hist6ria com a litera-
tura nos leva 4 mesma busca de significados. Se atentarmos, como diz
Backthine,** para o fato de que o passado j4 nos chega como texto ¢ como
leitura jé feita, a decifragao deste discurso se dard pelo esforgo de ler um
texto sob um outro texto.
Ora, seo concreto real ¢ 0 concreto pensado so eles préprios cons-
tituintes da realidade, se a historicizagao de um texto nos € dada pela refe-
réncia ao seu contetido ¢ se o pensado e o representado nao sao 0 reflexo
mecanico do concreto e/ou do acontecido, o desvelar de significados da
telagdo de representagdo nos parece um pouco mais claro.
Nesta linha de raciocfnio, Chartier indica o caminho para decifrar
a constru¢o de um sentido num processo determinado: o cruzamento en-
tre praticas sociais e historicamente diferenciadas com as representagdes
feitas. Como bem acentua o autor, as clivagens culturais nao se organizam
86 através do recorte social, ocorrendo também configurag6es derivadas
dos fatores sexo, idade, religiao, tradicdo, educagio, etc. As representa-
i 0 a0 mesmo tempo matriz e efeito das praticas construto-
ial. Deixa de ter sentido, como jd se acentuou, a discus-
so sobre a primazia desta ou daquela instancia da realidade, por entendé-
Ja miltipla, dindmica, ndo-determinada, relativa.
O imaginério, enquanto sistema de idéias-imagens de representa-
Ges coletivas, é “o outro lado” do real.
A tigor, com relagao a este processo de “apreensiio” do real, sem-
19
pre ocorreu uma tensio entre a imagem-mimese e a imagem-ficcio. Numa
primeira postura, terfamos a imaginagao como reprodutora do real.*° Im-
plica a assimilagaio do imaginério com a meméria numa articulag&o que
envolve um dinamismo associativo. Neste caso, a imagem nao existe fora
de um processo de evocacao.”' Esta imaginagao reprodutora ou mimética
estabelece um simulacro, uma via ilusGria de representagdo da realidade,
funcionando como um auxiliar do sentido.”
No extremo oposto, terfamos uma tendéncia herdeira do racionalismo
cartesiano de negar a realidade da imaginagao, $6 reconhecendo a légicae
a razo, esta postura rejeita a fantasia criadora do sonho.* Sendo a imagi-
nagio “mestra do erro e da falsidade”, s6 produziria nao-verdades, ima-
gens fantasticas e irreais.
Segundo Gilbert Durand, a postura de Bergson, encarando a imagi-
nagiio como residuo minimésico e associado & evocagio pela meméria, ou
de Sartre, considerando a imagem como um vulgar doublé sensorial, apro-
xima-se das duas concepg6es referidas. Sartre, por exemplo, entende as
imagens como “miniaturas mentais” das coisas exteriores; logo, a imagi-
nagiio, ao se apresentar como uma “quase-observaciio”, coloca-se numa
posigio desvalorizada diante do conceito, este sim atividade de abstragdo
que implica concepgao ¢ conhecimento “verdadeiro”.*5 Ainda segundo
Durand, ambas as posturas minimizam o imaginério, restando uma tercei-
ra via, inaugurada por Gaston Bachelard. A imaginacZo € percebida como
um dinamismo organizador, dinamismo este que se converte em fator de
homogeneizagio da representacao.*
Dar & imaginagéio uma fungao criadora implica atribuir-lhe uma
capacidade inventiva para criar a realidade.*’ A nogao jé fora surpreendi-
da por Baudelaire, no Salao de 1859:
“Por imaginagao, eu ndo quero exprimir somente a idéia
comum implicita nesta palavra da qual se faz té0 grande
abuso, a qual é simplesmente fantasia, mas também a ima-
ginagao criadora, que é uma funcao muito mais elevada e
que tanto quanio o homem é feito 4 imagem e semelhanca
de Deus, guarda esta relagdo distante com este poder subli-
ime pelo qual o criador concebe, cria e mantém seu univer-
so."
Portanto, Baudelaire concebera a imaginag4o como que portadora
de um caréter magico, divino, transcendental, capaz de romper com as
20
condi¢ées da cotidiancidade ¢ antecipar o amanha. Como diz Gaston
Bachelard, “na fungdo do real, instruido pelo passado, é preciso juntar
ura fungao do irreal também positive. Como prever sem imaginar?”?
Ora, a dimensao criadora do imagindrio nos remete a dialética do
racional/irracional. O imagindrio nao é um ensaio do real, mas evocagao
que dé sentido as coisas.” A imaginagio nao € conhecimento, logo nao hé
um saber imagindrio que se oponha ao saber racional, mas na origem do
saber cientifico est4 a imaginagao criadora.
Neste sentido, € possivel concordar com Yves Durand quando diz
que:
“O imagindrio cobre a totalidade do campo antropolégico
da imagem que se estende indistintamente do inconsciente
ao consciente, do sonho e da fantasia ao construido e ao
pensamento, enfim, do racional ao irracional, E do espirito
que dependem os miiltiplos dominios do imagindrio.”*'
A fungao criadora do imagindrio € também resgatada por Baczko,
quando se refere ao processo de formago de idéias-imagens de represen-
tagao coletiva:
“(...) inventadas ¢ elaboradas com materiais tirados de fun-
do simbélico, elas tém uma realidade especifica que reside
na sua existéncia mesma, no seu impacto varidvel sobre as
mentalidades e os comportamentos coletivos nas fungées
miltiplas que elas exercem na vida social.”*
Na verdade, a concepgo do imagingrio como fungio criadora se
constr6i pela via simbélica, que expressa a vontade de reconstruir 0 real
num universo paralelo de sinais.* Para Castoriadis, a hist6ria é imposs{-
vel/inconcebivel fora da imaginago produtiva ou criadora a que ele cha-
ma de imagindrio radical,“
Anocio de simbolo é, pois, central e se encontra ligada a de repre-
sentagio:
“Os simbolos podem ser considerados derivados dos sig-
nos, quer dizer, do conjunto de elementos conheciveis e
repertoridveis, mas que, ao mesmo tempo, se propdem como
fantasmas do significado que retém uma parte do objeto que
designam”.*
21
O simbolo se expressa por uma imagem, que € seu componente es-
pacial, e por um sentido, que se reporta a um significado para além da
representacdo explicita ou sensivel.
Em suma, através da imaginagao simbélica, diz-se ou se mostra
uma coisa ou uma idéia através de outra. Citando Ricoeur, Wunemburger
estabelece que o simbolo corresponderia a uma estrutura de significagao
onde um sentido primério, literal, designa um sentido indireto, secundario,
figurado, que nao pode ser apreendido senao pelo primeiro.”
Ora, a questo da natureza simbdlica das imagens remete & nogio
de alegoria: a imagem é, pois, a revelacao de uma outra coisa que nao ela
prépria. Pensar alegoricamente implica referir-se a uma coisa mas apontar
para uma outra, para um sentido mais além. Mais do que isso, implica
realizar a representacao concreta de uma idéia abstrata. Subjacente ao que
sé vé, se Ié ou se imagina, a alegoria comporta um outro contetido.
Assumimos, pois, 0 pressuposto das representagdes simbdlicas €
alegoricas do imaginario coletivo,
Todavia, a sociedade constitui o seu simbolismo, mas nao dentro de
uma liberdade absoluta, pois ela se apoia no que jd existe.”
Tais representagéeé teriam, na sua concepgfo, um fundo de apoio
na concreticidade das condigdes reais de existéncia. Ou seja, as idéias-
imagens precisam ter um minimo de verossimilhanga com o mundo vivido
para que tenham aceitacdo social, para que sejam criveis,
Entende-se que mesmo o fantastico ¢ 0 extraordindrio manejam com
dados reais, transformados e adaptados em combinagées varias. A prépria
poténcia criadora do imaginario nao é concebida num vazio de idéias, coi-
sas ou sensagdes. q
Por outro lado, além do seu fio-terra que o liga 2 realidade, o imagi-
ndrio comporta um elemento ut6pico. O imaginario social nao se resume
as idéias-imagens ut6picas, mas elas Ihe dao um suporte poderoso, como
forma especifica de ordenabao de sonhos e desejos coletivos.
A utopia é a projecio, no dominio do imaginario, “de uma socieda-
de radicalmente outra, de um mundo em tudo melhor que o mundo real”.”
Neste sentido, refere Baczko:
“Sonhar uma sociedade perfeitamente transparente na qual
os principios fundadores se reencontrariam em todos os de-
talhes da vida cotidiana de seus membros, uma sociedade
na qual a representacdo seria a imagem fiel, sendo 0 sim-
ples reflexo de sua realidade, é um tema constante das uto-
pias ao longo dos séculos. A permanéncia deste sonho é uma
prova emcontrdrio de que nenhuma sociedade, nenhum gru-
po social, nenhum poder sao precisamente transparentes para
si proprios.”"
Mas existe ainda um outro lado nao abordado: aquele que diz res-
peito ao gerenciamento e manipulacao do imagindrio. Nao h4 como negar
que:
“O controle do imagindrio, de sua reprodugao, de sua difw:
sdo e de seu gerenciamento assegura, em degraus varidveis,
um impacto sobre as condutas e atividades individuais e co-
letivas, permite canalizar energias, influenciar as escothas
coletivas nas situagdées surgidas tanto incertas quanto
imprevisiveis.””
Estar-se-ia, pois, diante de um novo ingrediente: o da manipulagao,
que jogaria com os sonhos coletivos ¢ com as forgas da tradigdo herdadas
de um cotidiano imemorial, forjando mitos, crengas e simbolos. Nao se
quer reduzir, em hipstese alguma, o imaginario social a ideologia, nem
opor a este jogo de intengdes e socializacdo de idéias deliberadas o poten-
cial libertador € subversivo da utopia, Nao cabem posigdes maniquefstas
que, inclusive, reduzem a complexidade do contexto social e a riqueza das
representagdes possiveis que ele comporta.
Mas, sem diivida alguma, é importante que se tenha em vista que
intervém no processo de formagao do imaginario coletivo manifestagdes
interesses precisos. Nao se pode esquecer que,o imagindrio social é uma
das forgas reguladoras da vida coletiva, normatizando condutas e pautan-
do perfis adequados ao sistema.
Como diria Rolf Peter Janz, ao abordar 9 conceito benjaminiano da
fantasmagoria equivalente & representagao socjal: ela possui, sem diivida,
uma faceta de transformagao ¢ engodo, mas é também portadora do sonho
da coletividade, na sua dimensio utépica.”*
‘Tal como foi cxposto, registrar-se-iam trés instincias de realizago
do imaginério: a do suporte na concretude do seal, a da utopia e a ideolé-
gica. a
Louis Vincent Thomas, por seu lado, distingue trés tipos de imagi-
nério, que poderiam, de uma corta forma, sc associar a estes enfoques
abordados: o imagindrio do mundo das imagens; o racional ou ideal, que
23
corresponderia a uma ordem cientifica; e o pulsional ou imaginal,
correspondendo a um subjetivismo irracional.” Realidade, intengao deli-
berada ou ilusdo do espfrito e utopia ou dimensao fantdstica. Preferimos,
contudo, nao divisar tipos ou classificagdes de modalidades do imagin4-
rio, mas sim entender que a complexidade a que se dé o nome de imagin
rio social comporta, ao mesmo tempo, aquelas trés dimensées. Ou seja, 0
imagindrio comporta dimensdes e nfo se enquadra em tipos que envolvem
modelos redutores.
O imagindrio social se expressa por simbolos, ritos, crengas, dis-
cursos € representac6es alegéricas figurativas.
Tome-se o exemplo da idéia-mestra do progresso, tipica do século
XIX, que transcorreu embalado por este principio ufanista.
O progtesso, em si, € uma abstragio conceitual da realidade empitica:
© século XIX viveu a consolidagao do sistema de fabrica, a vitéria do
capitalismo, a difusdio das méquinas, o florescimento da sociedade bur-
guesa. Nao hd também como negar a natureza ideolégica das idéias de
Progresso: 0 discurso da burguesia triunfante contava com esta idéia que
consubstanciava as exceléncias do sistema ¢ a sua capacidade de construir
um mundo cada vez melhor. Por outro lado, a conquista antecipada do
futuro ¢ a meta da sociedade do bem-estar foram também uma utopia que
acalentou os sonhos do século XIX.
O progresso constituiu-se assim no grande mito ¢ na maior crenca
do século XIX, embalado pelos princfpios filoséficos da evolugao, pelo
cientificismo, pela tecnologia, pelo esplendor da transformagao burguesa
das cidades. Expressou-se por ritos ¢ discursos especificos que foram des-
de as exposigdes universais 20s congressos cientificos, passando pelas obras
de Jules Verne, para chegar As remodelagSes urbanas de um Haussmann,
na Europa, ou de um Pereira Passos, no Rio de Janeiro.
O progresso, poder-se-ia dizer, esteve no centro do imaginério so-
cial do século XIX até o inicio da Primeira Guerra Mundial.
O imaginario é, pois, representag4o, evocagdo, simulagao, sentido
e significado, jogo de espelhos onde o “verdadeiro” eo aparente se mes-
clam, estranha composigao onde a metade visfvel evoca qualquer coisa de
ausente € dificil de perceber. Persegui-lo como objeto de estudo é desven-
dar um segredo, é buscar um significado oculto, encontrar a chave para
desfazer a representagao do ser e parecer.
Nao sera este o verdadciro caminho da Histéria? Desvendar um
enredo, desmontar uma intriga, revelar 0 oculto, buscar a intengao?
Fugindo a modelos, desprezando leis, opondo-se a ortodoxias
24
metodolégicas, o imagindrio se abre como um novo campo de estudo, mui-
to bem explorado pela mfdia, que aposta nas suas facetas de seducdo, fan-
tAstico, irracional... ou de uma histéria mais leve, distante das tabelas es-
tatisticas, dos modelos politicos, das regras sociolgicas, das cronologias.
O que, porém, poderia ser mais objeto da histéria do que esta busca
de sentido, este renovar incessante das tentativas de explicar aliangas, en-
redos, desejos, intengdes, do que este tecer ¢ retecer da tessitura social?
Estariam talvez corretas as aspiragdes explicitas no segundo mani-
festo surrealista, em 1930, quando dizia procurar aquele justo
“(.u.) ponto do esptrito, onde a vida e a morte, o real e 0
imagindrio, 0 passado ¢ 0 futuro, 0 comunicavel e 0 incomu-
nicdvel, o alto e o baixo deixam de ser percebidos contradi-
toriamente.”"5
NOTAS
" BACZKO, Bronislaw. Les imaginaires sociaux. Paris, Payot, p.27, 1984.
* Thidem. p.28.
* Ibidem. p. 29.
* CE. STONE, Lawrence. The revival of narrative: reflections on anew old history, The past and
the present. Boston, Routledge and Kegan Paul, 1981; HUNT, Lynn. History, culture and text e
PATRICIA, O'Brien, Michel Foucault's. History of culture. In: HUNT, Lynn, ed. The new cultural
history. Berkeley, University of California Press, 1989,
* CHARTIER, Roger. © mundo como representagio. Estudos Avangados, n. A, v. 5, 1991.
ms | CHARTIER, Roger. Le passé composé. Traverses.n, 40, abr, 1987.
” BERTHELOT, Jean Michel, L'imaginaire rational. Cahiers de limaginaire. Pats, n. t, p-77.
1988.
* MOLES, Abrahuin. La fonction des mythes dinamiques dans la construction de 'imaginaire so-
ial. Cahiers de l'imaginaire. Mythologies et vie sociale. Pars, L'Harmattan,n. 5-6,p.9, 1991.
” DURAND, Gilbert. L'imagination symbolique, Paris, PUF, 1989.
"Para usar a expresstio de DURAND, L'imagination symbolique. p.21.
" BERTHELOT. op.cit., p. 77.
" DAGONET, Francois, Bachelard. Stio Paulo, Martins Fontes, 1986,
™ propésito desta tendéncia em tomo da historia social que desemboca numa nova hist6ria cultu-
ral, consultar HUNT. The new cultural histary. op. cit.
“LE GOFF, Jacques. L'imaginaire médiéval, Paris, Gallimard, 1985,
"LE ‘GOFF, Jacques. A histéria nova, Sao Paulo, Martins Fontes, p. 49, 1990.
"“ ARIES, Philipe, A hist6ria das mentalidades. In:LE GOFF, A histéria nova, p. 75.
“"BURGUIERE, André. Dictionnaire des sciences historiques, Paris, PUF, p. 450, 1986.
25
"Thidem. p. 455. 1
" VOVELLE, Michel. ideologias émentalidades, Sio Paulo, Brasiliense, p. 19, 1987.
“Ihidem. p.22-3.
“ BOURDE, Guy e MARTIN, Hervé. Les écoles historiques. Paris, Seuil, p.225-6, 1983.
* FURET, Frangois, Beyond the Annales. apud: HUNT, History, culture and text, p.9.
“ DARNTON, Robert. Intelectual and cultural history. In: KAMMEN, Michael, org... The past
before us. Contemporary historical writing in the United States. Comell University Press, p. 346,
1986.
* VEDRINE, Hélene. Les grandes conceptions de limaginaire. Pati, Librairie Général Frangaise,
p. 5-6, 1990,
© LE GOFF, Jacques. L’histoire et 'imaginaire. Entretien avec Jacques Le Goff. apud CAZENAVE,
Michel et alii. Mythes e¢ hiswire. Paris, Albin Michel, p.55, 1984.
* Cf. LE GOFF. L’imuginaire médféval.
* BOURDIEU, Pierre. Ce que purler veut dire, Paris, Fayard, p. 135, 1982.
* CASTORIADIS, Comelius. instituigdia imagindria da sociedade. Rio de Janeiro, Paze Terra,
1982. i
* LEGOFF. Vhistoire et 'imaginaire, p. 56.
* CASTORIADIS. op. cit.
“ DURAND. L'imagination symbolique. p. 12-3.
= BACZKO. op.cit, p.8.
“ PATLAGEAN, Evelyne. A hist6ria do imagindrio, In: LE GOFF. A nova histéria. p.291.
“DURAND. Gilbert. Les structures anthropologiques de U'imaginaire, Paris, Bordas, p. XIV,
1984.
™ PESSIN, Alain. Le mythe die peuple et la societé francaise du XIX, siécle. Paris, PUF, p. 36,
1992,
“GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. Sao Paulo, Companhia das Letras, 1989.
* Apud RUDDIGER, Francisco R. O paradigms narrativista na moderna teoria da histGria. Letras
de Hoje.n. 81. Porto Alegre, PUCRS, p. 15-6, set. 1990.
™ BIERSACK, Aletha, Local knowledge, local history. Geertz and beyond, In: HUNT. op. cit.
" GINZBURG. op.cit
“DARNTON, Robert. 0 beijo de Lamourette, Sao Paulo, Companhia das Letras, p. 258, 1980.
“ CHARTIER. O mundo como representagao.
“ BOURDIEU. op.cit.. p. 144.
“Thidem. p. 107, 109, 124,
“ KRISTEVA, Julia. Proust et le temps sensible. Paris, Jussicu, (texto de seminétio), jan. 1993
° GEERTZ, Clifford. A interpretaydo das culturas. Rio de Janciro, Guanabara, 1989.
“STONE. op. cit.
: Constr, apropéit: DARNTON, Robert.O grande massacre dos gatos, Rio de Jno, Gra,
“BACKTHINE, Mikhail. L'oewvre de Francois Rabelais et la culture populaire ax moyen dige
et sur la renaissance. Paris, Gallimard, 1970.
* CHARTIER. O mundo como representagio.
26
“DURAND, Yves, L’exploration de l'imaginaire. Paris, L’Espace Bleu, 1988.
* DUBOIS, Claude Gilbert. L’imaginaire et la perspective au XVI- sidcle: formalisme scientifique
cet réalisme imaginaire. Cahiers de 'Tmaginaire.n, |, Paris, 1988.
* WUNEMBURGER, Jean Jacques.'imagination. Paris, PUF, p. 12-5, 1991
“DURAND, ¥. op.cit., p. 13.
DURAND. Les structures anthropologiques. p. 23. '
SARTRE, Jean Paul. L ‘imagination. Paris, PUF, 1989.
DURAND. Les structures anthropologiques. p.26
DURAND, Y. op. cit.,.p. 14.
“BAUDELAIRE, ‘Charles, Le salon de 1859. In: BAUDELAIRE, Charles. Oeuvres complates Il.
Paris, Gallimard, 1976,
“ BACHELARD, Gaston. La poétique de "espace. Paris, PUR, p. 6, 1992.
“LEDRUT, Raymond, Situation de ’imaginaire dans la dialecfjque du rationnel et de 'irationnel,
Cuhiers de 'Imaginaire. n. 1. Paris, p. 45-6, 1988.
“ DURAND, Y. op. cit. p.8.
“BACZKO.op.cit..p. 8.
“DUBOIS. op.cit., p.37,
“ CASTORIADIS. op cit.
“MOLES. op. cit.,p.9.
“DURAND, ¥.op. cit. p. 16.
” WUNEMBURGER op. cit., p. 66.
“ KOTHE, Flivio R.A alegoria. Sio Paulo, Atica, 1986.
“ CASTORIADIS. op. cit.
™ AINSA, Femando. Les utopies sont mortes, vive l’utopie. Le Courrier de ' UNESCO. Pasis, p.
13, fev. 1991.
" BACZKO.op.cit., p.8.
" Ibidem. p. 35.
” JANZ, Rolf Peter. Expérience mythique et expérience historique au XIX-siécle. In: WISMANN,
Heinz, org. Passages, Walter Benjamin et Paris. Colloque International 27-29, juin. 1983, Paris,
CERF, p. 458, 1986,
“THOMAS, Louis Vincent. Anthropologie des obsessions. Paris, L’Harmattan, 1988.
BRETON, André. Manifeste du surréalisme, Patis, Folio, p. 72-3, 1990.
27
Você também pode gostar
- Planta Geral Lot-Shopping-Hotel e Residenciais R1Documento1 páginaPlanta Geral Lot-Shopping-Hotel e Residenciais R1Lucas BrancoAinda não há avaliações
- Terreno Raio 5km-Layout12Documento1 páginaTerreno Raio 5km-Layout12yasminrabelo67Ainda não há avaliações
- Cap02 ProblemasManutenção TassioDocumento6 páginasCap02 ProblemasManutenção TassioTassio SirqueiraAinda não há avaliações
- (Semana 2) 20 - 05 o Verdadeiro LíderDocumento1 página(Semana 2) 20 - 05 o Verdadeiro LíderNane RibeiroAinda não há avaliações
- Afirmacao de Fe Da IPIBDocumento1 páginaAfirmacao de Fe Da IPIBJohn FerreiraAinda não há avaliações
- Somente Uma Gota Do Sangue de Jesus PDF SalvaDocumento12 páginasSomente Uma Gota Do Sangue de Jesus PDF SalvaVivendoComJesus Rafa SallesAinda não há avaliações
- Perda Auditiva Induzida Pelo RuidoDocumento1 páginaPerda Auditiva Induzida Pelo RuidoWelson MikaelAinda não há avaliações
- Ebook - Cromoterapia e Terapia Capilar - Encontrando o Equilíbrio Entre Cores e Cabelos SaudáveisDocumento14 páginasEbook - Cromoterapia e Terapia Capilar - Encontrando o Equilíbrio Entre Cores e Cabelos Saudáveisana caroline da silvaAinda não há avaliações
- Kiko Loureiro Video Aula 1Documento23 páginasKiko Loureiro Video Aula 1Vinnie HeAinda não há avaliações
- Paulo Lima Silva Psicanalise Dos ExcessosDocumento11 páginasPaulo Lima Silva Psicanalise Dos ExcessosZZZAinda não há avaliações
- Ciclo Da Auto-Sabotagem - Stanley Rosner Patricia Hermes PDFDocumento120 páginasCiclo Da Auto-Sabotagem - Stanley Rosner Patricia Hermes PDFGrore Dagariolem Vasiuzereliu100% (2)
- Revista Pergunte e Responderemos - Ano XLVIII - No. 545 - Novembro de 2007Documento54 páginasRevista Pergunte e Responderemos - Ano XLVIII - No. 545 - Novembro de 2007Apostolado Veritatis Splendor100% (1)
- Palavras para Iniciar Paragrafos No TCC Monografia ArtigosDocumento2 páginasPalavras para Iniciar Paragrafos No TCC Monografia ArtigosAjbIngAinda não há avaliações
- Auditoria - Impto. SociedadesDocumento57 páginasAuditoria - Impto. SociedadesMaria Veronica Mikue Ngomo EtunuAinda não há avaliações
- Folder Checklist para Manutencao Versao DigitalDocumento2 páginasFolder Checklist para Manutencao Versao Digitaljosue jetavionicsAinda não há avaliações
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Piano ScoreDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Piano ScoreIvan Felipe Muñoz VargasAinda não há avaliações
- FL01 Sintese UrbanaDocumento1 páginaFL01 Sintese UrbanaElaine AlencarAinda não há avaliações
- Viva La Vida ViolinesDocumento4 páginasViva La Vida Violinesjorge100% (1)
- Anexo III À LC Nº 470 2017 Mapa de Uso e Ocupação Do Solo Versão de Novembro de 2017Documento1 páginaAnexo III À LC Nº 470 2017 Mapa de Uso e Ocupação Do Solo Versão de Novembro de 2017Mauri OládioAinda não há avaliações
- Irimo - Trombone 1Documento2 páginasIrimo - Trombone 1Salvador VelasquezAinda não há avaliações
- Audi A4 2.6 Abc 94-97 PDFDocumento2 páginasAudi A4 2.6 Abc 94-97 PDFJorge Daniel Diaz100% (1)
- Alfa 145-164Documento1 páginaAlfa 145-164GabrielAinda não há avaliações
- Identificação de Bacilos Gram NegativosDocumento6 páginasIdentificação de Bacilos Gram NegativosSabrina RodriguesAinda não há avaliações
- Ligia - AltoDocumento1 páginaLigia - Altoyeison matosAinda não há avaliações
- Ingles - VerbosDocumento6 páginasIngles - Verbossal sal100% (7)
- Árvore Genealógica Da Familia SantelloDocumento1 páginaÁrvore Genealógica Da Familia SantelloThiago Ossucci SantelloAinda não há avaliações
- Revista Pergunte e Responderemos - Ano XLV - No. 502 - Abril de 2004Documento54 páginasRevista Pergunte e Responderemos - Ano XLV - No. 502 - Abril de 2004Apostolado Veritatis SplendorAinda não há avaliações
- MapaDocumento1 páginaMapajoseantonio207723Ainda não há avaliações
- LRJSP SpeDocumento2 páginasLRJSP SpeCAinda não há avaliações
- AUDI 80 2.6 Abc 92-95Documento2 páginasAUDI 80 2.6 Abc 92-95GabrielAinda não há avaliações
- Alfa 145 20 Twing SparkDocumento2 páginasAlfa 145 20 Twing SparkGabrielAinda não há avaliações
- Terreno Raio 5km ParadasDocumento1 páginaTerreno Raio 5km Paradasyasminrabelo67Ainda não há avaliações
- Britoo e Jacques, Cenografias e Corpografias UrbanasDocumento8 páginasBritoo e Jacques, Cenografias e Corpografias UrbanasLiaAinda não há avaliações
- Hamas Dadulanu Ela ChudaliDocumento4 páginasHamas Dadulanu Ela Chudaliswarupa sAinda não há avaliações
- Teste AllerSnapDocumento1 páginaTeste AllerSnapAllan BatistaAinda não há avaliações
- GabaritoengcivildiscursivaDocumento2 páginasGabaritoengcivildiscursivakarol vitorinoAinda não há avaliações
- Audi A4 1.6 Adp 95-97Documento2 páginasAudi A4 1.6 Adp 95-97GabrielAinda não há avaliações
- Mapa 1-2-Equip - Comun - LazerDocumento1 páginaMapa 1-2-Equip - Comun - LazerLorena Ramos TrinchaAinda não há avaliações
- Literatura e Filosofia: Aproximações Possíveis Sob o Viés Da Mística - Ramon FerreiraDocumento10 páginasLiteratura e Filosofia: Aproximações Possíveis Sob o Viés Da Mística - Ramon FerreiraRamon FerreiraAinda não há avaliações
- Guia de Esferas - LWH - 30 Até 45 - BDocumento1 páginaGuia de Esferas - LWH - 30 Até 45 - BERICK FEITOSAAinda não há avaliações
- 2 Material EAD BM - Módulo Defesa Civil - PrefeitosDocumento8 páginas2 Material EAD BM - Módulo Defesa Civil - PrefeitosAndrade RamiresAinda não há avaliações
- Guia de Esferas - LWE - 15 Até 20Documento1 páginaGuia de Esferas - LWE - 15 Até 20ERICK FEITOSAAinda não há avaliações
- Plano General de Comercio 2020Documento1 páginaPlano General de Comercio 2020RedAinda não há avaliações
- Exercícios de Arpejos - ViolãoDocumento1 páginaExercícios de Arpejos - ViolãoLEO0% (1)
- Te Deum Eustache CarroyDocumento11 páginasTe Deum Eustache CarroyVirgilio SolliAinda não há avaliações
- The Lion King MedleyDocumento11 páginasThe Lion King Medleymarioverace2Ainda não há avaliações
- Revista Pergunte e Responderemos - Ano XLIX - No. 555 - Setembro de 2008Documento66 páginasRevista Pergunte e Responderemos - Ano XLIX - No. 555 - Setembro de 2008Apostolado Veritatis Splendor100% (4)
- Asturias, Patria QueridaDocumento1 páginaAsturias, Patria QueridaMai TaAinda não há avaliações
- Acid Trabalho Material BiologicoDocumento1 páginaAcid Trabalho Material BiologicoWelson MikaelAinda não há avaliações
- Oficina de Violão Da Casa Da Música Um Relato de Experiência Como Professor No CursoDocumento9 páginasOficina de Violão Da Casa Da Música Um Relato de Experiência Como Professor No CursoJoao Gabriel De Alencastro MartinsAinda não há avaliações
- La Fierecilla Domada-ShakespeareDocumento56 páginasLa Fierecilla Domada-ShakespeareViviana Lizbeth Santos NicolasAinda não há avaliações
- Edital Nº 14 - Seleção de Estagiários DireitoDocumento2 páginasEdital Nº 14 - Seleção de Estagiários DireitoPhillipe NogueiraAinda não há avaliações
- NR 32 - Acid Trabalho Material BiologicoDocumento1 páginaNR 32 - Acid Trabalho Material BiologicoCPSSTAinda não há avaliações
- Mapa Anástacio-MSDocumento1 páginaMapa Anástacio-MSpatriciomontagemagroindustrialAinda não há avaliações
- Audi A4 1.8 Aeb Turbo 95-96Documento4 páginasAudi A4 1.8 Aeb Turbo 95-96GabrielAinda não há avaliações
- Livro Pupunha1Documento20 páginasLivro Pupunha1Tales SilvaAinda não há avaliações
- Audi A6 2.8 Aah 94-97 PDFDocumento2 páginasAudi A6 2.8 Aah 94-97 PDFJorge Daniel DiazAinda não há avaliações
- Conversas Com Woody Allen I Pequenos Truques PDFDocumento4 páginasConversas Com Woody Allen I Pequenos Truques PDFHelder Daniel BadianiAinda não há avaliações
- Historiografias Periféricas Nicodemo, Pereira, SantosDocumento26 páginasHistoriografias Periféricas Nicodemo, Pereira, SantosMarcos Vinicius GontijoAinda não há avaliações
- ALENCAR, João Nilson - A Voz Rouca em Arquivo SilenciosoDocumento15 páginasALENCAR, João Nilson - A Voz Rouca em Arquivo SilenciosoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- AGAMBEN, Giorgio. Arqueologia Da Obra de Arte PDFDocumento14 páginasAGAMBEN, Giorgio. Arqueologia Da Obra de Arte PDFMaykson CardosoAinda não há avaliações
- Derrida TelepathyDocumento20 páginasDerrida TelepathyCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- PUCHEU, Alberto - Pelo Colorido para Além Do CinzentoDocumento224 páginasPUCHEU, Alberto - Pelo Colorido para Além Do CinzentoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Cleber Cabral - Leituras Da Crítica - Mediações e DeslocamentosDocumento18 páginasCleber Cabral - Leituras Da Crítica - Mediações e DeslocamentosCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Cleber Cabral - Escutar Com Os Olhos - FinalDocumento15 páginasCleber Cabral - Escutar Com Os Olhos - FinalCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Boothwaynec 140923095935 Phpapp02Documento183 páginasBoothwaynec 140923095935 Phpapp02Andréa LeicoAinda não há avaliações
- Respostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoDocumento57 páginasRespostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Maurice Blanchot e A LiteraturaDocumento72 páginasMaurice Blanchot e A LiteraturaCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Batalha 1Documento26 páginasBatalha 1Fernanda FachinaAinda não há avaliações
- LYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-ModernaDocumento78 páginasLYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-ModernaCleber Araújo Cabral100% (2)
- Respostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoDocumento57 páginasRespostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- A Nomadologia de Deleuze e Guattari - Paulo Domenech OnetoDocumento15 páginasA Nomadologia de Deleuze e Guattari - Paulo Domenech OnetoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- LOPES, Silvina Rodrigues - A Legitimação em LiteraturaDocumento258 páginasLOPES, Silvina Rodrigues - A Legitimação em LiteraturaCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- DERRIDA Jacques - Che Cosè La PoesiaDocumento4 páginasDERRIDA Jacques - Che Cosè La PoesiaCleber Araújo Cabral100% (1)