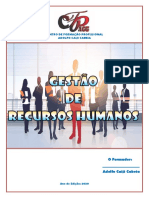Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resenha - História Social Da Criança e Da Infância - Phillipe Aries PDF
Resenha - História Social Da Criança e Da Infância - Phillipe Aries PDF
Enviado por
Mesalas Santos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações6 páginasTítulo original
RESENHA - HISTÓRIA SOCIAL DA CRIANÇA E DA INFÂNCIA - PHILLIPE ARIES.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações6 páginasResenha - História Social Da Criança e Da Infância - Phillipe Aries PDF
Resenha - História Social Da Criança e Da Infância - Phillipe Aries PDF
Enviado por
Mesalas SantosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
R E S E N H A S
ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2. ed.
Tradução de Dora Flaksman. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1981.
P hilippe Ariès nasceu em 24 de junho de 1914, na França, e con-
clui seus estudos de História na Sorbonne. É considerado pela
crítica como um dos melhores historiadores contemporâneos no
campo de estudo de comportamento e atitudes humanas. A obra
resenhada é considerada a mais importante do autor que foi traduzida
para o Português por, Dora Flaksman, intitulada História social da
criança e da família, publicada em 1960, onde a mesma delineia a
história da infância e da família moderna.
Philippe Ariès trabalha com uma multiplicidade de documentos (fotos,
diários, músicas), iconografia religiosa e leiga da Idade Média e
usam a linguagem narrativa, composta essencialmente por histori-
adores franceses responsáveis pela desconstrução da história positivista
no século XIX.
O estudo sobre a história social da criança e da família de Ariès apresenta
dois caminhos norteadores: o primeiro a percorrer é a verificação
de que a carência do sentido de infância, como um estágio impor-
tante no desenvolvimento da pessoa, até o fim da Idade Média,
abre as possibilidades para uma interpretação das sociedades Oci-
dentais. O segundo caminho é que está mesma maneira de definir
a infância como um período diferente da vida adulta também pos-
sibilitou a análise do novo lugar assumido pela criança e pela fa-
mília nas sociedades modernas. Estes dois caminhos são apresentados
no livro com as seguintes temáticas:- Sentimento da infância; as
idades da vida; A descoberta da infância; O traje das crianças; Pe-
quena contribuição à história dos jogos e brincadeiras; do despudor
à inocência; os dois sentimentos da infância. A vida escolástica;
Jovens e velhos escolares da Idade Média; uma instituição nova; o
colégio; origens das classes escolares; as idades dos alunos; os pro-
gressos da disciplina; as ‘pequenas escolas’; a rudeza da infância
escolar; a escola e a duração da infância; a família; as imagens da
família; a família medieval à família moderna; como conclusão a
Família e sociabilidade.
No período de grandes transformações históricas, no caso, dos séculos XII
ao XVII, o foco de localização de sua pesquisa, Áries afirma que a
infância tomou diferentes conotações dentro do imaginário do ho-
mem em todos os aspectos sociais, culturais, políticos e econômi-
cos, de acordo com cada período histórico. A criança seria vista como
substituível, como ser produtivo que tinha uma função utilitária
para a sociedade, pois a partir dos sete anos de idade era inserida na
vida adulta. A criança tornava-se útil na economia familiar, reali-
zando tarefas e imitando seus pais e suas mães. Havia responsabili-
dade legal de cumprir seus ofícios perante a coletividade.
Nessa mesma perspectiva de raciocínio, afirma ainda o pesquisador que
o conceito ou a ideia que se tem da infância foi sendo historica-
mente construído. A criança, por muito tempo, não foi vista como
um ser em desenvolvimento, com características e necessidades
próprias, e sim “homens de tamanho reduzido” (p. 18).
Foi por volta do século XII, “a arte medieval desconhecia a infância ou
não tentava representá-la. Segundo o autor é difícil crer que essa
ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É
mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mun-
do” (p. 17). Por outro lado, se a infância não era representada na
vida familiar, também, não havia a construção do sentimento de
amor. Durante muitos séculos, o sentimento e a afeição não foram
percebidos ou foram sufocados, segundo o autor, chegando mes-
mo a não existir. Ariès, indica em sua tese que o surgimento da
noção de infância surgiu apenas no século XVII, junto com as
transformações que começaram a se processar na transição para a
sociedade moderna. A trajetória da criança até então era de discri-
minação, marginalização e exploração.
, Goiânia, v. 7, n. 2, p. 351-356, jul./dez. 2009 352
Para o autor, as iconografias remontadas no século XIII e XV suscitavam
novas representações da infância. No século XIII, no período da
Idade Média, a criança não estava ausente, mas não era o retrato
real de uma criança. A criança real apareceu no século XVI nas
efígies funerárias, numa sala de aula junto com os seus professores.
Não havia a mentalidade de conservar o retrato de criança que
tivesse sobrevivido ou morrido pequena. Segundo o autor, “a in-
fância era apenas uma fase sem importância, que não se fazia sen-
tido fixar lembranças; no segundo, o da criança morta, não se
considerava que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse digna de
lembrança” (p.21). Havia tantas crianças, cuja sobrevivência era
problemática, por isso, para Áries, era uma estratégia para evitar a
dor e o sofrimento das famílias.
Nessa perspectiva o autor destaca, ainda, que foram séculos de altos ín-
dices de mortalidade e de práticas de infanticídio. As crianças eram
jogadas fora e substituídas por outras sem sentimentos, na inten-
ção de conseguir um espécime melhor, mais saudável, mais forte
que correspondesse às expectativas dos pais e de uma sociedade
que estava organizada em torno dessa perspectiva utilitária da in-
fância. O sentimento de amor materno não existia, segundo o au-
tor, como uma referência à afetividade. A família era social e não
sentimental. Nessa passagem, é possível apreender tal afirmação
do autor que diz: “De onde tiraste a ideia, meu irmão, vós que
possuís tantos bens e tendes uma filha – pois não conto a pequena
– de mandar a menina para o convento? A pequena não contava
porque podia desaparecer. ‘Perdi dois ou três filhos pequenos, não
sem tristeza, mas sem desespero’ (p. 99). Assim que a criança su-
perava esse nível da mortalidade, confundia-se com os adultos. As
crianças sadias eram mantidas por questões de necessidade, mas a
mortalidade, de acordo com o autor, também, era algo aceito com
bastante naturalidade. Outra característica da época era entregar a
criança para que outra família a educasse. O retorno para casa se
dava aos sete anos, se sobrevivesse. Nesta idade, estaria apta para
ser inserida na vida da família e no trabalho.
Nesse contexto, as mudanças com relação ao cuidado com a criança, só
vêm ocorrer mais tarde, no século XVII, com a interferência dos
poderes públicos, da escola e com a preocupação da Igreja em não
aceitar passivamente o infanticídio, antes secretamente tolerado.
353 , Goiânia, v. 7, n. 2, p. 351-356, jul./dez. 2009
Preservar e cuidar das crianças seriam um trabalho realizado ex-
clusivamente pelas mulheres, no caso, as amas e parteiras, que agi-
riam como protetoras dos bebês, criando uma nova concepção sobre
a manutenção da vida da criança. Afirma o autor que “se podia
muito bem chegar à santidade durante uma curta vida de menino
de escola e isso sem prodígios excepcionais ou precocidade parti-
cular: ao contrário, através da simples prática das virtudes da in-
fância, da simples preservação da inocência original (p. 96).
No período da Idade média, século XV, segundo o autor, não havia festas
religiosas da infância além das grandes festas sazonais, pagãs. Foi a
partir do século XVI com a primeira comunhão que “iria tornar-se
progressivamente a grande festa religiosa da infância e continuaria
a sê-lo até hoje, mesmo nos lugares em que a prática cristã não é
mais observada com regularidade (p. 97). A primeira comunhão a
partir do século XVI, além de se tornar a primeira festa familiar,
ajudou a registrar a vida da criança para a história, e, sobretudo,
determinar postura de comportamento, evitando a postura per-
versa e imoral. “Não se permitirá a comunhão, às crianças muito
pequenas e especialmente àquelas que forem travessas, levianas a
algum defeito considerável” (p. 97).
Dessa forma, surgiram medidas para salvar as crianças. As condições de
higiene foram melhoradas e a preocupação com a saúde das crian-
ças fez com que os pais não aceitassem perdê-las com naturalida-
de. No século XIV, devido ao grande movimento da religiosidade
cristã, surge a criança mística ou criança anjo. Essa imagem da
criança associada ao Menino Jesus ou a Virgem Maria, e externada
a outras crianças. Esta postura causa consternação e ternura nas
pessoas. “Surgiram às outras infâncias santas: a de São João, o com-
panheiro de jogos de Jesus, a de São Tiago, e a dos filhos das mu-
lheres santas, Maria-Zebedeu e Maria Salomé. Uma iconografia
inteiramente nova se formou assim, multiplicando cenas de crian-
ças e procurando reunir-nos mesmos conjuntos o grupo dessas cri-
anças santas com as suas mães” (p. 20).
A representação da criança mística, aos poucos, vai se transformando, as-
sim como as relações familiares. A mudança cultural, influenciada
por todas as transformações sociais, políticas e econômicas que a
sociedade vem sofrendo, aponta para mudanças no interior da famí-
lia e das relações estabelecidas entre pais e filhos. A criança passa a
, Goiânia, v. 7, n. 2, p. 351-356, jul./dez. 2009 354
ser educada pela própria família, o que fez com que se despertasse
um novo sentimento por ela. Ariès caracteriza esse momento como
o surgimento do sentimento de infância que será constituído por
dois momentos, chamados pelo autor de paparicação e apego.
A partir dos séculos XVII para o XVIII, com o surgimento deste senti-
mento de apego e afeto, a criança passa a ser definida como um
período de ingenuidade e fragilidade, que deve receber todos os
incentivos possíveis para sua felicidade. O início do processo de
mudança, por sua vez, nos fins da Idade Média, tem como marca
o ato de mimar e paparicar as crianças, vistas como meio de entre-
tenimento dos adultos, sobretudo, nas classes elitizadas. A morte
já passa a ser auferida com dor e sofrimento. Já no século XVII, as
perspectivas transitam para o campo da moral, sob forte influên-
cia de um movimento promovido por Igrejas, leis e pelo Estado,
onde a educação ganha terreno: trata-se de um instrumento que
surge para colocar a criança em seu lugar, assim como se fez com
os loucos, as prostitutas e os pobres. Embora com uma função
disciplinadora.
Assim surge a escola, não nasce com uma definição de idade específica
para a criança ingressá-la. Isto porque os referenciais não eram a
educação das crianças. “A escola medieval não era destinadas às
crianças, era uma espécie de escola técnica destinada à instrução
dos clérigos [...]. Ela acolhia da mesma forma e indiferentemente
as crianças, os jovens e os adultos, precoces ou atrasados, ao pé das
cátedras magisterias” (p. 124).
A partir do século XV, e, sobretudo nos séculos XVI e XVII a escola iria
se dedicar com uma educação, inspirando-se em elementos de psi-
cologia. Além do mais, até este período, não havia preocupação
com a educação das meninas. “As meninas não recebiam por assim
dizer nenhuma educação. Nas famílias em que os meninos iam ao
colégio, elas não aprendiam nada” (p. 126).
Para o autor, a diferença essencial da escola da Idade Média em relação
ao período moderna “reside na introdução da disciplina” (p. 127).
Esta era a principal função da escola. “A disciplina escolar teve
origem na disciplina eclesiástica ou religiosa; ela era menos um
instrumento de coerção do que de aperfeiçoamento moral e espiri-
tual” (p. 126). Além de ser necessário para o trabalho comum,
mas também por seu valor intrínseco de edificação da ascese.
355 , Goiânia, v. 7, n. 2, p. 351-356, jul./dez. 2009
Nessa mesma perspectiva, afirma o autor que a intenção da escola era
para proporcionar conhecimentos técnicos e discursivos. Posteri-
ormente, a escola foi se diferenciando pelo viés não mais cronoló-
gico, mas essencialmente sociocultural. Tornando-se uma escola
para a elite e outra para o povo. Provocando, com isso, uma mu-
dança nos hábitos a partir das condições sociais. Passaram-se a atribuir
a escola e, sobretudo á família, aquilo que se atribuía à linhagem.
“A família torna-se a célula social, a base dos estados, o fundamen-
to do poder monárquico” (p. 146). A religião torna-se a tutora
moral, com a função de enobrecer a união conjugal. “Dar um va-
lor espiritual, bem como à família” (p. 146).
Finalmente, a análise feita por (Áries, 1981), destaca-se por fornecer
elementos para se problematizar a infância em uma sociedade que,
desde a introdução da obra, apresenta um processo de afirmação
da ideologia individualista acentuado, e, sobretudo, os fatores
socioeconômicos sempre definidores de privilégios, poder e status
sociais. “A justaposição das desigualdades, outrora natural, tor-
nou-se-lhe intolerável: a repugnância do rico precedeu a vergonha
do pobre” (p. 196).
CLOVIS ECCO
Doutorando em Ciências da Religião na PUC Goiás. Mestre em Ciências da Religião
pela PUC Goiás. Especialista em Psicopedagogia e em Metodologia do Ensino Religi-
oso, adolescências e estrutura, pela PUC-PR (EAD). Graduado em Filosofia e Teologia.
Professor de Ensino Religioso (Marista) e Antropologia e Sociologia (Fac - Unicamps).
Autor do livro Um retrato de homem contemporâneo. E-mail: clovisecco@uol.com.br
, Goiânia, v. 7, n. 2, p. 351-356, jul./dez. 2009 356
Você também pode gostar
- PMV - Vol17 Qualificacoes ValidacoesDocumento726 páginasPMV - Vol17 Qualificacoes ValidacoesRobson CarneiroAinda não há avaliações
- Aborto e Suas Implicações EspirituaisDocumento6 páginasAborto e Suas Implicações EspirituaisuggedaAinda não há avaliações
- Teoria Da Contabilidade - Prova 2Documento2 páginasTeoria Da Contabilidade - Prova 2Lilian Kelli Schweighofer0% (1)
- Aforismo 354 Da Gaia CiênciaDocumento2 páginasAforismo 354 Da Gaia CiênciaJoseRodrigoAinda não há avaliações
- 08 - Hipnose e DepressaoDocumento14 páginas08 - Hipnose e DepressaoGilmar TrentinAinda não há avaliações
- Sintomatologia de Doenças e PlantasDocumento16 páginasSintomatologia de Doenças e PlantasSara JesusAinda não há avaliações
- Os LusitanosDocumento5 páginasOs LusitanosEternal FlameAinda não há avaliações
- SEQUÊNCIA DIDÁTICA 8 AnoDocumento28 páginasSEQUÊNCIA DIDÁTICA 8 AnoSuely CavalcanteAinda não há avaliações
- O Verdadeiro e o Falso CultoDocumento3 páginasO Verdadeiro e o Falso CultoMarcelo LemosAinda não há avaliações
- A Construção Do BonecoDocumento4 páginasA Construção Do Bonecofamiliacezario2359Ainda não há avaliações
- Teste - 2 9anoDocumento7 páginasTeste - 2 9anoCristina Rodrigues100% (2)
- Laureados Com o Nobel de QuímicaDocumento18 páginasLaureados Com o Nobel de QuímicaVanilsonAinda não há avaliações
- Memorize Como Sherlock Holmes Aprenda e Domine A DownloadDocumento3 páginasMemorize Como Sherlock Holmes Aprenda e Domine A DownloadStephanny De MariaAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa de Geografia 8 Ano E-1Documento2 páginasAtividade Avaliativa de Geografia 8 Ano E-1Lucas BoanergesAinda não há avaliações
- Fascículo de RHDocumento42 páginasFascículo de RHJose Piedade100% (1)
- Artigo Completo - V Multidisciplinar - Teoria Da Predestinação - Álaze - Versão FinalDocumento29 páginasArtigo Completo - V Multidisciplinar - Teoria Da Predestinação - Álaze - Versão FinalÁlaze BreviárioAinda não há avaliações
- Apostila NematoidesDocumento57 páginasApostila NematoidesTais SenaAinda não há avaliações
- Aula 2 - Personalidade e Processos Psicológicos Básicos NovoDocumento9 páginasAula 2 - Personalidade e Processos Psicológicos Básicos NovoMichélle Barreto JustusAinda não há avaliações
- LF - UD I - Ass 02 PDFDocumento33 páginasLF - UD I - Ass 02 PDFDavid CunhaAinda não há avaliações
- Pop - Escopo para Validação Da PHB - Rev.02Documento4 páginasPop - Escopo para Validação Da PHB - Rev.02Alexandre dos SantosAinda não há avaliações
- Portfólio Pronto 3º e 4º Logística 2022 - Hiper Growth SuplementosDocumento14 páginasPortfólio Pronto 3º e 4º Logística 2022 - Hiper Growth SuplementosMonitor VeteranoAinda não há avaliações
- Ferreiro 2 PDFDocumento2 páginasFerreiro 2 PDFVitor MarcoAinda não há avaliações
- Exponenciais LogaritmosDocumento31 páginasExponenciais LogaritmosGustavo LapoAinda não há avaliações
- Auto RetratoDocumento54 páginasAuto RetratotaniacmacedoAinda não há avaliações
- Atividade de Logica de ProgramaçãoDocumento6 páginasAtividade de Logica de Programaçãojorge42pedroAinda não há avaliações
- Fontes Ininterruptas de EnergiaDocumento11 páginasFontes Ininterruptas de EnergiaDANIEL ALMEIDAAinda não há avaliações
- SCL 90Documento3 páginasSCL 90Ana MontenegroAinda não há avaliações
- Argamassa Fabrica em SiloDocumento4 páginasArgamassa Fabrica em SiloRaquel MisarelaAinda não há avaliações
- Ata Dedefesa de Trabalho de Conclusão de Curso Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso Defesa de Trabalho de Conclusão de CursoDocumento1 páginaAta Dedefesa de Trabalho de Conclusão de Curso Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso Defesa de Trabalho de Conclusão de CursoNanna Nail DesignerAinda não há avaliações