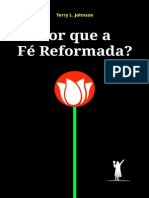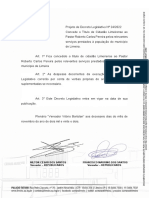Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SILVA Estetica Introducao Ao Conceito
SILVA Estetica Introducao Ao Conceito
Enviado por
Carolina VottoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SILVA Estetica Introducao Ao Conceito
SILVA Estetica Introducao Ao Conceito
Enviado por
Carolina VottoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SILVA, Ursula Rosa da; LORETO, Mari Lúcie da Silva. Elementos de estética.
Pelótas,
RS: EDUCAT, 1995. (Série Temática Universitária, 4)
ESTÉTICA: INTRODUÇÃO AO CONCEITO
O termo Estética tem sua origem etimológica no vocabulário grego clássico, e
também (...), refere-se ao conhecimento sensível, à possibilidade de conhecermos
através dos sentidos, das sensações. (p.15)
A Estética, como disciplina filosófica, surge no século XVIII com a função de
criar um estatuto próprio da arte, ou seja, garantir o reconhecimento da arte como
atividade autônoma e necessária. A tarefa da Estética, como filosofia da arte, é refletir
sobre os critérios de apresentação e representação da obra de arte; o que é Belo; o que é
a arte e para quem se dirige; quem é o artista e como este se relaciona com a obra; quem
é o público, quais são os valores presentes no contexto da produção da obra em cada
época, em cada sociedade, etc. (p.15)
Entretanto, em geral, concebe-se a estética como disciplina filosófica, sendo,
por isso, também chamada de filosofia da arte, entendendo esta como campo de reflexão
sobre a arte e toda a possibilidade de sentidos que sua manifestação possa gerar, tanto
como expressão artística; cultural; social; política; como comunicação; arte como
linguagem; arte como defensora de valores sociais; arte como forma de expressão
subjetiva ou objetiva; individual ou coletiva; determinada ou autônoma; formal ou
histórica, enfim qualquer forma de arte. (p.16)
Usualmente conhecemos o termo estética (...) como sinônimo de beleza,
harmonia. (...), o sentido de estética é atribuído à organização e apresentação
harmoniosa e agradável à percepção. A estética encontra-se, assim, vinculada à idéia de
bom gosto. (p.16)
Até o século XVIII as investigações sobre a arte e o belo ocorriam de forma
separada (...). Principalmente o gosto estava voltado ao discernimento do que seria o
belo, dentro e fora da arte. (...), é Kant (...) quem realmente diferencia o juízo lógico, do
conhecimento racional, de um juízo de gosto ou estético, e identifica arte e belo ...
(p.16)
Em geral, a temática que a Estética desenvolve orienta-se por três caminhos:
trata de como arte e natureza relacionam-se; como o homem relaciona-se com a arte e,
também, qual é a função da arte. (p.17)
Em relação à natureza, pode-se considerar a arte como dependente, definindo a
arte como imitação; por outro lado, pode-se considerar a arte independente da natureza
e, então, a arte seria pura criação, ou, ainda pode-se tratar a arte como construção, sem o
caráter imitativo nem o criativo. (p.17)
A concepção de arte como imitação tem origem no período clássico grego e
dominou o comportamento artístico até o século XVIII, pelo menos. (p.17)
A noção de arte como criação é própria do Romantismo, que luta pela
autonomia da arte em relação aos vínculos da mesma com compromissos sociais de
manifestação de valores.
Por sua vez, a concepção da arte como construção pressupõe que o homem não
imita nem cria livremente, mas produz algo e sua obra acrescenta-se à natureza. Kant
define o caráter construtivo da arte como um “simples jogo, isto é, uma concepção de
per si agradável que não necessita de outro objetivo”, é uma finalidade em si. (p.18)
Quanto ao enfoque da estética que relaciona homem e arte, (...). Nesse sentido,
a arte pode ser tratada como conhecimento, como atividade prática ou como
sensibilidade.
Outra maneira de considerar a produção artística é ver a arte com uma função,
e, em geral, a função atribuída é a de educação ou a de expressão. (p.18)
Como educação, a arte é instrumental, ou seja, um instrumento para atingir um
fim, no caso, educar. (p.18)
A arte como expressão não é determinada por uma finalidade, é um fim em si
mesma, (...). A arte como expressão comunica, mas isto não significa que todos devem
ver do mesmo modo uma obra. As respostas individuais frente à obra são inúmeras e
podem referir-se ou não a uma uniformidade de gostos. (p.18)
A ARTE E O BELO NA VISÃO PLATÔNICA
A teoria platônica fundamenta-se, pois, na apresentação de uma dialética que
faça a passagem do mundo da mera opinião, mundo sensível em que vivemos, para o
mundo do saber essencial, o mundo inteligível. Encontra-se aqui uma das tarefas da
concepção de Belo, ou seja, uma participação nesta dialética. (p.23)
(...) Tudo deve se relacionar numa correspondência harmônica, o Belo está
ligado à medida, à relação justa, à busca da perfeição. A dialética do Belo, em Platão,
não é Estética, como a concebemos contemporaneamente. A beleza visível é o caminho
principal que nos conduz às Idéias, é o acesso à organização justa, à harmonia do
mundo. (p.23)
(...), Para Platão, o Belo é a manifestação evidente das Idéias e a Arte é a
imitação das coisas sensíveis ou dos eventos que se desenvolvem no mundo sensível, é
um “re-produzir”. (p.24)
A própria concepção de arte na Antiguidade nos revela que o mundo deve ser
mostrado na sua perfeição, portanto, o que interessa não é o indivíduo, mas a obra. (...)
Não é objetivo buscar a “criação” própria, mas sim a especialização, só dedicando-se a
uma atividade única é que se pode prática-la cada vez melhor e chegar à perfeição.
Nesse sentido, a obra de arte não é a criação individual, própria do artista, mas cópia, a
inspiração não é do sujeito, mas é divina. (p.24)
Como foi dito, para Platão não há uma inspiração subjetiva, não há um Eu que
se manifesta através da arte, há uma inspiração que vem dos deuses: é estar possuído
pelo entusiasmo. (p.25)
De todas as Idéias, a principal é a Idéia de Bem, na concepção platônica. O
Bem é o iluminador de todas as Idéias ... (p.26)
Platão iguala as Idéias de Bem, Belo, Uno e Ser (...) (p.26)
O Belo é, portanto, uma via de acesso ao mundo das Idéias (...) (p.26)
(...) Se a beleza não existisse, a perfeição, a harmonia e a divindade do mundo
não seriam evidentes. (...) O Belo é a expressão do invisível no visível (p.27-28)
(...) Entretanto, como foi afirmado, o Belo não está diretamente relacionado
com a Arte. A arte é atividade do mundo das sombras, do mundo inferior, daquele que é
mera cópia do Ideal. A Idéia de Belo faz parte do mundo inteligível, perfeito, ela apenas
possibilita dialética dos dois momentos por sua presença, sua participação nos objetos.
(p.28)
A Arte, como atividade do mundo inferior, tem dois aspectos: um positivo, na
medida em que pretende-se perfeita e que conta com a participação da Idéia de Belo,
podendo permitir o acesso ao mundo das Idéias, conforme apresentou-se acima, e,
outro, negativo, conquanto seja apenas aparência ou imitação da imitação. (p.29)
A Arte expressa-se pela imitação, por isso não permite chegar à verdadeira
realidade, pois fica na aparência, na imitação do objeto que está no mundo e já é cópia,
e não na idéia do objeto em si. (p.29)
Na verdade ao procurar a essência e o valor da arte, Platão se preocupa em
determinar seu valor de verdade e este é ambíguo. A Arte, em geral, imita a mera
aparência e o seu falar é um jogo, por isso a Arte se dirige à parte menos nobre da alma
e pode se distanciar da verdade. (p.30)
KANT E A ESTÈTICA
A estética do século XVII caracteriza-se por uma cultura fundamentada na
razão. A arte e o belo estavam vinculados com uma representação exata da verdade, (...),
mas uma verdade baseada na observação e sujeita à comprovação da razão. O homem,
entendido como ser de duas esferas, deveria agir de maneira que a razão predominasse
sobre a sensação. Pois o âmbito da sensibilidade é mutável e instável, ao passo que o
âmbito da razão é estável e possibilita o estabelecimento de leis universais. (p.33)
Assim, a arte também subordina-se a regras, sem avançar os limites, pois está a
serviço da moral, da religião e do Estado. (p.34)
(...) Apesar do potencial inovador, as primeiras estéticas permanecem marcadas
por certo platonismo (p.34)
(...) Kant (1724-1804) faz uma inversão do platonismo. Aparece uma nova
figura da subjetividade finita que leva o nome, em Kant, de reflexão. (p.34)
O artista, o criador, deixa de ser aquele que se limita a descobrir e a exprimir
de maneira agradável as verdades criadas por Deus, mas torna-se aquele que inventa.
(p.34)
A obra de Kant
A obra intitulada Crítica da Razão Pura é, na verdade, uma análise crítica,
através da qual Kant pretende mostrar as possibilidades de conhecimento da Razão e
coloca-las acima e independente da experiência sensorial. O problema proposto na
Crítica da Razão Pua é: o que se pode alcançar com a Razão quando se retira o material
fornecido pela experiência sensível? (p.35)
As verdades universais, para Kant, têm uma necessidade imanente e
independem da experiência. (...) Como esta questão vai além do âmbito da experiência
sensorial, Kant chama de “filosofia transcendental” o conhecimento que se ocupa, não
de objetos, mas dos conceitos a priori dos objetos. Há dois momentos no processo de
transformação do objeto da sensação em produto do pensamento. O primeiro momento
coordena as sensações aplicando-lhes as formas puras de percepção, a este Kant chama
de Estética Transcendental; o segundo momento coordena as percepções aplicando-lhes
as formas de concepção, este momento chama-se Lógica Transcendental ou ciências das
formas do pensamento. Assim, o nosso conhecimento se divide em dois ramos, (...),
conhecimento dos “sentidos” e conhecimento do “intelecto”. (...) Os objetos nos são
“dados” pelos sentidos, ao passo que são “pensados” pelo intelecto. (p.36)
A doutrina do sentido e da sensibilidade é chamada por Kant de “estética”, no
sentido etimológico (...). A Estética Transcendental, portanto, é a doutrina que estuda as
estruturas da sensibilidade, o modo como o homem recebe as sensações e como se
forma o conhecimento sensível. (p.36)
A sensação é a consciência de um estímulo, quando estas várias sensações
unem-se em torno de um objeto no espaço e no tempo, há uma percepção (...) (p.37)
A passagem de sensação para percepção não se dá de forma espontânea; ela é
determinada pelo objetivo da mente. A mente é o agente de seleção e ordenação que
utiliza os modos a priori de percepção para fazer tal classificação. (p.37)
O próximo momento é a passagem da percepção para conceitos ordenados do
pensamento. (p.37)
Sensação é o estímulo desorganizado; percepção é a sensação organizada;
concepção é a percepção organizada; ciência é o conhecimento organizado. (p.37)
A crítica do juízo
A Crítica da Razão Pura ocupou-se da faculdade teórica, ou seja, do aspecto
cognoscitivo da razão humana, concluindo que a esfera por ela dominada é a da
experiência. (...). Já a Crítica da Razão Prática tratou de um tipo diverso de legislação
caracterizada pela liberdade. (p.37-38)
Na Crítica do Juízo, ele se propõe a tarefa de tentar uma mediação entre os dois
mundos (...) (p.38)
(...) A ordem que permite a experiência do Belo não é racional. A determinação
de porque algo é belo é sempre a posteriori (p.38)
A Crítica do Juízo é o meio de conexão entre os dois tipos de filosofia, a
teórica e a prática. (p.39)
Tipos de Juízo
Juízo é a faculdade de assumir o “particular” no “universo”, ou seja, a
faculdade de pensar o particular contido no universal. Com relação ao juízo, podemos
ter, então, duas possibilidades:
1) Podem se dar tanto o “particular” no “universal”. Nesse caso, o
juízo que opera a adoção do particular pelo universal é determinante. Kant
chama esse juízo de “determinante” (p.39)
2) A segunda possibilidade é que pode ser dado só o “particular”,
devendo o “universal” ser procurado (...) É o juízo que deve procurar o
“universal”, sendo, por isso, juízo “reflexivo” (...) (p.40)
No juízo determinante os dados particulares são fornecidos pela sensibilidade.
No juízo reflexivo os dados são constituídos pelos objetos já determinados pelo “juízo
determinante” ou teórico. O universal próprio do juízo reflexivo não é de natureza
lógica. (p.40-41)
(...) O juízo não proporciona regras. (p.41)
Como existe uma raiz comum que funda tanto a razão pura quanto a razão
prática, o julgar é uma convergência do teórico e do prático e, dentro desta capacidade
do Juízo, é o Juízo Estético que reconduz o entendimento à raiz comum, porque não
determina conceitos, mas apresenta um acorde entre o objeto e o entendimento. No
Juízo Estético, é o juízo reflexionante que tem um campo de aplicação maior do que o
juízo determinante, exatamente pela característica de lançar hipóteses sem
conceitualizar. (p.42)
O juízo estético
Na Estética, o Juízo não está a serviço do sistema de conhecimento, está a
serviço de si mesmo, é um juízo reflexionante puro, a representação se faz, pois, sem
conceitos: (p.43)
O predicado Belo não encerra determinação, mas encerra o princípio de
concordância do assunto com faculdades. Algo é Belo na medida em que tem um
princípio a priori que represente algo como Belo, está dotado de necessidade. (p.44)
Diante da existência do juízo estético coloca-se a questão: como estabelecer o
que seja propriamente o Belo que se manifesta no juízo estético?
Em primeiro lugar, Kant afirma que o belo não pode ser uma propriedade
objetiva das coisas, mas algo que nasce da relação entre o objeto e o sujeito. Mais
precisamente, é aquela propriedade que nasce da relação dos objetos comparados com o
nosso sentimento de prazer e que nós atribuímos aos próprios objetos (...) (p.44)
(...) BELO, portanto, é aquilo que agrada segundo o juízo de gosto, o que
implica em quatro características:
A) BELO é o objeto de “prazer sem interesse”
B) Outra característica do BELO é que ele agrada “universalmente
sem conceito”
C) O Belo é uma “conformidade a fins sem fim”
D) “Belo é o que é conhecido sem conceito como objeto de uma
complacência necessária” (p.44, 45 e 46)
Assim, o juízo de gosto ou estético possui um princípio subjetivo que
determina, não através de conceitos, mas de sentimentos, o que agrada ou não. É
pressuposto, pois, que exista um sentido comum para poder existir o juízo estético.
(p.47)
A universalidade tem aqui seu princípio no sujeito e não no objeto (...). Kant
nega a objetividade do belo, o belo não é uma idéia em si, nem uma idéia do objeto; é
uma qualidade que atribuímos ao objeto para exprimir a experiência que fazemos de
certo estado de nossa subjetividade atestada pelo nosso prazer. (p.47)
A arte e o gênio
A arte também é diferenciada do ofício, denominando Kant a primeira de arte
livre e a segunda de arte remunerada. (p.48)
Resulta desta diversidade as concepções de arte mecânica e arte estética. (p.49)
Para Kant, a verdadeira arte bela tem por sua medida somente o juízo reflexivo
e não a sensação, o que nos lembra um pouco Platão. (p.48)
Todavia, “a idéia estética é uma representação da faculdade da imaginação
associada a um conceito dado” ... (p.50)
OBRA DE ARTE E CORPO EM MERLEAU-PONTY
Contemporaneamente houve uma superação da estética idealista: a obra de arte
não é mais a expressão de uma forma ideal ou de uma única e bem definida
personalidade artística, mas é fruto de uma soma de elementos que não são
necessariamente concentrados numa pessoa, num estilo ou numa época. (p.51)
A arte como mímesis
Em geral, o Renascimento italiano, em termos de teoria da arte, fundamenta a
arte como missão de ser imitação direta da realidade. Há uma volta ao ideal de perfeição
da Antiguidade: transfigurar a natureza do belo. (p.52)
A arte contemporânea é uma história das rupturas, sua estrutura de
funcionamento consiste em estabelecer, através do corte com o passado, novos rumos.
Entretanto, ao mesmo tempo que rompe, necessita estabelecer sua própria história.
(p.53)
A crítica da arte
Do Renascimento ao século XVII o que é relevante na análise da obra são
princípios de base racionalista, onde o conjunto de regras (cânones) da expressão
artística são a priori, antecedem à espontaneidade criativa do autor. (...) No século
XVIII, querendo fugir de um fundamento dogmático e buscar o científico, o juízo
crítico é fundamentado, cientificamente, sobre o valor das coisas. Afirma-se a
identidade entre estética e história da arte e fala-se do desenvolvimento da arte como
“progresso do espírito” (Hegel), uma espécie de efetivação dos valores da sociedade.
(p.53-54)
Tanto o fundamento formalista quanto o sociológico-positivista pretendiam
uma objetividade na relação do sujeito com o objeto artístico. Esta objetividade implica
um distanciamento entre artista e obra, bem como obra e público, na medida em que
algo determina a expressão ou a interpretação, resultando numa relação linear. (p.55)
A filosofia de Merleau-Ponty surge como uma crítica, exatamente, às
abordagens da realidade que abandonaram a relação de interação entre homem e mundo,
entre sujeito existente e mundo contingente, para fundar um conhecimento objetivo do
mundo, esquecendo, assim, o mistério que envolve a vida perceptiva e caindo num
sistema fechado de pensamento. (p.55-56)
A experiência perceptiva e a expressão
Merleau-Ponty insiste numa volta à experiência perceptiva, pois, segundo ele, a
percepção real e alógica vivida, com as quais se instaura nosso acesso ao mundo, foram
esquecidas pelo pensamento tradicional, que analisa o comportamento humano. (p.56)
(...) A arte toma sentido na filosofia deste autor como forma de interação do
homem com o mundo, com os outros e, também, como fonte de atribuição de
significado, percepção e expressão humana. (p.57)
Merleau-Ponty reelabora a noção de estética através das concepções de
reversibilidade, intencionalidade, recriando espaço e tempo, estabelecendo a
possibilidade do conhecimento e da expressão por meio de um LOGOS do mundo
sensível. (p.59)
Contrariamente a noção clássica de arte como imitação da aparência e da
natureza, em Merleau-Ponty encontra-se a arte como uma das atitudes que expressam,
de forma autêntica, a experiência originária do ser no mundo. (p.60)
A experiência estética nos mostra que há um dentro e um fora simultâneos no
processo do conhecer. (p.61)
(...) O que marca o fenômeno da relação estética não é a unilateralidade da
influência do objeto estético sobre o sujeito, e sim a circularidade: artista – obra –
espectador – artista – obra. (p.62)
A expressão artística é a manifestação da intencionalidade do corpo no mundo
da vida. (p.62)
Você também pode gostar
- Edir Macedo - Orixás, Caboclos e GuiasDocumento117 páginasEdir Macedo - Orixás, Caboclos e Guiasdanilosen67% (3)
- Ajé Saluga o Encanto Da RiquezaDocumento2 páginasAjé Saluga o Encanto Da Riquezaddeviller736467% (6)
- DISCIPULADO DINAMICO - Caderno 1Documento25 páginasDISCIPULADO DINAMICO - Caderno 1Jose Fernando RodriguesAinda não há avaliações
- SHEOLOGIADocumento24 páginasSHEOLOGIAreuell2001Ainda não há avaliações
- Exus 120329104410 Phpapp02Documento84 páginasExus 120329104410 Phpapp02Fenando FilgeiraAinda não há avaliações
- Por Que A Fe Reformada Terry JohnsonDocumento20 páginasPor Que A Fe Reformada Terry JohnsonOseas Gois OliveiraAinda não há avaliações
- Livro Ebook A Seria Presenca de DeusDocumento26 páginasLivro Ebook A Seria Presenca de DeusAriana C osAinda não há avaliações
- Resenha de "A Perola", de John SteinbeckDocumento4 páginasResenha de "A Perola", de John SteinbeckElisaine Silva100% (2)
- MikaWaltari O RomanoDocumento726 páginasMikaWaltari O RomanoKaty De Mattos Frisvold100% (2)
- Agentes PolinizadoresDocumento1 páginaAgentes PolinizadoresMichel CharlesAinda não há avaliações
- Projeto Cearte Cabedelo Danças PopularesDocumento10 páginasProjeto Cearte Cabedelo Danças PopularesMichel CharlesAinda não há avaliações
- Modelo Plano de Aula 6 AnoDocumento2 páginasModelo Plano de Aula 6 AnoMichel Charles100% (1)
- ContrachequeDocumento1 páginaContrachequeMichel CharlesAinda não há avaliações
- Verde Que Te Quero VerdeDocumento2 páginasVerde Que Te Quero VerdeMichel CharlesAinda não há avaliações
- CRONOLOGIA PalestinaDocumento2 páginasCRONOLOGIA PalestinaMarcia RezendeAinda não há avaliações
- Como É Praticada A Medicina Ayurveda Na ÍndiaDocumento24 páginasComo É Praticada A Medicina Ayurveda Na ÍndiacmpmAinda não há avaliações
- Como Jogar Um Xadrez DinamicoDocumento8 páginasComo Jogar Um Xadrez DinamicoGlabio PereiraAinda não há avaliações
- 02-O Antídoto para Quem Se Sente PerdidoDocumento47 páginas02-O Antídoto para Quem Se Sente PerdidoHeber Dos SantosAinda não há avaliações
- LV Abraham Hicks LOA 5 Lotus ViajanteDocumento16 páginasLV Abraham Hicks LOA 5 Lotus ViajanteJosileide De Castro SantanaAinda não há avaliações
- Momento Mariano Com CasaisDocumento4 páginasMomento Mariano Com Casaisleuqueres5185100% (1)
- Corinho Nosso Deus É SoberanoDocumento3 páginasCorinho Nosso Deus É SoberanoIsaque Batista Palma LimaAinda não há avaliações
- Livrinho Do Batismo PDFDocumento54 páginasLivrinho Do Batismo PDFmonica gomesAinda não há avaliações
- Projeto de Decreto Legislativo 24 - 2022 - Arquivo 1Documento6 páginasProjeto de Decreto Legislativo 24 - 2022 - Arquivo 1Guto SchiavettoAinda não há avaliações
- Lembrança Da Crisma 2008Documento2 páginasLembrança Da Crisma 2008Rafael RibeiroAinda não há avaliações
- Bíblia Como Palavra de DeusDocumento14 páginasBíblia Como Palavra de DeusIsac AlvesAinda não há avaliações
- A Comunicação Com Os MortosDocumento4 páginasA Comunicação Com Os Mortosheitor25Ainda não há avaliações
- Tcc-Movimentohippie Gabriela VarellaDocumento23 páginasTcc-Movimentohippie Gabriela VarellaPlinio SilvaAinda não há avaliações
- Renascimento e Tartarugas NinjasDocumento6 páginasRenascimento e Tartarugas NinjasSuame MedeirosAinda não há avaliações
- Livro Peregrinação 2017Documento170 páginasLivro Peregrinação 2017Jorge Nobre100% (1)
- A Missa - Ano B - Nº 10 - Epifania Do Senhor - 03.01.21Documento4 páginasA Missa - Ano B - Nº 10 - Epifania Do Senhor - 03.01.21Leo BraboAinda não há avaliações
- Salve Santa ImagemDocumento1 páginaSalve Santa ImagemMaria Julia Lopes100% (1)
- Resumo: O Que Aconteceu Na Educação Argentina. Adriana PuiggrosDocumento6 páginasResumo: O Que Aconteceu Na Educação Argentina. Adriana PuiggrosScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Cálculo G17 - Perfect WorldDocumento6 páginasCálculo G17 - Perfect WorldpqdtrafaAinda não há avaliações
- Apostila de Estudo - Docx - Documentos GoogleDocumento34 páginasApostila de Estudo - Docx - Documentos GoogleFelipe AlmeidaAinda não há avaliações
- 07 - Epístolas Paulinas Colossenses e FilemomDocumento25 páginas07 - Epístolas Paulinas Colossenses e FilemomJuciara PradoAinda não há avaliações