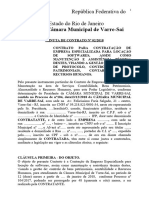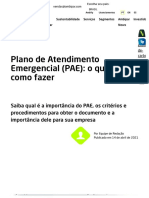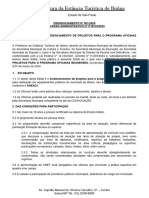Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Conceito de Convenções Internacionais PDF
Conceito de Convenções Internacionais PDF
Enviado por
BaptistaanaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Conceito de Convenções Internacionais PDF
Conceito de Convenções Internacionais PDF
Enviado por
BaptistaanaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Convenções Internacionais
Conceito
I. Importância
As convenções constituem um instrumento cuja importância vem aumentando ao longo dos tempos. Se
até meados do século XIX apenas eram conhecidas cerca de 8.000 convenções, a verdade é que após a II
Guerra Mundial foram recenseadas mais de 50.000, ou seja, são concluídas mais de 1.000 convenções por
ano. O aumento do número tem várias justificações: desde logo em resultado do esforço de codificação que
vem sendo desenvolvido desde então; por outro lado verifica-se ainda o surgimento de inúmeras convenções
Rui Miguel Marrana – Direito Internacional Público – Sumários Desenvolvidos 2003-2004
resultantes da actividade das Organizações Internacionais, finalmente são ainda de salientar os novos âmbitos
do Direito Internacional que se têm desenvolvido essencialmente com base em tratados, como seja a coo-
peração internacional e a integração económica.
II. Noção
Pode avançar-se a seguinte definição de convenção internacional (que nos permitirá analisar separada-
mente os seus elementos essenciais): convenção internacional é um acordo de vontades, em forma escrita,
entre sujeitos de Direito Internacional, agindo nessa qualidade, regido pelo Direito Internacional, de
que resulta a produção de efeitos jurídicos, qualquer que seja a sua denominação.
Vejamos cada elemento separadamente (sendo que colocaremos entre parêntesis os elementos não es-
senciais à noção de convenção):
a) acordo de vontades
Toda a convenção implica um acto voluntário, um acordo, nos termos da teoria geral do negócio jurídico
(cujos princípios por isso se lhe aplicarão subsidiariamente).
Conforme veremos (cfr. Infra - validade das convenções) a afectação - viciação - do carácter voluntário
conduz à nulidade.
As vontades não terão de se manifestar em simultâneo ou paralelo, podendo ocorrer em momentos dife-
rentes (o que constitui aliás uma prática corrente, na medida em que a vinculação de cada Estado surge com
frequência em momentos diferentes, maxime por força da necessidade de ratificação);
Por outro lado, o acordo de vontades exprime-se com frequência através de mais de um instrumento: ao
texto do próprio acordo, acresce normalmente o instrumento que formaliza a vinculação.
b) (em forma escrita)
O art.º 2.º/1 a) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 (CV) refere a forma escrita
como elemento da noção de tratado para efeitos da mesma convenção. Atente-se todavia ao disposto no art.º
3.º que refere (entre outros aspectos) que a falta de forma não afecta a validade nem exclui a aplicação das re-
gras da CV às quais as partes estariam submetidas independentemente desta. O que significa que se lhes apli-
cam as regras acolhidas na CV que têm um caracter consuetudinário (que eram portanto, obrigatórias antes e
independentemente de serem acolhidas aquando da codificação da matéria). A jurisprudência vem-no aliás
confirmando (cfr. Ac. de 1931, Tráfego ferroviário entre a Lituânia e a Polónia, no qual o Tribunal Permanente de
Justiça Internacional - TPJI - admitiu a apreciação da questão ao abrigo de um acordo verbal).
Conceito de Convenção Internacional - 1
c) entre sujeitos de Direito Internacional
Trata-se de um requisito aparentemente intransponível: apenas existem convenções - tratados, na expres-
são da CV - entre sujeitos de direito internacional. A CV a que nos vimos referindo, apenas se aplica às con-
venções entre Estados soberanos, mas existe um outra CV que regula os tratados entre Estados e Organiza-
ções Internacionais. As convenções entre outros sujeitos de Direito Internacional não deixam de assumir essa
qualidade ou de ser válidas pelo facto de não se lhes aplicarem as referidas CV. Acontece apenas que, nos
termos do art.º 3.º a que já fizemos referência, apenas se lhes aplicarão as regras consuetudinárias da matéria.
Æ A determinação dos sujeitos
A primeira questão a resolver a propósito deste requisito é portanto a de saber quem são os sujeitos de
direito internacional, já que só estes (e apenas entre estes se) podem celebrar convenções.
A resposta definitiva para esta questão deverá buscar-se aquando no tratamento da questão dos sujeitos
(que sucederá à presente, relativa às fontes). No entanto, a abordagem do problema ali e neste momento não
é totalmente equivalente pelo que se justifica uma referência ainda que sumária.
Tomando como ponto de partida o facto de a celebração de convenções internacionais apenas ocorrer
entre sujeitos, verifica-se na prática vai assumir uma particular importância a questão do reconhecimento dos
mesmos e em especial dos Estados.
A prática actual vai no sentido do reconhecimento implícito, por via da admissão na Assembleia-geral das
Nações Unidas, ou da adesão ao Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. Sendo certo que qualquer um
destes actos torna praticamente inquestionável a constatação generalizada da qualidade estadual, o problema
põe-se desde logo em relação a entidades que conseguem ser admitidas – com a mesma qualidade estadual –
em algumas agências especializadas das Nações Unidas, nas quais não existe direito a veto na mesma admis-
são, pelo que a mera maioria dos estados pode – e muitas vezes consegue – forçar esse reconhecimento em
situações que não são claras. E coloca-se com maior acuidade em relação a entidades que nem sequer a quali-
dade de membros de uma agência detêm, assumindo-se não obstante como estados e nessa qualidade pre-
tendendo vincular-se.
Perante tais dificuldades subsistem em termos internacionais1, dois critérios:
- o critério de Viena, nos termos do qual apenas se consideram Estados as entidades admitidas na AG,
ou que tenham aderido ao ETIJ ou admitidas em alguma agência especializada;
- o critério da prática da Assembleia Geral, que implica uma indicação clara deste órgão no sentido de
considerar expressamente como Estados para efeitos de vinculação convencional, determinadas enti-
dades que não preenchem os requisitos do critério de Viena.
Æ o regime dos acordos concluídos entre Estados e entes privados estrangeiros
Levanta-se em segundo lugar, o problema dos quase-tratados, ou seja, dos acordos (contratos) entre Esta-
dos e pessoas (colectivas) privadas estrangeiras.
Tradicionalmente considerava-se que estes contratos2 estavam abrangidos pelo Direito Administrativo
(equiparando-os portanto aos contratos celebrados entre as pessoas colectivas de Direito Público e os nacio-
nais - pessoas individuais ou colectivas).
A situação viria a sofrer todavia alguma evolução no pós guerra. Desde logo, porque a imunidade de
soberania (invocada pelos Estados na matéria), começará a ser progressivamente posta em causa, e por outro
1Cfr. UN Office of Legal Affairs, Summary of the Practice of the Secretary-General as Depository of Multilateral Treaties, par 73-83.
2V. caso dos empréstimos sérvios e brasileiros, em cujo dictum de 1929, o TPJI afirmou que todo o contrato que não seja um contrato entre Estados
enquanto sujeitos de direito internacional, funda-se no direito nacional. Esta visão dual (que de alguma forma obriga os contratos a caracterizarem-se
ou como convenções ou como contratos de natureza interna) conhece ainda hoje afloramentos (foi p. ex. defendia pela Noruega no caso
dos empréstimos noruegueses, apreciado pelo TIJ em 1957, e conhece um acolhimento assinalável nos países em vias de desenvolvimento.
Conceito de Convenção Internacional - 2
lado começariam a ser cada vez mais sentidas como insuficientes as garantidas dadas aos privados pelas or-
dens jurídicas nacionais. A situação que despoletou essa evolução foi a dos contratos de investimento inter-
nacional, muito frequentes com o desenvolvimento das relações económicas internacionais, no pós guerra.
Estes contratos, envolvem normalmente empresas multinacionais que efectuam investimentos avultados e
que viram em muitas situações, os seus interesses ameaçados por actos de nacionalização dos seus bens, sem
garantias de uma justa reparação. Depressa os riscos de nacionalização levaram a que essas empresas se absti-
vessem de efectuar tais investimentos, com grande prejuízo para os países menos desenvolvidos, cujas eco-
nomias debilitadas, se mostravam necessitadas dos afluxos de capitais e das transferências de tecnologia de-
correntes desses investimentos. Daí que tenha surgido, sob os auspícios do Banco Internacional de Recons-
trução e Desenvolvimento (primeira instituição daquilo que hoje em dia, se designa o grupo do Banco Mun-
dial) a Convenção de Washington de 1965 ou Convenção para a resolução dos diferendos relativos aos investimentos3: a ade-
são a esta pela esmagadora maioria dos Estados4 garante aos investidores um regime de protecção internacio-
nal específico que afasta a possibilidade de nacionalização, ou outra medida abusiva, levada a cabo pelas auto-
ridades nacionais, já que em caso de litígio, intervirá uma entidade arbitral (o International Centre for Settlement of
Investment Disputes) que decidirá por aplicação de regras internacionais5. Na sequência deste instrumento, ou-
tros surgiriam - nomeadamente no quadro actual do GATT/OMC, protegendo, por via convencional inter-
nacional, os investimentos internacionais6.
Nestes termos, estes contratos de investimento – os quase-tratados - já não se situam exclusivamente ao
abrigo do direito interno tendo sido objecto de um processo de internacionalização. Não parece todavia que
devam ou possam considerar-se tratados (conforme vem sendo aliás reconhecido pelas decisões de tribunais
arbitrais sobre a matéria: cfr. Ac. Aramco vs. Indonésia, de 1963 e Texaco-Calasiatic vs, Líbia, de 1977).
O mesmo acontece com os acordos entre sujeitos de Direito Internacional e as chamadas ONG
(Organizações não-governamentais) ou qualquer outro tipo de associações de direito privado. A valorização
internacional destes sujeitos (recorde-se que as ONG em certas circunstâncias, podem ser registadas junto do
Conselho económico e social das NU), mesmo quando permita a sua eventual qualificação como sujeitos da
Direito Internacional (com capacidade derivada, funcional e relativa), não engloba em termos gerais, a capa-
cidade para celebrarem convenções internacionais.
Importará manter presente, a terminar que, conforme veremos posteriormente em sede de validade das
convenções, a falta de qualidade das partes (o facto de uma delas não ser sujeito de Direito Internacional)
não afecta a validade dos actos convencionais (como referimos supra, aliás) os quais poderão manter o seu
valor a outro título (enquanto actos de outra natureza, que não convenções internacionais propriamente di-
tas), conforme resulta do art.º 3.º CV.
d) agindo nessa qualidade
Os sujeitos de Direito Internacional podem estabelecer entre si acordos sem que todavia ajam nessa quali-
dade (de sujeitos internacionais): se um Estado por exemplo concorre a uma herança num país estrangeiro
enquanto herdeiro ou sucessor legítimo de um seu nacional não surge enquanto sujeito de direito inter-
3 No original em inglês The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. A assinatura desta
convenção foi aberta em 18 de Março e entrou em vigor em 14.1.0.1966 ( http://www.worldbank.org/icsid/basicdoc/basicdoc.htm), e
entrou em vigor em Portugal em 1.8.1984 (cfr. Aviso do MNE de 4.9.1984 que torna público o depósito do instrumento de ratificação) e
foi publicada com o acto de aprovação (V. Decreto do govº 15/84 de 3/4 que inclui a versão em língua portuguesa).
4 em 7 de Agosto de 2001 a convenção contava com a assinatura de 150 Estados, 136 dos quais definitivamente vinculados. Ali se in-
cluem todos os países da OCDE com excepção do Canadá, México e Polónia e todos os Estados-membros da UE.
5 Os mecanismos instituídos pela Convenção de Washington integram nos nossos dias uma infra-estrutura central no comércio
internacional, para eles remetendo diversas convenções. Veja-se p. ex. o Acordo entre o governo da República Portuguesa e o Governo da República
Tunisina para a promoção e a protecção dos investimentos, assinado em Tunis em 11 de Maio de 1992 e publicado no DR de 17.11.1994, cujo artº
8º manifesta a aceitação expressa das partes a submeterem qualquer diferendo ao Centro Internacional para o Regulamento dos Dife-
rendos Relativos aos Investimentos [International Centre for Settlement of Investment Disputes], em conformidade com a referida convenção de
Washington.
6 V. tb. a publicação recente - 27 de Junho de 2000 - da OCDE, Guidelines for Multinational Enterprises, que estabelece uma série de
princípios de conduta na matéria
Conceito de Convenção Internacional - 3
nacional mas enquanto privado. Da mesma forma, se pretende realizar um contrato de compra e venda com
outro Estado, com intuitos puramente comerciais, a intervenção de ambos ocorre em princípio na qualidade
de particulares, não se tratando por isso de convenções, mas de puros contratos, sujeitos ao direito privado.
Para que exista uma convenção internacional é pois necessário que os sujeitos de Direito Internacional
ajam nessa qualidade.
e) de que resulta a produção de efeitos jurídicos vinculativos
Os sujeitos de Direito Internacional podem, agindo nessa qualidade, concluir acordos aos quais não
pretendem atribuir efeitos vinculativos7 (imediatos): é o caso dos chamados actos concertados não con-
vencionais , tais como as declarações políticas, os gentlemen agreement, as comunicações, os modus vivendi, os
códigos de conduta, etc.. Apenas existem convenções quando os sujeitos pretendem que o acordo de
vontades seja juridicamente vinculativo, o que não se verifica em nenhuma das situações referidas.
f) (regido - ainda que não exclusivamente - pelo Direito Internacional)
A exigência é redundante (se surgir a par dos elementos anteriormente referidos): todo o acordo de
vontades entre sujeitos de direito internacional agindo nessa qualidade de que resulta a produção de efeitos
jurídicos, é necessariamente regido pelo Direito Internacional. A exigência é apenas importante quando vista
isoladamente: não há convenções internacionais que não sejam regidas pelo Direito Internacional8.
g) (qualquer que seja a sua denominação)
Trata-se de uma característica corrente dos negócios jurídicos: a sua qualidade depende da verificação dos
requisitos próprios e não da qualificação que lhes é dada. No âmbito convencional abundam as designações,
que nem sempre são utilizadas de forma idêntica, tratando-se no entanto e em todos os casos de convenções
internacionais. Justificar-se-á um referência às seguintes designações (que as convenções adoptam para si
mesmas):
- Tratado: é a designação tradicional e mais corrente. Utilizada de forma abrangente na terminologia jurí-
dica (como é o caso da CV), pode também surgir para referir tratados solenes por oposição aos acordos em
forma simplificada (é essa a acepção em que o termo é utilizado na nossa Constituição);
- Acordo: designação correntemente utilizada para acordos em forma simplificada mas que surge também
em tratados solenes (normalmente no âmbito económico).
- Convenção: designação frequentemente utilizada para os tratados concluídos sob a égide de Organiza-
ções Internacionais (cfr. a Convenção de Viena, concluída sob a égide das Nações Unidas, ou a Convenção Euro-
peia de salvaguarda dos Direitos do Homem, concluída sob a égide do Conselho da Europa). Pode também utilizar-
se em termos abrangentes, na linguagem corrente para englobar tratados solenes e acordos em forma
simplificada, tal como vem acontecendo connosco, ou se pode verificar na terminologia da CRP.
7 Com frequência – as mais das vezes, reconheça-se - a doutrina faz equivaler a expressão ‘efeitos jurídicos’ a ‘efeitos (jurídicos)
vinculativos’, o que não se nos afigura correcto. Assim, por exemplo no caso em apreço (da soft law), é manifesto que se trata de actos que
não pretendem vincular as partes a uma obrigação juridicamente exigível. Mas é também pacífico que esses actos são juridicamente
relevantes, na medida em que produzem (outros) efeitos (que não a vinculação): desde logo, as expectativas criadas autorizam determi-
nadas condutas (nomeadamente a invocação do estoppel); por outro lado, a solicitação do seu cumprimento nunca configura uma ingerên-
cia ou acto inamistoso; reconhece-se ainda que estes actos neutralizam a aplicação de eventuais regras anteriores nas relações mútuas e
finalmente, pode também referir-se que com frequência, contribuem para a formação de convenções.
Diversamente, por exemplo no caso dos actos unilaterais (que de alguma forma são o inverso dos actos concertados, já que, não re-
sultam de um acordo – são unilaterais – mas visam a produção de efeitos vinculativos) a doutrina tende a bastar-se na sua definição com a
referência à produção de efeitos jurídicos (cfr. por todos, a definição que corre nos trabalhos da CDI na matéria – pag. 149 da versão
francesa do Reltório da CDI de 2000).
8 A referência tem a haver com a abordagem que inicialmente se fazia da questão, nomeadamente no âmbito dos contratos
internacionais. Assim, no dictum do TPJI de 1929 anteriormente referido (na nota 2 supra, relativamente aos empréstimos sérvios e brasileiros)
esta instância distingue a natureza internacional ou interna segundo o ordenamento aplicável. A abordagem não nos parece relevante na
identificação dos elementos essenciais das convenções internacionais, já que a aplicação dos direito internacional decorre de se tratar de
uma convenção e não o contrário.
Conceito de Convenção Internacional - 4
- Carta, Pacto e Constituição: designações utilizadas para convenções que criam organizações internaci-
onais (cfr. respectivamente a Carta das Nações Unidas, o Pacto da Sociedade das Nações e a Constituição da Organiza-
ção Internacional do Trabalho).
- Acto/Acta: designação muito utilizada para referir convenções resultantes de conferências intergover-
namentais que tratam matéria limitadas (Acta geral da Conferência de Berlim - 1885 - ou de Helsínquia - 1975, Acto
geral de Arbitragem, Acto Único Europeu de 1985);
- Estatuto: designação utilizada para as convenções que regulam a actividade dos tribunais internacionais
(cfr. Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, Estatuto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias).
- Protocolo: designações frequentemente utilizadas para referir convenções que desenvolvem au-
tonomamente o regime de outras convenções, surgindo com frequência anexadas a estas (cfr. os numerosos
protocolos que surgem em anexos aos diversos tratados comunitários).
III. Bibliografia
André GONÇALVES PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público, 3ª Ed. Almedina, Coimbra, 1993, pp.
171-181.
NGUYEN QUOC Dinh et. al., Droit International Public, 5ª Ed. L.G.D.J., Paris, 1994, pp. 117-121 e 678-688.
Conceito de Convenção Internacional - 5
Você também pode gostar
- Fiscalização e Gestão de Contratos de TIC - Exercício Avaliativo - Módulo 2 - RespostaDocumento2 páginasFiscalização e Gestão de Contratos de TIC - Exercício Avaliativo - Módulo 2 - RespostaLuide Mercuri100% (2)
- Caso 04. ContestaçãoDocumento4 páginasCaso 04. ContestaçãoLi Oliver50% (2)
- Lei Municipal 4379-2021 - Regularização de ImóveisDocumento8 páginasLei Municipal 4379-2021 - Regularização de ImóveisÍtallo CamposAinda não há avaliações
- Contrato ProteseDocumento2 páginasContrato ProteseJuliana Paloma Miozzo100% (6)
- Rubricas Sindicato: - Empresa: - Página 1 de 21Documento21 páginasRubricas Sindicato: - Empresa: - Página 1 de 21guicordovaAinda não há avaliações
- Tabela de Guarda de DocumentosDocumento8 páginasTabela de Guarda de DocumentosFelipe ViannaAinda não há avaliações
- Glossário Do Mercado ImobiliárioDocumento54 páginasGlossário Do Mercado ImobiliárioWelderson PereiraAinda não há avaliações
- Ação RescisóriaDocumento19 páginasAção Rescisóriajosefreitassud4574Ainda não há avaliações
- MINUTA CONTRATO SOFTWARES 2018 CorrigidoDocumento3 páginasMINUTA CONTRATO SOFTWARES 2018 CorrigidoronolascoAinda não há avaliações
- Contrato ConsignaçãoDocumento4 páginasContrato ConsignaçãoSergioHerculanoAinda não há avaliações
- CC-MJVS-CBM06-3-M-VOR-001 - 00 - REESTRUTURAÇÃO CBM06 - FASE 01 - Comentários PDFDocumento21 páginasCC-MJVS-CBM06-3-M-VOR-001 - 00 - REESTRUTURAÇÃO CBM06 - FASE 01 - Comentários PDFCássio Alves100% (1)
- Estudo Template Inventario Dados PessoaisDocumento33 páginasEstudo Template Inventario Dados PessoaisGilberto LimaAinda não há avaliações
- Modelos DeclaraçõesDocumento16 páginasModelos DeclaraçõesAndrade GiovanneAinda não há avaliações
- TJRO - Gabarito - DiscursivaDocumento3 páginasTJRO - Gabarito - DiscursivaCabralianBrazilAinda não há avaliações
- Contrato em Especie Resp CivilDocumento41 páginasContrato em Especie Resp CivilViniscio CarvalhoAinda não há avaliações
- Plano de Atendimento Emergencial (PAE) - o Que É e Como FazerDocumento15 páginasPlano de Atendimento Emergencial (PAE) - o Que É e Como FazerMARCELA ALMEIDAAinda não há avaliações
- Edital Transferência Externa Ceuma 2017.1 Vemproceuma ImperatrizDocumento5 páginasEdital Transferência Externa Ceuma 2017.1 Vemproceuma ImperatrizJonesFerreiraAinda não há avaliações
- Contrato Locção de BecaDocumento2 páginasContrato Locção de BecastudiofotograficoimagemAinda não há avaliações
- Edital 12 2023 PinhaisDocumento21 páginasEdital 12 2023 Pinhaiscarlos willamyAinda não há avaliações
- Alexandra FaustinoDocumento240 páginasAlexandra Faustinojorge_gonçalves_17Ainda não há avaliações
- Manual Pvip 1000 01.16Documento36 páginasManual Pvip 1000 01.16Junior de ArrudaAinda não há avaliações
- Aulas de Direito Do Trabalho e Segurança Social 2018Documento71 páginasAulas de Direito Do Trabalho e Segurança Social 2018Catarino SilvaAinda não há avaliações
- Contrato de LocaçãoDocumento2 páginasContrato de LocaçãoManoel VieiraAinda não há avaliações
- Contrato de Consultoria e Assessoria Jurídica - para Associação de Proteção VeícularDocumento4 páginasContrato de Consultoria e Assessoria Jurídica - para Associação de Proteção VeícularGustavo TeixeiraAinda não há avaliações
- Condomínios em Geral e Incorporações Imobiliárias - Ivens Henrique Hübert (212 Pág.) PDFDocumento212 páginasCondomínios em Geral e Incorporações Imobiliárias - Ivens Henrique Hübert (212 Pág.) PDFRosangela CarvalhoAinda não há avaliações
- Edital Oficinas 2024Documento19 páginasEdital Oficinas 2024Caroline SilvaAinda não há avaliações
- Direito Civil PDFDocumento5 páginasDireito Civil PDFMari PozzoloAinda não há avaliações
- Edital Concurso MP SP Promotor PDFDocumento5 páginasEdital Concurso MP SP Promotor PDFSérgio CalixtoAinda não há avaliações
- Aula 2 - FUNÇÃO E A ORIGEM DO GERENCIAMENTO DE RISCOSDocumento6 páginasAula 2 - FUNÇÃO E A ORIGEM DO GERENCIAMENTO DE RISCOSRobson RamosAinda não há avaliações
- Questões OabDocumento7 páginasQuestões OabCanaa Diesel33% (3)