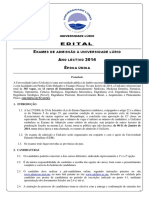Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ALMEIDA - A Propósito de Um Documentário Experimental PDF
Enviado por
Rafael de AlmeidaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ALMEIDA - A Propósito de Um Documentário Experimental PDF
Enviado por
Rafael de AlmeidaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A propósito de um
documentário experimental
por Rafael de Almeida¹
Resumo Realizar um levantamento breve e pontual de obras que consideramos precur-
A partir da análise e levan-
tamento de obras que consi-
soras do que na contemporaneidade tendemos a nomear como documentário
deramos precursoras do que experimental ou documentário de invenção é o que pretendemos. Tal esforço possui
denominamos documentário o intuito de trazer, a partir dos filmes percorridos, uma noção um pouco mais
experimental ou documentá-
concreta, mesmo que não estanque, e posteriormente aplicável do que viria
rio de invenção, pretendemos
contribuir para a formulação a ser essa vertente experimental do documentário. Trata-se de uma noção
de uma noção mais concreta imprescindível para uma reflexão sobre o documentário como um gênero capaz
desses termos, posterior- de possibilitar a produção de discursos reflexivos, subjetivos e criativos que
mente aplicáveis em outras
instaurem novas relações com a realidade.
pesquisas.
palavras-chave: cinema ex- Pensamento precursor
perimental; cinema docu-
mentário; documentário ex-
perimental ou de invenção.
Acreditamos que as origens da vertente do documentário a que esse trabalho
se dedica estão justamente nos pioneiros cineastas russos, de maneira especial
em Vertov e sua concepção de cine-olho. Apesar da tentativa de conceituação
do domínio documental ter ocorrido somente em meados de 1930, já na década
anterior o teórico e cineasta russo Dziga Vertov havia desenvolvido o conceito
de cine-olho – que se encontra intimamente ligado à maneira como compreen-
demos o domínio documental –, fazendo-nos percebê-lo como um dos fundado-
[1] Rafael de Almeida é mes- res do gênero.
trando no Programa de Pós-
Graduação em Multimeios O principal, o essencial é a cine-sensação do mundo.
da Universidade Estadual de Assim, como ponto de partida, defendemos a utilização
Campinas e professor de Au-
da câmera como cine-olho, muito mais aperfeiçoada do
diovisual na Faculdade de Co-
municação e Biblioteconomia que o olho humano, para explorar o caos dos fenômenos
da Universidade Federal de visuais que preenchem o espaço. O cine-olho vive e se
Goiás. Como realizador audio- move no tempo e no espaço, ao mesmo tempo em que
visual, dirigiu alguns curtas, colhe e fixa impressões de modo totalmente diverso da-
entre os quais destaca “Impej”
quele do olho humano. (VERTOV, 1983: 253).
(2007) e “A saudade é um filme
sem fim” (2009). Atua como
diretor, produtor e curador no O método do cine-olho, proposto por Vertov, possuía como objetivo a
MIAU (Mostra Independente verdade. O cine-olho era o meio para o alcance dessa verdade, que ele definiu
do Audiovisual Universitário),
festival de cinema sediado em como seu princípio: “cinema-verdade” (kinopravda). Segundo tal princípio era
Goiânia, desde 2008. preciso que a realidade fosse captada de maneira totalmente espontânea, era
34 Revista Sala 206 Outubro 2011
preciso tomar “a vida de improviso”. Ou seja, ele era contrário a qualquer tipo
de intervenção durante as filmagens, utilizando, inclusive, sem nenhuma má
consciência a câmera-oculta como forma de trazer para as imagens “tragos de
vida autêntica”.
Mas isso não significa que a verdade estaria naquelas imagens por si só.
Era preciso que se interpretassem as possíveis relações, em um estado de la-
tência, existentes entre elas e a realidade para que a verdade pudesse vir à tona.
Algo assim seria possível somente pelo método do cine-olho, capaz de trazer
uma nova percepção do mundo e das coisas.
“Cine-olho”: possibilidade de tornar visível o invisí-
vel, de iluminar a escuridão, de desmascarar o que está
mascarado, de transformar o que é encenado em não
encenado, de fazer da mentira a verdade. “Cine-olho”,
fusão de ciência e de atualidades cinematográficas, para
que lutemos pela decifração comunista do mundo; ten-
tativa de mostrar a verdade na tela pelo Cine-Verdade.
(VERTOV, 1983: 262)
Sendo assim, por um viés vertoviano, temos que a câmera não era conside-
rada capaz de capturar a realidade. Nesse sentido, Vertov defendia “uma atitude
de reconstrução poética dos registros do que a câmera viu” (NICHOLS, 2005:
131), em especial por perceber a máquina por um viés futurista, como modelo
para o homem, e manter uma postura anti-ilusionista. Por isso o líder dos kinoks
se vale de todos os recursos e procedimentos da linguagem cinematográfica
possíveis, com especial importância para as noções de montagem e intervalo,
tão caras para as aproximações que pretendemos apontar.
Os filmes produzidos pelo método do cine-olho estavam ininterruptamente
em processo de montagem, de construção. Eram considerados resultados de
um processo de criação artística, assumidamente fabricados da escolha do
tema à finalização da obra. As teorias soviéticas da arte construtivista e da
montagem fílmica atrelavam a capacidade de o aparato fílmico representar o
mundo histórico com fidelidade fotográfica “ao desejo do cineasta de recriar o
mundo numa imagem da nova sociedade revolucionária.” (NICHOLS, 2005: 133).
O intervalo – ou seja, o efeito de transição entre os planos, as correla-
ções visuais sugeridas entre os planos – permitia ao cineasta construir novas
percepções do mundo histórico e deixava nas obras lacunas que deveriam ser
preenchidas pelo próprio espectador. Os filmes, desse modo, visavam a uma
participação mental ativa do espectador e pretendiam não só decifrar o mundo,
Outubro 2011 Revista Sala 206 35
mas também ensinar a ver.
Através dos recursos de estilo (aceleração, sobre-exposição, retrocesso, va-
riação das angulações de filmagem, escala de planos etc.) era possível decom-
por a vida, fragmentá-la em acontecimentos a serem rearranjados e flexionar a
realidade através do dispositivo, da máquina. Tudo isso com vistas a constituir
uma ligação, através do cinema, entre o proletariado de todos os países sob a
plataforma da “decifração comunista do mundo”.
Dessa maneira, o que percebemos em Vertov são as bases de um verda-
deiro trabalho de escritura documental e, por consequência, da tendência do
documentário contemporâneo que nos propomos a pesquisar. Ele pensava na
organização das imagens como forma de constituir um pensamento, de esta-
belecer uma linguagem expressiva que pudesse ser compreendida de maneira
universal. Chegou, assim, a registrar em suas anotações que aprendeu a escre-
ver não com uma caneta, mas com uma câmera.
A concepção de Vertov “de um ‘cine-olho’ que contorna e ultrapassa a mera
percepção” (TEIXEIRA, 2007: 43) é amplamente contemplada em seu filme O
homem da câmera (1929), que Jacques Aumont considera “como o lugar em que o
cinema se funda como teoria”, e o próprio Vertov avalia como “não apenas uma
realização prática, mas também uma manifestação teórica na tela.” (MACHADO,
2006: 14).
Em O Homem da Câmera, a técnica é sempre usada em re-
lação direta com os aspectos temáticos, que se sobre-
põem e se inter-relacionam ao longo do filme: a velha
e a nova sociedade, diferenças de classe, tecnologia e
progresso social, arte e trabalho, esfera pública e esfera
privada, cinema de entretenimento e “cinema-verdade”.
Recursos de câmera, de laboratório e principalmente de
montagem contribuem para criar contrastes, metáforas
visuais e recontextualização de cenas familiares, provo-
cando estranhamento e dificultando deliberadamente
uma interpretação unívoca. (DA-RIN, 2006: 178-179).
As sinfonias
Com o florescimento da vanguarda na Europa, durante a década de 20, o cine-
ma se viu liberto da obrigação de representar fielmente aquilo que se passava
diante da câmera. Estendeu-se, então, rumo à compreensão das imagens
captadas como material para a instauração de um cinema poético, livre, experi-
mental, em contraponto ao dominante cinema narrativo de ficção¹ . As sinfonias
metropolitanas foram produções documentais, inspiradas pelos movimentos de
36 Revista Sala 206 Outubro 2011
vanguarda, que privilegiavam os aspectos estilísticos, tanto da fotografia quanto
da montagem, na busca de retratar um dia na vida de uma grande cidade.
O homem da câmera, de Dziga Vertov, é um dos grandes representantes desse
ciclo de documentários submersos pelo intento de representar os espaços ur-
banos nos anos 1920. Além dele, poderíamos destacar desse movimento: Apenas
as horas (1926), de Alberto Cavalcanti; Berlim, sinfonia de uma metrópole (1927), de
Walter Ruttmann; Chuva (1929), de Joris Ivens; e A propósito de Nice (1930), de
Jean Vigo.
O filme marco da concepção cinematográfica de Vertov inicia-se com uma
espécie de prólogo: é apresentado o personagem que servirá como condutor
da narrativa, um homem com a câmera voltada para as coisas que o cercam,
com os olhos atentos para o mundo. E, em seguida, esse mesmo personagem
adentra as coxias de um teatro vazio. Logo vemos que, na verdade, trata-se de
um cinema, pois assistimos ao nosso personagem manuseando latas de filmes
e um projetor. O público começa a encher a sala. As luzes se apagam. A banda
está a postos. A incidência da luz sobre a película indica que o espetáculo será
iniciado. E a orquestra começa a tocar vigorosamente.
Somente depois deste prólogo é que o filme nos dá a ver uma estrutura que
será encontrada em outras obras das sinfonias urbanas: uma grande cidade do
despertar ao anoitecer. Nesse sentido, nos perguntamos qual seria o papel des-
se prólogo senão revelar, desde o primeiro instante, o aspecto de construção
do objeto fílmico? Somos levados a pensar que estes minutos iniciais prepa-
ram o espectador para receber o filme, que antes de ser documentário é uma
obra artística, um experimento, uma visão de mundo particular que o artista
compartilha com o público. Ou seja, o caráter anti-ilusionista e autorreflexivo já
estão presentes antes mesmo que a película “em si”, se é que podemos chamar
assim, comece a ser projetada.
Outro instante que é bastante elucidativo e confirma esta postura anti-
ilusionista vertoviana se trata de quando, a partir do congelamento da imagem
de uma carruagem na rua, nos são exibidos mais alguns freeze-frames – seguidos
por imagens em movimento de uma tira de fotogramas, bobinas, uma sala de
montagem, e o trabalho de Svilova, mulher e montadora dos filmes de Vertov,
com a moviola – para depois retornarmos ao exato ponto em que a primeira
imagem foi paralisada. É como se, no meio da narrativa, a voz do documentário
sofresse uma inflexão para lembrar mais uma vez que tudo se trata de uma [1] Daí as feições construtivis-
construção. O congelamento é usado como uma tentativa de resistir ao fluxo tas e futuristas da concepção
vertoviana do documentário,
acelerado das imagens, permitindo a instauração de outro tempo na narrativa conforme vimos anteriormen-
pelo gesto de parada. te.
Outubro 2011 Revista Sala 206 37
A cidade, as pessoas, a vida urbana, a rotina, as máquinas, o transporte, o
trabalho, o descanso, o nascimento, a morte, o casamento, o divórcio; enfim,
tudo que possa atingir esse operário das imagens que carrega a câmera, o
olho aperfeiçoado, é utilizado para compor a narrativa. E a maneira como ela é
composta, sem dúvida, é o que torna O homem da câmera o principal precursor do
documentário experimental, essa tendência contemporânea do gênero que re-
flete sobre os princípios de um documentário de caráter autoral, comprometido
concomitantemente com a
subjetividade e a realidade.
O olho da máquina se mostra Vimos anteriormente a
importância das noções de
como personagem (...) montagem e intervalo para
Vertov, e para realizar esse
inventário da vida na cidade
ele se vale de planos curtos, rápidos, e dos mais variados recursos de estilo:
variação de velocidade (estático, lento, acelerado, retroativo), fusões, sobre-ex-
posições, animação, variação da escala de planos etc. Parte-se da colagem e da
dissociação de materiais visuais, utilizando recursos não como um inventário
das possibilidades técnicas e expressivas, e sim “como plataforma de formu-
lação de uma cine-escritura, que se baseia na inter-relação entre a percepção
humana e o processo cinematográfico” (DA-RIN, 2006: 175) – o que reforça a
imposição do filme “como discurso construído e reconstruído pelo espectador
através de um processo de intelecção baseado no distanciamento crítico” (DA-
RIN, 2006: 179).
A câmera por vários momentos irá recuar para revelar, além das imagens, a
captação das mesmas pelo homem. O olho da máquina se mostra como perso-
nagem, o que nos faz crer que sempre, independente da imagem que estejamos
vendo, existe uma subjetividade – se não do homem, da própria câmera. Através
desses recuos o processo do fazer fílmico é acompanhado pelo espectador.
Exemplo disso é a sequência em que um trem vem em direção à câmera e a
montagem tenciona para um acidente através de planos curtíssimos da loco-
motiva se aproximando, dos vagões do trem passando sobre a câmera, do kinok
nos trilhos, e uma mulher sonhando aflitamente, acompanhados de intervalos
com a tela negra, para só depois expor-se como a sequência foi criada – a partir
de uma cena que revela um buraco no meio dos trilhos preparado para alojar a
câmera durante a passagem do trem.
A partir de O homem da câmera é possível dizer que o cinema tornou-se ca-
paz de interpretar o mundo e colocar essa leitura em reflexão ampla e apropria-
38 Revista Sala 206 Outubro 2011
da a partir do dispositivo cinematográfico. Talvez encontremos aqui, em Vertov,
as bases para uma inflexão ensaística do documentário tão comum a essa
vertente que nos propomos a compreender.
Entre o experimental e o documental
E agora propomos um pequeno desvio e um retrocesso. Debruçaremos-nos de
maneira bastante pontual sobre alguns filmes menores – e nem por isso menos
importantes, mas certamente menos vistos. Filmes que já demonstravam uma
feição documental, apesar de serem predominantemente experimentais, rumo à
poética que buscamos delinear, antes mesmo do ciclo das sinfonias urbanas.
Manhatta (1921), dirigido por Charles Sheeler e Paul Strand, é considerado o
primeiro filme avant-garde americano. Baseado em um poema de Walt Whitman,
“Leaves of grass”, o experimento é uma poesia visual sobre a cidade de Nova York,
com uso de longos e estáticos planos bem enquadrados que o munem de um ar
contemplativo. Trechos do poema são regularmente inseridos em cartelas du-
rante o filme, antecipando o motivo das imagens que estão por vir. “Gigantescas
construções de ferro, finas, fortes, esplêndidas torres em direção aos céus”, por
exemplo, vem antes de planos bastante abertos da cidade revelando altíssimos
arranha-céus acompanhados de uma lentíssima movimentação de câmera de
cima para baixo.
Ao apoiar-se em um poema para reforçar o caráter poético que a constru-
ção narrativo-imagética pretende alcançar, o filme acaba por se revelar alta-
mente contraditório, por vezes (HORAK, 2002: 28). Um instante elucidativo do
que apontamos é quando, após a cartela “Este mundo arruinado com estradas
de ferro”, vemos imagens bem compostas de uma grande estação de trem, com
locomotivas se movendo e marcando seu trajeto com fumaça, que muito mais
exalta do que denigre os caminhos abertos pelos trilhos.
Manhatta certamente foi uma obra central para o projeto de desconstrução
da perspectiva renascentista na realização cinematográfica, privilegiando a re-
flexividade dos pontos de vista e a multiplicidade de interpretações. No entanto,
em seu desejo de trazer uma experiência cinematográfica formalmente inova-
dora, em contraponto aos modelos clássicos pré-estabelecidos, os realizadores
não abandonam pressupostos filosóficos que criam uma tensão entre o verbal
e o não-verbal dentro do filme, conforme apontamos, entre uma perspectiva
modernista e uma romântica – segundo a qual o homem continua em harmonia
com a natureza (HORAK, 1995: 267).
Assim como Chuva, A ponte (1928) é outro trabalho de Joris Ivens em que o
Outubro 2011 Revista Sala 206 39
olhar artístico sobre um fato comum extrai poesia do ordinário. Tendo como
motivo o funcionamento de uma ponte ferroviária próxima a Rotterdam, o filme
se inicia com planos gerais e estáticos da ponte, para logo em seguida trazer
quatro planos do cameraman, que supomos tratar-se do próprio Ivens. Inicial-
mente ele está de perfil com a câmera em punho, em um plano próximo, que re-
vela apenas seu rosto. O cineasta-personagem se vira de frente para a câmera,
como se fosse capaz de, com seu dispositivo cinematográfico cênico, enquadrar
o espectador. Temos um corte para a posição inicial (perfil) e uma fusão para
a posição final (frontal). Há, ainda, mais um corte para um plano mais próximo
da câmera, centralizando a objetiva, que, agora, pela ação do cinegrafista, se
aproxima ainda mais.
O artista-documentarista se Aqui reiteramos os apon-
tamentos feitos sobre a pre-
insere no quadro como forma sença corporal do cineasta
de explicitar, em um nível durante as análises das obras
de Vertov e Vigo, e damos
extremo, a sua presença (...) relevância a sua recorrência.
O artista-documentarista se
insere no quadro como forma
de explicitar, em um nível extremo, a sua presença: ao registrar a si mesmo com
a câmera, deixa como pressuposto que as imagens que antecedem e sucedem
seu aparecimento estão impregnadas de si, de sua subjetividade.
Depois a narrativa segue com um plano que dá a ver toda a extensão
da ponte a partir de imagens tomadas em cima do trem em movimento e da
exploração de detalhes de seu funcionamento. O recurso formal que considera-
mos mais recorrente são imagens abstratas alcançadas a partir de planos bem
fechados de detalhes da ponte. O filme de Ivens caminhará no sentido de expor
o funcionamento da ponte como uma parte vital para o sistema de transporte da
região.
O francês Robert Florey dirigiu Skyscraper simphony (1929), também abordan-
do a cidade de Nova York. O curta-metragem, conforme sugere o título, faz uma
sinfonia a partir de imagens de arranha-céus, captadas durante apenas três
manhãs, que destacavam os padrões geométricos dos edifícios.
Durante o início do filme temos a impressão de que ele em sua completude
se ocupará de dar a ver imagens estáticas em contra-plongée dos prédios. No en-
tanto, a partir de certo instante a câmera parece receber um sopro de vida, que
a deixa bastante instável, com movimentações rápidas e desordenadas sobre
as construções. Esses movimentos caóticos vez ou outra surgirão novamente,
40 Revista Sala 206 Outubro 2011
como se fossem capazes de mover as estruturas sólidas que documentam.
O primeiro movimento interno ao quadro que percebemos é de uma bandeira
estadunidense flamejando enquanto a câmera fazia uma suave panorâmica de
baixo para cima.
A obra, em quase sua totalidade, é composta por planos cuja movimentação
é causada apenas pela câmera. Somente no fim teremos um trem, carros e
pessoas de passagem. Mas, infinitamente pequenos em relação à grandeza com
que são filmados os edifícios, eles passam facilmente despercebidos por um
olhar pouco atento. Tudo está cercado pelos prédios.
O próprio Florey compreendeu seu filme como um estudo arquitetônico dos
arranha-céus, “vistos das alturas ou filmando de baixo para cima, com largos e
por vezes distorcidos ângulos, tomadas com 24mm, e aceleradas panorâmicas
com edição rápida”² (TAVES, 1995: 111). A montagem é marcada por fusões que
em apenas um momento revelam um efeito estroboscópico sobre a imagem do
topo de um prédio.
Os movimentos de vanguarda demonstram um interesse bastante restrito
em documentar a natureza de forma objetiva. Pelo contrário, é a abstração
da natureza que fascina o olhar, este jogo formal em uma variação infinita de
padrões de forma, movimento, luz etc. (HORAK, 2002: 31).
H2O (1929), de Ralph Steiner, é um caso pontual que demonstra com
clareza o que pretendemos dizer. O curta-metragem, de doze minutos, traz
água, chuva, gotas, quedas d’água, rios, lagos e ondas que revelam a natureza
metamórfica da água. O movimento das águas é ininterrupto, e com o passar
do tempo somos envolvidos de tal maneira pelos jogos especulares instaurados
na água pela luz, que as imagens vão tomando uma dimensão cada vez mais
abstrata. O espectador mergulha na narrativa a ponto de ultrapassar a condição
material da água para, imerso sobre essa espécie de fluido hipnótico, iniciar um
devir que o transporte para onde a sensibilidade apontar.
A obra de Steiner é repleta de jogos visuais, e a dimensão mais óbvia disso
é o prazer que ele tem em presentear-nos com aparentemente quase todas as
variações possíveis sobre as reflexões na água, e, mais particularmente, com a
superposição de tipos de realidade que aguçam a percepção do espectador para
nossas possibilidades (MACDONALD, 1995: 212).
O filme termina com uma série de tomadas particularmente complexas, que
[2] No original: “seen from way
cantam os prazeres perceptivos de um mundo físico enquanto nos lembram de high or from down shooting
que a natureza do que vemos é uma função que varia de acordo com a nossa up, with wide and sometimes
distorted angles, 24mm shots,
disposição em examinar nossos próprios sentidos (MACDONALD, 1995: 212). and quick pan shots with fast
Os planos são bastante rápidos, como se as imagens delirassem, para em editing.” (tradução nossa).
Outubro 2011 Revista Sala 206 41
[3] Eugene Atget é um fotógra- seguida dar a ver o plano final que resiste a esse fluxo desenfreado: um freeze-
fo francês, considerado hoje
um dos maiores da história, frame de uma superfície aquática sendo tocada pela luz em vários pontos.
que possui como caracterís- Em Surf and seaweed (1931), Steiner continua a explorar essa relação entre a
ticas mais relevantes de seu
trabalho, as quais são bus-
água e a luz iniciada em H2O. Com a utilização de planos bastante próximos, ele
cadas por Leyda em A Bronx trabalha com o movimento das ondas do mar, que ora tocam as rochas, moldan-
morning, a documentação de do-as pela repetição da ação ao longo do tempo, ora se encarregam de dar vida
espaços urbanos vazios, que
valorizavam vistas cotidianas às algas, que revelam padrões visuais cambiáveis a cada sutil movimento das
da cidade em detrimento da águas. Já Mechanical principles (1933), também assinado por Steiner, utiliza uma
figura humana.
construção semelhante a suas outras obras aqui abordadas; no entanto, traz
como dado novo o fato de realizar uma ode à máquina. Com feições futuristas,
caras a Vertov e Ruttmann, e um rigoroso senso de composição fotográfica,
o filme se detém sobre detalhes de engrenagens em movimento, que geram
imagens abstratas baseadas em formas geométricas.
Outro filme que merece ser destacado aqui é A Bronx morning (1931), de Jay
Leyda, um tributo a um de seus fotógrafos preferidos, Eugene Atget ³. O diretor
deposita um olhar lírico sobre o Bronx nas primeiras horas da manhã, enquanto
as ruas ainda não estão tomadas pelos carros e pela multidão (HORAK, 2002:
29).
As primeiras tomadas são abstratamente construídas a partir de um jogo
de luz e sombra, percebido na paisagem urbana, a partir da janela de um trem
que passa. São imagens impregnadas de uma composição semelhante a que
percebemos no prelúdio de Berlim, sinfonia de uma metrópole. É claro o interesse do
artista de colocar em primeiro plano o que normalmente é tomado como plano
de fundo: lojas, prédios, placas, edifícios, ruas vazias, vitrines e demais objetos
que compõem esses espaços – o que é feito sempre de maneira a gerar várias
visões de um determinado assunto, a partir de enquadramentos bem compostos
e uma montagem que respeita o tempo interno a cada imagem.
Apesar de o olhar evitar a figura humana, durante quase todo o filme, há
momentos de singela expressividade que se valem dos personagens reais,
embora privilegie planos próximos que não nos permitem identificá-los: como
[4] “Throughout the film, quando se detém sobre as calçadas do bairro, ora nos dando a ver uma série de
whether exploiting the abs-
tract visual potential offered
planos com senhoras diferentes a balançar carrinhos de bebê, ora trazendo um
by high-angle coverage of inventário de brincadeiras de criança.
pedestrians' shadows on the “Ao longo do filme, explorando o potencial de abstração visual oferecido
street or swish-pan coverage
of pigeons in flight, the editing pela tomada em ângulo alto de sombras de pedestres na rua ou panorâmicas
process reframes abstraction rápidas de pombos em voo, o processo de edição ressignifica a abstração para
to reveal its grounding in or- 4
dinary experience.” – tradução
revelar seu alicerce na experiência comum” (URICCHIO, 1995: 299). Leyda vai
nossa. tecendo sua narrativa neste jogo, entre imagens abstratas e naturalistas, para
42 Revista Sala 206 Outubro 2011
dar a ver, além de um retrato do Bronx, os olhos e a visão poética daquele que
o gerou.
Em Portrait of a young man (1932), de Henwar Rodakiewicz, assim como perce-
bemos nos filmes de Steiner, haverá uma exploração dos padrões de abstração
que a natureza proporciona a olhares atentos. O filme começa com um longo
letreiro: “Conforme nosso entendimento e compaixão pelas coisas, que revelam
nosso caráter. Então, isto é um esforço para retratar um jovem sobre as coisas
que ele gosta, e a maneira como ele gosta delas: o mar, as folhas, as nuvens,
a fumaça, maquinaria, luz solar, a interação das formas e ritmos, mas acima
de tudo... o mar.” Nesse sentido, o filme é uma espécie de reflexão interior do
cineasta, a partir de imagens da natureza.
A obra é dividida em três movimentos. No primeiro deles, as ondas quebran-
do contra as rochas, o movimento das águas, os jogos de luz instaurados entre a
maleabilidade da água e outras superfícies, como areia e pedras, nos remetem à
mesma sensação estética experimentada em H2O e Surf and Seaweed, de Steiner.
Além disso, o diretor utiliza padrões abstratos, adquiridos a partir de closes em
máquinas, o que será retomado um ano depois em Mechanical principles, também
dirigido por Steiner; imagens em plano bastante fechado de fumaça, capazes de
gerar belíssimos padrões visuais, que parecem dançar no espaço, comandados
pelo acaso; e fogo, também em plano-detalhe.
No movimento seguinte, os materiais novos utilizados por Rodakiewicz
serão folhas, galhos de árvores, o movimento gerado nesses galhos pelo vento e
nuvens. E, no terceiro e último, serão retomados os materiais já utilizados. “Ao
criar um filme de natureza que representa a individualidade do cameraman, a im-
portância da seleção não pode ser subestimada”5 (HORAK, 2002: 32), informa o
diretor colocando em evidência que o todo é resultado da soma de suas partes.
E, nesse sentido, o interesse de Portrait of a young man pela natureza, assim
como o de outras obras de vanguarda, é revelado como uma maneira de criar
metáforas visuais que expressem a subjetividade do homem. Metáforas que,
usando não somente de imagens da natureza, coloquem em primeiro plano os
movimentos e processos enfrentados por seus criadores no intuito de transfor-
mar a obra em um espaço intersubjetivo, que permita um verdadeiro diálogo de
pensamentos entre espectador e realizador. É em busca disso que caminhará o
documentário experimental.
[5] “In creating a film of na-
ture that represents the
Poesia do real: o documentário em versos cameraman's individuality, the
importance of selection can-
not be overestimated.” – tra-
Os documentários que temos nos proposto a pesquisar, se nos é permitido dução nossa.
Outubro 2011 Revista Sala 206 43
algum tipo de categorização, são fortemente marcados pelo que Bill Nichols
classificou como poético, em sua proposição dos modos do documentário, isto
é, ele
[...] sacrifica as convenções da montagem em continui-
dade, e a ideia de localização muito específica no tempo
e no espaço derivada dela, para explorar associações
e padrões que envolvem ritmos temporais e justaposi-
ções espaciais. [...] Esse modo enfatiza mais o estado de
ânimo, o tom e a o afeto do que as demonstrações de
conhecimento ou ações persuasivas. (NICHOLS, 2005:
138).
Segundo Nichols, documentários enquadrados desse modo claramente
mesclam elementos documentais e experimentais. E é justamente no encontro
desses dois domínios que provavelmente encontramos “um locus por excelência
da expansão e renovação das formas documentárias na contemporaneidade”.
Uma “vertente formativista, de vanguarda ou experimental, atenta às preocupa-
ções formais, estilísticas, expressivas, poéticas do documentário” (TEIXEIRA,
2007: 42) fazia frente ao viés realista hegemônico, como pudemos ver, desde o
fim da década de 20.
Essa vertente que percebia, na precariedade do dispositivo cinematográfico
e da perspectiva artificialis, um ponto de partida para a criação artística levou em
conta as possibilidades instauradas por uma imagem-índice-documental que
oferecia uma ordem de material riquíssimo à subjetividade dos realizadores em
sua poiesis.
Isso porque colocava em primeiro plano o ato criativo, o ato produtivo das
imagens em si motivadas pelo que pertence ao âmbito do subjetivo, do sensó-
rio, do imaginário, do emotivo, desconsiderando, por essa perspectiva, a fabri-
cação de imagens que se pautassem num mero poder homologatório do real.
Nichols acrescenta que, desde Dziga Vertov, são poucos os documenta-
ristas que “adotam em seu trabalho assunção epistemológica básica de que a
posição do ego em relação ao mediador do conhecimento – enquanto texto –
são socialmente e formalmente construídos e devem se revelar como tal.” Ou
seja, o “processo de construção de significados se sobrepõe aos significados
construídos.” (NICHOLS, 2005: 64).
Nesse sentido, o que temos é que, pela perspectiva de um documentário
experimental, o realizador se nutre da experiência cinematográfica e dos re-
cursos estilísticos provenientes desta como maneira de impregnar o seu objeto
fílmico com um discurso declaradamente subjetivo, realidade improvável de
44 Revista Sala 206 Outubro 2011
se escapar, mesmo pelo viés realista ontológico, e induzir o espectador a uma
leitura muito menos documentarizante do que artística ou estética – nos termos
de Odin (2005) – como forma de alcançar informações acerca da realidade do
mundo e das coisas.
Dessa maneira, pode-se falar na presença de uma voz lírica nesse tipo de
documentário que não se preocupa em detalhar sua constituição, mas sim fazer
asserções de uma forma marcadamente pessoal.
Foi no âmago da vanguarda que se formou a ideia de um
ponto de vista ou voz diferente, que rejeitasse a subordi-
nação da perspectiva à exibição de atrações ou à criação
de mundos fictícios. [...] A maneira de o cineasta ver as
coisas assumiu prioridade sobre a demonstração da ha-
bilidade da câmera de registrar fiel e precisamente tudo
o que via. (NICHOLS, 2005: 124)
Videoarte e documentário: diálogos
Promovendo um grande salto, de acordo com Arlindo Machado (2007), em As
linhas de força do vídeo brasileiro, a irrupção do vídeo, em meados da década de 60,
retoma esse espírito desconstrutivista das vanguardas do início do século e as-
sume a imagem eletrônica como mídia privilegiada para a experimentação, pois,
pela ontologia de sua natureza, ela é muito mais aberta e propícia às transfor-
mações e anamorfoses, se relacionada à imagem fotoquímica.
Não por acaso, a arte do vídeo, que se constitui tão logo
os recursos técnicos se tornaram disponíveis, se definirá
rapidamente como uma retórica da metamorfose: em vez da
exploração da imagem consistente, estável e naturalista
da figura clássica, ela se definirá resolutamente na dire-
ção da distorção, da desintegração das formas, da ins-
tabilidade dos enunciados e da abstração como recurso
formal. (MACHADO, 2007: 26)
Sem perder de vista o percurso que nos trouxe à imagem-vídeo, lembra-
mos que segundo Bellour (1997) a imagem eletrônica pode se inclinar para,
ao menos, dois caminhos. “Pode ser posta a serviço da ilusão de realidade,
como a maioria das imagens-filme”, pois, apesar da diferente natureza de sua
matéria, quando ela faz uso da analogia e da representação está muito próxima
da imagem naturalista, apesar do caráter autorreferente do vídeo como suporte
Outubro 2011 Revista Sala 206 45
que garante uma espécie de realismo da materialidade. E, além disso, ela pode
seguir pelo seu caráter onipotente de (de)composição, de tal maneira que “a
ilusão da realidade se veja não mais apenas transgredida [...] como no cinema
experimental, mas sobretudo relativizada, chamada a vacilar continuamente
sobre si mesma.” (BELLOUR, 1997: 177-178).
E é justamente nesta segunda instância que pontuamos essa vertente inven-
tiva do documentário. São obras possuidoras de uma tônica que muito menos
ficcionaliza uma realidade por um determinado ponto de vista, do que contempla
a realidade de uma imagem indicial, pela qual é atraído o olhar do artista. Ou
seja, uma poética que relativiza a natureza do olhar. Machado acrescenta que
Em geral, as diversas gerações de videastas rejeitaram
qualquer tipo de representação totalizadora, deixando
patente nas obras as suas próprias dúvidas e a parcia-
lidade de sua intervenção, ao mesmo tempo que se in-
terrogavam sobre os limites de seu gesto enunciador e
sobre a capacidade de conhecer realmente o outro. Com
o vídeo, aquele que aponta suas câmeras para o outro
não se encontra mais necessariamente numa posição
privilegiada como produtor de sentidos, não está mais
autorizado a dizer toda a verdade sobre o representado,
nem está apto a dar uma coerência impossível à cultu-
ra enfocada. Os próprios realizadores não se encontram
mais ausentes do “texto” audiovisual, nem se escondem
atrás das câmeras, de modo a sugerir uma pretensa
neutralidade. (MACHADO, 2007: 31)
Nesse contexto, a partir dessa posição dos realizadores como produtores de
discursos parciais, temos que as principais características da videoarte serão:
a mancha, como efeito pictórico; a lentidão/aceleração/repetição dos planos; a
montagem interna ao quadro; o compartilhar da ideia de autoria com o espec-
tador, que impulsiona ao surgimento de um novo leitor; a intermediaticidade;
e a narratividade em um estado limite. Essas características serão responsá-
veis por permitir um diálogo profícuo do documentário contemporâneo com a
videoarte, libertando-o de qualquer pretensão realista e permitindo que ele se
assuma como poesia, como experimento.
O documentário experimental irá compartilhar do que, segundo Bellour, o
cinema experimental e a videoarte buscavam escapar de todas as maneiras
possíveis: “a onipotência da analogia fotográfica; o realismo da representação;
o regime de crença da narrativa” (BELLOUR, 1997: 176). Será situado, então,
46 Revista Sala 206 Outubro 2011
nessa posição em que emanações do real são matéria-prima para construções
de novas realidades mediadas pelo olhar do sujeito naquele instante; em que
o realismo dá lugar ao formativismo e à poesia; e a narrativa segue em frágeis
linhas à beira de um abismo.
Documentário experimental: por uma conclusão
O cinema documentário em si é incapaz de gerar um conceito que recorte de
maneira precisa seu campo, em relação às imagens em movimento que lidamos
na atualidade. E o nosso objetivo, conforme apontamos no início, é dar conta de
uma noção que vá além do próprio documentário e se situe no encontro de dois
domínios: o documental e o experimental.
De acordo com Da-Rin (2004) a definição de cinema documentário não é
facilitada, por se tratar de um campo vasto e diverso que abarca múltiplas ques-
tões sobre o mundo e trata diretamente dele em uma variedade de temáticas,
enquanto somos levados a crer que essa dificuldade em defini-lo talvez seja um
movimento de resistência do próprio domínio, uma impropriedade alojadora de
potências. E, como nossas pretensões são bastante específicas, não iremos nos
prolongar em reflexões conceituais, objeto de estudo de inúmeras pesquisas,
internas aos limites do domínio. O nosso interesse, como foi possível perceber
pelo percurso que traçamos até aqui, reside em apenas uma das bordas, em
uma passagem.
Não compreendemos o documentário a partir de um conceito fechado e
imutável, mas sim como um discurso narrativo constituído por enunciados que
estabelecem asserções sobre o mundo ou sobre o próprio enunciador. Dessa
maneira, o nosso horizonte está voltado, seremos repetitivos, não para um
conceito estanque do domínio, mas sim para o que ele trata e, em especial, de
que forma.
Nesse sentido, em nível de síntese, as proposições que realizamos até en-
tão, durante as análises e reflexões, nos permitem considerar como documentário
experimental, ou documentário de invenção, as obras em que os recursos estilísticos
ganham relevo por operar uma reformulação na questão da verdade do docu-
mentário, possibilitando que a subjetividade do realizador salte para o primeiro
plano – apesar de esse salto não recobrir toda a radicalidade do cinema expe-
rimental – ao utilizar criativamente potências que são singulares à natureza
da própria imagem para compor seu discurso. Sendo assim, o documentário de
invenção, motivado por processos intrínsecos à própria constituição do filme, lida
com seus materiais de composição de maneira investigativa, experimentando
Outubro 2011 Revista Sala 206 47
os arranjos e rearranjos dos mesmos em busca de resultados não conhecidos
previamente.
O que libertaria o espectador para interpretar a obra não com feições
ilusionistas e especulares, mas sim conforme sua própria experiência estética,
operadora de um encontro entre as subjetividades do leitor e do realizador.
Todo objeto, seja homem ou animal, fenômeno natural
ou artefato, possui milhares de formas, de acordo com o
ângulo do qual observamos e destacamos seus contor-
nos. Em cada uma das formas, definidas por milhares
de contornos diferentes, podemos reconhecer sempre o
mesmo objeto, pois elas sempre se assemelham ao seu
modelo comum, mesmo que não se pareçam entre si.
Mas cada qual expressa um ponto de vista diferente, um
diferente estado de espírito. Cada ângulo visual significa
uma atitude interior. Não há nada mais subjetivo do que
o objetivo. (BALÁZS, 1983: 97).
Béla Balázs já indicava, de maneira bastante sutil, parte do que propomos
agora. Ao referir-se, neste trecho, especificamente sobre a noção de enqua-
dramento da câmera, dá a ver a infinidade de possibilidades significativas que
se possui ao registrar determinado objeto. O ponto de vista documentado, para
usar a expressão de Vigo, está intimamente ligado ao ponto de vista que o rea-
lizador tem interesse em dar relevo. E é justamente no trato desses instrumen-
tos, nas extensas possibilidades que se têm no uso de cada recurso de estilo
e nas combinações possíveis entre cada escolha, arranjos e rearranjos que
podem se instaurar entre eles que a narrativa documental vai sendo, camada
por camada, experimentalmente construída.
Temos, por esse viés, a
Temos, por esse viés, a percepção do documentarista
como um artista. Ao invés
percepção do documentarista de explorar o ponto, a linha,
a textura, a superfície, o
como um artista. volume, a luz e a cor como os
pintores; se vale dos recur-
sos próprios à linguagem cinematográfica para tecer narrativas que ao falar do
mundo também se permitam falar de si e dialogar com o outro, por meio de uma
perspectiva construtivista que lida com diferentes materiais à procura de expe-
riências estéticas a serem compartilhadas com o espectador – contribuinte da
formação de discursos em que o estilo também é percebido como informação.
48 Revista Sala 206 Outubro 2011
Referências bibliográficas
BALÁZS, Béla. Subjetividade do objeto. In: XAVIER, Ismail (Org.). A Experiência
do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Edições Graal; Embrafilme, 1983.
BELLOUR, Raymond. Entre-Imagens – Foto, Cinema, Vídeo. São Paulo: Ed.
Papirus, 1997.
DA-RIN, Silvio. Espelho partido. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2006.
HORAK, Jan-Christopher. Paul Strand and Charles Sheeler’s Manhatta. In:
HORAK, Jan-Christopher (Org.). Lovers of the cinema: the first American film
avant-garde, 1919-1945. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1995.
_________. The Film American Film Avant-garde, 1919-1945. In: DIXON, Whe-
eler Winston & FOSTER, Gwendolyn Audrey (Orgs.). Experimental Cinema: The
Film Reader. New York: Routledge, 2002.
MACDONALD, Scott. Ralph Steiner. In: HORAK, Jan-Christopher (Org.). Lovers
of the cinema: the first American film avant-garde, 1919-1945. Wisconsin: The
University of Wisconsin Press, 1995.
MACHADO, Arlindo. As linhas de força do vídeo brasileiro. In: MACHADO,
Arlindo (Org). Made in Brasil. São Paulo: Iluminuras, 2007.
_________. O filme-ensaio. In: Intermídias, nº 5 e 6, 2006. Disponível em:
http://www.intermidias.com. Último acesso em: 10/11/2009.
NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. São Paulo: Papirus, 2005.
_________. A voz do documentário. In: RAMOS, Fernão Pessoa (Org.). Teoria
Contemporânea do Cinema. São Paulo: Editora Senac, 2005, v. II.
ODIN, Roger. A questão do público: uma abordagem semiopragmática. In: RA-
MOS, Fernão Pessoa (Org.). Teoria Contemporânea do Cinema, Volume 2. São
Paulo: Editora Senac, 2005, v. II.
TAVES, Brian. Robert Florey and the Holywood Avant-Garde. In: HORAK, Jan-
Christopher (Org.). Lovers of the cinema: the first American film avant-garde,
Outubro 2011 Revista Sala 206 49
1919-1945. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1995.
TEIXEIRA, Francisco Elinaldo. Documentário Expandido – Reivenções do Do-
cumentário na Contemporaneidade. In: Equipe Itaú Cultural (Org.). Sobre Fazer
Documentários. São Paulo: Itaú Cultural, 2007.
VERTOV, Dziga. Extrato do ABC dos Kinoks. In: XAVIER, Ismail (Org.). A Experi-
ência do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Edições Graal; Embrafilme, 1983.
VERTOV, Dziga. Nascimento do Cine-Olho (1924). In: XAVIER, Ismail (Org.). A
Experiência do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Edições Graal; Embrafilme,
1983.
50 Revista Sala 206 Outubro 2011
Você também pode gostar
- Almeida e Franco - p93-103 PDFDocumento11 páginasAlmeida e Franco - p93-103 PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA OLIVEIRA Santiago PDFDocumento13 páginasALMEIDA OLIVEIRA Santiago PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA Acidente PDFDocumento9 páginasALMEIDA Acidente PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA - Arquivo em Cartaz PDFDocumento6 páginasALMEIDA - Arquivo em Cartaz PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA - A Poesia e o Banal PDFDocumento18 páginasALMEIDA - A Poesia e o Banal PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA OLIVEIRA Santiago PDFDocumento13 páginasALMEIDA OLIVEIRA Santiago PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- O Estatuto Político Da AmizadeDocumento12 páginasO Estatuto Político Da AmizaderatborgesAinda não há avaliações
- ALMEIDA - Entre A chegadaeapartida-PB PDFDocumento16 páginasALMEIDA - Entre A chegadaeapartida-PB PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- Almeida e Franco - p93-103 PDFDocumento11 páginasAlmeida e Franco - p93-103 PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA Fotografia Filme-EnsaioDocumento14 páginasALMEIDA Fotografia Filme-EnsaioRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA - Com Os Pés Um Pouco Fora Do Chão PDFDocumento18 páginasALMEIDA - Com Os Pés Um Pouco Fora Do Chão PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA - Ex Isto PDFDocumento11 páginasALMEIDA - Ex Isto PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA - Between Arrival and DepartureDocumento16 páginasALMEIDA - Between Arrival and DepartureRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA CaoGuimaraes PDFDocumento13 páginasALMEIDA CaoGuimaraes PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- ALMEIDA - A Cidade - Acidente PDFDocumento8 páginasALMEIDA - A Cidade - Acidente PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- Catalogo CrisMarker PDFDocumento86 páginasCatalogo CrisMarker PDFRafael de Almeida100% (1)
- Edital Exames2014 Unilurio PDFDocumento7 páginasEdital Exames2014 Unilurio PDFfaizalAinda não há avaliações
- Texto Cipriano Luckesi Universidade Criacao e Prod de ConhecDocumento8 páginasTexto Cipriano Luckesi Universidade Criacao e Prod de Conhecclsilva77100% (1)
- Trajetórias de Vidas 2Documento133 páginasTrajetórias de Vidas 2Heretiano Henrique PereiraAinda não há avaliações
- Ebook 6 PDFDocumento141 páginasEbook 6 PDFPedro AlburquequeAinda não há avaliações
- Atividade Do Filme Walt Disney 1Documento7 páginasAtividade Do Filme Walt Disney 1Paulo GomesAinda não há avaliações
- Estrutura Etária Da PopulaçãoDocumento2 páginasEstrutura Etária Da PopulaçãoVictóriaAinda não há avaliações
- Filosofia Contemporânea, RCDocumento8 páginasFilosofia Contemporânea, RCbengo33Ainda não há avaliações
- Avaliação 1 de SEDocumento3 páginasAvaliação 1 de SEMaburronhenhe ChichembeAinda não há avaliações
- A Cultura Tem Uma Logica PropriaDocumento3 páginasA Cultura Tem Uma Logica PropriaRafaela AlvesAinda não há avaliações
- Koellreutter EDUCAÇÃO MUSICAL NO TERCEIRO MUNDO PDFDocumento9 páginasKoellreutter EDUCAÇÃO MUSICAL NO TERCEIRO MUNDO PDFEverton MontenegroAinda não há avaliações
- PPI - Passo A Passo Indicador Biológico Rev.1 - 2018Documento4 páginasPPI - Passo A Passo Indicador Biológico Rev.1 - 2018Marcelo SouzaAinda não há avaliações
- Revue Spirit N05 Outubro 2021Documento166 páginasRevue Spirit N05 Outubro 2021Orlando Ramos do Nascimento JúniorAinda não há avaliações
- A06 - Zimerman - Cap 09 - Fundamentos Básicos Das GrupoterapiaDocumento7 páginasA06 - Zimerman - Cap 09 - Fundamentos Básicos Das Grupoterapiaadna_félix_2Ainda não há avaliações
- Resumo Zapp! O Poder Da EnergizaçãoDocumento10 páginasResumo Zapp! O Poder Da EnergizaçãoAldair_pires_2008100% (2)
- Contrato de Locação para Fins ComerciaisDocumento10 páginasContrato de Locação para Fins ComerciaisDanieli OshitaniAinda não há avaliações
- Módulo 1-Higiene, Segurança e Ambiente Parte IDocumento17 páginasMódulo 1-Higiene, Segurança e Ambiente Parte Ilf.leiria7973Ainda não há avaliações
- Gregory Zeikran Nosferatu HackerDocumento4 páginasGregory Zeikran Nosferatu HackerRicardo Strympl DrachenAinda não há avaliações
- Comentário de Santo Tomás de Aquino Ao Livro I Da Ética A NicômacoDocumento122 páginasComentário de Santo Tomás de Aquino Ao Livro I Da Ética A Nicômacotomdamatta28Ainda não há avaliações
- Lista de AtividadespreposicaoartigosDocumento5 páginasLista de AtividadespreposicaoartigosRenata Bennech MonteiroAinda não há avaliações
- Dimensionamento de Calhas e Condutores - Exercício de Fixação - Guia Da EngenhariaDocumento28 páginasDimensionamento de Calhas e Condutores - Exercício de Fixação - Guia Da EngenhariaRanieri Abrantes SarmentoAinda não há avaliações
- Manual Do COLOGADocumento31 páginasManual Do COLOGAlungarezeAinda não há avaliações
- Somos História 8 - Testes de Avaliação + SolDocumento42 páginasSomos História 8 - Testes de Avaliação + SolRaquel PereiraAinda não há avaliações
- Voz Partitura Da AçãoDocumento7 páginasVoz Partitura Da AçãoFabiana ResendeAinda não há avaliações
- Moacir C de Araújo Lima - Quântica - Espiritualidade e SucessoDocumento98 páginasMoacir C de Araújo Lima - Quântica - Espiritualidade e SucessoNorin kagamine100% (1)
- Tese Simplificada para Digital Mariana Conti CraveiroDocumento95 páginasTese Simplificada para Digital Mariana Conti CraveiroBruno Ricardo C. DalólioAinda não há avaliações
- Um Autista em Minha Vida - Ana CarolineDocumento194 páginasUm Autista em Minha Vida - Ana CarolineAnnaAinda não há avaliações
- Atividade de Pesquisa 01 - Instrumentação em Higiene OcupacionalDocumento2 páginasAtividade de Pesquisa 01 - Instrumentação em Higiene OcupacionalPedro CarvalhoAinda não há avaliações
- A Câmara de Reflexões-IIDocumento4 páginasA Câmara de Reflexões-IIAndré Fossá100% (1)
- Mapade KarnaughDocumento14 páginasMapade KarnaughHelder Anibal HerminiAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo VDocumento6 páginasExercícios de Fixação - Módulo VRoberto RogerAinda não há avaliações