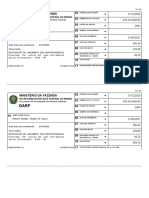Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Patrimônio Histórico e Cultural Uma Revisão Bibliográfica - Spina e Serrato PDF
Patrimônio Histórico e Cultural Uma Revisão Bibliográfica - Spina e Serrato PDF
Enviado por
henriquemelatiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Patrimônio Histórico e Cultural Uma Revisão Bibliográfica - Spina e Serrato PDF
Patrimônio Histórico e Cultural Uma Revisão Bibliográfica - Spina e Serrato PDF
Enviado por
henriquemelatiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
99
Patrimônio histórico e cultural: uma revisão
bibliográfica1
Gabriel Luis SPINA2
Edgar Bruno Franke SERRATTO3
Resumo: O patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, materiais ou
imateriais, que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse
relevante para a permanência e para a identidade da cultura de um povo. O
presente trabalho propõe apresentar a relação entre duas obras sobre Patrimônio
Histórico e Cultural, tendo por base dois autores de períodos diferentes. A
primeira obra, O Que é Patrimônio Histórico, de Carlos A. C. de Lemos, de
1981. A segunda, Patrimônio Histórico e Cultura, de Pedro Paulo Funari e
Sandra C. A. Pelegrini, de 2006. A partir dessa abordagem, podemos considerar
que ambas as obras instigam a reflexão sobre a multiplicidade do patrimônio
histórico e cultural, discutindo alternativas para sua preservação e trazendo-nos
uma visão mais atual sobre esta temática.
Palavras-Chave: Patrimônio. Cultura. Memória. História. Museologia.
1
O presente artigo é resultado das pesquisas desenvolvidas no Projeto de Extensão e Pesquisa
Museu Claretiano de Curitiba (MCC), coordenado pelo Prof. Ms. Edgar Bruno Franke Serratto,
vinculado ao Programa de Iniciação Científica (PIC) do Claretiano – Centro Universitário.
2
Gabriel Luis Spina. Especialista em Gestão Ambiental e Metodologia da Educação a Distância pelo
Claretiano – Centro Universitário. Graduado em Biologia e História pela mesma Instituição. E-mail:
<gabrielluisspina@hotmail.com>.
3
Edgar Bruno Franke Serratto. Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Graduado em História pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Coordenador do Projeto de
Pesquisa e Iniciação Científica Museu Claretiano de Curitiba (MCC), do Programa de Iniciação
Científica (PIC) do Claretiano – Centro Universitário, Polo de Curitiba (PR). E-mail: <edgarserratto@
claretiano.edu.br>.
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
100
Historical and cultural heritage: a
bibliographic review
Gabriel Luis SPINA
Edgar Bruno Franke SERRATTO
Abstract: The cultural heritage is the collection of all properties, material or
immaterial, due to own value, must be considered relevant interesting for the
staying and the identity of a people. The present work proposes to show the
readers the relation between two works about historical and cultural heritage,
based on two authors from different periods. The first work “O que é Patrimônio
Histórico” by Carlos A. C. de Lemo (1981). The second, “Patrimônio Histórico
e Cultural” by Pedro Paulo Funari e Sandra C. A. Pelegrini (2006). From this
approach we can consider on both works instigating the reflection about the
multiplicity of the historical and cultural heritage, discussing alternatives for its
preservation, bringing us a current vision about this theme.
Keywords: Heritage. Culture. Memory. History. Museology.
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
101
1. INTRODUÇÃO
O patrimônio histórico e cultural manifesta-se na forma
física e também nas expressões imateriais, como o carnaval, a
festa junina, bem como nas demais celebrações, acontecimentos
e tradições da cultura popular, podendo ser classificado de acordo
com a sua categoria e o valor que lhe é atribuído. Em suma, o
patrimônio é o conjunto de todos os bens, materiais ou imateriais,
que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse
relevante para a permanência e para a identidade da cultura de
um povo (BALTAZAR, 2011).
Esses bens históricos são suportes da memória e instrumentos
utilizados para a história reaparecer. Qualquer objeto carrega
em si aspectos simbólicos, culturais e memoriais. A memória
é o suporte da história. Memória e história são parceiras na
reconstrução do passado. Tanto a memória pode contribuir como
fonte para a história quanto o registro histórico pode produzir
uma nova reflexão sobre as marcas da memória. E a junção ou
conjugação da história e da memória criam a identidade.
Tendo como temática primordial o “Patrimônio Histórico
e Cultural”, o presente trabalho propõe apresentar aos leitores a
relação entre duas obras, de dois autores de épocas diferentes. A
primeira obra, O Que é Patrimônio Histórico, de Carlos A. C.
Lemos, de 1981. A segunda, Patrimônio Histórico e Cultura, de
Pedro Paulo Funari e Sandra C. A. Pelegrini, de 2006. Nesta direção,
o que pretendemos é a compreensão do que é “ patrimônio”, bem
como identificar as discussões centrais presentes nesta área
durante os últimos 50 anos.
2. CONCEITO DE “PATRIMÔNIO” PARA LEMOS (1981)
Carlos Lemos nasceu em 1925, é arquiteto, artista plástico
e professor titular do Departamento de História da Arquitetura e
Estética da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo (FAU-USP). Especializou-se em arquitetura do
Brasil e na problemática de preservação do Patrimônio Cultural.
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
102
É autor de diversos livros, entre eles Arquitetura brasileira
(MELHORAMENTOS, 1979); Ramos de Azevedo e seu escritório
(PINI, 1993); e Casa paulista (EDUSP, 1999).
Na obra que abordaremos, O Que é Patrimônio Histórico, o
autor separa em tópicos os temas tratados entre patrimônio cultural.
A saber: “dos artefatos”, “por que preservar?”, “o que preservar?”
e “como preservar?”.
No primeiro tópico, que trata sobre patrimônio cultural, ele
começa com um levantamento histórico do tema e mostra que os
meios de comunicação em massa dão ênfase a esse assunto, até
então sem interesse maior do povo (LEMOS, 1981).
O autor apresenta-nos que o patrimônio cultural pode ser
dividido em três grandes categorias de elementos. A primeira
é referente à natureza, ao meio ambiente e a todas as riquezas
naturais. A segunda refere-se ao conhecimento, às técnicas e
ao saber fazer. São os elementos não tangíveis do patrimônio
cultural. A terceira categoria de elementos, segundo o autor, é a
mais importante, pois alia o objeto em si com o saber fazer e
o meio ambiente para formar o que conhecemos como artefato
(LEMOS, 1981).
O “artefato” é tão importante que foi dedicado para este
tema um tópico à parte. Aliás, a palavra “artefato” talvez devesse
ser a única empregada no caso. Nessa perspectiva, é exaltada
a importância da relação entre o objeto e o contexto do qual ele
pertence, pois um objeto isolado de seu contexto deve ser
entendido como um fragmento. Assim, sempre deve ser prestada
atenção às relações necessárias que existem entre o meio ambiente,
o saber e o artefato; entre o artefato e o homem; entre o homem e a
natureza. Logo, para Lemos (1981), é nesta relação que reside a
importância de tal artefato como patrimônio.
Artefatos podem ser de utilidade imediata ou de duráveis
e persistências, além do que podem ter serventias diversificadas
ou ter trocados os seus fins utilitários originais. Entretanto, uma
questão muito importante discorrida no livro é a sacralização do
objeto. É um reverenciamento de objetos triviais que, devido
ao fato de terem participado de eventos que se convencionou
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
103
chamar de históricos, passam a ter uma respeitabilidade que os
outros não possuem. Um exemplo é uma caneta que serviu à
assinatura de um ato público qualquer ou a arma que matou um
político importante. Existem museus baseados somente nesse
tipo de acervo e que explora as crendices populares. Não que
estes não sejam artefatos ou que não contem a história, porém esses
bens diferenciados preservados sempre podem levar a uma visão
distorcida da memória coletiva (LEMOS, 1981).
A abordagem seguinte ressalta que não basta apenas saber o
que é patrimônio histórico e cultural, mas que se deve preservá-lo.
Por isso, o autor levanta a questão: por que preservar? Segundo
ele,
[...] devemos, então, de qualquer maneira garantir a
compreensão de nossa memória social preservando o
que for significativo dentro de nosso vasto repertório
de elementos componentes de patrimônio cultural”
(LEMOS, 1981, p. 29).
Desse modo, o termo “preservar” deve ser aplicado com toda
a amplitude de seu significado, abrangendo desde os elementos
componentes dos recursos materiais a todos os outros não tangíveis
ligados ao conhecimento, especialmente a técnica. Por isso,
prevalece o intuito de guardar para gerações futuras informações
ligadas às relações entre elementos culturais que não têm garantias
de permanência (LEMOS, 1981).
Por isso, Lemos (1981) observa que é importante ressaltar
que preservar não é só guardar objetos. Vai além disso: é fazer,
também, levantamentos de qualquer natureza de sítios variados
ou gravar depoimentos, sons, músicas. Preservar é procurar
manter vivos os usos e costumes populares. Porém, devido aos
interesses econômicos, principalmente os voltados ao turismo
– que exploram bens culturais paisagísticos e arquitetônicos
preservados –, se se exige a criação de mais cenários e chegam
ao ponto de forjar artefatos, criando bens patrimoniais artificiais
(LEMOS, 1981).
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
104
Agora que já vimos o que é patrimônio histórico, o
significado de artefato e o porquê de se preservá-lo, veremos o que
Lemos nos apresenta sobre aquilo que se deve preservar.
Ao longo da História do Brasil, é comum percebermos
a destruição proposital do patrimônio histórico. Temos como
exemplo o que aconteceu com as obras holandesas no nordeste
brasileiro, que foram descaracterizadas pelos portugueses. O Conde
de Galveias, em meados do século XVIII, escreveu ao governador
de Pernambuco, Luís Pereira de Andrade, lamentando o projeto
que transformou o Palácio das Duas Torres em quartel de tropas
locais. Segundo Galveias, seria imprescindível a manutenção da
integridade daquela obra holandesa, verdadeiro troféu de guerra e
orgulho do nosso povo (LEMOS, 1981).
Esse fato da carta do conde de Galveias, no século XVIII,
coloca o Brasil à frente de muitos países no que diz respeito à
consciência de conservação do patrimônio, no entanto, mostra-
-nos que, ao longo da história, sempre que alcançada alguma
meta ou alguma mudança, principalmente política, a primeira
coisa que se faz é destruir as provas ou vestígios do modelo
anterior. Foi assim com os vestígios holandeses, com as cartelas
heráldicas, escudos e brasões arrancados dos pátios nobres das
construções espanholas pelos portugueses e pelos brasileiros depois
de 1822.
Apesar do cenário desanimador, Lemos inicia a apresentação
de uma série de leis referentes ao tema, as quais buscam a
superação desses problemas. Segundo ele, a partir da década
de 1920, o deputado, historiador e amante das artes Wanderley
Pinho fez um projeto de lei relativo à proteção de nosso patrimônio
cultural e colocou entre os bens preserváveis:
[...] as cimalhas, os forros arquitraves, portas, janelas,
colunas, azulejos, tetos, obras de marcenaria, pintura,
murais e quaisquer ornatos (arquitetônicos ou artísticos)
que possam ser retirados de uma edificação para outra
(LEMOS, 1981, p. 36).
Já em 1925, o jurista Jair Lins tratou de defender os bens
representativos de nosso passado, apresentando um progresso
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
105
dos bens a serem guardados entre móveis e imóveis. Esta foi a
primeira vez que alguém mencionou “móveis” dentre os objetos
a serem conservados. Em 1936, sob autoria de Mário de Andrade,
surgiu um projeto que se tornou lei em 1937 e que, já naquela
época, procurava resguardar a totalidade dos bens culturais de
nosso Patrimônio Cultural chamando-os de “obras de arte” e
estando agrupados em:
1 - Arte arqueológica, 2 - Arte ameríndia, 3 - Arte popular,
4 -Arte histórica, 5 - Arte erudita nacional, 6 - Arte erudita
estrangeira, 7 - Artes aplicadas nacionais, e, 8 - Artes
aplicadas estrangeiras (LEMOS, 1981, p. 39).
Porém, para Lemos (1981), o projeto de Mário de Andrade
era audacioso demais. Por isso, em 1937, uma lei reorganizou o
Ministério da Educação, quando foi criado o Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, dando a perceber que não se havia
considerado o texto de Mário de Andrade.
No fim desse mesmo ano, foi criado o então primitivo
SPHAN, onde se definiu oficialmente o Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional como sendo o conjunto dos bens móveis e
imóveis existentes no país e cuja conservação seria de interesse
público por sua vinculação a fatos memoráveis da história do
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico.
Já a questão da urbanização e do Patrimônio Ambiental
Urbano foi levantada somente na década de 1970. Lemos (1981)
ressalta o fato de Ouro Preto ser a primeira cidade preservada no
Brasil, em 1933. A cidade mineira foi tombada verdadeiramente
não como uma cidade possuidora de características especiais, mas
porque se desejou proteger seus monumentos menores, o que
levou a proteção de agrupamentos de construções cujas áreas
envoltórias acabaram abrangendo a cidade toda.
Em se tratando de cidades, para Lemos (1981), os bens
ou coisas móveis ou imóveis que caracterizam o Patrimônio
Ambiental Urbano não podem s e deter a um artefato urbano
isolado. Há de se perceber fundamentalmente as relações mantidas
entre os bens culturais. Nesse sentido, as formas de preservação
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
106
podem ser divididas, basicamente, em duas maneiras, se forem
bens móveis ou imóveis. No caso dos bens móveis, a maior parte
do pouco que temos preservado se deve à ação isolada e interesseira
de grupos de colecionadores. Entre esses bens, temos:
[...] obras de arte em geral, moedas, selos, máquinas,
livros, estampas e gravuras, receitas de comida, partituras
musicais, discos, porcelanas, cerâmicas populares,
imagens sacras, joias, antiguidades etc. (LEMOS, 1981,
p. 52).
Já para os bens imóveis não há quem colecione casas de
uma rua ou monumentos de uma cidade, por isso, a necessidade
de que entidades oficiais sejam repartições públicas ou fundações
para zelar pelo chamado Patrimônio Histórico e Artístico
(LEMOS, 1981).
Do ponto de vista internacional, Lemos (1981) destaca o
exemplo da basílica romana, que sempre foi mantida em uso,
ressaltando que a primeira norma de conduta ligada ao “como
preservar” é manter o bem cultural, especialmente um edifício, em
uso constante e, sempre que possível, satisfazendo os programas
originais. Para tentar normalizar em todo o mundo os procedimentos
preservadores e evitar o fabrico de bens artificias que pretendem
substituir bens culturais próprios de outras épocas, o Congresso
Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos Históricos
reuniu-se em maio de 1964, em Veneza. Dessa reunião nasceu
um documento denominado Carta de Veneza, cuja redação leva a
adotar um método científico para a preservação, sendo:
- O monumento é inseparável do meio onde se encontra
situado e, bem assim, da história da qual é testemunho.
- A conservação e a restauração de monumentos são
fundamentalmente atividades interdisciplinares.
- Utilização de edifício de forma correta atribuindo-o
função útil a sociedade.
- A restauração não deve falsificar o documento de arte e
história, e essa ação é uma operação que deve ter caráter
excepcional. Ela visa conservar e revelar o valor estético
e histórico do monumento.
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
107
- As construções de todas as épocas em um mesmo
monumento devem ser respeitadas.
- A remoção total ou parcial de um monumento do sitio
original para outro local não pode ser tolerada, salvo se a
sua preservação assim o exigir.
- Os trabalhos de conservação, de restauração e de
escavações serão sempre acompanhados de uma
documentação precisa sob a forma de relatórios analíticos
e críticos ilustrados com desenhos e fotografias (LEMOS,
1981, p. 77).
No entanto, para o autor, são dois os fatores que dificultam a
aplicação desses princípios. O primeiro é a falta de esclarecimento
popular sobre a importância da preservação de nosso patrimônio.
O segundo é de ordem jurídica e diz respeito às questões do
direito de propriedade, onde o instituto de tombamento é esbarrado.
O livro mostrou, de fato, ser muito esclarecedor e cumpre o
que é proposto, isto é, esclarecer o que é Patrimônio Histórico.
Elucida, de forma clara, o debate pertinente aos anos de 1980,
caracterizando conceitos importantes, como patrimônio material,
imaterial etc. É feito um levantamento histórico dos órgãos e
de todos os esforços conservadores do patrimônio nacional e
internacional, dando ênfase ao patrimônio arquitetônico, o que
não poderia ser diferente diante da formação do autor. No entanto,
tem a visão de patrimônio muito voltada à perspectiva de
monumento arquitetônico, tendo como base principal os tipos de
patrimônio imóveis.
3. CONCEITO DE “PATRIMÔNIO” PARA FUNARI E
PELEGRINI (2006)
O livro Patrimônio Histórico e Cultural é de autoria de Pedro
Paulo Funari e Sandra C. A. Pelegrini. O primeiro é graduado em
História, mestre em Antropologia Social e doutor em Arqueologia,
professor do programa de Pós-graduação em arqueologia da USP
e coordenador associado do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Unicamp. Já Pelegrini é graduada em História, mestre em História e
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
108
Sociedade e doutora em História Social, também é professora do
Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá.
A obra apresenta duas diferentes ideias relacionadas ao
patrimônio. A primeira está ligada aos bens que transmitimos
aos nossos herdeiros e que podem ser materiais, como uma casa
ou uma joia com valor monetário determinado pelo mercado ou
bens materiais de pouco valor comercial, mas de grande valor
emocional, como uma foto ou uma imagem religiosa. Estes
podem ser itens do patrimônio de um indivíduo e constar em
seu testamento. Nesse sentido, além destes, temos o patrimônio
espiritual ou imaterial inestimável, que são os conhecimentos e
as infinidades de ensinamentos e lições de vida que nos deixaram
(FUNARI; PELEGRINI, 2006).
Esses são exemplos de patrimônio individual, que é mais
fácil de ser definido. No entanto, temos, também, o patrimônio
coletivo, que não depende só de um indivíduo para definir o que
é interessante. O coletivo é sempre mais distante, pois é definido
e determinado por outras pessoas, desde comunidades pequenas
até municípios, estados, nações ou a humanidade como um todo.
Por isso, há uma multiplicidade de pontos de vista, de interesse e
de ações no mundo. O que para uns é patrimônio para outros não
é. Além disso, os valores sociais mudam com o tempo. Por tudo
isso, convém analisar como o patrimônio foi visto ao longo dos
tempos e dos grupos sociais (FUNARI; PELEGRINI, 2006).
Os autores fazem um breve, porém completo histórico da
trajetória do patrimônio no contexto mundial. Desde a origem
latina da palavra, que se referia, entre os antigos romanos, a
tudo o que pertencia ao pai de família. O patrimônio era um valor
aristocrático e privado, referente à transmissão de bens no seio da
elite patriarcal romana (FUNARI; PELEGRINI, 2006).
Na Idade Média, com a difusão do cristianismo, foi
acrescentado o caráter simbólico e coletivo do religioso. O culto
aos santos e a valorização das relíquias deram ao patrimônio a
singularidade coletiva, e que, de certa forma, permanece entre nós
por meio da valorização tanto dos lugares e objetos como dos
rituais coletivos (FUNARI; PELEGRINI, 2006).
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
109
O Renascimento foi um dos principais momentos de
valorização do patrimônio, pois os homens dessa época procuravam
resgatar o domínio na Antiguidade grega ou romana. Chegavam
aos antigos por meio da leitura de obras antigas e colecionando
objetos e vestígios da Antiguidade. Eles fundaram o que conhecemos
hoje como Antiquariado. De acordo com Funari e Pelegrini
(2006, p. 13), “Alguns estudiosos enfatizavam que o patrimônio
moderno deriva, de uma maneira ou de outra, do Antiquariado”. Já
o moderno conceito de patrimônio foi desenvolvido na França a
partir da revolução d e 1789. Contribuíram para isso a formação
dos Estados Nacionais e o surgimento de uma cultura nacional que
inclui suas bases materiais a seu patrimônio nacional.
Ainda segundo Funari e Pelegrini (2006, p. 17):
Assim começa a surgir o conceito de patrimônio que
temos hoje, não mais no âmbito privado ou religioso das
tradições antigas e medievais, mas de todo um povo, com
uma única língua, origem e território.
Os modernos Estados Nacionais surgiram a partir de dois
grandes sistemas jurídicos, cujas características são importantes
para entendermos as diferentes concepções de patrimônio.
Uma é oriunda do direito romano ou civil e a outra do direito
consuetudinário, anglo-saxão. A diferença entre ambos é
basicamente que a tradição latina considera a propriedade
privada é sujeita a restrições; já na consuetudinária anglo-
-saxônica, a limitação ao direito de propriedade é muito mais
tênue. Em resumo, para exemplificar os dois casos, bens achados
em propriedades privadas, segundo o direito consuetudinário, são
do seu proprietário e podem ser vendidos; já na tradição romana,
tais bens são considerados públicos (FUNARI; PELEGRINI, 2006).
O período entre guerras que vai de 1914 a 1945 é o ápice
da ênfase no patrimônio nacional, principalmente quando as duas
Guerras Mundiais eclodem sob o impulso dos nacionalismos. Um
exemplo extremo é dos italianos que usavam os vestígios dos
romanos e se exaltavam como seus herdeiros, construindo uma
identidade calcada nesse patrimônio. Por isso, o “[...] nacionalismo
italiano usava símbolos materiais do poder romano, como o feixe,
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
110
do qual deriva o próprio nome do movimento nacionalista, o
fascismo” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 21).
Após o termino da Segunda Guerra Mundial e com a
criação da ONU e da Unesco em 1945, houve a ascensão de
novos agentes sociais. O nacionalismo e a ideia de unidade
nacional foram minados no cotidiano das lutas sociais. Movimentos
em defesa do meio ambiente contribuíram para que, no fim da
década de 1950, a legislação de proteção do patrimônio fosse
ampliada para o meio ambiente e para os grupos sociais e
locais, antes preteridos em benefício da nacionalidade (FUNARI;
PELEGRINI, 2006).
Em 1972, a Unesco promoveu a primeira convenção
referente ao patrimônio mundial, cultural e natural. A partir do
reconhecimento da importância da diversidade, já que não fazia
sentido valorizar apenas e de forma isolada o mais belo, o
mais precioso ou o mais raro, mas sim incorporar um conjunto
de bens que se repetem, o comum. O ponto mais importante
foi considerar que os sítios declarados como patrimônio da
humanidade pertenciam a todos os povos do mundo. Segundo essa
convenção, o patrimônio da humanidade deveria ser composto da
seguinte forma:
- Monumentos: obras arquitetônicas, esculturas, pinturas,
vestígios arqueológicos, inscrições, cavernas.
- Conjuntos: grupos de construções.
- Sítios: obras humanas e naturais de valor histórico,
estético, etnológico ou cientifico.
- Monumentos naturais: formações físicas e biológicas.
- Formações geológicas ou fisiografias: habitat de espécies
animais e vegetais ameaçadas de extinção.
- Sítios naturais: áreas de valor cientifico ou de beleza
natural (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 25).
Junto à chancela da Unesco vem agregado o atrativo cultural
e econômico fomentando o turismo cultural “[...] que é um dos
principais subprodutos da classificação de um sitio como patrimônio
da humanidade” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 26).
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
111
Como já vimos no histórico, desde o surgimento até a
concepção moderna de patrimônio no mundo, veremos agora as
Cartas Patrimoniais4 e suas proposições, que trouxeram de novidade
para a América Latina.
A Carta de Veneza (1964) e a de Amsterdã (1975) imprimiram
novos parâmetros de análise à questão do patrimônio, na medida em
que propuseram a ampliação do conceito de movimento. Além disso,
recomendou também a preservação de obras consideradas modestas
que tinham adquirido significação cultural e a proteção de conjuntos,
bairros ou aldeias que apresentassem interesse histórico e cultural
(FUNARI; PELEGRINI, 2006).
O principal legado da Declaração de Amsterdã foram as
políticas de conservação integrada, que trazem a noção de integração
do patrimônio à vida social. Além do mais, conferiu ao poder público
municipal a responsabilidade de elaborar programas de conservação.
Criava-se, assim, uma identidade micro local, aumentando o
envolvimento da população nos processos de preservação (FUNARI;
PELEGRINI, 2006).
Como na América Latina há uma enorme diversidade desde
diferentes patrimônios, vasto território, diferenças sociais e carência
de recursos, isso fez com que fossem propostos desafios especiais
para cada caso, por isso “[...] torna difícil e inadequado trata-los
como se constituíssem realidades únicas e homogêneas” (FUNARI;
PELEGRINI, 2006, p. 34). Entretanto, apesar da diversidade dos
contextos históricos, sociais, políticos e urbanos que enfrentam
os antigos núcleos latino-americanos, atualmente enfrentam os
mesmos problemas comuns,
[...] tais como privatização dos espaços públicos,
degradação do patrimônio cultural, precária qualidade de
vida, presença predominante de população residente de
baixa renda, subemprego [...] (FUNARI; PELEGRINI,
2006, p. 34).
Por isso, desde o final da década de 1970, há mobilizações de
devotos à causa do patrimônio. Entre esses eventos estão:
4
“Cartas Patrimoniais” são ferramentas que contribuem com o objetivo de uniformizar os discursos do
cuidado ao bem cultural (SALCEDO, 2007 apud CESAR e STIGLIANO, 2010).
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
112
- Carta de Machu Pichu (1977) – Constituiu um marco nas
reflexões acerca da preservação dos bens culturais latino-
-americanos. (p. 35).
- Declaração de Tlaxcala (1982) – defendeu a preservação
de pequenas aglomerações. (p. 36)
- Declaração do México (1985) – ratificou o respeito as
tradições e formas de expressão de cada povo (FUNARI;
PELEGRINI, 2006, p. 36).
Somente na década de 1980 há a acepção ampliada do
conceito de patrimônio, que compreende não só obras de artistas
ou triviais, mas o popular como forma de reafirmação da
identidade cultural (FUNARI; PELEGRINI, 2006). Já no Brasil,
as políticas públicas voltadas à proteção patrimonial têm oscilado
entre concepções e diretrizes nem sempre transparentes. A maior
parte das iniciativas nesse campo inscreveu-se nas esferas do poder
federal, que, não raras, suscitaram interpretações díspares. Nessa
direção, temos como início a carta do governador da capitania
de Pernambuco, D. Luis Pereira Freire de Andrade, de meados do
século XVIII. Ela foi enviada ao vice-rei do Brasil, D. André de
Melo e Castro, manifestando o desejo de impedir a transferência
de instalações militares para o Palácio das Duas Torres, com o
intuito de preservá-lo (FUNARI; PELEGRINI, 2006)
Após longo período de tempo, o tema patrimônio é abordado
de maneira sistemática nas cartas constitucionais nos primeiros
anos da década de 1930. Em 1934, a constituição republicana
declarou o impedimento à evasão de obras de arte do território
nacional e introduziu o abrandamento do direito de propriedade
nas cidades históricas mineiras, quando esta tivesse uma função
social. Já em 1936, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN). Logo depois, em 1937, saiu o
Decreto-lei que viabilizou os processos de tombamento no país. Era
o principal instrumento jurídico utilizado pelo SPHAN (FUNARI;
PELEGRINI, 2006).
Ao longo das décadas de 1940 a 1960, a gestão do patrimônio
manteve-se submetida ao Estado Brasileiro, como promulga a
Constituição de 1946 em reafirmação à Constituição de 1937.
Já em 1961, foi aprovada a única lei de proteção do patrimônio
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
113
arqueológico após uma campanha humanista encabeçada pelo
intelectual paulista Paulo Duarte. Logo, a Carta Constitucional
de 1967 criou novas categorias de bens a serem preservados,
elegendo como patrimônio as jazidas e os sítios arqueológicos
anteriormente classificados apenas como locais de valor histórico
(FUNARI; PELEGRINI, 2006).
Na década de 1970, houve grandes avanços nas políticas de
preservação, a exemplo do Programa de Reconstrução das Cidades
Históricas acionado pelo Governo Federal em 1973. Durante o
governo Médici, houve a criação do Programa de Ação Cultural
(PAC); em 1979, foi criada a Fundação Nacional Pró-Memória,
e, já na década de 1980, a proteção de monumentos isolados foi
priorizada pela preservação dos espaços de convívio, assim como
pela recuperação dos modos de viver de distintas comunidades
(FUNARI; PELEGRINI, 2006).
As políticas de incentivo fiscal voltadas para a cultura
reforçaram essa ampliação da noção dos bens a serem preservados.
Conhecida como Lei Sarney, esta constitui um impulso significativo
no âmbito da proteção do patrimônio, mas propiciou o desenfreado
desenvolvimento do marketing cultural, que se consolidou nos
anos 1990. As políticas de preservação adotadas no Brasil daquele
período sucumbiram à noção de “cidade-espetáculo”, ou seja, a
transformação de cidade histórica em objeto de consumo (FUNARI;
PELEGRINI, 2006, p. 50).
Esse processo acabou por excluir a população residente e
adaptou espaços a novos usos e, na maioria das vezes, não resultaram
em processos integrados de reabilitação, como propunham as
Cartas Patrimoniais. Porém, projetos dessa natureza tem o seu
valor positivo pautados pela transformação do patrimônio em
áreas de interesse turístico. Para os autores, só se deve procurar
evitar “[...] reduzir o patrimônio a cenários da indústria cultural
e entretenimento dissociando todas a fruição dos bens culturais
da memória social e história” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 54).
Com a ampliação do conceito de “patrimônio” na década de
2000, foi criado um novo instrumento de preservação, o Registro de
Bens Culturais de Natureza Imaterial. Isso gerou a necessidade, por
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
114
parte do IPHAN, da criação do Livro de Registro dos Saberes, Livro
de Registro das Formas de Expressão, Livro das Celebrações e o
Livro dos Lugares. Esse livro apresenta um levantamento histórico
do tema, discute as diferentes ideias que estão relacionadas ao
patrimônio, como os bens que podem ser deixados como herança
e patrimônio imaterial inestimável que compõe o patrimônio
individual, e cita a dificuldade para definir o que é patrimônio
coletivo (FUNARI; PELEGRINI, 2006).
Percebemos, assim, que segundo Funari e Pelegrini (2006), o
patrimônio deve ser entendido e concebido por uma visão social
e cultural, enfatizando pouco os aspectos decorrentes da história
política e/ou social. Por fim, o levantamento da história política
das leis patrimoniais também é resgatada, entretanto buscando
enfatizar, como não poderia ser diferente em função da formação
dos autores, novamente os aspectos sociais e culturais dessas
medidas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessa abordagem, podemos considerar que ambas
as obras instigam a reflexão sobre a multiplicidade do patrimônio
histórico e cultural, discutindo alternativas para sua preservação.
Logo, estes trabalhos são muito esclarecedores e cumprem com
o que é proposto, que é esclarecer o que é Patrimônio Histórico.
Porém, em alguns pontos, percebemos ideias que convergem e/ou
divergem em ambas as obras.
Como aspectos divergentes, podemos citar o período em
que ambas as obras foram escritas: uma na década de 1980 e
a outra na década de 2000. Essa diferença cronológica pode ser
percebida pelo fato de a discussão do tema Patrimônio Histórico
ser relativamente nova e nesses quase vinte anos que separam
as duas obras nos evidenciam essa diferença na evolução de
concepção de patrimônio e políticas de preservação. Além do
mais, o que contribui para um enfoque diferente entre as obras é a
formação dos autores: Lemos é arquiteto e tem o ponto de vista
voltado para os monumentos que compõem o patrimônio imóvel.
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
115
Já Funari e Pelegrini têm um olhar mais amplo sobre patrimônio
e suas definições sociais e culturais, visto que têm formações
na área de Humanas. Nesse sentido, vemos perspectivas bem
diferentes de encarar e refletir sobre esta problemática.
Como p o n t o s convergentes, temos a definição de
patrimônio, a relação de patrimônio material e imaterial e
históricos das leis de regulamentação. Ambos os livros discutem
a importância que colecionadores têm na história do patrimônio e
sua preservação. Outro tema em comum é a crítica à criação
de cenários artificiais devidos aos interesses econômicos,
principalmente os voltados ao turismo, que transformam cidades
ou monumentos históricos em objeto de consumo. No entanto, o
que vale ressaltar é que ambos deixam o legado da importância
da preservação e conservação do nosso patrimônio como um
todo, seja ele histórico, artístico, cultural ou ambiental, móvel ou
imóvel, que são tratados como conquistas irrevogáveis no âmbito
da preservação do patrimônio inatingível.
Mesmo assim, ainda há muito a se fazer, pois podemos afirmar
que a experiência patrimonial no Brasil tem sido assimilada no seu
sentido mais amplo, em sintonia com a coletividade e a partir de
conhecimentos antropológicos, sociológicos, históricos, artísticos
e arqueológicos orientados por especialistas.
REFERÊNCIAS
ARAGON, S. M. C. N. A. Cultura material: a emoção e o prazer de criar, sentir e
entender os objetos. Novos Horizontes, Cultura Vozes, n. 4, v. 97, p. 62-69, jul./
ago. 2003.
BALTAZAR, A. Patrimônio cultural: técnicas de arquivamento e introdução à
Museologia. Batatais: Claretiano, 2011.
BARROS, J. D. História da cultura material – notas sobre um campo histórico
em suas relações intradisciplinares e interdisciplinares. In: ______. O campo da
história – especialidades e abordagens. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 1-17.
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
116
CESAR, P. A. B.; STIGLIANO, B. V. A viabilidade superestrutural do patrimônio:
estudo do museu da língua portuguesa. CULTUR – Revista de Cultura e Turismo,
ano 4, n. 1, p. 76-88, jan. 2010. Disponível em: <http://periodicos.uesc.br/index.
php/cultur/article/view/258/266>. Acesso em: 14 fev. 2015.
CHARTIER, R. O mundo como representação. Tradução de Andrea Daher e
Zenir Campos Reis. Revista Estudos Avançados, v. 11, n. 5, p. 173-191, 1991.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0103-
40141991000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 14 fev. 2015.
FUNARI, P. P. A. (Org.). Arqueologia histórica e cultura material. Campinas:
Unicamp, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 1998.
FUNARI, P. P. A. Arqueologia. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010.
FUNARI, P. P.; PELEGRINI, S. C. A. Patrimônio Histórico e Cultural. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.
GONTARKI, M. C. Congregação Claretiana em Curitiba: uma revisão
bibliográfica, Artigo de Conclusão de Curso, CEUCLAR, 2013.
LEMOS, C. A. C. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense. 1981.
LIMA, T. A. Cultura Material: a dimensão concreta das relações sociais. Boletim
do Museu Paraense Emilio Goeldi. Ciências Humanas, v. 6, n. 1, p. 11-23, jan./
abr. 2011.
SERRATTO, E. B. F. Museu Claretiano de Curitiba: discussões preliminares
sobre o conceito de museu e o trato documental. Revista Linguagem Acadêmica,
v. l, n. 2, Claretiano, 2011. Disponível em: <http://www.claretianobt.com.br/
revista/GMQDlV>. Acesso em: 12 set. 2013.
Educação, Batatais, v. 5, n. 3, p. 99-116, 2015
Você também pode gostar
- Ficha de CompensaçãoDocumento1 páginaFicha de CompensaçãoJosé Medeiros100% (1)
- Cabeleireiro PDFDocumento160 páginasCabeleireiro PDFCíntia Da Silva Ribeiro0% (1)
- Camareira 1 PDFDocumento101 páginasCamareira 1 PDFcursos sagresAinda não há avaliações
- Atv Mapa - Unicesumar - Modelo de Plantação de Igrejas111Documento8 páginasAtv Mapa - Unicesumar - Modelo de Plantação de Igrejas111jeanAinda não há avaliações
- ENADE Tecnologia - em - Gestao - Comercial 2018Documento40 páginasENADE Tecnologia - em - Gestao - Comercial 2018vivian sousaAinda não há avaliações
- TEMÁTICA 4 - Segregação, Guetos e Distância Social.Documento8 páginasTEMÁTICA 4 - Segregação, Guetos e Distância Social.Julie MeloAinda não há avaliações
- Argentina Estudo Mercado JoiasDocumento43 páginasArgentina Estudo Mercado JoiasClaryceYamaneAinda não há avaliações
- DarfDocumento1 páginaDarfEuler PanseriAinda não há avaliações
- Bom Dia VietnaDocumento9 páginasBom Dia VietnaEduardo LangnerAinda não há avaliações
- Tabela 6.3Documento84 páginasTabela 6.3Luis SilvaAinda não há avaliações
- 120128-Texto Do Artigo-223037-1-10-20160901Documento13 páginas120128-Texto Do Artigo-223037-1-10-20160901Guilherme SaitoAinda não há avaliações
- Resolucao CMN N 4.860Documento5 páginasResolucao CMN N 4.860marina merloAinda não há avaliações
- A Cerveja DesperadosDocumento10 páginasA Cerveja DesperadosAndré MinuzziAinda não há avaliações
- Saulo BaptistaDocumento563 páginasSaulo BaptistaAriel PedoneAinda não há avaliações
- TCCDocumento72 páginasTCCpablo_dillAinda não há avaliações
- Manual para Elaboracao de Questoes 2017.2Documento58 páginasManual para Elaboracao de Questoes 2017.2Izabela BitencourtAinda não há avaliações
- O Estado Novo e o Samba Malandro Vigiado em Porto AlegreDocumento58 páginasO Estado Novo e o Samba Malandro Vigiado em Porto AlegreCarlos ReisAinda não há avaliações
- Manifesto Programa Da Ação Integralista Brasileira - Plínio SalgadoDocumento13 páginasManifesto Programa Da Ação Integralista Brasileira - Plínio SalgadoMarcos LimaAinda não há avaliações
- CT Ec 2014 2 04Documento212 páginasCT Ec 2014 2 04MaurícioSyrraAinda não há avaliações
- Análise Das Principais Patologias Observadas em Calçadas - Riodetransportes1Documento12 páginasAnálise Das Principais Patologias Observadas em Calçadas - Riodetransportes1Izadora AlencarAinda não há avaliações
- Os Jogos, As Brincadeiras e As Tecnologias Digitais A Serviço Das Aprendizagens, Da Inclusão e Da Autonomia: Sentidos e Significados ProduzidosDocumento226 páginasOs Jogos, As Brincadeiras e As Tecnologias Digitais A Serviço Das Aprendizagens, Da Inclusão e Da Autonomia: Sentidos e Significados ProduzidosEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- Resumo Do Capítulo 2 e Resolução Dos ExercíciosDocumento2 páginasResumo Do Capítulo 2 e Resolução Dos ExercíciosrobertAinda não há avaliações
- Transformações FonéticasDocumento6 páginasTransformações FonéticasFelipe AccioliAinda não há avaliações
- A Ética Da Biotecnologia Moderna - Brasil EscolaDocumento5 páginasA Ética Da Biotecnologia Moderna - Brasil EscolaFilosófica BibliotecaAinda não há avaliações
- Prova Fevereiro 2011Documento26 páginasProva Fevereiro 2011LisivilarAinda não há avaliações
- Max Sorre e Pierre DeffontainesDocumento9 páginasMax Sorre e Pierre DeffontainesAntrogzAinda não há avaliações
- VIANNA, Hermano. Funk e Cultura Popular Carioca. OKDocumento10 páginasVIANNA, Hermano. Funk e Cultura Popular Carioca. OKKarla RodriguesAinda não há avaliações
- A Previdência Injusta PDFDocumento324 páginasA Previdência Injusta PDFErick SantosAinda não há avaliações
- Prova para o 1º EM Matéria Do 9º Ano EFDocumento10 páginasProva para o 1º EM Matéria Do 9º Ano EFMme SantosAinda não há avaliações
- Estilos de Epoca Da Literatura Brasileira Parte II E1664576065Documento47 páginasEstilos de Epoca Da Literatura Brasileira Parte II E1664576065Fernanda Figueira FonsecaAinda não há avaliações