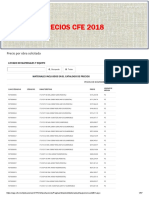Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Educação Menor e Spinoza
Educação Menor e Spinoza
Enviado por
Diego Matos GondimDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Educação Menor e Spinoza
Educação Menor e Spinoza
Enviado por
Diego Matos GondimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
OUTROS TEMAS
A Prática Espinosana de
uma Educação Menor
Fernando Bonadia de Oliveira I
I
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Seropédica/RJ – Brasil
RESUMO – A Prática Espinosana de uma Educação Menor. O conceito de
educação menor, proposto por Sílvio Gallo em trabalho publicado na Re-
vista Educação & Realidade no ano de 2002, parte de um deslocamento do
conceito de literatura menor, criado por Gilles Deleuze e Félix Guattari. O
objetivo deste artigo é identificar Bento de Espinosa (1632-1677), no contex-
to do século XVII, à prática de certa espécie de educação menor. Tal identi-
ficação será construída por meio de um exame de alguns aspectos da bio-
grafia do filósofo e de elementos colhidos de sua obra. Demonstra-se que
Espinosa, em sua atividade como professor, manteve uma forma de educar
não institucionalizada, desterritorializada e rizomática, assim como define
o conceito de educação menor.
Palavras-chave: Bento de Espinosa. Educação Menor. Desterritorialização.
Rizoma.
ABSTRACT – Spinozian Practice of a Minor Education. The concept of mi-
nor education, proposed by Silvio Gallo, in his work published on Educação
& Realidade in 2002, is based on a displacement from the concept of minor
literature, created by Gilles Deleuze and Félix Guattari. The aim of this arti-
cle is to identify Benedict de Spinoza (1632-1677), in the context of the XVII
century, to the practice of a certain type of minor education. Such identifi-
cation will be accomplished through the examination of certain aspects of
the philosopher’s biography and elements picked from his work. It is shown
that Spinoza, in his practice as a teacher, kept a non-institutionalized, de-
territorialized and rhizomatic way of educating, as it is defined in the con-
cept of minor education.
Keywords: Benedictus de Spinoza. Minor Education. Desterritorialization.
Rhizome.
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019. 1
http://dx.doi.org/10.1590/2175-623681521
A Prática Espinosana
Uma Prática de Educação Menor no Século XVII
Gilles Deleuze, leitor contemporâneo do filósofo holandês mo-
derno Bento de Espinosa, ao escrever com Félix Guattari um livro so-
bre Kafka, desenvolveu o conceito de literatura menor. Ao envolver esse
conceito no campo dos estudos filosófico-educacionais, Sílvio Gallo
(2002) criou a noção de educação menor, tendo em vista contribuir para
um devir Deleuze no campo educacional. Desde sua primeira aparição,
em artigo da Revista Educação & Realidade, essa noção vem sendo es-
tudada e mobilizada nas mais diversas dimensões da prática educativa,
a despertar o debate sobre formas de educar diferentes das grandes e
tradicionais linhas de pensamento pedagógico em circulação no Brasil
contemporâneo.
A literatura menor é a literatura que resiste, afronta, produz-se à
margem da literatura dita grande, controlada e valorizada pelo Estado
e pelas instituições. Deleuze e Guattari pensaram o menor também no
campo da ciência e da filosofia (Gallo, 2015b) e, como eles, podemos
pensar, em uma educação menor que vaza e é praticada à margem, di-
ferentemente de uma educação maior, pautada por atividades pedagó-
gicas planificadas, instituídas e institucionalizadas, típicas dos gran-
des planos de educação, das diretrizes e das orientações formatadas em
documentos oficiais e legislações (Gallo, 2015a).
O modo pelo qual o conceito de educação menor é descrito e apre-
sentado coincide, em vários aspectos, com a maneira de Espinosa pen-
sar e fazer a educação em seu tempo e espaço: o século XVII na Holanda,
lugar em que nascia e crescia a educação pública religiosa (Luzuriaga,
1959). O filósofo se recusou a integrar a Academia de Leiden e realizou
uma atividade pedagógica intensa junto a um collegium formado em
Amsterdã para ler e estudar os seus escritos; Espinosa se correspondia
com esse grupo e, a partir desse diálogo, aperfeiçoava sua obra, visan-
do sempre à clareza de exposição de seus pensamentos. Ademais, ele
foi um ativo professor particular, recebendo em sua casa, ao que tudo
indica, uma série de jovens estudantes dispostos a conhecer o cartesia-
nismo, a nova filosofia.
O propósito deste texto consiste em examinar a correlação entre
Espinosa (filósofo do século XVII) e a prática de uma educação menor
(proposta por Gallo no início do século XXI), à luz do resgate de certos
dados da vida de Espinosa e de passagens de sua obra. Como recurso
argumentativo, retomaremos um comentário de Deleuze em aula do
Curso sobre Espinosa de 25 de novembro de 1980.
O Conceito de Educação Menor
Em 1999 foi lançada a coletânea O Que é Filosofia da Educação?
contendo uma série de textos a respeito da articulação entre sistemas
filosóficos e a educação. Gallo publicou nesse livro uma primeira in-
trodução ao estudo dos devires deleuzianos no campo educacional. No
primeiro parágrafo do texto, ele advertiu que buscava “[...] aplicar certos
2 Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019.
Oliveira
princípios da filosofia trabalhados por Deleuze à filosofia da educação”,
reconhecendo, porém, que ninguém é deleuziano (Gallo, 1999, p. 157).
A precaução metodológica foi expressiva: abrir-se a pontes e cone-
xões entre Deleuze e educação, mas fora de uma perspectiva fundacio-
nista comprometida com a aplicação global e cabal de um fundamento
(a filosofia deleuziana) a uma prática específica (nesse caso, a prática
educativa). Não é viável, a rigor, falar ou fazer educação deleuziana.
Gallo, em Notas deleuzianas para uma filosofia da educação, oferecia
aos leitores alguns apontamentos que eram, declaradamente, fruto do
método do roubo, isto é, de uma atitude criativa de retomar ou deslocar
determinado conceito de um filósofo e, assim, “recriá-lo” (Gallo, 1999,
p. 157).
No exercício dessa atividade criativa, é essencial – como lembrou
Deleuze – não nos limitarmos a “[...] agitar velhos conceitos estereo-
tipados como esqueletos destinados a intimidar toda criação” (Gallo,
1999, p. 181). Os filósofos da educação se definem como criadores de
conceitos, capazes de criar não só pela reinvenção de velhos conceitos
postos em movimento, mas também pela manifestação da atualidade
de um conceito junto a problemas colocados pela educação contempo-
rânea (Gallo, 1999). Ao fazer o conceito de menor deleuzo-guattariano
disparar no campo da educação, o autor deslocou, torceu, atualizou e
com isso criou, a partir de sua singularidade, novos problemas e novas
perspectivas para pensar e fazer filosofia da educação. Segundo ele, im-
porta deslocar o conceito com a finalidade de criar um dispositivo para
pensar a educação, “[...] sobretudo aquela que praticamos no Brasil em
nossos dias” (Gallo, 2008, p. 62). Os novos problemas suscitados pelo
conceito de educação menor deram lugar a novos estudos, afinal, os
fluxos que dele se desprenderam foram se ligando cada vez mais a situ-
ações concretas do fazer pedagógico contemporâneo. Como a educação
no Brasil foi frequentemente vítima das políticas públicas que prome-
teram salvá-la, sua própria história justifica a pertinência do debate em
torno da educação menor, isto é, de uma educação que se faz em sentido
distinto da educação dos grandes planos e das grandes políticas. Não é
de estranhar que a noção de educação menor tenha sido muito lembra-
da desde sua primeira formulação em 2002 e, principalmente, depois de
sua recolocação em 2003, no interior de um livro que veio a ter grande
circulação no país, Deleuze & a Educação (Editora Autêntica).
Em termos gerais, a exposição argumentativa é a mesma no artigo
de Educação & Realidade e no capítulo do livro. A educação menor é in-
troduzida para responder à pergunta: “[...] como pensar e produzir, nes-
se início de século XXI, uma educação revolucionária”? (Gallo, 2008, p.
62). Uma educação revolucionária certamente se aplica, nesse contexto,
contra as estruturas da educação maior, aquela que é instituída e que
quer instituir-se nas mesas dos gabinetes de gestores e na macropolíti-
ca das grandes reformas. Todavia, não difere apenas negativamente, ou
seja, por fazer oposição ou por recusar a dinâmica da educação maior.
As três características que Deleuze e Guattari conferiram à literatura
menor definem positivamente a educação menor (Gallo, 2008).
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019. 3
A Prática Espinosana
Em primeiro lugar, a característica de desterritorialização da lín-
gua. De acordo com Gallo (2008, p. 63), “[...] toda língua tem sua territo-
rialidade, está em certo território físico”, é imanente a uma realidade; a
literatura menor é capaz de subverter essa realidade, porque “[...] desin-
tegra esse real, nos arranca desse território”. Descolada para a educa-
ção, a desterritorialização da língua se converte em desterritorialização
dos processos educativos. Uma literatura menor, como escreveram os
pensadores franceses, “[...] não é a de uma língua menor, mas antes a
que uma minoria faz em uma língua maior” (Deleuze; Guattari, 2015, p.
35); ela subverte a língua, fazendo com que a língua opere contra aquilo
que a instituiu como língua maior. Assim também, a educação menor,
segundo Gallo (2008), pode desterritorializar os modos de ensinar e
aprender já instituídos, e superar as máquinas de controle do aparelho
educacional. Como isso seria possível? Assim como Kafka fez um uso da
língua que ia contra o uso instituído, enunciando aí a voz da minoria,
podemos fazer uso diferenciado dos processos educativos estabeleci-
dos, conferindo-lhes sentido distinto daquele para o qual foram impos-
tos, dando vazão à libertação das minorias. Trata-se de opor resistência
de dentro da própria máquina de controle, a partir de brechas e de fis-
suras que a máquina apresenta.
A ramificação política, segunda característica da literatura me-
nor, contempla a natureza rizomática, segmentária e fragmentária des-
sa literatura, disposta a produzir conexões e relações incessantes, que
apresentam sempre uma dimensão política, embora isso possa não es-
tar explícito em seu conteúdo. Contrariamente à literatura maior, que
“[...] não se esforça por estabelecer elos, cadeias, agenciamentos, mas
sim para desconectar os elos, para territorializar-se no sistema das tra-
dições a qualquer preço e a toda força” (Gallo, 2008, p. 63), a literatu-
ra menor age sempre por desterritorialização. De forma correlativa, a
educação menor é sempre uma expressão política feita no cotidiano, a
viabilizar sempre novas conexões e a abrir ramificações outras, que se
revelam em um agenciamento político de duas faces: (a) agenciamento
maquínico do desejo do educador militante e (b) agenciamento coletivo
de enunciação do educador na relação com os educandos (Gallo, 2008).
O terceiro traço da literatura menor, o valor coletivo, se mostra
nas vozes que a ocupam. Conforme afirma Gallo, toda obra de literatu-
ra menor não se expressa por si mesma, mas se faz voz de milhares de
indivíduos. No momento em que se desterritorializa, a língua dá voz à
minoria. A literatura menor se torna obra coletiva, na qual a periferia e
a margem se reconhecem em um projeto coletivo. A educação menor
pensada dessa maneira, não é um ato solitário de um professor que pro-
clama como a prática docente precisa ser feita, mas um constante exer-
cício de produção de multiplicidades envolvidas em projetos coletivos.
De fato, muito se escreveu, desde a primeira manifestação dessas
ideias. Em 2015 foi organizada pelo Grupo Transversal da FE/UNICAMP
uma coletânea intitulada Educação Menor: conceitos e experimentações.
Nessa publicação, diversas pesquisadoras e diversos pesquisadores es-
tabeleceram novas articulações entre o conceito de Gallo e experiên-
cias efetivas na prática pedagógica. Antes disso, dez anos depois da pri-
4 Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019.
Oliveira
meira edição do livro Deleuze & a Educação, Prado-Neto (2013) escreveu
sua dissertação de mestrado em Aracaju, focando casos de uma educa-
ção menor tomados a partir de desterritorializações docentes. Nos dois
últimos anos, artigos envolvendo essa temática foram publicados em
periódicos da área de Educação. Rosa (2016), por exemplo, se dedicou a
desdobrar a relação entre literatura e educação menor; Varela, Ribeiro
e Magalhães (2017) se debruçaram sobre a educação menor com ênfase
nas discussões sobre gênero na escola. O que propomos doravante é fa-
zer o conceito de Gallo se identificar – no século XVII – pela vida e pela
obra de Espinosa comentada por Deleuze.
Espinosa e sua Pequena Rede
René Descartes, o célebre racionalista antecessor de Espinosa nos
manuais tradicionais de história da filosofia, é a representação pura de
alguém que deseja, enquanto educador, se incorporar ao ideal de uma
educação maior, no sentido trazido por Gallo. Dennis Moreau, em sua
apresentação à Carta-Prefácio dos Princípios da Filosofia de Descartes,
justifica essa afirmação.
Em carta de 11 de novembro de 1640, destinada ao padre Marin
Mersenne (1588-1648), seu grande amigo e interlocutor nas investiga-
ções científicas, Descartes manifestou que sua intenção ao redigir os
Princípios era compor por ordem todo um curso de sua Filosofia, o que
faria “[...] em forma de teses em que, sem nenhuma superfluidade de
discurso” (Santiago, 2004, p. 34), estivessem aclaradas todas as suas
conclusões com as verdadeiras razões de onde foram extraídas. More-
au assegura com agudeza que nos quadros da mentalidade pedagógi-
ca e acadêmica do século XVII, um curso de Filosofia significava “[...]
um manual destinado a servir de apoio nas escolas, especialmente nas
dos jesuítas” (Moreau, 2003, p. 13); Descartes esperava ganhar para sua
causa os padres da Companhia, visando assim, tornar-se da escola. Os
Princípios assumem a forma de suma filosófica cartesiana, um manual
subversivo a granjear um lugar na grande instituição (Moreau, 2003). O
filósofo francês, como sabemos, consultou inúmeros manuais escolás-
ticos adotados pela escola de seu tempo, e trabalhou sobre eles densa-
mente, projetando até escrever – ao invés dos Princípios – um livro em
forma comparativa, no qual suas explicações estivessem emparelhadas
às explicações escolásticas, de maneira a evidenciar cristalinamente a
inferioridade das outras explicações diante das suas. O projeto nunca
foi completado. Os Princípios foram escritos na forma de artigos (densos
e curtos) e Descartes, no final da história, ficou decepcionado: sua obra
não foi bem compreendida nas instituições que continuavam adminis-
trando o mesmo tipo de formação para os alunos (Moreau, 2003).
Descartes, tendo descoberto a variedade de erros cometidos pela
instituição que o formou, decidiu escrever todo um curso de sua Filo-
sofia para se instituir na escola, sem questionar a estrutura de poder da
educação maior. Vale assinalar que jamais deixou de haver ímpeto revo-
lucionário e subversivo na atitude de Descartes (ele queria desbancar o
aristotelismo inócuo de seu tempo), mas buscava, na verdade, uma sub-
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019. 5
A Prática Espinosana
versão que contraditoriamente desejava se reterritorializar, isto é, ceder
às próprias estruturas contra as quais se impunha, unicamente para to-
mar o trono1. Esse movimento de reterritorialização (ou mesmo de não
desterritorialização) dos processos educativos mantidos pela educação
maior não ocorreu com Espinosa. O risco da reterritorialização de prá-
ticas de educação menor, recuo que se dá quando a educação menor é
cooptada pela educação maior, é permanente (Gallo, 2008). Descartes,
conforme afirmou Moareau, sempre buscou sucesso pedagógico nas
escolas; Espinosa, quando teve oportunidade de se colocar no que cha-
mamos atualmente de educação maior, recusou.
Deleuze, em sua aula de 25 de novembro de 1980, descreveu Espi-
nosa como aquele que “[...] pule as suas lentes, que a tudo abandonou,
sua herança, sua religião, todo sucesso social” (Deleuze, 2012, p. 20); é
um filósofo marginal: a Ética, à diferença dos Princípios, nem pode ser
publicada. Espinosa, segundo Deleuze (2012, p. 20), “[...] não faz nada
e antes de ter escrito qualquer coisa”, é injuriado e denunciado; para
todos de sua época, é o ateu abominável, está censurado antes de sua
morte, e por muito tempo depois dela.
Deleuze, sem atentar estritamente ao rigor do enunciado, afirma
que Espinosa não queria ser professor. Todavia, ele sabia que Espinosa
não só quis, como foi professor, em pelo menos dois sentidos: como mes-
tre particular, atendendo a uma série de estudantes universitários que
lhe procuravam para compreender a nova filosofia (o cartesianismo), e
como mentor do collegium de Amsterdã, dedicado a estudar seu próprio
pensamento2. O que, de fato, Espinosa jamais desejou foi ser professor
público, isto é, ministrar lições públicas. Deleuze conheceu o conteúdo
da Carta 48, em que o filósofo recusa o convite de Fabritius para se tor-
nar professor de Filosofia na Academia de Heidelberg. Se bem atentou
ao texto, Deleuze observou que Espinosa escreveu: “Se alguma vez eu
tivesse desejado aceitar o ensino em alguma faculdade...” e, adiante,
“[...] como nunca estive disposto a ensinar publicamente [...]” (Espinosa,
2008, p. 113). Ensinar, no entanto, é uma atividade que Espinosa não só
desejou para si, como defendeu que fosse atividade livre para todos em
uma República verdadeiramente livre. O capítulo final do Tratado Teo-
lógico-Político, publicado em 1670, não descreve outra coisa (Espinosa,
2003, p. 303): “Vemos, assim, em que medida um indivíduo pode dizer
e ensinar o que pensa, sem perigo para o direito e a paz da República”.
Na aula, Deleuze (2012, p. 20) resgata certo trecho do Tratado Polí-
tico (VIII, §49) em que Espinosa é devastador: “As Academias, fundadas
a expensas da República, instituem-se não tanto para cultivar os enge-
nhos como para os coarctar”. Nesse ponto de sua obra, é disparada uma
veemente crítica às universidades em atividade no século XVII, porta-
-vozes dessa educação maior com a qual Descartes almejou se articular.
Para Espinosa (2009, p. 118), “[...] numa República livre, tanto as ciências
quanto as artes serão otimamente cultivadas se for concedida, a quem
quer que peça, autorização para ensinar publicamente, à sua custa e
com risco da sua fama”.
6 Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019.
Oliveira
Deleuze (2012, p. 20) interpretou esse parágrafo como revelador
de uma concepção político-educacional para a qual “[...] o professorado
seria uma atividade benévola e que [...] haveria que pagar para ensinar.
Os professores ensinariam arriscando sua fortuna e sua reputação”3. Na
realidade, Espinosa não desejou exatamente um sistema em que se teria
de pagar para ensinar, mas uma política que garantisse o direito do pro-
fessor de gerir autonomamente sua escola, sem a tutela ou a intervenção
opressora do Estado e da Igreja, responsáveis mais por retrair do que
impulsionar as ciências e as artes4. Ao deixar que o educando de uma
república livre tivesse o direito de se guiar pela fama ou reputação do
professor, Espinosa não pretendia estabelecer uma política meritocrá-
tica, para a qual vale a regra de que o professor mais popular tem mais
destaque do que os outros5. Ele objetivava alcançar a única norma pos-
sível para moderar o ensino em uma sociedade livre: fixar a liberdade
dos cidadãos para escolher como e com quem querem aprender.
Nada pode concordar mais com o que o próprio Espinosa praticou
ao longo da vida. Mediante estudos recentes de Jonathan Israel – reto-
mados por Filip Buyse (2013) – sabemos que Espinosa ministrou cursos
sobre a nova filosofia para vários estudantes. Essas novas informações
sobre a atividade docente de Espinosa corroboraram a suspeita já an-
tiga de que o filósofo desfrutara, em sua juventude, de boa reputação
no meio científico, principalmente como conhecedor do cartesianismo.
Certamente, o ofício do polimento de lentes, o estudo rigoroso di-
ário e as aulas dadas aos universitários permitiam a Espinosa ir além
do ensino promovido pela educação pública religiosa de seu tempo. O
filósofo foi, por onde passou, um professor livre, prático de uma educa-
ção que se insurgia contra o sistema educacional instituído, fazendo-se
à margem.
A correspondência de Espinosa guarda uma notícia importante
que se refere a um de seus alunos, o jovem Caseário, estudante de Lei-
den que terminou a vida sendo botânico. Em carta do início do ano de
1663, Simon de Vries (amigo próximo de Espinosa) declara invejar Case-
ário por poder desfrutar de uma intimidade com o filósofo que ele mes-
mo, à distância, não podia vivenciar. Espinosa responde amavelmente
para o amigo, mas é ao mesmo tempo duro e generoso com seu aluno
que devia então ter cerca de vinte anos.
Não deves invejar Caseário: ninguém me é mais odioso do
que ele e não há pessoa de quem desconfio mais do que
dele. Por isso quero que saibas, bem como nossos amigos,
que nenhuma das minhas opiniões deve ser-lhe comuni-
cada antes que alcance uma idade mais madura. É ainda
muito criança e pouco constante, mais interessado pela
novidade do que pela verdade. Mas espero que se emen-
dará desses vícios com o passar dos anos, direi mais: pelo
que posso julgar de seu engenho, estou certo de que isso
acontecerá. Por isso sua índole leva-me a amá-lo (Espino-
sa, 1973, p. 378, Carta 9).
A reação de Espinosa ante a declaração de inveja de Simon de
Vries pode ter sido acentuada em seus contornos críticos à personalida-
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019. 7
A Prática Espinosana
de do aluno somente para abrandar a aflição de um amigo que, sendo
muito mais querido que o jovem aluno, inclinava-se à inveja, um afeto
nascido da tristeza e do ódio. No entanto, ao que tudo indica, o jovem
Caseário foi mesmo um aluno problemático (Meinsma, 1983), e inspira-
va cautela; estava sendo seduzido pela novidade cartesiana, e não pare-
cia afeito a reconhecer a verdade do espinosismo. A despeito de sua in-
constância, Caseário devia ser um garoto de engenho singular, uma vez
que dava esperança ao professor de se emendar com o passar do tempo,
e suscitava a generosidade, afeto definido no escólio da proposição 59
da Ética III como o “Desejo pelo qual cada um se esforça para favorecer
os outros homens e uni-los a si por amizade pelo só ditame da razão”
(Espinosa, 2015, p. 335). Caseário terminou a vida reconhecido em sua
profissão, tornando-se notável por uma obra sobre botânica, intitulada
Hortus malabaricus (Meinsma, 1983). Ele foi provavelmente o discípulo
a quem Espinosa confessou ter ditado a segunda parte dos Princípios de
Descartes demonstrados em ordem geométrica. Esse ditado integra a
única obra que Espinosa publicou em vida com seu nome, os Princípios
da Filosofia Cartesiana. Em missiva ao secretário da Real Sociedade de
Londres, Henri Oldenburg, Espinosa escreveu:
Alguns amigos pediram para que lhes fizesse cópia de
certo tratado que contém, em resumo, a segunda parte
dos Princípios de Descartes, demonstrada segundo o mé-
todo geométrico, e os principais temas tratados na meta-
física. Esse tratado eu antes o havia ditado a certo jovem,
a quem não queria ensinar abertamente minhas opiniões.
Posteriormente, me pediram para que elaborasse, quanto
antes eu pudesse, segundo o mesmo método, também a
primeira parte. E eu, para não contrariar os amigos, me
pus imediatamente a redigi-la e a conclui em duas sema-
nas (Spinoza, 1988, p. 139, Carta 13).
O autor dos Princípios da Filosofia Cartesiana partiu de um dita-
do ao seu aluno particular para compor a obra, valendo-se do método
geométrico e da prática do ditado (anotado, lido e explicado). O ditado,
recurso instituído pela educação maior dos velhos jesuítas6, era empre-
gado por Espinosa para ensinar o sistema cartesiano fora dos limites
da universidade de seu tempo. Dá-se, então, a típica desterritorializa-
ção de um processo educativo característico da educação maior, pois
Espinosa, com habilidade singular, ensina – por sua conta e risco e em
sua própria casa – aquilo que a Academia proíbe ensinar. O professor,
nesse caso, ensina utilizando o método geométrico como recurso di-
dático; não faz uma suma filosófica por artigos breves e densos como
foram compostos os Princípios de Descartes. Essa liberdade permitiu a
Espinosa não precisar fazer concessões filosóficas para adequar o con-
teúdo de seu pensamento ao que contentaria a educação instituída e a
universidade institucionalizada7.
A correspondência com Simon de Vries descortina ainda a se-
gunda espécie de prática educativa menor de Espinosa, a saber, como
mentor de um collegium, estabelecido em Amsterdã. O grupo, formado
por amigos mais próximos e de maior confiança de Espinosa, recebia
8 Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019.
Oliveira
por carta as primeiras versões da Ética e as estudava minuciosamente.
Nesse caso, a prática era voltada não ao ensino da novidade (o carte-
sianismo), mas à verdade, isto é, ao pensamento espinosano em franca
construção. Algo do recurso ao ditado parece se manter nessa prática,
afinal, em conformidade com o correspondente, a dinâmica das reuni-
ões do collegium era a seguinte:
Um de nós (por turno) lê uma passagem, a explica segun-
do seu critério e, além disso, demonstra todas as proposi-
ções conforme a ordem que você deu. E se acontece que a
resposta que um dá não satisfaça a outro, pensamos que
vale tomar nota disso e escrever-lhe, para que nos escla-
reça, se é possível, a fim de que, com sua ajuda, possamos
defender a verdade contra os supersticiosamente religio-
sos e cristãos, e manter-nos firmes frente aos ataques de
todo mundo (Spinoza, 1988, p. 114, Carta 8).
Conforme Deleuze (2012, p. 20) sabiamente comentou a respeito
do collegium, “Spinoza está relacionado com um grande grupo colegia-
do, ele lhes envia a Ética à medida que a escreve, e eles se explicam a si
mesmos os textos de Spinoza, e eles escrevem a Spinoza que responde”.
Quem, afinal, compunha esse coletivo? Deleuze apenas recordou que
seus membros eram pessoas muito inteligentes, e com razão: participa-
vam figuras como Simon de Vries e um jovem estudante chamado Jo-
ahannes Bouwmeester; médicos como Lodowijk Meyer e Johannes Hu-
dde; comerciantes, juristas, entre outros perfis, também frequentavam
os encontros.
Deleuze afirma que a correspondência espinosana com o colle-
gium é essencial, deixando patente que Espinosa possuía sua pequena
rede (son petit réseau). Ora, vemos de forma preclara, pelo deslocamento
conceitual de Gallo, que tal rede não é simplesmente pequena, mas me-
nor. Tanto pelo universo a que se destinava quanto pelo modo horizon-
tal pelo qual se desenvolvia, há pura ramificação política na prática dos
colegiantes, a expressar aquele duplo agenciamento político.
A forma rizomática desse tipo de educação não transparece tão
claramente se não observarmos o papel desempenhado pela geometria
nesse processo. De acordo com o Apêndice da parte I da Ética, a mate-
mática tem valor porque trouxe aos seres humanos uma norma de ver-
dade que lhes permitiu escapar ao esquema de preconceitos comuns,
afinal, em seu modo de proceder, a matemática não visa a nenhum fim;
não está comprometida com nenhum preconceito, pois se limita a ser
uma máquina de dedução certa e verdadeira (Espinosa, 2015). Isso coin-
cide com o aspecto rizomático dos recursos didáticos de uma educação
menor. As demonstrações geométricas não se concluem jamais, na me-
dida em que podemos, a partir das deduções já obtidas, retirar sempre
outras conclusões inéditas, e assim indefinidamente. Vale destacar que
também nessa dimensão o espinosismo recriou um método consagra-
do na educação maior, fazendo com que ele se voltasse contra a própria
educação maior. Espinosa ensinava uma doutrina que não podia sequer
aspirar ao lugar das grandes instituições, mas se valia de um expediente
legitimado por elas. As matemáticas tinham superado, no século XVII,
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019. 9
A Prática Espinosana
a Quaestio de certitudine mathematicarum, uma polêmica que coloca-
ra em xeque a certeza e a evidência dos matemáticos (Chaui, 1999). Por
fim, o saber dos matemáticos triunfou, sendo reconhecido por inúme-
ros jesuítas. A geometria, revigorada em sua legitimidade institucional
depois da Quaestio de certitudine, é aplicada para demonstrar a novida-
de (o cartesianismo) e a verdade (o espinosismo)8.
Espinosa não se esforçou, a qualquer custo, por ser reconhecido
no todo, mas em se fazer sentir em singularidades humanas produtoras
de multiplicidade, isto é, um grupo colegiado singular, imerso na leitura
de uma vastidão de definições, proposições e demonstrações da geome-
tria. Ele advertiu os amigos aos quais escreveu o Breve Tratado, para que
não comunicassem a qualquer um as verdades ali encontradas, e que
tivessem cuidado com a perseguição às ideias novíssimas daquela épo-
ca; o autor dá toda atenção apenas à salvação e ao bem-estar do leitor
(Spinoza, 2012).
Como podemos perceber, há um valor coletivo na prática do col-
legium, uma heterogeneidade e multiplicidade de vozes que colocam
ao mestre objeções quanto à clareza da Ética e, com isso, ele a reforma
e a aprimora progressivamente. Não vemos, como nos Princípios, um
manual a ser oferecido para os alunos, mas uma obra – a Ética – sen-
do construída com os discípulos. O leitor atento percebe, no Tratado da
emenda do intelecto, que Espinosa às vezes não fala da Ética como a mea
Philosophia, mas como a nostra Philosophia, em menção provável à as-
sociação dele com o collegium (Domínguez, 200). Como toda educação
menor, segundo Gallo, Espinosa e seus amigos possuem um projeto co-
letivo nitidamente apresentado: defender a verdade contra a superstição
violenta dos cristãos e resistir, enfim, aos ataques dos ignorantes e in-
tolerantes.
Espinosa, Prático Extemporâneo de uma Educação Menor
A propositura do conceito de educação menor se inicia pela sugestão
deleuzo-guattariana da imagem do escritor que compõe sua obra como o
cão que cava seu buraco e o rato que faz sua toca. Gallo (2008, p. 59) indaga:
E se nos pusermos a pensar em educar como um cão que
cava seu buraco, um rato que faz sua toca? No deserto de
nossas escolas, na solidão sem fim – mas superpovoada –
de nossas salas de aula não seremos, cada um de nós, cães
e ratos cavando nossos buracos?
O professor que cava seu buraco e age micropoliticamente pro-
duzindo educação menor no contexto do grande domínio da educa-
ção maior, se aproxima muito da figura que Antonio Negri chamou
de militante, perfil político que se distingue do profeta. A partir das
ideias de Negri, Sílvio Gallo – novamente mediante um roubo, dessa vez
silencioso – se permite pensar o professor-profeta, que “[...] do alto de
sua sabedoria diz aos outros o que deve ser feito” (Negri; Gallo, 2008, p.
60). Esse é o professor crítico e consciente, conhecedor dos problemas
globais da educação, anunciador de um futuro revolucionário que põe
10 Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019.
Oliveira
às claras um novo mundo. O professor-militante, por sua vez, é aquele
“[...] que de seu próprio deserto, de seu próprio terceiro mundo opera
ações de transformação, por mínimas que sejam” (Gallo, 2008, p. 60). O
professor de ação militante vive as situações e do interior das situações
vivenciadas “[...] produz a possibilidade do novo” e “[...] procura viver
a miséria do mundo, a miséria de seus alunos, seja ela qual for” (Gallo,
2008, p. 62).
João Wanderlei Geraldi, Maria Benites e Bernd Fichtner (2006,
p. 139) situam o espinosismo como aliado no que chamam de “[...] ra-
dicalização ética da educação pública”. Para os autores, a filosofia e o
exemplo de Espinosa esclarecem com exatidão o modo pelo qual al-
gumas experiências novas em educação se implementam, atualmente,
como prática social. Não resgataremos aqui as experiências descritas
pelos autores, apenas destacamos que eles percebem, de certa manei-
ra, a inclinação do filósofo a ser esse professor-militante, ocupado em
experimentar práticas pedagógicas diferentes daquelas instituídas. O
percurso trilhado não deixa dúvidas de que as atitudes de Espinosa são
atitudes de um educador menor que educa como o cão que constrói o
seu buraco e o rato que faz sua toca. Como disse Deleuze na aula de 25
de novembro de 1980, o filósofo holandês tem son petit réseau, un grand
groupe collégial. Ele pratica, a seu modo, uma educação alheia ao que se
passa nas grandes academias, representantes da educação maior; dá-se
aí a desterritorialização dos processos de ensino e a criação de rami-
ficações políticas em nome de um projeto coletivo de defesa contra as
investidas dos supersticiosos e preconceituosos.
Já afirmamos no início deste artigo que o contexto brasileiro é o
contexto privilegiado da reflexão sobre a educação menor proposta por
Gallo, pois no Brasil, conforme evidencia uma série de estudiosos9, a
educação dita maior sempre se impôs para produzir margens e margi-
nalizados. A reforma atual do ensino médio (Brasil, 2017), imposta sem a
participação popular, recoloca novamente o desafio de criar estratégias
para fissurar o sistema que os reformadores empresariais da educação
pretendem instaurar (Freitas, 2012). Espinosa pode despertar reflexões
sobre formas de se efetivar desterritorializações, ramificações e valo-
res coletivos que sejam comuns à voz da minoria. Em seu tempo – não
podemos nos esquecer – a pressão social e política por parte da Igreja
e do Estado era intensa, mas mesmo assim ele criou por onde tecer sua
pequena rede e inscreveu seu nome entre aqueles que se dispuseram a
praticar uma educação revolucionária.
De fato, como observa Gallo, não há como dicotomizar entre uma
educação maior ou uma educação menor, polarizando as duas de modo
irreconciliável, pois a prática de educação maior e a forma da educação
menor coexistem, conflitando ora mais ora menos, de acordo com a va-
riação das circunstâncias (Gallo, 2015a). Do mesmo modo, é convenien-
te pensar certa espécie de professor que conjuga o professor-profeta e o
professor-militante, tendo a consciência crítica de seu papel como pro-
fessor dotado de uma prática revolucionária que anuncia o novo como
um profeta, mas que não deixa de vivenciar e criar linhas de fuga em
seu próprio espaço como um militante. Tal professor, como foi Espino-
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019. 11
A Prática Espinosana
sa, não deixa de ter um olhar global sobre como a educação deve ser
instituída em uma república livre, porém, em simultâneo, não deixa de
seguir fazendo seu caminho, imprimindo suas marcas em transforma-
ções, por menores que elas sejam.
Recebido em 28 de março de 2018
Aprovado em 27 de setembro de 2018
Notas
1 Deleuze (2002, p. 14), também reconheceu essa dupla face da recepção do pensa-
mento de Descartes. Para ele, no século XVII, já se interpretava o cartesianismo
como “[...] uma nova e prodigiosa escolástica”, mas que já não tinha “[...] nada a
ver com a antiga [escolástica] e menos ainda com o cartesianismo”.
2 Em Espinosa: filosofia prática, Deleuze (2002, p. 17) reconhece que “Espinosa faz
parte dessa estirpe de ‘pensadores privados’ que mudam os valores e praticam
uma filosofia a martelada, e não daquela dos ‘professores públicos’ (aqueles
que, segundo elogio de Leibniz, não interferem nos sentimentos estabelecidos,
na ordem da Moral e na Polícia)”. Ou seja, para Deleuze, Espinosa se coloca
efetivamente contra o sistema publicamente estabelecido.
3 Essa posição se alinha àquela sustentada por Abreu (1993). Espinosa aparece aqui
como um legítimo liberal, que defende um estado mínimo regulador da educação
que se equilibraria com a ajuda da mão invisível do mercado consumidor.
4 Ao invés de compreender a iniciativa de Espinosa como liberal, poderíamos
pensá-la como iniciativa de autogestão da educação, na medida em que se enten-
de a autogestão social, enquanto princípio político contemporâneo, como defesa
intransigente da autonomia individual que nega o “poder institucionalizado” e
a “hierarquização” (Gallo, 2000, p. 34).
5 Diego Tatián (2004) demonstra o quanto a filosofia espinosana se afasta de
atribuir qualquer positividade à noção de mérito.
6 Embora não fosse recomendado pelos jesuítas, o ditado era exigido no nono
artigo das Regras comuns a todos os professores das Faculdades Superiores da
Ratio Studiorum nos seguintes termos: “[...] os [mestres] que ditarem não parem
depois de cada palavra, mas falem de um fôlego, e se for necessário, repitam;
e não ditem toda a questão para depois explicá-la, senão alternem o ditado e a
explicação” (Franca, 1952).
7 Ao contrário de Descartes que retirou as causas finais da física, mas precisou
mantê-las na metafísica em atenção ao imperativo dos escolásticos (Princípios,
Parte I, art. 28; Descartes, 2007), Espinosa conseguiu, com liberdade, expulsá-las
de uma vez por todas de seu sistema, esvaziando sua doutrina da tendência à
superstição (Ética I, Apêndice; Espinosa, 2015).
8 Abreu (1993, p. 171) apresenta uma concepção que em muito coincide com a
interpretação aqui proposta: “O alcance do método geométrico não é apenas
epistemológico e ontológico. Para A. Malet, esse método tem alcance religio-
so, porquanto respeita mais do que outro qualquer a essência de Deus e sua
independência relativamente ao homem”. Nessa leitura, Espinosa escolheu o
método dos geômetras não por ser um racionalista e humanista, mas porque o
conhecimento pela matemática substituiu o conhecimento pelas causas finais.
9 Para não estender a lista de clássicos da educação brasileira com o mesmo diag-
nóstico, basta recordar as constatações de Saviani (2004), Lima (1974), Freire
(2002) e Fernandes (1989).
12 Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019.
Oliveira
Referências
ABREU, Luís. Spinoza: a utopia da razão. Lisboa: Vega, 1993.
BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494,
de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5
de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de
Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, 17 fev. 2017.
BUYSE, Filip. Spinoza, Boyle, Galileo: was Spinoza a strict mechanical philosopher?
Intellectual History Review, Abingdon, v. 23, n. 1, p. 45-64, mar. 2013.
CHAUI, Marilena. A Nervura do Real I. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Tradução: C.
Vieira da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
DELEUZE, Gilles. Espinosa: filosofia prática. Tradução: D. Lins e F. Lins. São Paulo:
Escuta, 2002.
DELEUZE, Gilles. Curso sobre Espinosa. Tradução: E. Fragoso, F. Castro, H. Cardoso
Junior e J. Aquino. Fortaleza: EDUECE, 2012.
DESCARTES, René. Princípios da Filosofia. Tradução: A. Cotrim e H. Burati. São
Paulo: Rideel, 2007.
DOMÍNGUEZ, Atilano. Introducción. In: SPINOZA, Baruch. Ética. Tradução: Atila-
no Domínguez. Madrid: Trotta, 2009. P. 9-32.
ESPINOSA, Bento. Carta 9. In: ESPINOSA, Bento. Correspondência. Tradução: Mari-
lena Chaui. São Paulo: Abril, 1973. P. 378-380.
ESPINOSA, Baruch. Tratado Teológico-Político. Tradução: D. Pires Aurélio. São Pau-
lo: Martins Fontes, 2003.
ESPINOSA, Bento. Carta 48. Trilhas Filosóficas, Caicó, v. 1, n. 1, p. 113-114, jan./jun.
2008.
ESPINOSA, Baruch. Tratado Político. Tradução: D. Pires Aurélio. São Paulo: Martins
Fontes, 2009.
ESPINOSA, Bento. Ética. Tradução: Grupo de Estudos Espinosanos. São Paulo:
Edusp, 2015.
FERNANDES, Florestan. O Desafio Educacional. São Paulo: Cortez; Autores Asso-
ciados, 1989.
FRANCA, Leonel. O Método Pedagógico dos Jesuítas: “Ratio Studiorum”. Rio de Ja-
neiro, Agir, 1952.
FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2002.
FREITAS, Luiz Carlos. Os Reformadores Empresariais da Educação: da desmorali-
zação do magistério à destruição do sistema público de educação. Educação & So-
ciedade, Campinas, v. 33, n. 119, p. 379-404, abr./jun. 2012.
GALLO, Sílvio. Notas Deleuzianas para uma Filosofia da Educação. In: GHIRAL-
DELLI, Paulo. O Que é Filosofia da Educação? Rio de Janeiro: DP&A, 1999. P. 157-184.
GALLO, Sílvio. Anarquismo: uma introdução filosófica e política. Rio de Janeiro:
Achiamé, 2000.
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019. 13
A Prática Espinosana
GALLO, Sílvio. Por uma Educação Menor. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 27
n. 2, p. 169-176, jul./dez. 2002.
GALLO, Sílvio. Deleuze & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
GALLO, Sílvio. Educação Menor: produção de heterotopias no espaço escolar. In:
GRUPO TRANSVERSAL (Org.). Educação Menor: conceitos e experimentações.
Curitiba: Appris, 2015a. P. 75-88.
GALLO, Sílvio. Prefácio. In: GRUPO TRANSVERSAL (Org.). Educação Menor: con-
ceitos e experimentações. Curitiba: Appris, 2015b. P. 11-14.
GERALDI, Wanderlei; BENITES, Maria; FICHTNER, Bernd. A Radicalização Ética
na Educação Pública. In: GERALDI, Wanderlei; BENITES, Maria; FICHTNER, Bernd
(Org.). Transgressões Convergentes: Vigotski, Bakhtin, Bateson. Campinas: Merca-
do de Letras, 2006. P. 135-151.
LIMA, Lauro. Estórias da Educação no Brasil: de Pombal a Passarinho. Rio de Janei-
ro: Editora Brasília, 1974.
LUZURIAGA, Lorenzo. História da Educação Pública. Tradução: L. Damasco Penna
e J. B. Damasco Penna. São Paulo: CIA Editora Nacional, 1959.
MEINSMA, Koenraad Oege. Spinoza et son cercle. Tradução: S. Roosenburg. Paris:
Vrin, 1983.
MOREAU, Dennis. Introdução. In: DESCARTES, René. Carta-Prefácio dos Princí-
pios da Filosofia. Tradução: H. Santiago. São Paulo: Martins Fontes, 2003. P. 11-48.
PRADO-NETO, Manuel. Desterritorializações Docentes: casos de uma educação
menor. 2013. 111 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação, Universidade Tiradentes, Aracaju, 2013.
ROSA, Francis. A Literatura Menor em Deleuze e Guattari: por uma educação me-
nor. Educação, Santa Maria, v. 41, n. 3, p. 685-696, set./dez. 2016.
SANTIAGO, Homero. Espinosa e o Cartesianismo. São Paulo: Humanitas, 2004.
SAVIANI, Dermeval. A Nova Lei da Educação. Campinas: Autores Associados, 2004.
SPINOZA, Baruch. Correspondencia. Tradução: A. Domínguez. Madrid: Alianza,
1988.
SPINOZA, Benedictus. Breve Tratado. Tradução: L. César Oliva & E. Fragoso. Belo
Horizonte: Autêntica, 2012.
TATIÁN, Diego. Spinoza y el Amor del Mundo. Buenos Aires: Altamira, 2004.
VARELA, Cristina; RIBEIRO, Paula; MAGALHÃES, Joanalira. Questões de Gênero
na Escola: potencialidades para pensar uma educação menor. InterMeio, Campo
Grande, v. 23, n. 46, p. 15-37, jul./dez. 2017.
Fernando Bonadia de Oliveira é Professor de Filosofia da Educação do De-
partamento de Teoria e Planejamento de Ensino do Instituto de Educação
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4627-3162
E-mail: fernandobonadia@ufrrj.br
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos de uma Licen-
ça Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Disponível em: <http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0>.
14 Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 2, e81521, 2019.
Você também pode gostar
- O Desejo Dos Outros Uma Etnografia Dos Sonhos Yanomami (Hanna Limulja)Documento99 páginasO Desejo Dos Outros Uma Etnografia Dos Sonhos Yanomami (Hanna Limulja)Diego Matos GondimAinda não há avaliações
- Espelho Índio, A Formação Da Alma Brasileira (Roberto Gambini)Documento193 páginasEspelho Índio, A Formação Da Alma Brasileira (Roberto Gambini)Diego Matos GondimAinda não há avaliações
- Fondation Maison Du BrésilDocumento9 páginasFondation Maison Du BrésilDiego Matos GondimAinda não há avaliações
- Wunder Alik D PDFDocumento137 páginasWunder Alik D PDFDiego Matos GondimAinda não há avaliações
- Sloterdijk e A Noção de SubjetividadeDocumento13 páginasSloterdijk e A Noção de SubjetividadeDiego Matos GondimAinda não há avaliações
- Despachos No Museu Sabe-Se La o Que Vai AcontecerDocumento7 páginasDespachos No Museu Sabe-Se La o Que Vai AcontecerDiego Matos GondimAinda não há avaliações
- Operador de MotoniveladoraDocumento8 páginasOperador de MotoniveladoraRafael William MarquesAinda não há avaliações
- IFSP Relatorio Ele 1 Volume FinalDocumento4 páginasIFSP Relatorio Ele 1 Volume FinalwaldijrAinda não há avaliações
- Aula 10 Propriedades MecanicasDocumento30 páginasAula 10 Propriedades MecanicasArtur LealAinda não há avaliações
- Modelo Atômico de RutherfordDocumento2 páginasModelo Atômico de RutherfordDcastro SoaresAinda não há avaliações
- 40 Curso Processos e Segurança em Máquinas Injetoras PDFDocumento109 páginas40 Curso Processos e Segurança em Máquinas Injetoras PDFqlx4100% (1)
- Ensino Fundamental - Educação Física - REPACTUADODocumento11 páginasEnsino Fundamental - Educação Física - REPACTUADOMano CinderAinda não há avaliações
- Ef11 Ficha Preparacao Exame Resolucao PDFDocumento21 páginasEf11 Ficha Preparacao Exame Resolucao PDFrita100% (1)
- Estrutura Interna Da GeosferaDocumento37 páginasEstrutura Interna Da GeosferaCarlos Eduardo Abreu AmorimAinda não há avaliações
- 2018-IT - Correcção de Avaliação 2Documento7 páginas2018-IT - Correcção de Avaliação 2OscarJoseSanfarSanfarAinda não há avaliações
- A Benzedura Nos Territórios Da ESFDocumento12 páginasA Benzedura Nos Territórios Da ESFIngridy DantasAinda não há avaliações
- Música e Dança ProjetoDocumento5 páginasMúsica e Dança ProjetoDirlei Rodrigo FerrariAinda não há avaliações
- O Sistema de Cura Do Corpo Espelho PDFDocumento44 páginasO Sistema de Cura Do Corpo Espelho PDFCatarina GF100% (4)
- Filosofia 2trab FeitoDocumento14 páginasFilosofia 2trab FeitoDiocleciano0% (1)
- Termofluidodinamica - Equações Gerais Da Dinâmica Dos Fluidos - Parte 01Documento41 páginasTermofluidodinamica - Equações Gerais Da Dinâmica Dos Fluidos - Parte 01Mayara GroningerAinda não há avaliações
- Princípio Dos M-WPS Office-1Documento5 páginasPrincípio Dos M-WPS Office-1Cardace LangaAinda não há avaliações
- Provas Anteriores Efomm 2006Documento32 páginasProvas Anteriores Efomm 2006João Gabriel Ferreira CalixtoAinda não há avaliações
- Lista 2 - Derivada 2020Documento3 páginasLista 2 - Derivada 2020Maria Gabriella MorettoAinda não há avaliações
- Fritjof Capra - A Teia Da Vida PDFDocumento249 páginasFritjof Capra - A Teia Da Vida PDFEstrela Maris100% (12)
- Artigo - Fenômenos de TransporteDocumento6 páginasArtigo - Fenômenos de TransportericardomoeAinda não há avaliações
- Aula 3 - Análise InstrumentalDocumento37 páginasAula 3 - Análise Instrumentalvalquiria sehnem barbosaAinda não há avaliações
- Resistência Do IsolamentoDocumento7 páginasResistência Do IsolamentoWilliam TenórioAinda não há avaliações
- Análise de Forças em MecanismosDocumento30 páginasAnálise de Forças em MecanismosDias DiasAinda não há avaliações
- UFBA 2010 2 FaseDocumento10 páginasUFBA 2010 2 FaseThiago GatheenhoAinda não há avaliações
- FLUIDOS - Exercícios Fisica 2Documento20 páginasFLUIDOS - Exercícios Fisica 2bms.pradoAinda não há avaliações
- Tema 14 - Películas Finas e Interferômetro de MichelsonDocumento21 páginasTema 14 - Películas Finas e Interferômetro de MichelsonPedro Rodrigues MuttiAinda não há avaliações
- Psicologia Positiva Do Esporte e Do Exercicio Fisico No Brasil Revisao SistematicaDocumento17 páginasPsicologia Positiva Do Esporte e Do Exercicio Fisico No Brasil Revisao Sistematicaklysman lucasAinda não há avaliações
- Precios CfeDocumento57 páginasPrecios CfeJorge AlbertoAinda não há avaliações
- Alain Supiot Humanos 2Documento11 páginasAlain Supiot Humanos 2Lais ETiago SimonAinda não há avaliações
- Revista Ação Movimento 2006Documento106 páginasRevista Ação Movimento 2006Wander DouglasAinda não há avaliações
- Calculo de Barramentos RígidosDocumento85 páginasCalculo de Barramentos RígidossencorsAinda não há avaliações